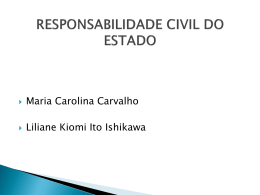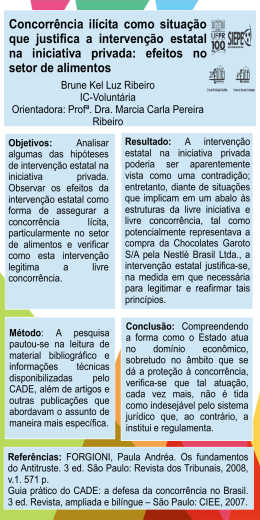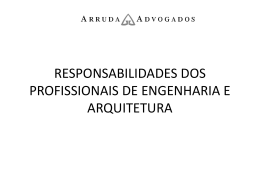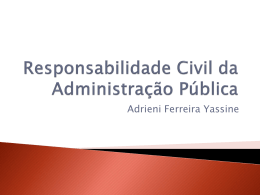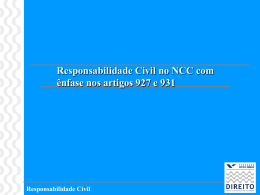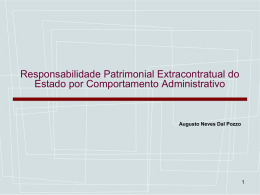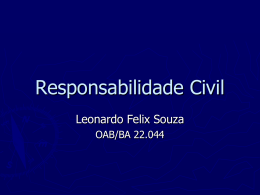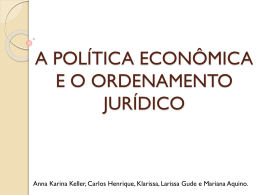1 RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DO ESTADO NOS CASOS DE OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO Bruna Vitória Gomes Ferreira1 RESUMO O presente trabalho, em linhas gerais, tem por objetivo abordar a divergência em relação à responsabilidade do Estado, nos casos de omissão na prestação do serviço público, entendida por parte da doutrina como sendo subjetiva, e por outra, como objetiva. Após analisar as peculiaridades do instituto do serviço público, assim como as da responsabilidade, desde seu surgimento, procurarse-á concluir pela necessária aplicação da responsabilidade objetiva, em virtude do caráter fundamental e essencial que detém o serviço público, eis que concretiza direitos fundamentais, demonstrando, inclusive, a necessidade da intervenção jurisdicional para implementar tais serviços, quando na hipótese de sua omissão. PALAVRAS-CHAVE: serviço público; omissão; responsabilidade do Estado; Poder Judiciário; direitos fundamentais. INTRODUÇÃO O presente trabalho procura abordar a divergência que existe em face da responsabilidade do Estado, nas hipóteses de omissão na prestação do serviço público. Com efeito, o serviço público, sendo uma das atividades exercidas pelo Estado, desde seu surgimento tem sofrido constantes transformações, assim como teve sua adoção, sob diversos enfoques, de acordo com a organização política vigente em cada período histórico. Neste sentido, iniciar-se-á o presente estudo a partir da análise do instituto de acordo com os modelos de Estado que se instituíram, bem como o seu conceito e regime jurídico. 1 Acadêmica de Direito das Faculdades Integradas do Brasil – Unibrasil, orientada pela Profa. Ms. Adriana da Costa Ricardo Schier. 2 A partir da análise sobre o serviço público, pretende-se analisar a responsabilidade do Estado, como sendo o instrumento pelo qual os particulares conseguem ver reparados os danos que este lhe causa, haja vista que o Estado tem por função primordial proteger e concretizar os direitos dos seus cidadãos. Deste modo, inicia-se tal estudo a partir dos fundamentos que a doutrina tem elencado para justificar a incidência da responsabilidade ao ente estatal e, também, a sua evolução no âmbito social e as teorias que desta decorreram. Ultrapassado o panorama geral do instituto, adentra-se na discussão existente em relação à responsabilização do Estado nos casos em que ele se omite na prestação do serviço público, considerado como a atividade que visa oferecer comodidades aos indivíduos, no intuito de buscar uma melhoria das suas condições, assim como um instrumento para a concretização dos direitos fundamentais, previstos constitucionalmente, eis que a titularidade do serviço é do ente estatal, razão pela qual cabe à este possibilitar a sua devida prestação. Neste âmbito, procura-se demonstrar a teoria que se aplica nestas hipóteses, demonstrando as controvérsias da sua adoção pela vertente subjetiva e objetiva. Tendo em vista que, no presente trabalho, adota-se o serviço público como um direito fundamental, a responsabilidade estatal há de ser objetiva, eis que esta proporciona uma melhor proteção dos interesses coletivos e individuais. Por fim, será tratada a possibilidade da intervenção judicial para a garantia da prestação de tais serviços, em virtude de seu caráter constitucional e de extrema relevância para a promoção da dignidade da pessoa humana, princípio basilar da Constituição Federal de 1988. 1 PRIMÓRDIOS DO INSTITUTO DO SERVIÇO PÚBLICO O serviço público, enquanto uma das atividades exercidas pelo Estado, se desenvolveu vinculado e de acordo com a forma de organização política de Estado adotada por uma determinada sociedade, e em determinado período histórico. Em vista disso, é importante à abordagem do tema, um breve estudo 3 histórico acerca da evolução da figura do serviço público a partir dos modelos de Estado. Inicialmente, observa-se que o Estado Moderno se apresentou, primeiramente, na figura do Estado Absolutista, que se baseava na idéia de soberania, em que os poderes se encontravam em poder do monarca, fazendo surgir um direito absoluto do rei, que por sua vez, tinha seu poder fundado na ordem divina, visto que era considerado como enviado por Deus, e que este que lhe outorgara poderes e, por isso mesmo, era tido como ilimitado2. Nas palavras de Carlos Ari SUNDFELD “O poder soberano não encontrava limitação, quer interna, quer externa. Será, por isso, insuscetível de qualquer controle. Parecia, ao espírito da época, que quem detinha o poder – de impor normas, de julgar, de administrar – não poderia ser pessoalmente sujeito a ele: ninguém pode estar obrigado a obedecer a si próprio.” 3 E que neste modelo, “o poder público (vale dizer, as regras que regiam o exercício do poder político) poderia ser resumido, na época, a uma norma básica: o poder deve ser acatado e é ilimitado.”4 Contudo, a Revolução Francesa, de 1789, desencadeou uma nova fase do Estado Moderno: o Estado Liberal. Tratava-se de um modelo de Estado, amplamente inspirado nos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, a que aspirava a classe burguesa. Constituiu-se em um modelo de Estado abstencionista, marcado principalmente pela garantia e difusão dos direitos individuais fundamentais e na tripartição dos poderes, com o objetivo de limitar o poder do Estado. De acordo com Jorge MIRANDA, o Absolutismo foi marcado pela soberania do rei, que detinha a concentração dos poderes e sua vontade era tida como lei e, em contraposição, o Liberal caracterizou-se pela soberania da vontade do povo, em que a lei expressava a vontade deste e que o Estado nada mais era do que mero aplicador de tais leis, devendo assegurar os direitos individuais, agindo de acordo e nos limites estabelecidos em lei.5 2 STRECK, Lenio Luiz; MORAIS, José Luis Bolzan de. Ciência Política e Teoria Geral do Estado. 3. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003. p. 44-45. 3 SUNDFELD, Carlos Ari. Fundamentos de Direito Público. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2001. p. 34. 4 Ibidem, p. 35. 5 MIRANDA, Jorge. Teoria do Estado e da Constituição. Rio de Janeiro : Forense. 2003. p. 45 4 Os direitos individuais consagrados e garantidos pelo liberalismo, são aqueles chamados de primeira geração e refere-se aos direitos de liberdade, vida, igualdade e propriedade, em que se faz necessária uma conduta negativa por parte do Estado que não deve invadir ou intervir nessa esfera individual.6 Daí a principal característica desse modelo de organização política: o abstencionismo é marcado por uma quase completa ausência de atuação estatal na esfera do particular. Todavia, o Estado assegura esses direitos, ainda que não proporcione a fruição dos mesmos aos particulares, pois cabe a estes efetivá-los sob a vigilância e regulação estatal. Em virtude da necessidade de se garantir os direitos fundamentais e a limitação do poder público, o Estado passa, então, a se submeter ao Direito. Para Jorge MIRANDA, “O Estado constitucional, representativo ou de Direito surge como Estado liberal, assente na idéia de liberdade e, em nome dela, empenhado em limitar o poder político tanto internamente (pela sua divisão) como externamente (pela redução ao mínimo de suas funções perante a sociedade).7 Para Jorge Reis NOVAIS ao se obrigar a proteger, garantir e respeitar direitos, o Estado passa a reconhecê-los como anteriores e superiores a si.8 Afirma, também, que os direitos fundamentais passam a ser tidos como uma garantia da não intervenção do Estado, ou seja, garante a autonomia individual contra ingerências estatais. 9 Todavia, o referido modelo Liberal tornou-se insuficiente, vez que acarretou em injustiças e desigualdades sociais10, bem como a crescente industrialização desembocou numa crise estatal, em que o idealismo liberal não se demonstrava mais adequado.11 6 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 16. ed. São Paulo : Malheiros. 2005. p. 563-564. 7 MIRANDA, Jorge. Op. cit., p. 47. 8 NOVAIS, Jorge Reis. Contributo para uma Teoria do Estado de Direito. Coimbra: Almedina. 2006. p. 77. 9 Ibidem, p. 78 10 GROTTI, Dinorá Adelaide Musetti. O Serviço Público e a Constituição Brasileira de 1988. São Paulo : Malheiros, 2003. p. 63. 11 JUSTEN, Mônica Spezia. A noção de serviço público no direito europeu. São Paulo: Dialética, 2003. p. 19. 5 Portanto, o serviço público surgiu e se desenvolveu nesse momento de transição de modelo estatal, como o instrumento adequado para solucionar os problemas que decorreram do liberalismo. Contudo, diverge Jorge Reis NOVAIS, pois para o autor já no modelo liberal o Estado prestava serviços públicos, haja vista o não interesse dos particulares em prestá-los vez que não lhes demonstrava potencial lucrativo e, em vista disso, cabia ao Estado a sua prestação. 12 Acerca do surgimento, destacam-se os ensinamentos de Léon DUGUIT e Gaston JÈZE, precursores da Escola do Serviço Público, na França, os quais merecem breve análise. Léon DUGUIT deu importância relevante ao serviço público, vez que além de tê-lo como critério para delimitar a competência administrativa, adotou o serviço público como limite para a atuação do ente estatal, e que o Estado nada mais era que um conjunto de serviços públicos, devendo utilizar de seu poder para organizar, assegurar e garantir o pleno funcionamento de tais serviços. 13 Isso porque entendia que o Estado era possuidor de uma parcela de poderes e que, em vista disso, teria maiores responsabilidades, e que o serviço público seria o meio pelo qual o Estado realizaria a “solidariedade social” 14, e que a necessidade do serviço público decorreria da realidade.15 Atribuindo ao serviço público, um viés objetivo. DUGUIT, ainda, se contrapôs à idéia do liberalismo, vez que os indivíduos não tinham mais interesse na abstenção estatal, e o que se visava era justamente que o Estado viesse a assumir novas obrigações, por meio da prestação do serviço público.16 Outro jurista da Escola do Serviço Público, Gaston JÈZE, se contrapôs à DUGUIT vez que analisa o serviço público por um viés subjetivo, uma vez que somente se cogita um serviço público a partir do momento em que as autoridades de um país, em determinada época histórica, decidem satisfazer 12 NOVAIS, Jorge Reis. Op. cit. p. 186. GROTTI, Dinorá Adelaide Musetti. Op. cit., p. 32. 14 A “solidariedade social” para Leon DUGUIT consiste na obrigação de solidariedade que os indivíduos de uma sociedade têm para a concretização de suas necessidades. JUSTEN, Mônica Spezia. Op. cit., p. 30. 15 Ibidem, p. 32. 16 Ibidem, p. 34. 13 6 as necessidades coletivas, mediante procedimento de serviço público, que permite maior agilidade e satisfação ao público, levando-se em consideração apenas a vontade dos governantes. 17 Percebe-se, portanto, que o modelo Liberal perde sua essência, pois o que se almeja, não coincide mais com a própria natureza e fundamento desse modelo, que deixou de proporcionar qualquer forma de benefício aos indivíduos. O que se intenta, pois, é uma atuação positiva por parte do Estado, em que faz emergir a sua feição Social. Sobre este momento, Adriana da Costa Ricardo SCHIER observa que o Estado Social intervém na sociedade através de medidas positivas voltadas a assegurar o acesso aos direitos fundamentais, a realização da justiça social, com preocupação direcionada à consecução do bem-estar dos cidadãos e seu acesso a bens mínimos, atribuindo, ainda, a este modelo o desenvolvimento de políticas públicas voltadas a estender a todos os direitos fundamentais, incluindo-se os sociais.18 JUSTEN FILHO, em relação à atuação promocional do Estado, entende que “O resultado foi extraordinariamente positivo. Nunca anteriormente os seres humanos experimentaram tamanho conforto e tão grande quantidade de benefícios. Mais do que isso, nunca na História se ofertaram benefícios em termos tão democráticos [...] ao menos, formal”.19 Contudo, para o autor, o crescimento populacional exacerbou-se e a prestação dos serviços não acompanhou tal fenômeno, o que acabou por desembocar numa redução da eficiência das atividades prestadas pelo Estado, acarretando na sua insolvência, reduzindo sua capacidade e o cumprimento de suas obrigações tornou-se inviável.20 A respeito dessa situação Ana Cláudia FINGER observa que o Estado, impossibilitado de cumprir tais atividades, entrara em crise, haja vista o crescimento e multiplicação de seus encargos, que o fez incapaz de atender o 17 JÉZE, Gaston. Principios Generales del Derecho Administrativo. Buenos Aires : Depalma, 1949. p.19. 18 SCHIER, Adriana da Costa Ricardo. A Participação Pública na Administração Pública: O Direito de Reclamação. Rio de Janeiro : Renovar, 2002. p. 71. 19 JUSTEN FILHO, Marçal. O Direito Regulatório. In: GUIMARÃES, Edgar (Coord.). Cenários do Direito Administrativo: Estudos em homenagem ao Professor Romeu Felipe Bacellar Filho. Belo Horizonte : Fórum, 2004. p. 352. 20 Ibidem. p. 353. 7 interesse coletivo.21 Assim, o Estado transfere o atendimento das necessidades coletivas para o mercado, o que acarreta na “tendência de privatização do espaço público na medida em que se pretende investir o particular na execução de atividades estatais, por exemplo, a prestação do serviço público.”22 Neste contexto, Marçal JUSTEN FILHO entende que “(...) o Estado deveria não mais atuar como agente econômico, mas sim como árbitro das atividades privadas. Não significa negar a responsabilidade estatal pela promoção do bem-estar, mas alterar os instrumentos para realização dessas tarefas.”23 Nessa perspectiva, o Estado tornar-se-ia um fiscalizador das atividades que passaram a ser prestadas pelos particulares.24 Veja-se que neste momento, embora o papel do Estado seja reduzido, ainda assim persiste a sua existência, que não é usurpada pela participação privada na prestação dos serviços públicos, eis que, embora estes o prestem, a titularidade permanece como sendo do ente estatal. 2 NOÇÕES GERAIS DE SERVIÇO PÚBLICO A Constituição Federal de 1988 não define o que caracteriza uma atividade como sendo serviço público, apenas elenca algumas que assim são consideradas. Em vista disso, o tema desde seu surgimento sempre foi objeto de divergentes considerações, e, atualmente, há grande discussão doutrinária acerca de sua conceituação, estando sujeito a diversos enfoques, tornando-se concebível a adoção de uma concepção ampla e uma concepção restrita de seu conceito. Em relação àqueles que adotam o conceito em sentido amplo, o serviço público consiste e abrange todas as atividades exercidas pelo Estado, incluindo-se as atividades legislativa e judiciária. Em contrapartida, a corrente restrita compreende o serviço público como uma dentre as atividades exercidas pelo Estado, a qual exclui a 21 FINGER, Ana Cláudia. O Público e o Privado na Administração Pública. In: GUIMARÃES, Edgar (Coord.). Cenários do Direito Administrativo: Estudos em homenagem ao Professor Romeu Felipe Bacellar Filho. Belo Horizonte : Fórum, 2004. p. 75. 22 Ibidem, p. 76. 23 JUSTEN FILHO, Marçal. O Direito... p. 356. 24 Ibidem, p. 356-357. 8 legislativa e judiciária, e tomada no presente trabalho como a mais adequada para conceituar o serviço público. Assim, toma-se como referencial o conceito de Celso Antônio Bandeira de MELLO que o define, de forma precisa, como sendo: (...) toda atividade de oferecimento de utilidade ou comodidade material destinada à satisfação da coletividade em geral, mas fruível singularmente pelos administrados, que o Estado assume como pertinente a seus deveres e presta por si mesmo ou por quem lhe faça as vezes, sob um regime jurídico de Direito Público – portanto, consagrador de prerrogativas de supremacia e de restrições especiais –, instituído 25 em favor dos interesses definidos como públicos no sistema normativo. Como se percebe, a corrente restrita é a mais adequada, embora não haja uma conceituação estanque no espaço e no tempo26, vez que, como se verificou, está adstrito à forma de organização estatal, bem como ao período histórico correspondente. Partindo-se do conceito de Celso Antônio Bandeira de MELLO, observa-se que o serviço público exprime-se através de dois elementos: material e formal.27 O elemento material consiste no oferecimento ou prestação de utilidade ou comodidade material voltado a satisfação dos indivíduos, que a usufruem de forma individual,28 visando uma melhoria de vida para os indivíduos. Em relação ao elemento formal do conceito de serviço público, entende que o Estado, ao entender e assumir para si o exercício de determinada atividade, em virtude desta se constituir de essencial interesse público, coloca o exercício da mesma sob o regime jurídico de direito público que, por sua vez, 25 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 19. ed. São Paulo : Malheiros, 2005. p. 612. 26 Para Dinorá Adelaide Musetti GROTTI “O modelo de Estado adotado em certo momento e em certo local guarda uma estreita relação com as funções pertinentes à respectiva Administração Pública e, via de conseqüência, com o delineamento do próprio direito administrativo, cuja compostura pode retratar caráter mais autoritário ou mais flexível aos valores democráticos.” GROTTI, Dinorá Adelaide Musetti. Op. cit., p. 62. 27 De forma diversa é o entendimento de alguns autores, como por exemplo Maria Sylvia Zanella DI PIETRO, Marçal JUSTEN FILHO e Lúcia Valle FIGUEIREDO, dentre outros, que entendem que o serviço público é composto por três elementos: material, formal e subjetivo. 28 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso... p. 615. 9 garante e torna possível o atendimento de determinados interesses em virtude de conceder prerrogativas e estabelecer sujeições ao prestador da atividade.29 Por meio desse regime, o que se visa é garantir a boa prestação do serviço, a partir de meios jurídicos que se façam necessários para que se torne viável a proteção dos interesses da coletividade.30 Nesse sentido, para Celso Antônio Bandeira de MELLO, como bem antes citado: (...) um serviço não é público pelo só fato de ser destinado a satisfazer interesses da coletividade em geral, como também não o será meramente pela importância que tenha para ela ou apenas pelo fato de ser titularizado pelo Estado. Sê-lo-á quando o Estado tendo-lhe assumido a titularidade, entendeu de enquadrar sua prestação sob uma específica disciplina, a pública, a qual, de um lado, repita-se propõe-se a assegurar coercitivamente que o interesse público prepondere sobre conveniências privadas e de outro instaura ele restrições especiais para garantir-lhe a proteção contra o próprio Estado ou contra seu exercente, a fim de impor, a um ou a outro, tanto o dever de assegurá-lo nos termos indicados, quanto limitações para que não atue abusivamente, isto é, de maneira a desrespeitar direitos dos administrados em 31 geral e direitos e interesses dos usuários do serviço. [grifos do autor] De acordo com o autor, o regime jurídico compõe-se dos seguintes princípios: dever inescusável do Estado de promover-lhe a prestação, de forma direta ou indireta, desde que mediante autorização, concessão ou permissão; supremacia do interesse público sobre o privado, vez que as atividades tidas como serviço público, devem reger-se sob as conveniências da coletividade e não segundo interesses de seus prestadores ou, ainda, do próprio Estado; princípio da adaptabilidade, ou seja, de acordo com as possibilidades econômicas e financeiras do Poder Público; princípio da universalidade, pois o serviço público é destinado à toda coletividade; princípio da impessoalidade, em que não se admite qualquer forma de discriminação dentre os usuários do serviço; princípio da continuidade, que não permite a interrupção ou suspensão do serviço; princípio da transparência, o qual estabelece que o Poder Público deve levar a conhecimento dos particulares tudo a que se refere ao serviço; princípio da motivação, ou seja, o dever de fundamentar as decisões concernentes ao serviço em si; o princípio da modicidade da tarifas, vez que se o Estado considera determinada atividade como de grande relevância ao 29 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Serviço Público e sua Feição Constitucional no Brasil. In: MODESTO, Paulo; MENDONÇA, Oscar (Coords.). Direito do Estado Novos Rumos. São Paulo : Max Limonad, 2001. p. 21. 30 Idem. 31 Ibidem, p. 27. 10 público em geral, não haveria sentido em onerar demasiadamente o usuário do serviço, de forma a não permitir a sua plena fruição; e o princípio do controle acerca das condições de sua prestação.32 No presente trabalho, portanto, adota-se como referencial teórico, no que diz respeito ao conceito e ao regime jurídico do serviço público, Celso Antônio Bandeira de MELLO. 4 JUSTIFICATIVA DA RESPONSABILIDADE ESTATAL O Estado, ao exercer suas atividades, por vezes, pode vir a causar danos aos particulares, cuja esfera jurídica é, ou deveria ser, protegida por aquele. Nestas circunstâncias, é o instituto da responsabilidade que impõe ao Estado o dever de reparar o dano que causara. A responsabilidade extracontratual, decorre do próprio sistema jurídico que não admite um Estado desobrigado ou descomprometido com os prejuízos que podem advir de sua atuação para com os particulares.33 A responsabilidade deriva da própria idéia de Estado de Direito, haja vista que, se o Poder Público está sujeito ao ordenamento jurídico, em razão do princípio da legalidade, as lesões causadas e imputadas a ele, acarretam na obrigação de repará-lo.34 Para MELLO, ainda, o fundamento da responsabilidade do Estado situa-se nos princípios da legalidade e da isonomia, quando decorrente de atos ilícitos, comissivos ou omissivos, haja vista que o Estado age de forma contrária à lei, o que acaba por causar um dano anormal e especial ao particular (ou grupo de particulares), não comuns à vida social, acarretando no desequilíbrio na distribuição dos ônus públicos se somente aquele particular assumir o encargo; e na hipótese de decorrer de atos lícitos, fere o princípio da isonomia, por iguais razões, devendo o Estado, por isso, ressarcir o lesado a fim de que se restabeleça o equilíbrio. 35 32 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso... p. 617-618. OLIVEIRA, José Carlos de. Responsabilidade Patrimonial do Estado: Danos decorrentes de enchentes, vendavais e deslizamentos. Bauru : Edipro, 1995. p. 18. 34 SERRANO JÚNIOR. Odoné. Responsabilidade Civil do Estado por atos judiciais. Curitiba : Juruá, 1996. p. 48. 35 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso... p. 866. 33 11 Para Romeu Felipe BACELLAR FILHO, a justificativa da existência da responsabilidade decorre do regime jurídico administrativo, composto por prerrogativas e sujeições, que são conferidas ao Estado a fim de que realize o bem comum, compreendido como um dever do ente estatal.36 Assim, para o autor, “o regime jurídico compõe-se, portanto, tanto pela necessidade de proteção aos direitos do particular em relação ao Estado, quanto pela obrigatória satisfação dos interesses coletivos”37 e, ao buscar o atendimento de tais interesses, pode vir a causar danos aos particulares em diferentes proporções, e que em razão do próprio regime jurídico, deve zelar pela proteção e ressarcir o lesado.38 Para Cármen Lúcia Antunes ROCHA tal instituto é “princípio embasador do sistema jurídico democrático. (...) ela atua como elemento garantidor da invulnerabilidade dos direitos fundamentais do indivíduo assegurados no sistema jurídico ante as investidas do Poder Público, que podem, e com frequencia esbarram e ingressam, na seara preservada juridicamente de sua atuação.”39 Portanto, necessário é procurar conceituar tal instituto e, assim o faz, Romeu Felipe BACELLAR FILHO ao definir que “a responsabilidade patrimonial da Administração Pública decorre de atitudes ou omissões, lícitas ou ilícitas, as quais redundam em lesão à esfera jurídica patrimonial do cidadão, configurando, pelo nexo lógico entre tais elementos, a necessidade de reparação, sem quaisquer perquirições subjetivas.”40 Entretanto, tendo em vista que o instituto da responsabilidade nem sempre incidiu ao Estado da forma como hoje a se concebe, é importante passar à análise da evolução da sua concepção, bem como este instituto fora recebido, desde seu surgimento. 5 EVOLUÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO ESTADO 36 BACELLAR FILHO, Romeu Felipe. Direito Administrativo e o Novo Código Civil. Belo Horizonte : Fórum, 2007. p. 200-201. 37 Idem. 38 Idem. 39 ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. Princípios Constitucionais da Administração Pública. Belo Horizonte : Del Rey, 1994. p. 254. 40 BACELLAR FILHO, Romeu Felipe. Direito... p.194. 12 O que se entende hoje por responsabilidade fora conquistada a passos lentos. Deste modo, Cristiana FORTINI e Tatiana Santos de SOUZA, definem que “O estágio atual não foi conquistado de forma abrupta. Ao contrário, a concretização da responsabilidade objetiva do Estado ocorreu de forma paulatina (...)”41 A princípio, vislumbrou-se a prevalência da idéia da irresponsabilidade do Estado, na concepção política Absolutista, fundada no princípio da soberania. Neste contexto, não se admitia que o rei pudesse causar mal a alguém, nem, tampouco, se concebia a idéia de reparação de danos frente ao poder público, haja vista as prerrogativas e irrestrita imunidade a que o Estado Soberano possuía.42 Entretanto, para Celso Antônio Bandeira de MELLO, os particulares não se encontravam completamente desamparados, haja vista que se fosse possível relacionar o dano a um ato lesivo pessoal do funcionário, admitia-se que este fosse responsabilizado.43 Yussef Said CAHALI compartilha deste entendimento eis que os particulares, de fato, tinham a sua disposição a possibilidade de ingressar com ação ressarcitória, mas, ainda assim, estavam sujeitos à autorização estatal, bem como estavam expostos a quase insolvente expressão patrimonial do funcionário. 44 Contudo, tal situação se revelava insuficiente e ineficaz, razão pela qual começou a ser debatida, tendo em vista que representava imensa injustiça, pois os particulares não tinham como ser ressarcidos pelos danos que lhes fossem causados, assim passou-se a entender que “(...) se o Estado se constitui para a tutela do Direito, não tinha sentido que ele próprio o violasse impunemente; o Estado, como sujeito dotado de personalidade, é capaz de direitos e obrigações como os demais entes, nada justificando a sua irresponsabilidade quando sua atuação falha e seus representantes causam danos aos particulares.”45 41 FORTINI, Cristiana; SOUZA, Tatiana Santos de. A Responsabilidade Civil do Estado por Omissão Legislativa. A&C Revista de Direito Administrativo e Constitucional, Belo Horizonte, a. 6, n. 26, p. 221-234, out./dez. 2006. p. 222. 42 BACELLAR FILHO, Romeu Felipe. Direito... p. 202-203. 43 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso... p. 860. 44 CAHALI, Yussef Said. Responsabilidade Civil do Estado. 2. ed. São Paulo : Malheiros, 1995. p. 18-19. 45 Ibidem, p. 19. 13 Desta forma, passou-se a distinguir os atos do Poder Público que pudessem ensejar a sua responsabilização. Num primeiro momento, a responsabilidade poderia ser auferida a partir dos critérios de dolo ou culpa do agente causador do dano, fatores condicionantes da responsabilidade neste momento, desde que fosse possível atribuir o dano ao agente.46 Todavia, Cármen Lúcia Antunes ROCHA entende que o “(...) princípio da soberania, não apenas impedia que o princípio da responsabilidade atingisse a pessoa estatal, mas inclusive não permitia que a responsabilidade dos agentes públicos viesse a ter efeito concreto e pleno, na medida em que se exigia que a impugnação de seus atos dependesse de prévia autorização para o processo a ser contra eles ajuizado.”47 Nesse diapasão, essa evolução da responsabilidade revelou-se insuficiente, em razão do pesado encargo que recaía sobre os particulares. Com o advento do Estado de Direito, alguns avanços ocorreram acerca da concepção estatal, “com a percepção de que o Estado, possuidor de direitos e deveres como as demais pessoas jurídicas, na medida em que causasse danos a terceiros, também deveria indenizá-los”48 e nesta esteira e com o desenvolvimento da teoria do órgão49 passou-se a distinguir a prática de atos de império e a prática de atos de gestão, para verificar a existência da responsabilidade estatal. Assim, os atos de império seriam aqueles decorrentes das prerrogativas de autoridade, a que o Estado possuía, enquanto que os atos de 46 BACELLAR FILHO, Romeu Felipe. Direito... p. 208. ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. Princípios... p. 265. 48 MONTEIRO FILHO, Carlos Edison do Rêgo. Problemas de Responsabilidade Civil do Estado. In: FREITAS, Juarez (Org.) Responsabilidade Civil do Estado. São Paulo : Malheiros, 2006. p. 42. 49 “(...) o órgão, integrante inevitável do corpo, o próprio Estado, é encarado como centro despersonalizado de atribuições não se reconhecendo vontade própria. A analogia com o corpo humano permite compreender que os órgãos componentes do corpo, atuam harmônica e coordenadamente em prol do eficiente funcionamento do conjunto. Revelando-se impraticável a transposição de conceitos, resta evidente que a figura da representação que clama pela existência de distintas pessoas, representante e representado, não se mostrava adequada. BACELLAR FILHO, Romeu Felipe. Direito... p. 208-209. 47 14 gestão seriam aqueles em que o ente estatal equipara-se ao particular, no desenvolvimento de suas atribuições.50 A partir de tal distinção, poderia ser reconhecida a responsabilidade estatal sobre os atos de gestão, haja vista a equiparação que se tinha do Estado para com os particulares; todavia, se o dano decorresse de atos de império, não haveria que se falar em responsabilização, pois o Estado estaria isento de qualquer responsabilidade.51 Com isso, distinguia-se a pessoa do rei da pessoa do Estado. Contudo, em razão da indivisibilidade da personalidade estatal, tal distinção não prosperou, pois não passara de mera ficção, eis que o Estado agindo por intermédio de quaisquer de seus agentes, agia, ainda assim, na qualidade de Estado. 52 Diante dessas considerações, percebe-se que inicialmente o particular nada poderia fazer para se ver indenizado frente aos abusos e danos decorrentes da atuação estatal. Tal situação foi substituída por uma possível reparação, desde que a vítima demonstrasse a atuação culposa ou dolosa do agente estatal, estando sua responsabilização atrelada à autorização do Estado, o que a tornou quase que impraticável, o que acabou incidindo na diferenciação de atos praticados pelo Estado que poderiam, ou não, ensejar sua responsabilização. A partir da breve análise ora exposta, o instituto da responsabilidade do Estado, ainda, passou por novas evoluções das quais decorreram teorias, objeto de estudo que se passa a analisar. 6 TEORIAS DA RESPONSABILIDADE DO ESTADO De acordo com o exposto, percebe-se que o instituto da responsabilidade, desde seu surgimento, adquiriu feições próprias e diversas durante toda sua evolução, a partir das teorias que se desenvolveram em épocas distintas. 50 OLIVEIRA, Gustavo Justino de. Responsabilidade civil do Estado: reflexões a partir do direito fundamental à boa administração pública. Revista Brasileira de Direito Público, Belo Horizonte, a. 1, n. 1, p. 43-53, abr./jun. 2003. p. 45. 51 BACELLAR FILHO, Romeu Felipe. Direito ... p. 209. 52 SERRANO JÚNIOR, Odoné. Op. cit, p. 55. 15 Inicialmente, observou-se que a teoria da irresponsabilidade estatal não prosperou, eis que acarretou em evidente injustiça, o que contribuiu para o seu abandono, bem como o reconhecimento de direitos dos indivíduos frente ao Estado. 53 Desta constatação, passou-se a desenvolver a teoria da culpa civil, baseada na idéia de culpa, que buscou distinguir os atos que o Estado praticava que poderiam, ou não, ensejar a sua responsabilização. Aqui, a comprovação do dolo ou da culpa era considerada indissociante do dever de reparar. Nestes termos, a ocorrência de um dano em virtude de um ato ilícito era pressuposto fundamental para que se obtivesse a reparação. 54 A teoria da culpa civil, entretanto, tornou-se demasiadamente injusta, em razão da necessidade de demonstração do dolo ou da culpa, sendo considerada insuficiente para o propósito a que surgiu. 55 Esse quadro fez nascer uma nova faceta desta teoria, com a distinção dos atos estatais, entre atos de gestão e atos de império, em que aos primeiros se admitia a responsabilização do Estado vez que eram praticados em situação de igualdade para com os particulares, o que não ocorria em relação aos últimos, pois eram praticados com prerrogativas e privilégios de autoridade.56 Contudo, essa diferenciação não resolveu determinados casos, que não dependiam da ação individualizada do agente, como os danos decorrentes de falha da máquina administrativa. 57 Em razão da dificuldade de se demonstrar o critério da culpa, o caso Blanco58, de 1873, teve suma importância, haja vista que contribuiu para a definição da competência administrativa, bem como fixou a responsabilidade 53 PRADO, Safira Orçatto M. do. Fundamentos da Irresponsabilidade Estatal por Atos Judiciais – Críticas e Refutações. A&C Revista de Direito Administrativo e Constitucional, Belo Horizonte, a. 3, n. 14, p. 87-109, out./dez. 2003. p. 88. 54 BACELLAR FILHO, Romeu Felipe. Direito... p. 208. 55 Idem. 56 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 19. ed. São Paulo : Atlas, 2002. p..619. 57 PRADO. Safira Orçatto M. do. Op. cit., p. 88. 58 “Responsabilidade pelo acidente com a menina Agnés Blanco que, ao cruzar os trilhos do trem, na cidade de Bourdeaux, foi colhida por um vagão da Companhia Nacional de Manufatura de Fumo, deve ser imputada ao Estado, não em virtude de disposições do direito civil, mas do direito público, que não é codificado: a partir dessa decisão, pautou-se a construção jurisprudencial.” STERMAN, Sonia. Responsabilidade do Estado, Movimentos multitudinários: Saques. Depredações. Fatos de guerra. Revoluções. Atos terroristas. São Paulo : Revista dos Tribunais, 1992. p. 16 16 do Estado, cuja regulação se daria por regras específicas. De acordo com Cármen Lúcia Antunes ROCHA “assentou-se pela decisão proferida neste caso que, a uma, a própria Administração Pública poderia ser responsabilizada por danos decorrentes de serviços por ela prestados e, a duas, que a norma civil não se aplicava para o tratamento destes casos.”59 Portanto, o instituto da responsabilidade passa por nova evolução surgindo a teoria do acidente administrativo que procurou desvincular a responsabilidade estatal da idéia de culpa do funcionário, atribuindo a culpa ao serviço. Nesse sentido, o que ocorria era a distinção da culpa individual do funcionário, pela qual ele sozinho respondia, da culpa anônima do serviço público, em que se considera que o serviço não funcionou, funcionou mal ou funcionou tardiamente, independentemente de culpa do agente.60 Partia-se do pressuposto de que os agentes nada mais eram do que órgãos componentes da Administração, ou seja, faziam parte dela como um todo.61 Assim, “passou-se a ter como culpa não mais aquela violação do direito praticada por alguém agindo pelo Estado, mas a culpa do próprio Estado, pessoa que atua através dos órgãos, os quais, à sua vez, compõem-se e dinamizam-se pelos agentes públicos.”62 Embora não se tenha abandonado esta teoria, a qual suscita divergências, ela possibilitou o advento das teorias objetivas do risco.63 Assim, de acordo com esta teoria, em virtude do Estado prestar e exercer inúmeras atividades com a finalidade última de atender os interesses da sociedade como um todo, é possível que algum ou alguns particulares venham a sofrer com a ação ou omissão estatal; e, se todos usufruem dos benefícios das suas atividades, devem, também, compartilhar com o ressarcimento dos danos causados a esse particular, ou grupo de particulares.64 Pela teoria do risco integral “(...) o Estado tornar-se-ia uma espécie de „Segurador Universal‟. Todo e qualquer evento danoso ocorrido em seu 59 ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. Princípios... p. 266. DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Op cit, p. 621. 61 SERRANO JÚNIOR, Odoné. Op. cit., 56. 62 ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. Princípios... p. 267. 63 BACELLAR FILHO, Romeu Felipe. Direito... p. 213. 64 MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno. 7.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 394. 60 17 território seria por ele indenizado. Os contribuintes, responsáveis pela formação do patrimônio público, seriam, então, seus segurados.”65 Essa teoria, também, tem por característica não admitir causas excludentes de responsabilidade.66 A partir de tal constatação, percebe-se que a teoria do risco é demasiadamente extremada em razão de conduzir ao abuso e à iniqüidade social, justamente em virtude da Administração estar obrigada a ressarcir qualquer dano suportado por terceiro, mesmo que este fosse o responsável por aquele. 67 Em contrapartida, a teoria do risco administrativo exige a comprovação do nexo de causalidade entre o ato comissivo ou omissivo do Estado e o dano sofrido, sendo possível, inclusive, a comprovação por parte do ente estatal de culpa, seja total, seja parcial, do lesado na ocorrência do dano a fim de se eximir do dever de indenizar, bem como na comprovação de força maior.68 A partir destas considerações, é possível afirmar que “A doutrina da responsabilidade civil da Administração Pública desenvolveu o conceito de irresponsabilidade para o da responsabilidade com culpa, e deste para o da responsabilidade civilística e desta para a fase da responsabilidade pública, em que nos encontramos.”69 Diante dos entendimentos apresentados, passar-se-á a analisar a adoção, ou não, das teorias expostas no ordenamento jurídico brasileiro. 7 EVOLUÇÃO DA RESPONSABILIDADE NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO Tendo em vista as transformações sofridas acerca da responsabilidade do Estado e as teorias que em torno desta se desenvolveram, passar-se-á a análise e inserção destas teorias no ordenamento jurídico brasileiro, a partir da Constituição de 1824. 65 SERRANO JÚNIOR, Odoné. Op. cit, p. 58. DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Op. cit, p. 621. 67 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 26. ed. São Paulo : Malheiros, 2003. p. 624. 68 MUKAI, Toshio. Direito Administrativo Sistematizado. São Paulo : Saraiva, 1999. p. 525. 69 MEIRELLES, Hely Lopes. Op. cit., p. 621-622. 66 18 Na sua primeira Constituição, o Brasil, a partir da adoção da teoria da irresponsabilidade do Estado, estabelecia a responsabilidade dos empregados públicos, pelos abusos e omissões praticados no exercício de suas funções e por não fazerem efetivamente responsáveis aos seus subalternos. E da mesma forma previu a Constituição Republicana de 1891, ao repetir tal previsão, em seu art. 82. 70 Com a entrada em vigor do Código Civil de 1916, demonstrou-se claramente a adoção da teoria civilista, visto que para responsabilização faziase necessário a comprovação do dolo ou da culpa, abrangendo apenas os atos ilícitos.71 De forma um pouco mais abrangente, a Constituição de 1934 consagrou a responsabilidade solidária do Estado e do seu funcionário, por quaisquer prejuízos decorrentes de negligência, abuso ou omissão no exercício de suas atividades, ou seja, nos casos de comprovada a culpa. 72 A Constituição de 1937 não evoluiu e reproduziu o dispositivo.73 Todavia, a grande alteração acerca da responsabilidade estatal se deu com a promulgação da Constituição de 1946, haja vista que esta dispôs e introduziu em seu art. 194 a responsabilidade objetiva do Estado, ou seja, “a possibilidade de o Estado compor danos oriundos de atos lesivos mesmo na ausência de qualquer procedimento irregular de funcionário ou agente seu, à margem, pois, de qualquer culpa ou falta do serviço.” 74 Foi com a Constituição de 1946 que, pela primeira vez, a comunidade jurídica passou a conviver com a responsabilidade direta e objetiva do Estado.75 No mesmo sentido seguiu a Constituição de 1967, bem como a Emenda Constitucional 01 de 1969. 70 BACELLAR FILHO, Romeu Felipe. Direito... p. 204. Assim previa o art. 15 do Código Civil: “As pessoas jurídicas de Direito Público são civilmente responsáveis por atos de seus representantes que nessa qualidade causarem danos a terceiros, procedendo de contrário ao direito ou faltando a dever prescrito em lei, salvo o direito regressivo contra os causadores do dano.” BACELLAR FILHO, Romeu Felipe. Direito Administrativo e o... p. 223. 72 OLIVEIRA, Gustavo Justino de. Op. cit., p. 47. 73 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Op. cit., p. 623. 74 Dispunha o art. 194 que “As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis pelos danos que os seus funcionários, nessa qualidade, causem a terceiros. Parágrafo único: Caber-lhe-á ação regressiva contra os funcionários causadores do dano, quando tiver havido culpa destes”. MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso... p. 887. 75 BACELLAR FILHO, Romeu Felipe. Direito... p. 205. 71 19 Antes da Constituição de 1988 e depois da Constituição de 1946, Romeu Felipe BACELLAR FILHO entende que as pessoas que integravam à Administração Pública, conviviam com dois sistemas de responsabilidade que incidiriam de acordo com a personalidade de cada pessoa jurídica.76 Caso se tratasse de pessoa jurídica de direito público, aplicar-se-ia a responsabilidade objetiva, em razão do dispositivo constitucional, entretanto, se de direito privado, incidiria a responsabilidade subjetiva, em razão da regra genérica do Código Civil de 1916.77 A Constituição de 1988, por sua vez, prevê a responsabilidade do Estado de forma inovadora, estendendo a responsabilidade às pessoa jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, bem como manteve a responsabilização já prevista das pessoas jurídicas de direito público,78 buscando, assim, corrigir as falhas e distorções ocorridas anteriormente.79 Contudo, com a entrada em vigor do Código Civil de 2002 que prevê em seu art. 43 que “As pessoa jurídicas de Direito Público interno são civilmente responsáveis por atos de seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito de regresso contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.” acaba por nascer ultrapassado, eis que não prevê a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, conforme previsto na Constituição vigente.80 Acerca desse “retrocesso”, decorre o problema da lacuna a que o texto possui, vez que ao omitir-se sobre a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito privado que, por sua vez, integram a Administração Pública, deixou-se em aberto a interpretação da sua responsabilidade, de que poderiam estar regidas pelo sistema a que as demais pessoas, físicas ou jurídicas, estão submetidas, ou seja, o de regime privado. 81 Nesse sentido, argumenta-se que o parágrafo único do art. 927 do Código Civil, que rege a responsabilidade das pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, ao impor a responsabilidade objetiva face ao risco da natureza 76 Ibidem, p. 223. Idem. 78 Ibidem, p. 206. 79 Ibidem, p. 224. 80 Idem. 81 Idem. 77 20 da atividade, esta abrangeria as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, entretanto, para Romeu Felipe BACELLAR FILHO tal interpretação é forçada, haja vista que nem toda atividade exercida por tais pessoas acarretam num risco para os direitos de terceiros, o que acaba incidindo numa interpretação inconstitucional frente ao art. 37, § 6º da Constituição Federal, o que tornaria o art. 43 do Código Civil plenamente inaplicável.82 Em relação, ainda, à Constituição de 1988, é importante ressaltar que, embora seja pacífico que em relação aos atos comissivos a responsabilidade seja objetiva, há discussão acerca da aplicabilidade desta responsabilidade nos casos de omissão na prestação de serviço público, a qual será analisada neste trabalho, mais adiante. 8 ORIGENS DA RESPONSABILIDADE E A RESPONSABILIDADE SUBJETIVA Conforme indicado e suscitado anteriormente, a responsabilidade do Estado nos casos de omissão gera grande discussão e divergência, e neste tópico será analisado a vertente que trata da responsabilidade subjetiva do Estado. Celso Antônio Bandeira de MELLO pode ser tomado como marco teórico, eis que entende que a responsabilidade é subjetiva em virtude de o dano decorrer de um procedimento contrário ao Direito, ou seja, quando havia a obrigatoriedade de evitá-lo.83 Afirma que “É mister acentuar que a responsabilidade por „falta de serviço‟, falha do serviço ou culpa do serviço (...) não é, de modo algum, modalidade de responsabilidade objetiva, ao contrário do que entre nós e alhures, às vezes, tem-se inadvertidamente suposto. É responsabilidade subjetiva porque baseada na culpa (ou dolo).”84 82 Ibidem, p. 225. MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso... p. 861. 84 Ibidem, p. 862. 83 21 Assim, não basta o nexo de causalidade entre o dano e uma atividade estatal, é necessário averiguar a existência dos elementos tipificadores da responsabilidade subjetiva, a culpa ou o dolo.85 Segundo Maria Helena DINIZ, a responsabilidade objetiva somente se dará mediante a ocorrência de um ato comissivo por parte do Poder Público, vez que sem este não haveria causa para a existência daquela.86 De igual forma Amaro CAVALCANTI entende que Na omissão, porém, a coisa é sabidamente diversa. Não há uma violação positiva por meio de ato ou fato: ao contrário, há ausência dêstes. Daqui a necessidade de adotar critério diferente na averiguação da responsabilidade, que por ventura exista, quanto à suposta ou alegada lesão do alheio direito. E esse critério, outro não poderia ser senão a prova de negligência ou de culpa na omissão do ato, que deveria ser praticado, isto é, o Estado só deve responder pelo dano alegado em caso de omissão, quando se houver verificado que a omissão do seu representante fôra proposital, culposa ou dolosa. Bem se compreende, sem haver mister de dar a demonstração que, se assim não fôra, o Estado ver-se-ia obrigado a responder por tudo quanto os seus representantes deixassem de atender na esfera de suas atribuições, se cada indivíduo entendesse 87 ou pretextasse, que daí proveria uma lesão ou dano aos seus direitos... [grifos do autor] Para Celso Antônio Bandeira de MELLO, a aplicação da teoria objetiva nos casos de omissão, pauta-se em um fundamento equivocado. Segundo ele, o erro está na interpretação que se fez acerca da expressão francesa “faute”, que entre nós fora traduzida erroneamente como “falta”, o que poderia levar a uma interpretação objetiva.88 O que sustentaria tal engano, segundo ele, é a inversão do ônus da prova. Com efeito, na teoria do acidente administrativo, tem-se que existe a presunção de culpa em prol do particular, haja vista que sem esta seria quase impossível identificar e demonstrar que o serviço operouse culposamente.89 Esse seria o fator, então, que levaria à doutrina nacional a considerar a responsabilidade objetiva em tais atos: o que não se sustenta para Celso Antônio Bandeira de MELLO. 85 Ibidem, p. 863. DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. Responsabilidade Civil. 14. ed. 7. vol. São Paulo : Saraiva, 2000. p. 528. 87 CAVALCANTI, Amaro. Responsabilidade Civil do Estado. atual. por José de Aguiar Dias. Tomo I. Rio de Janeiro : Editor Borso I, 1957. p. 350. 88 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso... p. 963. 89 Idem. 86 22 Para ele, se fosse objetiva a responsabilidade a vítima estaria desobrigada a demonstrar qualquer forma de culpa ou dolo, o que não ocorre. Inclusive, o Estado pode demonstrar que agiu com prudência, diligência ou perícia, o que afasta, ou diminui, o seu dever de indenizar, razão pela qual, segundo ele, a hipótese da responsabilidade ser objetiva é plenamente descabida.90 De acordo com o autor não há como se aplicar, em tais hipóteses, o art. 37, § 6° da Constituição Federal, porque tal dispositivo trata somente dos casos de ação, em virtude de sua redação91: As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. [sem grifos no original] Ou seja, o Estado não poderia ser responsabilizado nos casos de omissão, pois sequer agiu e, por isso, não pode ser considerado autor do fato, nem ser responsabilizado por algo que não dera causa, salvo se estivesse obrigado a impedir o dano, razão pela qual a responsabilidade incidiria sempre sobre comportamento ilícito, eis que violou um dever legal que lhe fora imposto.92 Nesse sentido, Lúcia Valle FIGUEIREDO adotando, igualmente, a corrente subjetivista, aduz que para que seja possível a constatação de responsabilidade do Estado pelos danos causados na hipótese de omissão, faz-se necessário verificar se era ou não de se esperar a atuação estatal.93 Outro ponto a ser observado é o posicionamento dos autores que defendem a teoria da falta do serviço com fundamento subjetivo em face das prescrições do art. 43, do Código Civil. Nesse sentido Rui STOCO afirma que, embora o art. 43, do Código Civil vigente disponha que a responsabilidade é objetiva, não afasta a teoria da faute du service permanecendo o entendimento de que a responsabilidade, nos 90 Idem. MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso... p. 871. 92 Ibidem, p. 872. 93 FIGUEIREDO, Lúcia Valle. O Devido Processo Legal e a Responsabilidade do Estado por Dano Decorrente de Planejamento. Disponível em: <http://www.direitopublico.com.br/pdf_13/DIALOGO-JURIDICO-13-ABRIL-MAIO-2002-LUCIAVALLE-FIGUEIREDO.pdf> Acesso em 21.04.2009. 91 23 casos de omissão, é subjetiva,94 pois defende que a omissão do Estado é anônima, vez que a Administração Pública deixou de fazer algo, quando deveria ter feito, não tomou providências, quando deveria tê-las tomado, omitindo-se quando havia a exigência de comportamento ativo seu, de forma danosa.95 O autor, ademais, vai além ao entender que o art. 43, do Código Civil de 2002, define que a responsabilidade decorre de uma conduta ativa, pois decorre de um agir, vez que “(...) quando o Código Civil pretendeu referir-se à conduta ativa (por ação) ou conduta passiva (por omissão), fê-lo expressamente, como se verifica do dispositivo que sustenta o fundamento e o pressuposto da responsabilidade civil, ou seja, o art. 18696 do Código Civil (...).”97 Portanto o dispositivo previsto no Código Civil de 2002 abarcaria somente os danos decorrentes de atos comissivos, eis que o próprio Código não quis abranger os omissivos, pois, se quisesse, teria feito da mesma forma como o fez no seu art. 186. Com base nas disposições ora apresentadas, verifica-se que a teoria subjetiva da responsabilidade do Estado nas hipóteses de falta do serviço não se demonstra a mais adequada, eis que restringe os direitos dos indivíduos, ao fazer a exigência de demonstração de culpa (ainda que seja admitida a inversão do ônus da prova). 9 O ADVENTO DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA Viu-se que a responsabilidade subjetiva é, pois, aquela que deriva da verificação da ocorrência, ou não, de culpa ou dolo por parte do Estado, na hipótese deste vir a causar um dano. Em contrapartida, a responsabilidade objetiva prescinde de tal constatação, em virtude dos princípios publicísticos que a ela se aplicam.98 94 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil. 6. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo : Revista dos Tribunais, 2004. p. 962. 95 Ibidem, p. 963. 96 Art. 186 – “Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” 97 STOCO, Rui. Op. cit., p. 963. 98 FORTINI, Cristiana; SOUZA, Tatiana Santos de. Op. cit., p. 223. 24 Essa objetivação da responsabilidade se justifica pelo fato do Estado se encontrar em uma posição diferenciada em relação aos particulares, vez que possui e goza de inúmeras prerrogativas que, por sua vez, se justificam no atendimento e na concretização do interesse público.99 A objetivação da responsabilidade, segundo Weida ZANCANER BRUNINI se deu em virtude do intervencionismo estatal, portanto, ela “(...) despontava como o remédio jurídico que se poderia conceber, para que a tutela dos direitos subjetivos e interesses legítimos dos cidadãos estivesse ao resguardo da ação estatal (...).”100 Sob um outro enfoque, Zulmar FACHIN, entende que a responsabilidade objetiva é aplicada tanto para os danos provocados por atos comissivos, quanto por omissivos. Para ele “A teoria da responsabilidade objetiva do Estado é uma conquista da sociedade moderna e isto se deu ao longo do tempo. Tanto o agir quanto a inércia têm, para o Direito, grande importância. Tanto um quanto o outro comportamento podem lesar bem jurídico de terceiro, e o Estado deve indenizar os prejuízos.” 101 Segue Augusto Vinícius Fonseca e SILVA, que afirma: Se exige a demonstração de culpa para a configuração da responsabilidade estatal por ato omissivo, (...) restaurar-se-á a situação de desigualdade da vítima/usuário do serviço público danoso, além de constituir, a exigência, verdadeiro retrocesso na escala evolutiva da responsabilidade civil estatal. A conquista da responsabilidade objetiva do Estado, quer por atos comissivos, quer por atos omissivos, não pode ser deixada de lado. A vulnerabilidade da parte mais fraca é reconhecimento da 102 cidadania e concretizante do princípio da igualdade material. Nesse sentido, e como já observado, a adoção da responsabilidade objetiva é recente, vez que no ordenamento brasileiro somente passou a existir em relação ao Estado, a partir de 1946, e é considerada uma conquista. Nesse contexto, admitir a interpretação de que a Constituição Federal de 1988 teria um fundamento subjetivo para os casos de omissão seria permitir o retrocesso e abrir mão das conquistas afirmadas desde 1946. 99 BACELLAR FILHO, Romeu Felipe. Direito... p. 224. ZANCANER BRUNINI, Weida. Da Responsabilidade Extracontratual da Administração Pública. São Paulo : Revista dos Tribunais, 1981. p. 29. 101 FACHIN, Zulmar. Responsabilidade Patrimonial do Estado por Ato Jurisdicional. Rio de Janeiro : Renovar, 2001. p. 115. 102 SILVA, Augusto Vinícius Fonseca e. O Direito enquanto Ciência e a Hermenêutica do Direito: importância e atualidade dos temas. Disponível em: <http://www.praetorium.com.br/v2009/artigos/66> Acesso em 28 de abril de 2009. 100 25 Para Weida ZANCANER BRUNINI a responsabilidade objetiva aplicarse-ia nas relações entre o administrado e o Estado, quando este lhe causa um dano, cabendo ao cidadão somente a demonstração do dano antijurídico e do nexo de causalidade entre o dano e a atividade do Estado.103 Contudo, essa constatação não exclui a existência e aplicabilidade da teoria subjetiva, eis que esta permanece nas relações entre o Estado e seu servidor, na hipótese do dano ter decorrido de ato individual deste, para posterior ação de regresso;104 e, também, permanece nas relações existentes entre o Estado e seu administrado, exclusivamente, nos casos em que o Estado alega uma excludente ou atenuante de sua responsabilidade, portanto, o Direito permite que o Estado se defenda da acusação da ocorrência do dano, em face de um ato ou uma omissão que lhe seja imputável, a partir da teoria subjetiva, ou seja, a partir da demonstração da culpa do lesado.105 De acordo com Emerson GABARDO, a omissão implica na ausência do próprio ente público, mas que não se trata de qualquer ausência, mas daquela que ocorre quando havia o dever jurídico de atuação positiva, expressamente estabelecida em lei.106 Ainda em relação a essa atuação omissiva por parte do Estado, entende Romeu Felipe BACELLAR FILHO que ela ocorre quando se exigia, obrigatoriamente, a atuação do agente e este a não implementou, decorrendo desta falta de atuação um gravame ao particular, cabendo ao ente estatal responder e ressarcir pela lesão.107 Trata-se, para ele, de responsabilidade objetiva em todos os casos, eis que a mera falta do serviço em si é o bastante para considerar como fato gerador da obrigação de indenizar pelo evento danoso.108 Desde logo veja-se que tal posicionamento é fundamento para o tratamento do tema do presente trabalho. Com efeito, a partir de tal doutrina, é possível entender que, sendo o serviço público um instrumento adequado para 103 ZANCANER BRUNINI, Weida. Da Responsabilidade... p. 66. Idem. 105 Ibidem, p. 70-71. 106 GABARDO, Emerson. Responsabilidade Objetiva do Estado em face dos Princípios da Eficiência e da Boa-fé. In: FERRAZ, Luciano; MOTTA, Fabrício. (Coords.). Direito Público Moderno Homenagem Especial ao Professor Paulo Neves de Carvalho. Belo Horizonte : Del Rey, 2003. p. 268. 107 BACELLAR FILHO, Romeu Felipe. Direito... p. 236. 108 Ibidem, p. 211. 104 26 a concretização dos direitos fundamentais dos particulares, o Estado responde objetivamente ao deixar de implementá-lo, ou quando o implementa de forma deficiente, acarretando dano ao particular109, e entende-se que “Nesses casos em que o serviço público sequer existe, ou existe de forma a não abranger uma determinada região, tem, também, o Estado o dever de reparar, já que a sua omissão – no caso específico da inexistência de um serviço público – é ilícita face à determinação constitucional do direito dos cidadãos a esse espécie de serviços ali colacionados.”110 Cabe, ainda, referir o fundamento pelo qual os autores brasileiros refutam a interpretação subjetiva para a teoria do acidente administrativo. Paulo MODESTO, nesse sentido, entende que a inversão do ônus da prova e a presunção de culpa do Estado, face aos administrados, feita por Celso Antônio Bandeira de MELLO, por exemplo, trata-se de mero subterfúgio que não afasta a exigência da demonstração de culpa individual do agente ou anônima do Estado por parte da vítima para o ingresso de ação judicial. Assevera que tal exigência é manifesta iniqüidade, sustentando, nesse sentido, que para que haja a responsabilização do Estado, caberá à vítima apenas a demonstração da efetividade, da especialidade e da antijuridicidade do dano que lhe fora ocasionado, bem como o vínculo existente entre este dano e a omissão estatal.111 Segundo Yussef Said CAHALI a culpa está prevista no art. 37, § 6º da Constituição Federal, apenas para assegurar a ação regressiva contra o causador do dano, o que permite concluir que, por exclusão, se se omitiu acerca do elemento subjetivo no corpo do artigo, é que a reparação incidirá para as pessoas jurídicas de direito público e de direito privado, prestadoras de serviço público, em qualquer caso e independentemente de demonstração de culpa na ocorrência de dano.112 Portanto, permite-se afirmar que, de acordo com a evolução histórica pela qual percorreu o instituto, o legislador instituiu a responsabilidade objetiva, 109 Ibidem, p. 234. ZANCANER, Weida. Responsabilidade do Estado, Serviço Público e os Direitos dos Usuários. In: FREITAS, Juarez (Org.) Responsabilidade Civil do Estado. São Paulo : Malheiros, 2006. p. 352. 111 MODESTO, Paulo. Responsabilidade do Estado pela Demora na Prestação Jurisdicional. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, n. 227, p. 291-308, jan./mar. 2002. p. 305. 112 CAHALI, Yussef Said. Op. cit., p . 30. 110 27 inclusive nas hipóteses de omissão na prestação do serviço público, eis que ela possibilita uma maior garantia dos direitos dos particulares, face às prerrogativas a que detém o Poder Público, bem como oferece maior segurança jurídica frente às investidas do Estado, eis que de sua atuação, ativa ou passiva, pode vir a causar danos aos seus administrados. Nesse sentido, conclui-se no presente trabalho pela objetiva, eis que, como se viu, sendo o serviço público um instrumento pelo qual o Estado concretiza os direitos fundamentais, cuja titularidade é dos indivíduos, garantidores de sua sobrevivência e garantidores de uma existência digna, – como se verá no próximo tópico – na hipótese do Estado omitir-se na sua devida prestação, negando a fruição de um direito previsto na Constituição Federal, a responsabilidade objetiva se torna àquela que proporciona o atendimento e concretização de uma justiça material face os cidadãos, outorgantes dos poderes inerentes ao Poder Público. Em relação à ausência da prestação do serviço público, ensejadora da responsabilidade objetiva, será analisado abaixo o caráter de direito fundamental a que possui, eis que, se é o meio pelo qual o Estado concretiza os direitos fundamentais de seus administrados, afirma-se, no presente trabalho, que ele se constitui, também, em um direito fundamental, pelas razões que se passa a expor. 10 SERVIÇO PÚBLICO COMO DIREITO FUNDAMENTAL E A POSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO JURISDICIONAL PARA SUA GARANTIA Toda a análise das teorias da responsabilidade do Estado feita no presente trabalho teve por objetivo encontrar um mecanismo que permita uma maior garantia dos cidadãos em face da prestação do serviço público, entendido como direito fundamental. Com efeito, a Constituição Federal de 1988, enquanto um documento normativo estabelece que toda pessoa tem direitos fundamentais que lhe são inerentes, os quais tem por finalidade garantir a proteção da dignidade da pessoa humana, princípio basilar da Constituição. Neste contexto, a Constituição, ainda, define no seu art. 1° que o Brasil constitui-se em um Estado Democrático de Direito, tendo por fundamentos a 28 soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. E, dentre seus objetivos (previstos no art. 3° da Carta Magna113), permite-se afirmar que a Constituição buscou instituir uma sociedade livre, justa, democrática e solidária. Deste modo, José Carlos Cal GARCIA FILHO adverte que “Toda a ação estatal deve estar voltada, em última análise, à realidade desses princípios, sob pena de subversão da ordem constitucional. É dizer, todas as normas jurídicas de natureza infraconstitucional, assim como as ações materiais desenvolvidas pelo Estado devem, na medida das suas possibilidades, voltar-se à realização dos princípios estruturantes da República Federativa do Brasil.”114 Nesse diapasão, Romeu Felipe BACELLAR FILHO destaca que a Administração Pública somente se justifica na satisfação das necessidades coletivas, e que a eficiência na prestação dos serviços na proteção dos direitos fundamentais à coletividade que confere legitimidade ao Estado.115 Em relação aos direitos fundamentais previstos na Constituição, têm-se aqueles conhecidos como de primeira geração, ou como direitos personalíssimos, que não exigem, a princípio, uma atuação estatal positiva para garantir a sua fruição por parte dos indivíduos, pelo contrário, exigem sua abstenção. E, também, os chamados de segunda geração, ou de direitos sociais, que exigem essa atuação positiva e progressiva do Estado, a fim de que se possibilite a sua concretização, fruição e o pleno gozo pelos particulares. Sobre os últimos, Ana Cláudia FINGER aduz que “(...) os direitos fundamentais sociais não são direitos contra o Estado, mas sim direitos por meio do Estado. Isto significa que são direitos a prestações materiais positivas 113 Art. 3° - “Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I – construir uma sociedade livre, justa e solidária; II – garantir o desenvolvimento nacional; III – erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; IV – promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.” 114 GARCIA FILHO, José Carlos Cal. Serviço Público e Direitos Fundamentais. A&C Revista de Direito Administrativo e Constitucional, Belo Horizonte, a. 8, n. 33, p. 11-32, jul./set. 2008. p. 15. 115 BACELLAR FILHO, Romeu Felipe. O Poder Normativo dos Entes Reguladores e a Participação dos Cidadãos nesta Atividade. Serviços Públicos e Direitos Fundamentais: Os Desafios da Regulação na Experiência Brasileira. Actualidad en el Derecho Público, Buenos Aires, a. 8, n. 18-20, p. 61-73, jan./dez. 2002. p. 63. 29 que o Estado, por meio das leis, dos atos administrativos e também da implementação dos serviços públicos está adstrito a realizar, a fim de concretizar o gozo efetivo dos direitos constitucionalmente protegidos.”116 E se mostra, novamente, oportuna a passagem que define que o serviço público é, pois, um direito subjetivo do indivíduo que se constitui em um instrumento de efetiva realização e concretização desses direitos; desta forma discute-se acerca do papel do Poder Judiciário na concretização dos direitos sociais, em virtude da incapacidade do Estado de prover os serviços públicos.117 Este é o sentido que se visa demonstrar no presente tópico, eis que o serviço público, ao se constituir em um instrumento que proporciona a concretização dos direitos fundamentais, não pode deixar de ser prestado pelo Estado e, se este não o faz ou se faz, mas de forma deficiente ou tardia, cabe responsabilização do poder público. Por isso, torna-se relevante o estudo do papel do Poder Judiciário, que, na ausência ou precariedade da prestação do serviço pelo Estado, permite a sua garantia. Nesse contexto, Cármen Lúcia Antunes ROCHA ao definir os direitos sociais como fundamentais, entende que assim são concebidos em virtude de proporcionarem a sustentação da condição humana. São esses direitos que viabilizam uma existência digna aos homens, eles que permitem que estes se desenvolvam plenamente.118 Vale dizer, os direitos sociais são tão fundamentais quanto os personalíssimos. A autora, ainda, merecendo transcrição direta, ensina que “Os direitos sociais são devidos pelas sociedades a todos os homens. Qualquer exclusão é desumana, antes mesmo de ser antijurídica. A negação dos direitos individuais desumaniza; a negação dos direitos sociais exclui da humana experiência de membro da sociedade os que têm os seus direitos renegados.”119 Portanto, são os direitos sociais que, assim como todo rol de direitos fundamentais, proporcionam a efetivação do princípio da dignidade da pessoa 116 FINGER, Ana Cláudia. Serviço Público: um Instrumento de Concretização de Direitos Fundamentais. A&C Revista de Direito Administrativo e Constitucional, Belo Horizonte, a. 3, n. 12, p.141-165, abr./jun. 2003. p. 142 117 Ibidem, p. 143. 118 ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. Direito de/para Todos. Belo Horizonte: Fórum, 2004. p. 56. 119 Idem. 30 humana, fundamento do Estado Democrático de Direito, eis que representa a síntese dos valores fundamentais vigentes no ordenamento jurídico brasileiro.120 Com efeito “(...) a promoção de direitos fundamentais está diretamente ligada à realização do princípio da dignidade da pessoa humana. Desse modo, quando o Estado desencadeia esforços voltados à satisfação de necessidades básicas, que possam ser conduzidas a direitos fundamentais, está, em última análise, dando concretização ao princípio da dignidade da pessoa humana.”121 [grifos do autor] Nesse sentido ingressa a importância do serviço público, vez que o “(...) serviço público comporta, pois, a idéia de uma atividade voltada à promoção do desenvolvimento social, à realização de direitos fundamentais que se encontram albergados no núcleo do princípio da dignidade da pessoa humana.”122 Segundo Romeu Felipe BACELLAR FILHO, a partir da instrumentalidade conferida ao serviço público em relação aos direitos fundamentais, quando possibilita o exercício destes, ele encontra seu fim na realização da dignidade da pessoa humana.123 O autor continua ao observar que parte da doutrina tem se dirigido no sentido de se admitir o direito fundamental ao serviço adequado, permitindo aos particulares exigir do Estado prestações positivas acerca das necessidades coletivas, que lhe são entendidas como essenciais.124 Nos termos de José Carlos Cal GARCIA FILHO, “Será, portanto, serviço público toda atividade voltada à satisfação de necessidades fundamentais de interesse geral da coletividade, que representem, em última análise, desdobramentos do princípio da dignidade da pessoa humana.”125 Ademais, como se viu no primeiro capítulo, Marçal JUSTEN FILHO no mesmo sentido de GARCIA FILHO, define o serviço público como uma atividade pública de atendimento de necessidades essenciais, vinculadas a um direito fundamental. Afirma, ainda, que sempre que tal necessidade estiver 120 GARCIA FILHO, José Carlos Cal. Op. cit. p. 16-17. Ibidem, p. 17 122 Ibidem, p. 26. 123 BACELLAR FILHO, Romeu Felipe. O Poder... p. 64. 124 Idem. 125 GARCIA FILHO, José Carlos Cal. Op.cit., p. 27. 121 31 relacionada à dignidade da pessoa humana, ela poderá ser satisfeita mediante um serviço público.126 Neste contexto, a Constituição Federal de 1988 ao eleger o princípio da dignidade como o alicerce e fundamento do sistema jurídico, condicionou seus poderes à realização da justiça material, bem como os direitos que a ela são inerentes.127 A esse respeito, Cármen Lúcia Antunes ROCHA afirma que A expressão daquele princípio como fundamento do Estado do Brasil quer significar, pois, que esse existe para o homem, para assegurar condições políticas, sociais, econômicas e jurídicas que permitam que ele atinja os seus fins; que o seu fim é o homem, como fim em si mesmo que é, quer dizer, como sujeito de dignidade, de razão digna e supremamente posta acima de todos os bens e coisas, inclusive do 128 próprio Estado. Continua ao ensinar que “Esse princípio vincula e obriga todas as ações e políticas públicas, pois o Estado é tido como meio fundado no fim que é o homem, ao qual se há de respeitar em sua dignidade fundante do sistema constituído (constitucionalizado) É esse acatamento pleno ao princípio que torna legítimas as condutas estatais, as suas ações e as suas opções.”129 Nesse sentido, a própria Constituição, além de um documento normativo, é considerada um instrumento de concretização da cidadania, bem como dos direitos fundamentais, os quais estipula, em que toda a organização estatal e distribuição das suas competências se justificam em razão de constituírem um mecanismo para assegurar à todos uma vida digna.130 A partir do entendimento de que estando o serviço público assegurado ao indivíduo, indistintamente, por constituir-se em um mecanismo de concretização dos direitos fundamentais, cuja prestação incumbe ao Estado, e que na hipótese deste se omitir em relação à sua incumbência é que se 126 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 30. 127 FINGER, Ana Cláudia. Serviço... p. 149. ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. O Princípio da Dignidade da Pessoa Humana e a Exclusão Social. In: Anais da XVII Conferência Nacional dos Advogados. Justiça: realidade e utopia. Brasília: OAB, Conselho Federal, 2000, vol. 1, p. 69-70. 129 Ibidem, p. 70. 130 FINGER, Ana Cláudia. Serviço... p. 150. 128 32 assegura, também, a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário para exigir a concretização de seu direito.131 Contudo, discute-se sobre a efetividade e a justicialização dos direitos sociais, bem como a legitimidade do Poder Judiciário e a limitação de sua atuação na tutela desses direitos. 132 Em relação à eficácia desses direitos, entende-se que elas estariam inseridas nas normas programáticas e que não geravam direitos subjetivos aos indivíduos, pois possui eficácia reduzida. Nesse sentido, a Constituição de 1988 estipula em seu art. 5°, parágrafo único, que as normas definidoras de direitos fundamentais têm aplicabilidade imediata, sem fazer qualquer distinção entre eles, razão pela qual não há mais que se falar em caráter programático, tendo, inclusive, os incluído no rol das cláusulas pétreas.133 Estas, por sua vez, compõem-se por um rol de direitos considerados essenciais pelo Estado, previstos no art. 60, §4º, IV da Constituição134, que não estão passíveis de alteração, nem mesmo por deliberação de proposta de emenda constitucional. Para Ingo W. SARLET não se pode reduzir a eficácia da norma de qualquer das categorias de direitos fundamentais, uma vez que reduzi-la implicaria na equiparação de tais normas às demais normas constitucionais, o que retiraria a fundamentalidade desses direitos.135 Sobre a efetividade dos direitos fundamentais, Luiz Roberto BARROSO aduz que “A efetividade significa, portanto, a realização do Direito, o desempenho concreto de sua função social. Ela representa a materialização, no mundo dos fatos, dos preceitos legais e simboliza a aproximação, tão íntima quanto possível, entre o dever-ser normativo e o ser da realidade social.”136 [grifos do autor] Deste modo, o Estado ao prestar os serviços públicos, está concretizando os direitos sociais que, por sua vez, implicam na concretização 131 Idem. Ibidem, p. 142-143. 133 Ibidem, p. 151-152. 134 Art. 60, §4º - “Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: IV – os direitos e garantias individuais;” 135 SARLET, Ingo W. Os Direitos Fundamentais Sociais na Constituição de 1988. Disponível em: <http://www.direitopublico.com.br/pdf/REVISTA-DIALOGO-JURIDICO-01-2001INGO-SARLET.pdf> Acesso em 28 de abril de 2009. 136 BARROSO, Luiz Roberto. O Direito Constitucional e a efetividade de suas normas: limites de possibilidades da Constituição Brasileira. 6ª ed. atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. p. 85. 132 33 do Direito. Ademais, conforme o entendimento do autor, ao colocar em prática os direitos sociais, está se colocando em prática os preceitos legais à realidade social, em prol dos particulares. A respeito da inadmissibilidade de justiciabilidade dos direitos sociais, o argumento a que se funda tal afirmativa, situa-se no princípio da separação dos poderes, ao se entender e alegar que o Judiciário não pode intervir na esfera de outro Poder.137 Adriana da Costa Ricardo SCHIER afirma que em virtude do positivismo e das técnicas de interpretação mecanicistas não mais proporcionarem meios de solução para os conflitos, surge a “(...) necessidade de se revisar a teoria da separação de poderes, a dimensão do princípio democrático, o método de compreensão e interpretação do Direito e, com isso, a dimensão do controle de constitucionalidade e a legitimidade do sistema jurídico.”138 Nesse sentido, a autora propõe que essa revisão se dê através do neoconstitucionalismo, isto é, na busca de uma nova interpretação da Constituição a partir de valores e princípios com o intuito de se implementar uma nova compreensão do direito.139 Da mesma forma, Andréas Joachim KRELL assevera que a apreciação dos fatores que permitem a implementação e a concretização dos direitos sociais cabe, principalmente, aos órgãos políticos e administrativos, razão pela qual entende ser necessário rever a teoria da separação dos poderes, eis que os Poderes Legislativo e Executivo se mostram incapazes de garantir o cumprimento dos preceitos constitucionais.140 Nas palavras do autor “(...) o princípio da separação dos poderes, idealizado por Montesquieu, está produzindo, com sua grande força simbólica, um efeito paralisante às reivindicações de cunho social e precisa ser submetido a uma nova leitura, para poder continuar servir ao seu escopo original de 137 FINGER, Ana Cláudia. Serviço... p. 153. SCHIER, Adriana da Costa Ricardo. Apontamentos Sobre as Teorias do Neoconstitucionalismo e sua Influência no Controle de Constitucionalidade. Revista Forense, a. 104, v. 397, p. 619-627, maio/jun. Rio de Janeiro : Forense, 2008. p. 626. 139 Idem. 140 KRELL, Andréas Joachim. Realização dos Direitos Fundamentais Sociais mediante Controle Judicial da Prestação dos Serviços Públicos Básicos (uma visão comparativa). Disponível em: <http://www.senado.gov.br/web/cegraf/ril/Pdf/pdf_144/r14417.PDF> Acesso em: 26 de abril de 2009. 138 34 garantir direitos fundamentais contra o arbítrio e, hoje também, a omissão estatal.”141 Desta forma, e de acordo com o autor, as normas de direitos sociais determinam a realização de tarefas por parte do Estado, constituindo direito aplicável diretamente, visto que a Constituição prevê que as normas de direitos fundamentais têm aplicação imediata, nesse sentido, na hipótese de omissão por parte do ente estatal, cabe a intervenção judicial.142 Portanto, a intervenção do Poder Judiciário não implica na usurpação das funções dos demais Poderes, nem tampouco significa a plena violação do princípio federativo da tripartição dos poderes, mas apenas que tutele os direitos previstos constitucionalmente. Afirma, ainda, que o Estado Social exige uma magistratura que esteja preparada a cumprir as exigências de um direito material, e não por uma concepção formalista, que, segundo o autor, pode ser vista como o maior empecilho para a garantia de uma maior proteção dos direitos fundamentais.143 Nesse mesmo sentido, Ana Cláudia FINGER enfatiza que o “(...) Estado Social preconizado na Constituição Federal de 1988 exige uma nova compostura do operador do direito, com vistas a uma interpretação orientada por valores.”144 A partir dessas considerações, segundo a autora, para que seja possível uma maior efetivação e concretização dos direitos sociais, torna-se imprescindível uma gradual intervenção do Judiciário, juntamente com as ações dos demais entes estatais e com a participação da sociedade civil.145 Assim, “Nesse sentido, evidenciando o serviço público como um direito do cidadão que se assenta no correspectivo dever do Estado prestá-lo para a satisfação de um direito fundamental, fica aquele investido de um poder jurídico de exigir prontamente a sua prestação, via Poder Judiciário, sempre que verificada a omissão estatal ou mesmo a sua ineficiência.” 146 E que a ineficiência na realização da implementação dos objetivos estipulados no 141 Idem. Idem. 143 Idem. 144 FINGER, Ana Cláudia. Serviço... p. 155. 145 Ibidem, p. 157. 146 Ibidem, p. 163. 142 35 programa governamental, sujeita o Poder Público “(...) à sindicabilidade de seus atos ou omissões e à responsabilização de seus agentes.”147 Em síntese, inserindo-se o serviço público como um direito fundamental, eis que este concretiza ou ao menos possibilita a concretização dos direitos fundamentais, o instituto da responsabilidade do Estado incide como uma garantia da atuação eficaz deste, no sentido de prestar adequadamente o serviço público, a fim de que se possibilite, aos particulares, a plena fruição de seus direitos e o seu desenvolvimento social, de forma digna, vez que esta é a função de um Estado Democrático de Direito, instituído pela Constituição Federal de 1988. CONCLUSÃO O serviço público, enquanto uma atividade que visa melhorar a vida dos indivíduos, quando não prestado, ou prestado de forma irregular, incide na responsabilização do ente público, visto que é de sua competência prover ou, ao menos, possibilitar a prestação. Neste contexto, a responsabilidade do Estado é um instituto de grande relevância para o Direito, pois assegura os direitos dos indivíduos em face dos danos que lhe são causados, injustamente, pelo Poder Público. Assim, quando o Estado provoca um dano ao particular, cabe àquele ressarcir o dano. Contudo, discute-se se este ocorreu em virtude de um ato comissivo ou omissivo por parte da Administração. Em relação aos danos decorrentes de atos comissivos, é pacífico na que se trata de responsabilidade objetiva. Contudo, se decorrer de um ato omissivo a divergência se instaura: de um lado, os adeptos da vertente subjetiva, que se baseiam no critério da demonstração de culpa ou dolo por parte do Estado; e de outro, os adeptos da objetiva, que entendem que esta se aplica nos casos omissivos, eis que impera a dificuldade da demonstração pelo lesado de qualquer culpa ou dolo estatal. Embora haja grande divergência sobre o assunto, parte-se do dispositivo constitucional que determina que as pessoas de direito público e as 147 Idem. 36 de direito privado, quando prestadoras de serviços públicos, respondem pelos danos causados. Percebe-se que desta forma, a Constituição prevê a responsabilidade objetiva de tais pessoas, na hipótese de ocorrência de dano. Neste diapasão, entende-se que não cabe ao intérprete restringir o que o legislador não restringiu, assim como não há que se falar em responsabilidade subjetiva em face do Estado, tendo em vista que esta suposição representaria um completo retrocesso de todo um desenvolvimento pelo qual percorreu a teoria objetiva até os dias atuais. Ademais, suscitar a aplicabilidade da teoria subjetiva em prol do Estado seria enaltecer a sua posição diferenciada em relação ao seu administrado, em virtude das prerrogativas que detém. Todavia, ressalte-se que estas prerrogativas lhe foram concedidas pelo povo, uma vez que a Constituição dispõe que todo poder emana do povo, razão pela qual se permite concluir que se o Estado se utiliza de seus privilégios que, repita-se, foram-lhe outorgados, e causa danos aos cidadãos, aos quais tem o dever de exercer todas as suas atividades com o objetivo de realizar o bem comum e atender as suas necessidades, deve ser responsabilizado, independente de o dano ter sido ocasionado em virtude de um ato lícito ou ilícito de sua parte, bem como se derivado de ação ou omissão. Deste modo, afirmar que prevalece a teoria objetiva é afirmar que o Estado estaria a cumprir os fins pelos quais a Constituição elegeu para garantir a dignidade da pessoa humana, num Estado Democrático de Direito. Neste diapasão, pois, admitir a teoria subjetiva, implicaria renegar a aplicabilidade dos direitos fundamentais, eis que estes, por sua vez, permitem a sustentação do daquele princípio maior. A partir destas considerações, toma-se o serviço público como um direito fundamental, que existe com a finalidade de proporcionar e firmar a realização dos direitos fundamentais, isto é, proporcionar a concretização da dignidade da pessoa humana. Esta, vale dizer, enquanto eleita como princípio basilar do Estado brasileiro, implica e condiciona os poderes estatais na sua consecução. Em decorrência de tal afirmativa, questiona-se o papel e a possível intervenção do Poder Judiciário para permitir que se garanta a prestação do serviço público, quando o responsável por tal atividade se omite. 37 Alega-se que não poderia ser admitida esta interferência em razão do princípio federativo da tripartição dos poderes, uma vez que um Poder não pode intervir na esfera de atuação de outro Poder. Entretanto, a função do Poder Judiciário é garantir a aplicação das normas constitucionais, controlando o seu cumprimento, e a sua intervenção não implica numa usurpação da função dos demais poderes, mas apenas com ele se permite tutelar os direitos previstos constitucionalmente, razão pela qual se exige a sua intervenção. Portanto, o Judiciário ao intervir e exigir a prestação de determinado serviço público que deixou de ser prestado, ou que o foi de forma irregular, somente permite a concretização dos objetivos elencados pela Constituição Federal. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BACELLAR FILHO, Romeu Felipe. Direito Administrativo e o Novo Código Civil. Belo Horizonte : Fórum, 2007. _____. O Poder Normativo dos Entes Reguladores e a Participação dos Cidadãos nesta Atividade. Serviços Públicos e Direitos Fundamentais: Os Desafios da Regulação na Experiência Brasileira. Actualidad en el Derecho Público, Buenos Aires, a. 8, n. 18-20, p. 61-73, jan./dez. 2002. BARROSO, Luiz Roberto. O Direito Constitucional e a efetividade de suas normas: limites de possibilidades da Constituição Brasileira. 6. ed. atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 16. ed. São Paulo : Malheiros. 2005. CAHALI, Yussef Said. Responsabilidade Civil do Estado. 2. ed. São Paulo : Malheiros, 1995. CAVALCANTI, Amaro. Responsabilidade Civil do Estado. Tomo I. Rio de Janeiro : Editor Borso I, 1957. DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. Responsabilidade Civil. 14. ed. São Paulo : Saraiva, 2000. DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 15. ed. São Paulo : Atlas, 2002. 38 FACHIN, Zulmar. Responsabilidade Patrimonial Jurisdicional. Rio de Janeiro : Renovar, 2001. do Estado por Ato FIGUEIREDO, Lúcia Valle. O Devido Processo Legal e a Responsabilidade do Estado por Dano Decorrente de Planejamento. Disponível em: < http://www.direitopublico.com.br/pdf_13/DIALOGO-JURIDICO-13-ABRIL-MAIO2002-LUCIA-VALLE-FIGUEIREDO.pdf> Acesso em: 21.04.2009. FINGER, Ana Cláudia. O Público e o Privado na Administração Pública. In: GUIMARÃES, Edgar (Coord.). Cenários do Direito Administrativo: Estudos em homenagem ao Professor Romeu Felipe Bacellar Filho. Belo Horizonte : Fórum, 2004. p. 57-83. _____. Serviço Público: um Instrumento de Concretização de Direitos Fundamentais. A&C Revista de Direito Administrativo e Constitucional, Belo Horizonte, a. 3, n. 12, p.141-165, abr./jun. 2003. FORTINI, Cristiana; SOUZA, Tatiana Santos de. A Responsabilidade Civil do Estado por Omissão Legislativa. A&C Revista de Direito Administrativo e Constitucional, Belo Horizonte, a. 6, n. 26, p. 221-234, out./dez. 2006. GABARDO, Emerson. Responsabilidade Objetiva do Estado em face dos Princípios da Eficiência e da Boa-fé. In: FERRAZ, Luciano; MOTTA, Fabrício. (Coords.). Direito Público Moderno Homenagem Especial ao Professor Paulo Neves de Carvalho. Belo Horizonte : Del Rey, 2003. GARCIA FILHO, José Carlos Cal. Serviço Público e Direitos Fundamentais. A&C Revista de Direito Administrativo e Constitucional, Belo Horizonte, a. 8, n. 33, p. 11-32, jul./set. 2008. GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. 12. ed. São Paulo : Malheiros, 2007. GROTTI, Dinorá Adelaide Musetti. O Serviço Público e a Constituição Brasileira de 1988. São Paulo : Malheiros, 2003. KRELL, Andréas Joachim. Realização dos Direitos Fundamentais Sociais mediante Controle Judicial da Prestação dos Serviços Públicos Básicos (uma visão comparativa). Disponível em: <http://www.senado.gov.br/web/cegraf/ril/Pdf/pdf_144/r144-17.PDF> Acesso em: 26 de abril de 2009. JÉZE, Gaston. Principios Generales del Derecho Administrativo. Buenos Aires : Depalma, 1949. JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. São Paulo : Saraiva, 2005. 39 _____. O Direito Regulatório. In: GUIMARÃES, Edgar (Coord.). Cenários do Direito Administrativo: Estudos em homenagem ao Professor Romeu Felipe Bacellar Filho. Belo Horizonte : Fórum, 2004. p. JUSTEN, Mônica Spezia. A noção de serviço público no direito europeu. São Paulo: Dialética, 2003. MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno. 7. ed. São Paulo : Revista dos Tribunais, 2003. MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 26. ed. São Paulo : Malheiros, 2003. MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 19. ed. São Paulo : Malheiros, 2005. _____. Serviço Público e sua Feição Constitucional no Brasil. In: MODESTO, Paulo; MENDONÇA, Oscar (Coords.). Direito do Estado Novos Rumos. São Paulo : Max Limonad, 2001. p,13-35. MIRANDA, Jorge. Teoria do Estado e da Constituição. Rio de Janeiro : Forense. 2003. MODESTO, Paulo. Responsabilidade do Estado pela Demora na Prestação Jurisdicional. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, n. 227, p. 291308, jan./mar. 2002. MONTEIRO FILHO, Carlos Edison do Rêgo. Problemas de Responsabilidade Civil do Estado. In: FREITAS, Juarez (Org.) Responsabilidade Civil do Estado. São Paulo : Malheiros, 2006. P. 37-55. MUKAI, Toshio. Direito Administrativo Sistematizado. São Paulo : Saraiva, 1999. NOVAIS, Jorge Reis. Contributo para uma Teoria do Estado de Direito. Coimbra: Almedina. 2006. OLIVEIRA, Gustavo Justino de. Responsabilidade civil do Estado: reflexões a partir do direito fundamental à boa administração pública. Revista Brasileira de Direito Público, Belo Horizonte, a. 1, n. 1, p. 43-53, abr./jun. 2003. OLIVEIRA, José Carlos de. Responsabilidade Patrimonial do Estado: Danos decorrentes de enchentes, vendavais e deslizamentos. Bauru : Edipro, 1995. PRADO, Safira Orçatto M. do. Fundamentos da Irresponsabilidade Estatal por Atos Judiciais – Críticas e Refutações. A&C Revista de Direito Administrativo e Constitucional, Belo Horizonte, a. 3, n. 14, p. 87-109, out./dez. 2003. ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. Direito de/para Todos. Belo Horizonte: Fórum, 2004. 40 _____. O Princípio da Dignidade da Pessoa Humana e a Exclusão Social. In: Anais da XVII Conferência Nacional dos Advogados. Justiça: realidade e utopia. Brasília: OAB, Conselho Federal, 2000, vol. 1, p. 69-92. _____. Princípios Constitucionais da Administração Pública. Belo Horizonte : Del Rey, 1994. SARLET, Ingo W. Os Direitos Fundamentais Sociais na Constituição de 1988. Disponível em: <http://www.direitopublico.com.br/pdf/REVISTA-DIALOGOJURIDICO-01-2001-INGO-SARLET.pdf> Acesso em: 28 de abril de 2009. SCHIER, Adriana da Costa Ricardo. A Participação Pública na Administração Pública: O Direito de Reclamação. Rio de Janeiro : Renovar, 2002. _____. Apontamentos Sobre as Teorias do Neoconstitucionalismo e sua Influência no Controle de Constitucionalidade. Revista Forense, a. 104, v. 397, p. 619-627, maio/jun. Rio de Janeiro : Forense, 2008. SERRANO JÚNIOR. Odoné. Responsabilidade Civil do Estado por atos judiciais. Curitiba : Juruá, 1996. SILVA, Augusto Vinícius Fonseca e. O Direito enquanto Ciência e a Hermenêutica do Direito: importância e atualidade dos temas. Disponível em: <http://www.praetorium.com.br/v2009/artigos/66> Acesso em: 28 de abril de 2009. STERMAN, Sonia. Responsabilidade do Estado, Movimentos multitudinários: Saques. Depredações. Fatos de guerra. Revoluções. Atos terroristas. São Paulo : Revista dos Tribunais, 1992. STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil. 6. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo : Revista dos Tribunais, 2004. STRECK, Lenio Luiz; MORAIS, José Luis Bolzan de. Ciência Política e Teoria Geral do Estado. 3. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003. SUNDFELD, Carlos Ari. Fundamentos de Direito Público. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2001. ZANCANER BRUNINI, Weida. Da Responsabilidade Extracontratual da Administração Pública. São Paulo : Revista dos Tribunais, 1981. ZANCANER, Weida. Responsabilidade do Estado, Serviço Público e os Direitos dos Usuários. In: FREITAS, Juarez (Org.) Responsabilidade Civil do Estado. São Paulo : Malheiros, 2006. P. 337-352.
Download