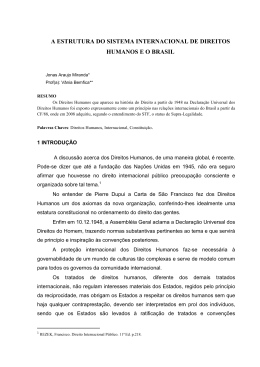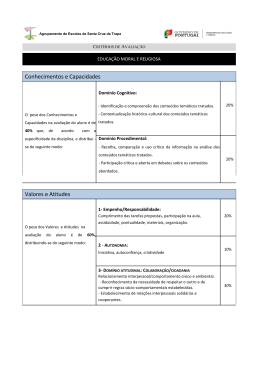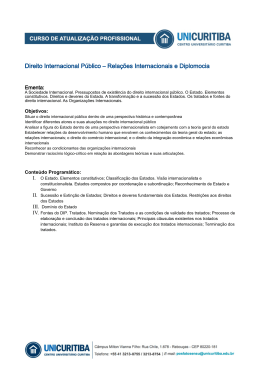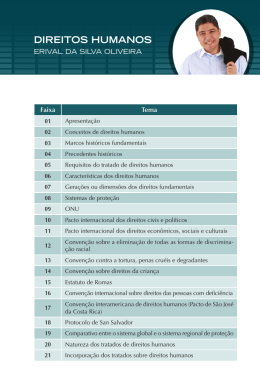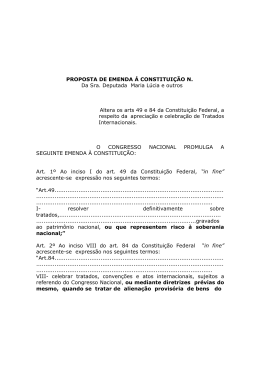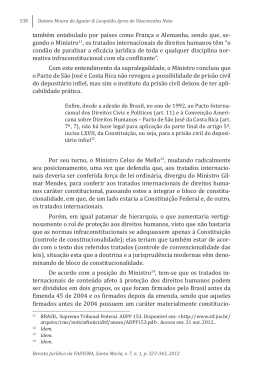REVISTA ÂMBITO JURÍDICO ® Abordagem hist?a dos conflitos entre tratados internacionais e a legisla? brasileira Resumo: Os conflitos entre tratados internacionais e o direito interno, atualmente tem sido um tema sem solução pacífica entre os doutrinadores e a jurisprudência há vários anos. Cumpre analisar primeiramente, toda evolução histórica dos tratados internacionais, posteriormente, apresentar as doutrinas tidas como as mais relevantes para o entendimento do fenômeno relativo às relações do Direito Internacional e o Direito Interno, em seguida, analisar a ação do Poder Legislativo no processo de celebração dos tratados, e por fim, após uma breve apreciação da doutrina e da jurisprudência brasileira, auferir uma visão crítica acerca da atual opção do judiciário brasileiro quando tem que solucionar conflitos entre tratados internacionais e leis internas. Nesse sentido, analisar se o posicionamento do Supremo Tribunal Federal diante dos conflitos existentes entre tratados internacionais e leis internas pode ser considerada como a forma mais adequada de julgar esses conflitos, é objetivo deste trabalho. Por seu turno, são objetivos específicos: Levantar informações sobre o posicionamento do Supremo Tribunal Federal em matéria de supremacia ou não dos tratados internacionais; confrontar os posicionamentos de acordo com o conteúdo das normas dos tratados internacionais; comparar o posicionamento da Excelsa Corte com as atuais tendências em matéria de Direito dos Tratados na sociedade internacional. Para tanto, foram utilizados: a pesquisa bibliográfica, o método dedutivo e como método auxiliar fora utilizado o método comparativo. Em conclusão, o presente trabalho identifica qual o melhor caminho para solucionar os conflitos existentes entre tratados internacionais e leis internas. Palavras–chave: Tratado Internacional. Direito Interno. Conflito. Abstract: The conflicts between international treaties and domestic law, has now been an issue with no peaceful solution between scholars and the case for several years. It should consider first, the whole historical evolution of international treaties, then present the doctrines supposed to be the most relevant for understanding the phenomenon on the relationship of international law and domestic law, then analyze the phenomenon the action of the legislative process for awarding treated, and finally, after a brief examination of the doctrine and jurisprudence in brazil, earning a critical view on the current option of the Brazilian judiciary when he has to resolve conflicts between international treaties and domestic laws. In that sense, analyze the position of the Supreme Court before the conflict between international treaties and domestic laws can be regarded as the most appropriate way to judge these conflicts, the goal of this work. In turn, specific objectives are: to gather information about the positioning of the Supreme Court on whether or not the supremacy of international treaties; confront the placements in accordance whit the substance of the standards of international treaties, to compare the position of Excelsa Court with the current trends in the Law of Treaties in international society. To this end, were used; a literature review, and the deductive method as an auxiliary method was used the comparative method. In conclusion, this study identifies what the best way to resolve conflicts between international treaties and domestic laws. Keywords: International Treaty. National Law. Conflict. Introdução Diante de um cenário internacional que tem a globalização como determinante de suas estruturas, o Direito Internacional vai adquirindo também um aspecto globalizado. O tratado ocupa, nesse marco, uma importante função, visto que é mediante este instrumento que estas configurações emergem, possibilitando aos Estados maior flexibilidade e credibilidade nas suas ações externas. Às relações internacionais interessa intentar acerca dos rumos que poderia tomar uma ordem internacional estruturada sob os moldes jurídico-institucionais cujo elemento de integração dos laços econômicos, sociais, culturais, políticos etc, tem sido o tratado. Diante de tal realidade, o intuito deste trabalho tem por propósito mostrar o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) nos conflitos entre tratados internacionais e leis internas. Acredita-se que o tema deste trabalho será de grande importância para o meio acadêmico, tendo em vista a grande necessidade de realização de estudos nesta área, haja vista que, o conflito entre direito internacional e direito interno é um dos pontos mais importantes da ciência jurídica e ao mesmo tempo dos mais difíceis. O objetivo geral do presente trabalho será analisarmos o atual posicionamento o Supremo Tribunal Federal em matéria de prevalência ou não dos tratados internacionais sobre as normas internas de acordo com o conteúdo neles expressos. Por sua vez serão objetivos específicos: Levantar informações sobre o posicionamento do Supremo Tribunal Federal em matéria de supremacia ou não dos tratados internacionais; confrontar os posicionamentos de acordo com o conteúdo das normas dos tratados internacionais; comparar o posicionamento da Excelsa Corte com as atuais tendências em matéria de Direito dos Tratados na sociedade internacional. Para tal desiderato, adotaremos à pesquisa bibliográfica, onde serão selecionados artigos, textos, leis e doutrinas relacionadas ao tema proposto, sendo base para a construção de toda fundamentação teórica deste trabalho. Destarte, utilizaremos o método dedutivo posto que, o estudo partirá dos conflitos existentes entre tratados internacionais e leis internas, até chegarmos às análises das decisões do STF referentes a esses conflitos. Pretendendo dar um melhor entendimento ao trabalho, encontra-se o mesmo estruturado em quatro capítulos, assim disposto respectivamente: digressão histórica dos tratados internacionais; as teorias atinentes às relações entre direito internacional e direito interno; as relações entre o tratado internacional e o direito interno; e por fim, a opção do judiciário brasileiro para os conflitos entre tratados internacionais e leis internas. No primeiro capítulo, abordaremos toda a evolução histórica dos tratados internacionais, começando desde o primeiro tratado celebrado na história da humanidade até chegarmos a Convenção de Viena de 1969 que versou sobre o Direito dos Tratados, posteriormente, estudaremos a Convenção de Viena de 1986 que tratou sobre Direito dos Tratados entre Estados e Organizações Internacionais ou entre Organizações Internacionais, e por fim, trataremos sobre a historicidade dos tratados em matéria de Direitos Humanos. No capítulo subseqüente, estudaremos as teorias dualistas, monistas e conciliadoras, teorias estas, utilizadas por diversos doutrinadores para solucionar os conflitos existentes entre tratados internacionais e leis internas. No terceiro capítulo, discorreremos toda a processualística interna de conclusão dos atos internacionais. Principalmente a atuação do Poder Legislativo no processo de celebração dos tratados, à luz dos dispositivos constitucionais de 1988 que versa sobre o assunto. Por sua vez, no último capítulo analisaremos o posicionamento da Excelsa Corte diante dos conflitos existentes entre tratados e leis internas. Primeiramente examinaremos o posicionamento do STF e dos doutrinadores com relação ao art. 98 Código Tributário Brasileiro e a questão das isenções de tributos estaduais e municipais por meio de tratados, e posteriormente, estudaremos o posicionamento da Corte Suprema e da doutrina com relação aos conflitos entre tratados comuns e leis internas. Portanto, busca-se com este trabalho, mostrarmos as divergências entre a doutrina e a jurisprudência com relação aos conflitos entre tratados internacionais e leis internas, auferindo no final uma visão crítica acerca da atual posição do judiciário brasileiro. Importante ressaltar que, o presente trabalho não adentrará nos conflitos envolvendo tratados de direitos humanos. Digressão histórica dos tratados internacionais Os tratados internacionais têm sido ao longo da história, um elemento decisivo na formação do sistema jurídico internacional, pois se apresentam como um expediente importantíssimo para as relações entre Estados, visando acomodar os mais variados interesses. A comunidade internacional recorre a esse instituto para firmar convênios, solucionar conflitos, formalizar acordos e principalmente proteger a humanidade das ações que atentem contra a sua dignidade. Neste capítulo, analisaremos os principais aspectos históricos dos Tratados Internacionais. O direito dos tratados na convenção de viena de 1969 Historicamente, pode-se dizer que o continente americano teve uma participação muito importante para regulamentar internacionalmente o Direito dos Tratados, quando por ocasião da Sexta Convenção Internacional Americana, realizada em havana, 1928, foi celebrada uma Convenção sobre Tratados, contendo 21 artigos. Esta Convenção foi ratificada por oito Estados, entre eles o Brasil. Em 1966, a Organização das nações Unidas (ONU), submeteu à consideração da Assembléia Geral um projeto de artigos sobre o Direito dos Tratados, com 85 artigos e 1 anexo. Antecedentes Históricos Segundo Mazzuoli (2009, p. 144 - 145): “Os tratados tiveram origem histórica remotíssima, tendo sido seus primeiros contornos delineados há mais de doze séculos antes de Cristo”. A primeira celebração de um tratado internacional, de natureza bilateral, diz respeito ao instrumento firmado entre Rei dos Hititas, Hattusil III, e o Faraó egípcio da XIX dinastia, Ramés II, por volta de 1820 e 1272 antes de Cristo. Registrou K. A Kitchen apud Mazzuoli (2009, p. 145) um trecho do acordo de paz entre os dois povos: No dia 21, primeiro mês do inverno, dia 21, sob a Majestade de Ramsés II. Neste dia, eis que Sua Majestade estava na cidade de Pi-Ramesse, satisfazendo (os deuses...). Chegaram os (três Enviados Reais do Egito...) juntos com o primeiro e segundo enviados Reais dos Hititas, Tili-Teshub e Ramose, e o Enviado de Carchemish, Yapusili, carregando uma barra de prata a qual o Grande Soberano dos Hititas, Hattusil III envia ao Faraó, para pedir paz à Majestade de Ramsés. Os dois reinos se consideravam iguais e estabeleciam entre eles quem ia ser seus reis e sucessores. No tratado, foram fixadas regras claras relativas aos interesses particulares de cada uma das soberanias, como a posse de certas terras e demais domínios. Encontravam-se ainda no tratado, regras relativas ás alianças contra inimigos comuns, normas de comércio, de imigração e também de extradição. Pelo fato da história registrar um longo período de paz e de efetiva cooperação entre os dois povos, o tratado egípciohitita parece ter sido fielmente cumprido. As duas grandes civilizações entraram em decadência sem que houvesse a quebra referido acordo. Foi no Egito, nas ruínas de Tellel Amarna, antiga residência do Faraó Amenophis IV, às margens do rio Nilo, onde inúmeros documentos diplomáticos da Antiguidade Oriental foram encontrados. Desde a antiguidade, historicamente, os princípios que geraram os tratados internacionais foram os consuetudinários do livre consentimento, da boa-fé dos contraentes e o da norma pacta sunt servanda. Contudo, foi a partir de 1815, por força da intensificação da solidariedade internacional, que começou a operar-se uma fundamental modificação no cenário internacional, consubstanciada, primeiramente, no aparecimento dos chamados tratados multilaterais e foi a partir do início do século XX, no surgimento das organizações internacionais de caráter permanente, as quais passaram a também deter a capacidade para celebrar tratados, ao lado dos Estados. Paul Reuter apud Mazzuoli (2009, p. 146), explica a causa fundamental desse desenvolvimento: “Na crescente solidariedade que se estabeleceu entre os diversos elementos da sociedade internacional: a solidariedade mecânica que existiu entre os Estados é de tal natureza que toda mudança dos elementos altera o equilíbrio do poder dentro da totalidade do sistema; por sua vez, a solidariedade dos interesses gerais da humanidade requer que os problemas sejam atacados de forma comunitária e simultânea; e, por último, também se deve levar em conta a solidariedade dos indivíduos no desenvolvimento da cultura e da opinião pública.” Nesse sentido, Mazzuoli (2009, p. 146) afirma que: “A soma de todos esses fatores, combinado com o reconhecimento cada vez maior da importância dos tratados como fonte do direito Internacional Público, que levou então à necessidade de criação de uma genuína codificação, declaratória de Direito Internacional, onde ficasse bem assentado tudo quanto fosse pertinente ao Direito dos Tratados, entendendo-se como tal direito que permeia todo o conjunto do ordenamento jurídico internacional e sedimenta as bases da estrutura na qual operam as normas internacionais.” É dizer então que surgiu a necessidade da codificação do Direito dos Tratados, desenvolvendo-o e contribuindo para a consecução dos propósitos das Nações Unidas, consistentes, essencialmente, na manutenção da paz e da segurança internacional. Para isso, entretanto, era necessário não perder de vista os princípios de Direito Internacional incorporados na carta da ONU, tais como: o da igualdade de direitos, o da livre determinação dos povos, o da igualdade soberania e da independência de todos os Estados, o da não-intervenção nos assuntos internos dos Estados, o da proibição da ameaça ou uso da força, o do respeito universal aos direitos humanos e às liberdades fundamentais de todos e o da efetividade de tais direitos e liberdades, insculpidos no seu art. 1°, itens 1, 2, 3, e 4. A Convenção de Viena de 1969 A Comissão de Direito Internacional (CDI) da Organização das nações Unidas (ONU), desde o inicio de seus trabalhos em 1949 fez inserir o Direito dos Tratados dentre os temas prioritários a serem regulados pelo Direito Internacional do pós-guerra. O relator designado foi o jurista britânico James Leslie Brierly, tendo sido sucedido por Hersch Lauterpacht em 1952, Gerald Gray Fitzmaurice em 1954 e Sir Humphrey Waldock em 1961. Duraram vinte anos os estudos e discussões que levaram á adoção da convenção sobre tratados, tendo 110 Estados se envolvido, mas apenas 32 firmaram o texto final adotado na Conferencia de Viena que foi presidida pelo internacionalista italiano Roberto Ago em 23 de maio de 1969. Só depois de mais de dez anos de sua conclusão, mais precisamente em 27 de janeiro de 1980, é que a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados começou a vigorar internacionalmente, quando atingiu, nos termos de seu art. 84, o quorum mínimo de trinta e cinco Estados partes. A Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados de 1969 é um dos mais importantes documentos já concluídos na história do Direito Internacional Público. Pois ela não se limitou apenas a codificação do conjunto de regras gerais referentes aos tratados concluídos entre Estados, mas também, em regular todo tipo de desenvolvimento progressivo daquelas matérias ainda não consolidadas na arena internacional. Entre as regras reconhecidas pela Convenção, pode ser citada a regra pacta sunt servanda (art. 26) e o seu corolário segundo o qual o Direito Interno não pode legitimar anão execução de um tratado (art. 27); recorda-se, ainda, o reconhecimento da cláusula rebus sic stantibus, que permite a denuncia de um tratado quando passa a existir umamudança fundamental nas circunstancias que tenham ocorrido em relação àquelasexistentes ao tempo da estipulação do mesmo (art. 62), entre outras. Segundo Mazzuoli(2009, p. 147): “A convenção de 1969 não cuidou, contudo, dos efeitos dos tratados na sucessão de Estados e no estado de guerra. Relativamente ao primeiro tema, conclui-se, também na capital austríaca, a Convenção de Viena sobre Sucessão de Estados em Matéria de Tratados, em 23 de agosto de 1978. Também não versou a Convenção de 1969 – talvez por não prever a existência de uma ordem internacional onde os Estados são prescindíveis – sobre os tratados concluídos entre Estados e organizações internacionais ou entre organizações internacionais, objeto de oura convenção especifica, concluída mais tarde (em 1986), intitulada de Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados entre Estados e Organizações Internacionais ou entre Organizações Internacionais.” Até porque, ainda segundo Mazzuoli (2009, p. 147): “É curioso observar que a Convenção de Viena de 1969 reveste-se de autoridade jurídica mesmo para aqueles Estados que dela não são signatários, em virtude de ser ela geralmente aceita como ‘declaratória de Direito Internacional geral’, expressando direito consuetudinário vigente, consubstanciado na pratica reiterada dos Estados no que diz respeito á matéria nela contida. Assim também entende o Restatement of the law (Third): the Foreign Relations Law of UnitedStates, que afirma ser a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, de 1969, uma codificação geral do direito costumeiro internacional sobre os tratados. Tal não significa, contudo, que a Convenção de 1969 seja hierarquicamente superior aos demais tratados concluídos á luz das suas disposições.” A própria Convenção deixa bem clara, em seu texto, a fórmula a menos que o tratado disponha de outra forma, sempre antes de iniciar a exposição de uma regra. Para Mazzuoli (2009, p. 148): “Tal significa que as suas disposições somente poderão ser aplicadas caso o tratado em causa não tenha encontrado outra solução para o problema em questão, ou ainda se o mesmo silencia a respeito. Daí se entender ser ‘supletiva’ a aplicação da Convenção de 1969. Mas, à exceção de tais observações, a constatação que se apresenta é que a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, que codifica e traz para o plano do Direito escrito as regras costumeiras relativas ao Direito dos Tratados, contem um minucioso corpo de regras de fundo- pacientemente pensadas e estudadas durante vinte anos sobre a pratica e a técnica dos tratados internacionais como em jurisprudência, a ela são destinadas.” No Brasil, somente em 22 de abril de 1992 foi que o Poder Executivo, com a Mensagem n°116, encaminhou o texto da Convenção de 1969 à apreciação do Congresso Nacional. A mensagem presidencial foi aprovada na Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, no dia 2 de dezembro do mesmo ano, tendo sido transformada no projeto de Decreto legislativo n°214/92, após a aprovação unânime do parecer do relator, o Deputado Antonio Carlos Mendes Thame, recomendando a aprovação da Convenção, mas com reservas aos artigos 25 e 66. Eis os dispositivos legais da Convenção, Ariosi (2000, p. 248 – 265): “Art. 25 Um tratado ou parte do tratado poderá ser aplicado provisoriamente enquanto não entrar em vigor, se: a) se o próprio tratado assim dispuser; b) ou os Estados negociadores assim acordarem por outra forma. A não ser que o tratado disponha ou os Estados negociadores acordem de outra forma, a aplicação provisória de um tratado ou parte de um tratado, em relação a um Estado, cessará se este Estado notificar após outros Estados entre os quais o tratado aplica-se provisoriamente, sua intenção de não tornar-se parte no tratado. O art. 66 (...) qualquer parte na controvérsia sobre a aplicação ou a interpretação dos arts. 53 ou 64 poderá, mediante pedido, submetê-la à decisão da Corte Internacional de Justiça, a não ser que as partes decidam, de comum acordo, submeter a controvérsia á arbitragem; toda parte na controvérsia sobre a aplicação de qualquer um dos artigos da Parte V da presente Convenção poderá iniciar o procedimento no Anexo da Convenção dirigindo um pedido com esse fim ao secretário-geral das nações Unidas.” Desde outubro de 1995 a matéria, objeto do Projeto de decreto legislativo n° 214-C/92, aprovado pela Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, está pronta para a Ordem do Dia, não tendo sido apreciada pela Câmara dos deputados até o presente momento. Se aprovado pela Câmara, passará à apreciação do Senado federal. E somente depois de também aprovado por está Casa do Congresso é que será promulgado, pelo presidente do senado, o decreto legislativo autorizando o Presidente da republica a ratificar a Convenção de Viena de 1969. De acordo com Mazzuoli (2009, p. 148): “O mais interessante é que, como destaca Cachapuz de Medeiros, o Itamaraty procura pautar sua atividade na negociação de tratados de acordo com as regras da Convenção de 1969, apesar de a mesma ainda não ter sido ratificada pelo estado brasileiro. É que se conclui-se – segundo o mesmo internacionalista – do Manual de procedimentos e Prática Diplomático Brasileira, divulgado pelo departamento Consular e Jurídico do Ministério das Relações Exteriores, em 1984.” Como a Convenção de Viena ainda não foi ratificada pelo Senado brasileiro, entre nós vige a Convenção de Havana sobre Tratados, de 20 de fevereiro de 1928, celebrada por ocasião da Sexta Conferencia Internacional americana, realizada em Cuba, nesse mesmo ano. Tal Convenção, conta com 21 artigos e foi sanciona pelo Estado brasileiro em 8 de janeiro de 1929, pelo Decreto n°5.647, ratificada em 30 de julho e promulgada, aos 22 de outubro do mesmo ano, pelo Decreto n° 18.956. Os Estados do Equador, Haiti, Honduras, Nicarágua, Panamá, Peru e republica Dominicana também a ratificou juntamente com o Brasil. O direito dos tratados na convenção de Viena de 1986 Para disciplinar os tratados de que são partes as organizações internacionais, a Assembléia-Geral da ONU, em 1969, sugeriu à Comissão de Direito Internacional (CDI) que empreendesse esforços no sentido de elaborar estudos sobre essa questão. Decorridos treze anos a CDI aprovou o primeiro dralfda Convenção sobre Direito dos Tratados entre Estados e Organizações Internacionais ou entre Organizações Internacionais, tendo sido o professor Paul Reuter, da Universidade de Paris II, designado como relator especial. Histórico da Convenção de 1986 A história da codificação do Direito dos Tratados envolvendo organizações internacionais se confunde com o próprio aparecimento de tais organizações no cenário internacional, quando então se percebeu que a capacidade internacional dessas entidades as levava inexoravelmente à condição de titulares do poder de celebrar tratados. Desde a época da Liga das Nações o assunto é debatido, tendo as suas discussões se intensificado após o aparecimento da Organização das Nações Unidas, em 1945. Situação atual da Convenção de 1986 A Convenção de Viena de 1969, como anteriormente já se deu notícia, versou apenas sobre o Direito dos Tratados entre Estados, nada dizendo a respeito dos tratados celebrados entre Estados e Organizações Internacionais ou entre Organizações Internacionais. Nos trabalhos preparatórios da Convenção de 1986 a idéia básica dos seus redatores era estabelecer não um standartuniversal para todas as organizações internacionais, que têm peculiaridades das mais diversas possíveis, mas sim, na análise de Mazzuoli (2009, p. 289): “Identificar e formular as regras necessárias à consolidação e desenvolvimento de uma prática com bases sólidas reconhecendo o valor jurídico dos tratados das organizações internacionais, independentemente dos traços especiais que possam caracterizar cada organização.” A Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados entre Estados e Organizações Internacionais ou entre Organizações Internacionais, veio a ser concluída em Viena, em 21 de maio de 1986. Após a conclusão da Convenção houve um número significativo de assinaturas, principalmente entre 1986 e 1987, mas que acabaram não sendo levadas a sério por meio das respectivas ratificações. É ainda grande o esforço das Nações Unidas para implementar o quorum mínimo de 35 ratificações estatais necessárias para que o tratado entre em vigor no plano internacional. Das organizações internacionais que já ratificaram a Convenção, alem das Nações Unidas (que ratificou em 21 de dezembro de 1998) podem ser citadas: a Agência Internacional de Energia Atômica (EIEA), a Organização da Aviação Civil Internacional (OACI), a organização da Policia Criminal Internacional (INTERPOL), a organização Internacional do Trabalho (OIT), a Organização Marítima Internacional (OMI), a Organização para proibição de Armas Químicas (OPAQ), a Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial (ONUDI), a organização Mundial de Saúde (OMS) e a Organização Internacional para a Propriedade Intelectual (OMPI). Nos termos do art. 85, parágrafo 3° da Convenção de 1986, Mazzuoli (2009, p. 290): “Para cada organização internacional que depositar um instrumento relativo a um ato de confirmação formal ou um instrumento de adesão, a Convenção entrará em vigor no trigésimo dia depois desse depósito ou na data em que a Convenção entrar em vigor de acordo com o parágrafo 1°, se esta for posterior.” De qualquer forma, o estudo da Convenção de Viena de 1986 se torna necessário para o seu texto exato de entendimento quando de sua futura entrada em vigor internacional. Similitude entre as convenções de 1969 e 1986 Nas várias discussões para a elaboração da Convenção de 1986 chegou-se ao consenso de estruturá-la nos moldes da Convenção de 1969, o que é facilmente visualizável para quem manuseia ambas as convenções. A Convenção de 1986 só fez acrescentar em alguns dispositivos a referencia às “Organizações Internacionais” por enquanto que a Convenção de 1969 se refere apenas aos Estados. Nos termos do art. 3° da Convenção de 1986, Mazzuoli (2009, p. 290): “O fato de a presente Convenção ao se aplicar: I) a acordos internacionais os quais são partes um ou mais estados, uma ou mais organizações internacionais e um ou mais sujeitos de Direito Internacional que não são Estados ou organizações; II) a acordos internacionais nos quais são partes uma ou mais organizações e um ou mais sujeitos de Direito Internacional que não são Estados ou Organizações; III) a acordos internacionais em forma não-escrita entre um ou mais Estados e uma ou mais organizações internacionais, ou entre organizações internacionais; ou IV) a acordos internacionais entre sujeitos de Direito Internacional que não são estados ou organizações internacionais; não prejudicará: a) o valor jurídico desses acordos; b) a aplicação a esses acordos de quaisquer regras enunciadas na presente Convenção às quais estariam submetidos em virtude do Direito Internacional, independentemente da referida Convenção; e c) a aplicação da Convenção às relações entre estados e organizações internacionais ou às relações entre as organizações entre si, reguladas em acordos internacionais em que sejam igualmente partes outros sujeitos de Direito Internacional.” Esses “outros sujeitos de Direito Internacional” são novidade na Convenção de 1986, que acabou por incorporar as modernas tendências do direito das gentes na regulação do Direito dos Tratados envolvendo organizações internacionais, fazendo com que os acordos internacionais concluídos pelos novos sujeitos de Direito Internacional encontrem suporte jurídico quando entre em vigor a Convenção. As teorias atinentes as relações entre direito internacional e direito interno Neste capítulo analisaremos uma questão muito antiga, que diz respeito à situação do Direito Internacional na ordem jurídica interna dos Estados. Essa questão veio se desenvolvendo através dos tempos, tendo surgido várias teorias para solucionar esses problemas. Nos dias atuais, são inúmeros os tratados internacionais firmados pelo Brasil, e quando estes tratados entram em conflito com alguma norma de direito interno, surge um problema a ser resolvido pelo judiciário brasileiro, de saber qual norma deverá prevalecer. As doutrinas dualistas e monistas são tidas como as mais relevantes para solucionar esses conflitos. Da teoria dualista Foi Alfred von Verdross quem, em 1914, cunhou a expressão dualismo, a qual fora aceita por Carl Heinrich Triepel, em 1923, seguido posteriormente por Strupp, Walz, Listz, Anzilotti, Balladore Pallieri e Alf Ross. Esta corrente afirma que o Direito Internacional e o Direito Estadual são duas ordens jurídicas radicalmente distintas, que não podem se misturar. As fontes e normas do Direito Internacional (notadamente os tratados) não têm, para os dualistas, qualquer influência sobre as questões relativas ao âmbito do Direito Interno, e vice-versa, de sorte que entre ambos os ordenamentos jamais poderia haver conflitos. Segundo Mazzuoli (2009, p. 65): “Sendo o Direito Internacional e o Direito Interno dois sistemas de normas diferentes, independentes um do outro, que não se tocam por qualquer meio, impossível seria a existência de qualquer antinomia entre eles”. Para que um compromisso internacionalmente assumido passe a ter valor jurídico no âmbito do Direito Interno desse Estado, é necessário que o Direito Internacional seja transformado em norma de Direito Interno, o que se dá pelo processo conhecido como adoção ou transformação. Assim, o primado normativo para os dualistas é a lei interna de cada Estado e não o Direito Internacional. Segundo analisa Mazzuoli (2009, p. 65): “Ao Direito Internacional caberia, de forma precípua, a tarefa de regular as relações entre os Estados ou entre estes e as organizações internacionais, enquanto ao Direito Interno caberia a regulação da conduta do Estado com seus indivíduos.” Trieple propõe esta fórmula, Mazzuoli (2009, p. 65): “O direito internacional rege as relações entre os Estados, e o direito interno as relações entre indivíduos”. Esta foi à fórmula de Triepel. Assim, por ser diferente a identidade de fontes e por regularem tais sistemas matérias diferentes, não poderia haver conflito entre o Direito Interno e o Direito Internacional, ou seja, um tratado internacional não poderia, em nenhuma hipótese, regular uma questão interna sem antes ter sido incorporado a este ordenamento por um procedimento receptivo que o transforme em lei nacional. Assim, não haveria que se falar na supremacia de um sobre o outro. Nesta concepção, o Estado recusa aplicação imediata ao Direito Internacional, só alcançável por meio de procedimento incorporativo próprio do Direito Interno. Daí o motivo pelo qual alguns autores terem chamado a teoria da incorporação ou da transformação de mediatização, cujo fundamento deriva da autonomia das duas ordens jurídicas. Esta concepção dualista de que o Direito Internacional e o Direito Interno são ordens jurídicas distintas e independentes umas das outras e que entre elas não poderia haver conflitos, emana do entendimento de que os tratados internacionais representam apenas compromissos exteriores do Estado, assumidos por Governos na sua representação, sem que isso possa influir no ordenamento interno desse Estado. Por tais motivos é que, para os dualistas, os compromissos internacionalmente assumidos pelo Estado só tem efeitos na ordem jurídica interna estatal, se todo o pactuado se materializar na forma de uma espécie normativa típica do Direito Interno seja uma emenda constitucional, uma lei, um decreto, um regulamento etc. Pois assim, havendo conflito de normas, já não mais se trata de contrariedade entre o tratado e a norma de Direito Interno, mas entre duas disposições nacionais, uma das quais regulamentou a norma convencional. Na visão de Mazzuoli (2009, p. 67): “A corrente dualista estabelece também diferenças de conteúdo e de fontes entre o Direito Internacional Público e o Direito Interno, dentre elas a de que as regras internas de um Estado soberano são emanadas de um poder ilimitado, em relação ao qual existe forte subordinação de seus dependentes, o que não acontece no âmbito internacional, onde não existe um direito sobre os Estados, mas sim entre os Estados.” Essas diferenças foram chamadas por Triepel de rapports sociaux, tendo em vista que o direito internacional é regido por outras relações que o direito interno. Para Triepel a fonte do Direito Interno, consubstancia-se na vontade exclusiva do estado soberano, que reside em seu Poder Legislativo, ao passo que a fonte do Direito Internacional nasce da vontade coletiva de vários Estados, consistente no encontro convergente de seus interesses recíprocos. Dessa forma, esses dois ordenamentos jurídicos podem andar lado a lado sem, entretanto, haver primazia de um sobre o outro, pois distintas são suas esferas de atuação. Assim, não pode um preceito de direito das gentes revogar outro que lhe seja diverso no ordenamento interno. Segundo Mazzuoli (2009, p. 68): “O Estado pactuante obriga-se a incorporar tais preceitos no seu ordenamento doméstico, assumido somente uma obrigação moral, mas, se não o fizer, deverá ser por isso, responsabilizado no plano internacional”. Tal responsabilização decorre do principio pacta sunt servanda. Os defensores do chamado dualismo moderado, por sua vez, não chegam ao extremo de adotar a fórmula legislativa para que, só assim, o tratado entre em vigor no país, mas admitem a necessidade de um ato formal de internalização como um decreto ou um regulamento. Da teoria monista A teoria monista hoje é sem dúvida a corrente dominante na concepção científica acerca da relevância do direito internacional no direito interno. Segundo Mazzuoli (2009, p. 70): “Trata-se da teoria segundo a qual o Direito Internacional se aplica diretamente na ordem jurídica dos Estados independentemente de qualquer transformação, uma vez que esses mesmos Estados, nas suas relações com outros sujeitos de direito das gentes, mantêm compromissos que se interpretam e que somente se sustentam juridicamente por permanecerem a um sistema jurídico uno, baseado na identidade de sujeitos (os indivíduos que os compõem) e de fontes (sempre objetivas e não dependentes- como no voluntarismo – da vontade dos Estados). Sendo assim, tanto o Direito Interno como o Direito Internacional estariam aptos para reger as relações jurídicas dos indivíduos, sendo inútil qualquer processo de incorporação formal das normas internacionais no ordenamento jurídico interno.” Aceita a tese monista, surge um problema a ser resolvido, de saber qual norma deve prevalecer, se a interna ou a internacional. Duas têm sido as orientações sugeridas: o monismo com primado do Direito Interno e o monismo com primado do Direito Internacional. O monismo com primado de Direito Interno, segundo afirma Gouveia (2005, p. 297): “Implica que, no confronto entre dois sistemas, não obstante a sua inter-conexão, o Direito Internacional perca a sua singularidade”. Esta posição na prática corresponde à concepção de que o Direito Internacional é uma emanação do Direito Estadual, na base de uma filosofia voluntarista, transformando-o num mero Direito Estadual Externo. Os monistas defensores do predomínio interno dão especial atenção á soberania de cada Estado, levando em consideração o princípio da supremacia da Constituição, onde devem ser encontradas as regras relativas à integração e ao exato grau hierárquico das normas internacionais na órbita interna. Dois são os argumentos principais dos defensores do monismo com predomínio do Direito Interno. Segundo Mazzuoli (2009, p. 77) são eles: a) a ausência, no cenário internacional, de uma autoridade supra-estatal capaz de obrigar o Estado ao cumprimento de seus mandamentos, sendo cada Estado o competente para determinar livremente suas obrigações internacionais, sendo, em principio, juiz único da forma de executá-las, e; b) o fundamento puramente constitucional doa órgãos competentes para concluir tratados em nome do Estado, obrigando-o no plano internacional. Foi com autores como Johann Jacob e Georg Friedrich Von Martens que esta doutrina começou a ser desenvolvida no século XVIII, mas só no século XIX assumiria uma forma mais jurídica, com os trabalhos de Friedrich Hegel. Segundo Gouveia (2009, p. 297): “Não resolvendo os problemas do dualismo, esta concepção acaba por cair no mesmo erro epistemológico de base, que é o da exaltação da vontade estadual”. Como refere Albino de Azevedo Soares apud Gouveia (2009, p. 297): “Fundando-se num voluntarismo radical, acaba por negar todo o Direito Internacional Público, ficando completamente cega ao fato de o Direito Internacional geral fazer parte de uma ordem jurídica de cada Estado, mesmo sem que à vontade deste se manifeste em tal sentido.” O monismo com primado do Direito Internacional, afirma a prevalência do Direito Internacional, que assim limita o poder dos Estados, impondo a inoperacionalidade das normas estatais que venham a contrariar as normas internacionais. Esta categoria pode ainda se apresentar sob duas formas: uma radical que implica a prevalência absoluta da norma internacional sobre qualquer norma estadual e; outra moderada que segundo Gouveia (2009, p. 298): “Apenas admite em certa medida, reconhecendo que o Direito Interno pode em alguns casos prevalecer ou que não deve o Direito Internacional interferir, o que se ajusta melhor ao problema das relações entre o Direito Internacional e o Direito Constitucional”. Esta doutrina foi desenvolvida por Hans Kelsen, fundando-a no postulado consuetudo est servanda. Hans Kelsen apud Gouveia (2009, p. 298): “De fato de o Direito Internacional se situar acima dos Estados, crê-se que é possível concluir que a soberania do Estado é essencialmente limitada e, por essa via, se torna possível uma organização mundial eficaz. O primado do Direito Internacional desempenha um papel decisivo na ideologia política do pacifismo.” A Convenção de Viena de 1969 sobre o Direito dos Tratados consagrou expressamente a posição monista internacionalista no seu art. 27 segundo o qual um Estado parte não pode invocar as disposições de seu direito interno para justificar o inadimplemento de um tratado. Nesse sentido, as normas internas que compõem o ordenamento jurídico estatal são um simples fato para o Direito Internacional Público. Das teorias conciliadoras Quando surgiram o monismo e dualismo, apareceram outras perspectivas teóricas que não correspondiam completamente a nenhum desses dois grupos. A principal idéia é formada por doutrinadores espanhóis que sustentam a coordenação de ambos os sistemas a partir de normas superiores, a exemplo das regras do Direito Natural. Essa corrente afirma a tese do Direito Natural e é defendida por Antônio de Luna e seus seguidores como, por exemplo, Adolfo de la Muela, Mariano Aguilar Navarro, Antonio Truyol y Serra. Essa corrente segundo Ariosi (2000, p. 96): “Busca um equilíbrio entre a comunidade internacional e o Estado, por isso, pode-se encontrar-se seus fundamentos nas teorias monista e dualista”. Vale ressaltar que essa teoria conciliatória não encontrou guarida nem nas normas e tampouco na jurisprudência internacional. As relações entre o tratado internacional e o direito interno Após estudarmos as teorias atinentes às relações entre direito internacional e direito interno, analisaremos neste capítulo a processualística interna de conclusão dos atos internacionais, pois será de suma importância para adentrarmos no assunto do capítulo seguinte. Os Estados são responsáveis em manter, dentro de seu Direito Interno, um sistema de integração das normas internacionais por ele mesmo subscritas. Essa processualística vem regulada em texto constitucional. A constituição brasileira de 1988 e o poder de celebrar tratados O Brasil tem ratificado atos internacionais de grande complexidade, tanto bilaterais como multilaterais, justificando assim sua crescente presença no cenário internacional. No Brasil, os tratados, para se tornarem obrigatórios, devem ser aprovados previamente pelo Congresso Nacional. O Presidente da República, como responsável pela dinâmica das relações exteriores, após concluir a negociação de um tratado, submete-o à aprovação do Congresso para dar continuidade, ou não, ao processo determinante do consentimento. A participação do Poder Legislativo está consagrada, desde a primeira república até os dias atuais, no processo e conclusão de tratados sem grandes modificações nos textos constitucionais brasileiros. A última versão que trata sobre a questão está disposta nos artigos 84, VIII, e 49, I, da Constituição Federal de 1988. “Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: (…) VIII – celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional; (…). Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional: I – resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional; (…).” Percebe-se que à vontade do Executivo, manifestada pelo Presidente da República, não se aperfeiçoará enquanto a decisão do Congresso Nacional sobre a viabilidade de se aderir àquelas normas não for manifestada, no que se consagra, assim, a colaboração entre o Executivo e o Legislativo na conclusão de tratados. A relação entre os poderes executivo e legislativo no processo de conclusão de tratados O objetivo de atribuir o poder de celebrar tratados ao Poder Executivo, somente mediante o referendo do Legislativo, é o de limitar, descentralizar e condicionar a capacidade de celebrar os tratados, prevenindo abusos, por parte do Executivo, quanto do Legislativo. Segundo Ribeiro (2006, S/d): “Enquanto cabe ao Poder Executivo presidir a política externa do país, ao Legislativo cumpre exercer o controle dos atos executivos”. Os dispositivos constitucionais previstos nos artigos 21, I, e 49, X, exprimem tais prerrogativas: “Art. 21. Compete à União: I – manter relações com Estados estrangeiros e participar de organizações internacionais; (…). Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional: (…) X – fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer de suas Casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta; (…).” O Congresso Nacional, quando se manifesta por meio da elaboração de decreto legislativo, consolida o que ficou resolvido sobre os tratados, acordos ou atos internacionais. Eis o dispositivo legal: “Art. 59. O processo legislativo compreende a elaboração de: (…) VI – decretos legislativos; (…)”. Segundo Mazzuoli (2009, p. 306): “O Congresso Nacional, quando chamado a se manifestar, materializa o que ficou resolvido sobre tratados, acordos ou atos internacionais, por meio da elaboração de um decreto legislativo (CF, art. 59, inc. VI). Não há edição de tal espécie normativa em caso de rejeição do tratado, caso em que apenas se comunica a decisão, mediante mensagem, ao Chefe do Poder Executivo.” Vale ressaltar que, um único decreto pode, inclusive, aprovar mais de um tratado; mas, se o tratado anteriormente aprovado e devidamente ratificado for posteriormente denunciado, será necessária a elaboração de um novo decreto legislativo, no caso de nova aprovação do mesmo tratado. Segundo Mazzuoli (2009, p. 307): “O decreto legislativo, por ser da competência exclusiva do Congresso Nacional, não está condicionado à sanção presidencial, sujeitando-se, apenas, à promulgação do Presidente do Senado Federal”. Em suma, no que diz respeito ao Estado brasileiro, os tratados, acordos e convenções internacionais, para que sejam incorporados ao ordenamento interno, necessitam de prévia aprovação do Poder Legislativo, que exerce a função de controle e fiscalização dos atos do Executivo. Seguindo essa linha, Ribeiro (2006, S/d) diz o seguinte: “É importante salientar que tal competência limita-se à aprovação ou rejeição do texto convencional tão somente, não sendo admissível qualquer interferência no seu conteúdo. Ou seja, a priori as emendas não são admitidas. Nesse ponto cabem algumas considerações, pois existem discussões doutrinárias sobre a possibilidade da apresentação, ou não, de emendas ao texto do tratado, por parte do Poder Legislativo.” Celso de Albuquerque Mello apud Ribeiro (2006, S/d): “A defesa de o Congresso emendar tratados, a exemplo do Senado norte-americano, é feita por Aureliano Leal e atualmente por Wilson Accioly de Vasconcellos. A corrente que nega este poder ao Legislativo é representada por João Barbalho, João da Fonseca Hermes Júnior, Alberto Deodato e Assis Brasil.” A matéria está longe de ser unanimidade e, entre as várias posições existentes, Celso de Albuquerque Mello apud Ribeiro (2006, S/d): “A melhor é a de Pontes de Miranda, a qual nega a possibilidade de emenda e aceita a apresentação de reservas. A emenda apresentada pelo Congresso Nacional é considerada uma interferência indevida nos assuntos do Executivo, uma vez que só a ele competem às negociações no domínio internacional e a emenda nada mais é do que uma forma indireta pela qual o Legislativo poderia se imiscuir na negociação. Já a reserva não tem o aspecto acima mencionado.” Segundo Ribeiro (2006, S/d): “O Legislativo poderá apresentá-la, desde que seja cabível”. No entanto, o insigne autor acima citado constata que, na prática, o Congresso tem efetivamente apresentado emendas. Rezek apud Ribeiro (2006, S/d): “No Brasil a aprovação da emenda pelo Congresso Nacional toma forma, também ela, em decreto legislativo. Publicado este, está o presidente da República autorizado a consentir no plano internacional, fazendo chegar ao depositário do pacto a carta ou instrumento que exprime a aceitação da emenda pelo país. Supondo, então, que a dita emenda entre em vigor – o que poderia deixar de ocorrer, à falta de assentimentos em número suficiente –, o chefe do governo promulgará a emenda mediante decreto; em tudo observado, pois, o roteiro pertinente ao tratado original.” É importante destacar a diferença entre emendas e reservas a tratados. Para Ribeiro (2006, S/d): “As emendas pretendem a revisão ou reforma de determinadas cláusulas e as reservas visam suspender-lhes a aplicação. A emenda, por ser uma modificação unilateral, não obriga a outra parte contratante, mas, sim, o Executivo a iniciar novas negociações. Quanto às reservas, na realidade elas não são formuladas pelo Legislativo. O que ele faz é aprovar o tratado, desde que o Executivo apresente determinadas reservas. A apresentação de reservas é um ato do Poder Executivo.” A Convenção de Viena define reserva como sendo, Ribeiro (S/d): “Uma declaração unilateral, qualquer que seja sua redação ou denominação, feita por um Estado ao assinar, ratificar, aceitar ou aprovar um tratado, ou a ele aderir, com o objetivo de excluir ou modificar os efeitos jurídicos de certas disposições do tratado em sua aplicação a esse Estado.” A Convenção de Viena declara, ainda que, Ribeiro (S/d): “Uma reserva não pode ser formulada quando proibida pelo tratado em questão; quando o mesmo só admite determinadas reservas em que não se inclui a reserva formulada e, ainda, quando a mesma for incompatível com o objeto e a finalidade do tratado.” Na prática, os Estados não têm abusado da sua utilização, trazendo como vantagem à defesa da igualdade dos mesmos, posto que eles apresentam reservas às cláusulas que lhes são nocivas, ou seja, o que antes poderia transformar-se em prejuízo à eficácia dos tratados passa a ser uma proteção à soberania dos Estados, desde que usadas com moderação. Outra questão bastante polêmica é a apresentação das reservas na ratificação, na aceitação e na adesão aos tratados, pois elas são consideradas pelos doutrinadores como prejudiciais, na medida em que modificam, unilateralmente, o tratado já concluído. Note-se, portanto, que as reservas na ratificação surgiram em virtude da intervenção do Poder Legislativo para a aprovação dos tratados. Na prática internacional, elas têm sido consagradas e admitidas, salvo se o tratado as proíba. Com relação ao papel do Congresso Nacional no processo de celebração de tratados, existem muitas divergências na doutrina. Alguns autores entendem que o Congresso ratifica tratados e outros, que somente os tratados que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional devem passar pelo crivo do parlamento. O não-consenso doutrinário remete às seguintes questões: o que seria resolver definitivamente e o que seria considerado encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Porém, segundo Mazzuoli apud Ribeiro (2006, S/d): “Habilitado a ratificar tratados internacionais está somente o Chefe do Executivo e mais ninguém. É sua nesta sede, a última palavra. Ao Parlamento incumbe aprovar ou rejeitar o tratado assinado pelo Executivo, mais nada. Assim, a expressão resolver definitivamente sobre tratados deve ser entendida em termos, não se podendo dar a ela significado acima de seu real alcance.” Nesse sentido, segundo Ribeiro (2006, S/d): “A expressão não significa ratificação, que é ato próprio do Chefe do Executivo, responsável pela dinâmica das relações internacionais, a quem cabe decidir tanto sobre a conveniência de iniciar as negociações, como a de ratificar o ato internacional já concluído. Por conseguinte, incumbe ao Parlamento aprovar ou não os tratados, submetidos à sua apreciação, e ao Chefe do Executivo, ratifica-los, se aprovados pelo Congresso.” Assim sendo, deve-se entender que o Congresso Nacional só resolve definitivamente sobre os tratados quando rejeita o acordo, ficando o Executivo, nesse caso, impedido de ratificá-lo. Em caso de aprovação, quem resolve de modo definitivo é o Chefe do Executivo, ao ratificar ou não o tratado. Por este motivo é que a expressão resolver definitivamente, tem sido considerada das mais impróprias dentre as que dizem respeito à matéria. Segundo Cachapuz de Medeiros apud Ribeiro (2006, S/d) à expressão acima mencionada é inadequada, posto que, “ (...) a decisão efetivamente definitiva incumbe ao Presidente da República, que pode ou não ratificar os tratados, depois de estes terem sido aprovados pelo Congresso”. De acordo com Mazzuoli (2009, p. 313 - 314): A manifestação do Congresso Nacional, assim, só ganha foros de definitividade quando desaprova o texto do tratado anteriormente assinado, quando, então, o Presidente da República estará impedido de levar a efeito a ratificação. Mas, se aprovou o tratado submetido à sua apreciação, a última palavra é do Chefe do Executivo, que tem a discricionariedade de ratificá-lo ou não, segundo o que julgar conveniente e oportuno.” Segundo Cachapuz de Medeiros apud Ribeiro (2006, S/d): “Os Parlamentos não ratificam tratados internacionais. Somente os examinam, autorizando ou não o Poder Executivo a comprometer o Estado. A ratificação, por conseguinte, é ato privativo do Chefe do Executivo, pelo qual este confirma às outras partes, em caráter definitivo, a disposição do Estado de cumprir um tratado internacional.” Assim, convém fique nítido que a aprovação dada pelo Poder Legislativo não torna um tratado obrigatório, pois o Executivo tem ainda a liberdade de ratificá-lo ou não, conforme julgar mais conveniente. Um tratado entra em vigor internacionalmente no instante em que os Estados signatários comunicam reciprocamente a existência dos instrumentos de ratificação. Para enriquecer ainda mais o tema, Cachapuz de Medeiros traz à discussão as opiniões de Carlos Maximiliano, Themístocles Brandão Cavalcanti, Pontes de Miranda e Celso de Albuquerque Mello. Cachapuz de Medeiros apud Ribeiro (2006, S/d): “Os dois primeiros autores defendem a tese da possibilidade de o Congresso sugerir modificações. Por sua vez, Pontes de Miranda considera que, como cabe ao Congresso a aprovação ou não dos tratados a ele encaminhados, e, na hipótese de sugestão de alterações, o Presidente da República deveria interpretar que o acordo não conseguiu a devida aprovação, este deve, pois, entabular novas negociações, a seu juízo. Segundo Mazzuoli apud Ribeiro (2006, S/d): “O Congresso Nacional não ratifica nenhum tipo de ato internacional. Em verdade, por meio de decreto legislativo, o nosso parlamento federal autoriza a ratificação, que é ato próprio do Chefe do Poder Executivo, a quem compete privativamente, nos termos da Constituição da República (art. 84, VIII), celebrar acordos internacionais.” Segundo Ribeiro (2006, S/d), João Barbalho comentarista de nossa primeira Constituição republicana, tinha o entendimento de que: “Quebrar a integridade de um tratado era o mesmo que rejeitá-lo per totum”. Afirmava ainda, João Barbalho apud Ribeiro (2006, S/d): “A Constituição reservou para o Poder Legislativo a resolução final dos tratados e, como pela aprovação parcial e indicação de outras cláusulas o ato ficará ainda dependente de novos acordos, a resolução do Congresso deixará então de ser conclusiva e de última instância; serão os tratados como que negociados e feitos por ele e por ele mesmo aprovados.” Nessa mesma linha de entendimento, manifesta-se Clóvis Bevilaqua apud Ribeiro (2006, S/d), ao afirmar que: “O Congresso aprova ou rejeita o tratado; não lhe cabe o direito de emendá-lo ou de aprová- lo somente em parte”. Por outro lado, foi Aureliano Leal que defendeu a tese de que o legislativo pode aprovar com acordos internacionais, referindo-se á Carta de 1891 e, mais recentemente por Wilson Accioli de Vasconcellos, o qual entendia que as emendas eram perfeitamente admissíveis. Feitas essas considerações, cumpre deixar as divergências doutrinárias de lado e retornarmos ao tema sobre a relação entre os poderes Executivo e Legislativo no processo de conclusão de tratados. A harmonia da relação entre os Poderes Legislativo e Executivo da União, nesse assunto, decorre do preceito constitucional consubstanciado no art. 21, I segundo o qual compete à União manter relações com Estados estrangeiros e participar de organizações internacionais. Como se percebe, para a formalização dos tratados, participam sempre o Legislativo e o Executivo. Sem a participação desses dois Poderes, a realização do ato não se completa. A aprovação de tratados pelo Poder Legislativo com ressalvas e emendas implica a renegociação do texto antes de sua promulgação. Se essa renegociação não ocorrer, o tratado não poderá ser promulgado e introduzido na ordem jurídica interna Se o tratado ainda não se encontra ratificado, o Congresso, por decreto legislativo, pode revogar o diploma que tenha anteriormente aprovado o acordo. A aprovação parlamentar pode ser retratada, mas desde que o tratado não tenha sido ratificado. Segundo Mazzuoli (2009, p. 309): “O decreto legislativo não tem o condão de transformar o acordo assinado pelo Executivo em norma a ser observada, quer na órbita interna, quer na internacional”. Tal fato somente vai ocorrer com a posterior ratificação e promulgação do texto do tratado pelo Chefe do Poder Executivo. O qual o faz por meio de decreto, pois, assim como é sua a competência privativa para celebrar tratados, sua também será em matéria de ratificação. Segundo Ribeiro (2006, S/d): “Antes de ser o tratado submetido à aprovação do Congresso, os poderes que têm os Embaixadores, ordinário e extraordinário, e os Ministros Plenipotenciários permitem apenas o empenho da vontade do Poder Executivo e não a obrigação de ser mantido o que foi assinado. Podemos observar que, no Brasil, um tratado não aprovado pelo Congresso Nacional pode ser novamente submetido à sua apreciação na mesma legislatura.” Contudo não o pode ser na mesma sessão legislativa. Vale lembrar que uma sessão legislativa equivale à quarta parte de uma legislatura. Ou seja, uma legislatura (o que equivale a quatro anos de trabalhos legislativos) é composta por quatro sessões legislativas. O processo de celebração de tratados no congresso nacional Após a conclusão da negociação de um tratado, o Presidente da República, como responsável pelas atividades concernentes às relações exteriores, está livre para dar prosseguimento, ou não, ao processo de consentimento a ser desempenhado pelo Congresso Nacional. Em primeiro lugar, ocorrerá a recepção da mensagem do Presidente da República, acompanhada da exposição de motivos do Ministro das Relações Exteriores, a ele endereçado, juntamente com o texto de inteiro teor do tratado internacional submetido à apreciação. Tanto a Câmara como o Senado possuem comissões especializadas, cujos estudos e pareceres precedem a votação em plenário. Normalmente o exame dos tratados envolve pelo menos duas das respectivas comissões: a de Relações Exteriores – CRE e a de Constituição e Justiça – CCJ. Dependendo do tema do tratado, haverá também o envolvimento de outras comissões, como as de Finanças, Economia ou Indústria e Comércio, por exemplo. A votação em plenário requer o quorum comum de presenças a maioria absoluta do número total de Deputados ou de Senadores, devendo haver a manifestação em favor do tratado da maioria absoluta dos presentes. Vejamos, a seguir, a tramitação em cada uma das Casas, separadamente, do Congresso Nacional. Tramitação na Câmara dos Deputados No Legislativo, a recepção da Mensagem do Presidente da República, acompanhada da respectiva Exposição de Motivos do Ministro de Estado das Relações Exteriores e do texto do ato internacional, é o primeiro momento de apreciação da matéria. Segundo o art. 64 da Constituição federal a discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da República terão início na Câmara dos Deputados. Em plenário ser-lhe-á dada a leitura, de modo que, em obediência ao princípio da publicidade, tome dela os senhores Deputados conhecimento. O Presidente da Câmara, no despacho inicial, poderá, também, distribuir o conteúdo do ato internacional a outras Comissões Permanentes, para que estas igualmente se manifestem naquilo que for de sua competência. Entretanto, a Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional é sempre a primeira a opinar. O processo, então, sob a designação de Mensagem, é numerado e remetido à Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional para exame por um relator designado entre seus integrantes. Na Comissão, lido o relatório, desde que a maioria se manifeste de acordo com o relator, passará ele a constituir parecer conclusivo em forma de projeto de decreto legislativo. Após o exame da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, o projeto é submetido ao crivo da Comissão de Constituição e Justiça de Cidadania, à qual compete examinar os aspectos constitucionais, legais, jurídicos, regimentais e de técnica legislativa de projetos, emendas ou substitutivos sujeitos à apreciação da Câmara ou de suas comissões. O projeto poderá, ainda, ser remetido às outras Comissões que tenham de manifestar-se sobre o assunto, na ordem estabelecida logo no início pelo Presidente da Câmara. Caso o projeto seja considerado em boa forma e aprovado pelas Comissões, ele é submetido à votação no plenário. Aprovado o projeto, em turno único, terá ele sua redação final apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça conforme art. 32, inc. IV, alínea q. Aprovada a sua redação final, passa o projeto nos termos do art. 65 da Constituição, à apreciação do Senado federal. Após lido e publicado o projeto, será ele despachado à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que é, de acordo com o que dispões o regimento Interno do Senado Federal art. 103, inc. I e art. 103, inc. VI). Tramitação no Senado Federal A rotina é basicamente repetida. De acordo com o art. 103, I, do regimento Interno do senado, após a leitura, em plenário, o projeto de decreto legislativo encaminhado pela Câmara, devidamente acompanhado dos originais da Mensagem presidencial e dos atos sob exame, é despachado à Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, onde é distribuído a um relator. Após o respectivo exame, o parecer conclui pela apresentação de projeto de decreto legislativo, na maioria das vezes reproduzindo o que fora remetido pela Câmara dos Deputados. Pode acontecer, por vezes, que o Senado promova algum ajuste redacional no texto de um projeto de decreto legislativo. Vale ressaltar que, estas simples correções dispensam o retorno à Câmara para o reexame. Somente em se tratando de mudança de mérito é que o reexame fica obrigatório. Estando concluído, no Senado, o exame na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, o projeto já se encontra pronto para ser concluído na ordem do dia de votação em plenário. Aprovado em plenário, em turno único, sem emendas, fica dispensada a redação final e o texto do projeto de decreto legislativo é dado como definitivamente aprovado, seguindo à promulgação. A promulgação é prerrogativa do Presidente do Senado Federal, que é o mesmo do Congresso Nacional conforme estabelece o art. 57, parágrafo 5° da Constituição federal. O decreto promulgado é enumerado e publicado no Diário do Congresso Nacional e no Diário Oficial da União. Admite-se, em ambas as Casas, a apresentação de emendas aos projetos de decreto legislativo, mas não ao texto dos tratados submetidos à apreciação. O decreto legislativo exprime unicamente a aprovação. Segundo Ribeiro (2006, S/d): “Quando o Congresso rejeita o tratado, há, apenas, a comunicação, mediante mensagem, ao Presidente da República. Oportuno registrar que, ao longo da tramitação do processo de aprovação de ato internacional no Congresso, tanto a Comissão de Relações Exteriores da Câmara quanto à do Senado podem requerer audiências ou colaboração do Ministério das Relações Exteriores, para elucidação de matéria sujeita ao seu pronunciamento”. O Presidente da República é a autoridade competente para promulgar o ato internacional, depois de devidamente ratificado e, assim, poder ser incorporado à legislação interna. Tal promulgação é dada por decreto presidencial. Não confundir com a promulgação da aprovação do ato internacional, que é feita pelo Congresso, na forma de um decreto legislativo, firmado pelo Presidente do Senado. Fases do tratado no processo de conclusão: negociação, assinatura e ratificação Segundo nos ensina Celso de Albuquerque de Mello apud Ribeiro (2006, S/d): “Negociação é a fase inicial do processo de conclusão de um tratado”. Ela é da competência do Poder Executivo, mas não exclusiva do Ministro das Relações Exteriores, que possui competência limitada. Na realidade, ela é partilhada com os representantes do Chefe de Estado, ou seja, com os negociadores, que se reúnem com a intenção de concluir um tratado. Segundo Ribeiro (2006, S/d): “A negociação de um tratado multilateral se desenvolve nas grandes conferências e congressos e determina o fim dessa fase, com a elaboração de um texto escrito, que é o tratado. Em caso de tratado bilateral, normalmente a negociação é entre o Ministro do Exterior ou seu representante e o agente diplomático estrangeiro, assessorado por técnicos nos assuntos em negociação.” Ainda segundo Ribeiro (2006, S/d): “A assinatura é a fase que se sucede à negociação. Algumas modificações têm sido notadas com relação à sua importância, tanto em razão do desenvolvimento da ratificação como ato discricionário, como, também, pela sua desobrigação nas convenções internacionais do trabalho. Há, ainda, a assinatura diferida, que consiste em se dar aos Estados um prazo maior para a assinatura do tratado, a fim de que os Estados que não participaram das negociações constem como partes contratantes originárias. Essa prática tem tornado a assinatura diferida muito semelhante à adesão, distinguindo-se, desta, em razão da ratificação. A ordem das assinaturas obedece ao princípio do alternado, isto é, o chefe de Estado e seu plenipotenciário são citados em primeiro lugar nos instrumentos que lhes são destinados. Nos acordos com a Santa Sé, ela ocupa o primeiro lugar. Quando o tratado é multilateral e só há um exemplar que é assinado, adota-se o critério da ordem alfabética do nome dos Estados em francês ou inglês. No caso de tratados assinados em grandes conferências, algumas vezes apenas a assinatura do presidente da conferência é considerada suficiente.” A ratificação é outra fase do processo de conclusão dos tratados. Ela dá validade ao tratado. Sua principal característica é ser um ato discricionário, do que decorrem duas conseqüências: a) a indeterminação do prazo para a ratificação, podendo ser realizada pelo Estado no momento que assim julgar oportuno, salvo quando há prazo estipulado para tal; e b) a licitude da recusa da ratificação. Segundo Ribeiro (2006, S/d): “A ratificação é o ato administrativo mediante o qual o chefe de Estado confirma o tratado firmado em seu nome, ou em nome do Estado, declarando aceito o que foi convencionado pelo agente signatário. Como regra, só ocorre a ratificação depois que o tratado for devidamente aprovado pelo Poder Legislativo.” Accioly apud Ribeiro (2006, S/d) que ensina que: “O acordo ou tratado pode prever a sua própria ratificação, sem, contudo, dispensar as formalidades constitucionais estabelecidas para esse fim. Pode haver, inclusive, a recusa de um dos signatários, por qualquer motivo, a ratificá-lo, ainda que autorizado pelo órgão competente.” A ratificação é um ato do Poder Executivo, exigindo ou não a prévia autorização do Legislativo. Segundo Celso de Albuquerque Mello apud Ribeiro (2006, S/d): “A ratificação passou a ser considerada a fase mais importante do processo de conclusão dos tratados”. E, segundo o mesmo autor, as principais razões são a importância das matérias que são objeto do tratado, que devem ser apreciadas pelo chefe de Estado; a questão do excesso de poderes ou violação das instruções dadas aos negociadores, quando da assinatura do tratado; e, ainda, a possibilidade que o procedimento oferece ao chefe de Estado de obter preventivamente o concurso dos órgãos (Congresso) necessários, pelo direito interno, para a formação da vontade que ele deverá declarar internacionalmente. Muito embora a Convenção Pan-americana sobre Tratados, de 1928, tenha consagrado na jurisprudência internacional o princípio que determina que os tratados só serão obrigados após a sua ratificação, a Convenção de Viena, por sua vez, declara que um Estado se obriga a um tratado pela ratificação quando assim o determina e há a intenção dos negociadores de o submeterem à ratificação. A cláusula de aceitação é outra prática utilizada para substituir a ratificação, a qual necessita de aprovação prévia do Legislativo. Promulgação e publicação A promulgação existe em razão de o tratado não ser fonte do direito interno, ou seja, o tratado dá-se no plano internacional e a promulgação é o instrumento por meio do qual a sua executoriedade é inserida no direito interno. A promulgação é a fase que ocorre após a troca ou o depósito dos instrumentos de ratificação. Segundo Accioly apud Ribeiro (2006, S/d): “O ato jurídico, de natureza interna, pelo qual o governo de um Estado afirma ou atesta a existência de um tratado por ele celebrado e o preenchimento das formalidades exigidas para sua conclusão, e, além disto, ordena sua execução dentro dos limites aos quais se estende a competência estatal.” Os efeitos da promulgação são tornar o tratado executório no plano interno e constatar a regularidade do processo legislativo. No Brasil, a promulgação é feita por decreto do Presidente da República, com a publicação do texto, na íntegra, no Diário Oficial da União. Após a fase da promulgação, segue-se a publicação, que é a condição essencial para o tratado ser aplicado no âmbito interno. No Brasil, publica-se tanto o decreto legislativo, em que o Congresso aprova o tratado, quanto o decreto do Poder Executivo, no qual, efetivamente, ele é promulgado. O texto do tratado acompanha o decreto de promulgação. A publicação é feita no Diário Oficial da União e incluída na “Coleção de Leis do Brasil”. O Supremo Tribunal Federal considera obrigatória a promulgação para o tratado vigorar internamente. Registro Segundo a Carta das Nações Unidas que determina, em seu artigo 102, que todo tratado concluído por qualquer membro das Nações Unidas, depois da entrada em vigor da referida Carta, deverá, dentro do mais breve prazo possível, ser registrado e publicado pela Secretaria da Organização das Nações Unidas. A Convenção de Viena endossou essa regra, em seu artigo 80, acrescentando, ainda, que a designação de depositário constitui a autorização para este praticar o registro. Segundo Ribeiro (2006, S/d): “A Convenção sobre o Direito dos Tratados entre Estados e Organizações Internacionais também regula a matéria nos mesmos termos. Cabe ao depositário de um tratado a função de registrá-lo no Secretariado da Organização das Nações Unidas. Considera-se como o dia do registro o do recebimento pelo Secretário geral. Um certificado de registro será redigido em cinco línguas oficiais da Organização das Nações Unidas (francês, inglês, espanhol, russo e chinês) pelo Secretariado.” A sanção para o tratado não registrado está prevista na alínea II do art. 102 da Carta da Organização das Nações Unidas, o qual estabelece não poder o tratado ser invocado “perante qualquer órgão das Nações Unidas”. Não obstante a inexistência de registro, o tratado é obrigatório para as partes contratantes. Efeitos da internalização dos tratados na ordem jurídica nacional Desde que em vigor no plano internacional, os tratados ratificados pelo Estado, promulgados e publicados, passam a integrar o arcabouço normativo interno e, conseqüentemente, a produzir efeitos na ordem jurídica interna. Tais instrumentos, uma vez insertos no direito brasileiro, passam a obedecer, com pouquíssima variação, às mesmas regras sobre vigência e eficácia aplicáveis às demais leis do País. Segundo Mazzuoli (2009, p. 329): “O primeiro e mais imediato dos efeitos gerados por um tratado na ordem jurídica interna é o de revogar todas as disposições em contrário ou incompatíveis da legislação infraconstitucional (aí compreendidas, à exceção das emendas constitucionais, todas as demais espécies normativas que compõem o arcabouço normativo nacional). Tudo quanto está abaixo da Constituição os tratados comuns (e não os que dispõem sobre direitos humanos, que têm índole e nível constitucionais) revogam ou modificam, se com eles incompatível ou expressamente em contrário. Havendo incompatibilidade entre as disposições convencionais e as normas de Direito interno, uma vez que aquelas obedecem, em regra, aos mesmos parâmetros de vigência e eficácia das disposições legislativas domésticas, resolve-se eventual antinomia sempre em favor do tratado, que é hierarquicamente superar a qualquer disposição interna infraconstitucional.” A norma revogadora pode ser manifesta (expressa) ou implícita (tácita ou global). Será manifesta quando expressamente indicar a norma a ser revogada; será implícita, por seu turno, quando a norma posterior for incompatível com a anterior (tácita) ou quando regula inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior (global). Essas regras valem para os tratados posteriores da mesma forma que para uma disposição legislativa interna. Segundo Mazzuoli (2009, p. 329): “O que não pode ocorrer é o contrário: um tratado ser revogado por lei posterior. Seria um contra-senso admitir que um compromisso internacional possa ser revogado por legislação ulterior. Seria o mesmo que permitir que um Estado, unilateralmente, pudesse revogar um compromisso internacional, quando se sabe que para isso é necessário um ato formal de denúncia. Ademais, a tese que pretende permitir a revogação do tratado por lei interna posterior, parece não levar em conta que o descumprimento de uma obrigação acarreta a responsabilidade internacional do estado. A crítica que se faz diz respeito à indiferença que muitos têm tido com o problema sério da responsabilidade do estão no âmbito internacional.” Um outro efeito dos tratados, internamente, é o de autorizar que os particulares reclamem, perante as instâncias judiciais ordinárias, a satisfação dos direitos neles estabelecidos e o cumprimento ds obrigações deles decorrentes. Isto, entretanto, só será possível caso se verifique, pelo conteúdo do instrumento, que o mesmo tem como destinatário certo o cidadão. Um tratado de proteção dos direitos humanos, que, por sua natureza, cria direito subjetivo ao cidadão, poderá ter o seu fiel cumprimento exigido perante uma instância judicial interna, ao passo que um tratado dirigido única e exclusivamente ao Poder Executivo, para que cumpra uma determinada providência ou para que mantenha certo relacionamento com determinado Estado, certamente não pode ter sua vigência reclamada, judicialmente, por um particular. Só os demais Estados é que teriam, nesse caso, o direito de reclamar o cumprimento do tratado violado. A denúncia dos tratados A denúncia é das formas de extinção dos tratados. Ou seja, a denúncia nada mais é do que o meio de extinção do tratado para o Estados que o denuncia, e não para as demais potências que dele participam. No estudo da denúncia de tratados internacionais surge ainda um problema processualístico de Direito interno ensejador de debates. A polêmica questão consiste em saber se o Chefe do executivo pode, por ato próprio, denunciar tratados, acórdãos ou convenções internacionais cuja ratificação tenha ele dependido de aprovação do Congresso nacional. Essa questão chegou ao Supremo Tribunal Federal (STF), em 1977, quando a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG) e a Central Única dos Trabalhadores (CUT) ingressaram com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) visando obter a declaração d inconstitucionalidade do Decreto – lei 2.100 de 1996, que tornou pública a denúncia da Convenção 158 da Organização Internacional o trabalho (OIT), devidamente aprovada e promulgada pelo Decreto legislativo n° 68/92 e pelo Decreto n° 1.855/96, respectivamente. Na inicial se defendia e impossibilidade da denúncia de tratados internacionais sem o prévio assentamento do Congresso nacional. Segundo Mazzuoli (2009, p. 283): “Referida Adin, de n° 1.625/DF, de relatoria do Min. Maurício Corrêa, ainda pende de decisão definitiva do STF. Os Ministros Maurício Corrêa e Carlos Ayres Britto julgaram a ação procedente, em parte, emprestando ao Decreto federal n° 2.100 interpretação conforme o art. 49, inc. I da Constituição, para determinar que a denuncia da Convenção 158 da OIT condiciona-se ao referendo congressual, somente a partir do que produz a sua eficácia. O então Presidente do STF, Ministro Nelson Jobim, em voto-vista, contudo, divergiu do voto do relator para julgar improcedente o pedido formulado, por entender que o Chefe do poder Executivo, por representar a União na ordem internacional, pode denunciar tratados sem anuência do Congresso nacional. (...) Ressaltou, ainda, que embora caiba ao Congresso nacional a aprovação dos tratados, por meio de decreto legislativo, sua função, nessa matéria, é de natureza negativa, eis que não detém o poder para negociar termos e cláusulas ou assinar, mas apenas evitar a aplicação interna de tais normas.” Esse julgamento foi suspenso em 2008, porque o Ministro Joaquim Barbosa pediu vistas, e até hoje se encontra suspenso. A opção do judiciário brasileiro para os conflitos entre tratados internacionais e leis internas Dos tratados em matéria tributária No direito tributário temos como peculiaridade o artigo 98 do Código Tributário Nacional (CTN), que estabelece entre tratado e a lei interna, uma hierarquia do tratado sobre a lei interna. O art. 98 do Código Tributário Nacional Primeiramente, importante frisar que a análise desse dispositivo cingir-se-á essencialmente aos aspectos que interessam á teoria dos tratados. O art. 98 do CTN dispõe o seguinte: “os tratados e as convenções internacionais revogam ou modificam a legislação tributária interna, e serão observados pela que lhes sobrevenham”. O referido dispositivo, atribui primazia aos tratados internacionais em matéria tributária sobre toda a legislação tributária interna, podendo os referidos tratados revogarem ou modificarem as normas internas sem, contudo poderem ser revogados por estas, o que evidentemente segundo a parte da doutrina lhes atribui um status de supralegalidade absoluto dentro do sistema jurídico-tributário nacional, em respeito á regra pacta sunt servanda inscrita no art. 26 da Convenção de Viena sobre o direito dos Tratados. Vale ressaltar que, o art. 98 do CTN é o único dispositivo existente, em toda a legislação brasileira, a atribuir expressa primazia do tratado sobre a nossa legislação interna. Segundo Mazzuoli (2009, p. 346): “O comando do dispositivo se dirige aos três poderes tributantes: União, Estados federados e Municípios. E uma vez incorporado ao ordenamento jurídico pátrio, a revogação ou modificação da legislação tributária das unidades federadas e das municipalidades se opera automaticamente, não sendo necessária qualquer ação legislativa desses mesmos entes para tanto. Daí se entender então que o tratado, concluído pela República Federativa do Brasil, salvo disposição em contrário, atinge internamente a União e os demais componentes da República (Estados e Municípios) de forma imediata, produzindo efeitos erga omnes e ex tunc.” A expressão legislação tributária referida pelo art. 98 do CTN tem o seu alcance determinado pelo art. 96 do mesmo código, compreendendo as leis, os tratados e as convenções, os decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos ou relações jurídicas a eles pertinentes. É sobre tais normas inclusive, como se vê, sobre as complementares que os tratados em matéria tributária se sobrepõem, sendo o comando do art. 98. A compatibilização do art. 98 do CTN com o sistema jurídico-tributário brasileiro, contudo, nunca se deu de forma tranqüila, não sendo ele passado imune às críticas de praticamente toda a doutrina tributarista nacional. De acordo com Mazzuoli (2009, p. 346): “A primeira delas diz respeito à sua redação, uma vez que segundo a doutrina especializada tais tratados não revogam propriamente a legislação tributária interna, mas sim sobre ela prevalecem no caso concreto. Entendem os autores tributaristas que a expressão revogação foi mal utilizada pelo Código, que deveria ter se referido à derrogação da legislação tributária interna pelos tratados. Em verdade, o que ocorreu foi que o CTN preferiu se valer de uma expressão que é gênero, e não da espécie correta, que realmente seria o termo “derrogam”. Como se sabe, “revogação” é o gênero do qual fazem parte duas espécies: a abrogação (revogação total de uma lei) e a derrogação (revogação parcial dessa mesma lei). Assim, quando o CTN se utiliza da expressão-gênero revogação, deve o intérprete ler aí que a referencia diz respeito á sua espécie derrogação, em homenagem à precisão técnica.” A segunda crítica formulada pela doutrina ao art. 98 do CTN, diz respeito à sua aparente inconstitucionalidade. Para alguns doutrinadores tal dispositivo é inconstitucional pelo fato de ter ele atribuído a certa categoria um grau hierárquico superior que somente o texto constitucional poderia atribuir. Assim, não caberia à legislação complementar disciplinar qualquer hierarquia sem autorização da Constituição. Equivocados os que assim entendem, pois o art. 98 do CTN faz exatamente o papel que cabe às leis complementares, que é o de complementar as normas constitucionais, direcionando seu comando á lei ordinária, afim de que esta observe o comando estabelecido pelos tratados. Nesse sentido, segundo Mazzuoli (2009, p. 347 – 348): “As leis complementares como é o caso do CTN são expressamente recebidas pelo texto constitucional (art. 59, inc. II) como espécies normativas capazes de disciplinar, de forma detalhada e uniforme, o sistema tributário nacional, aí inclusa a deliberação sobre a hierarquia normativa das normas convencionais em matéria tributária no direito Brasileiro. O que ocorre, em verdade, é o seguinte: o CTN, que é uma lei de 1966, que previa no seu art. 18, parágrafo 1°, que a lei complementar estabelecia normas gerais de direito tributário, disporia sobre os conflitos de competência nessa matéria entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios e regularia as limitações constitucionais do poder de tributar. Assim, seguindo autorização do próprio texto constitucional, poderia a lei complementar estabelecer o primado do tratado sobre a legislação tributária, devendo-se então concluir que a consagração, pelo CTN, do primado do tratado sobre as demais normas da legislação tributária interna, resguardou-se de expressa autorização constitucional, sendo ainda de se acrescentar que a regra do art. 98 do CTN foi bem recepcionada ela Constituição de 1988 (art. 146, inc. III), quando disciplinou caber à lei complementar o estabelecimento de normas gerais em matéria tributária. Assim sendo, a lei interna que violar tratado em matéria tributaria será inconstitucional, não por atacar diretamente o texto constitucional, mas por violar a competência que a Constituição atribui às leis complementares para estabelecer normas gerais de direito tributário.” O tratado em matéria tributária derroga a legislação tributária anterior incompatível e sobrepaira à legislação posterior. Neste sentido, entende-se que a lei posterior existe, mas não tem eficácia e aplicabilidade, pois são barradas pelo tratado que lhe é superior. A conclusão que se chega é de que o art. 98 do CTN apenas confirma a doutrina da superioridade do Direito Internacional relativamente á legislação interna. A vantagem do referido art. 98 é ter deixado bem claro que nenhuma legislação contrária ao tratado anteriormente firmado e em vigor no Brasil poderá ser aplicada sem antes se proceder à denúncia do instrumento convencional, caso este já não mais satisfaça os interesses nacionais. De acordo com Mazzuoli (2009, p. 349): “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) tem adotado uma interpretação restritiva do citado dispositivo, entendendo ser o mesmo somente aplicável aos chamados tratados-contrato (que são normalmente bilaterais e não dão causa à criação de uma regra geral e abstrata de Direito Internacional, mas à estipulação recíproca e concreta das respectivas prestações e contraprestações individuais com fins comuns) e não aos tratados – normativos (os quais, por sua vez, criam normatividade geral do Direito Internacional, constituindo-se normalmente em grandes convenções multilaterais). Tal posicionamento do STF, manifestado inicialmente no julgamento do RE n° 80.004-SE, carece de fundamento jurídico, devendo ser interpretado como aplicável a ambos. Trata-se de aceitar o conhecimento brocardo jurídico segundo o qual Ubi lex nondistinguit, nec nos distinguere debemus (onde a lei não distingue, não devemos distinguir). Assim, pode-se concluir com Paulo Caliendo que o uso da classificação dos tratados em duas espécies, normativa e contratual, é claramente descabido como fundamentação para a interpretação restritiva do art. 98 do CTN. De qualquer forma, mesmo a interpretação constritiva do STF confirma a primazia dos tratados sobre dupla tributação em relação à legislação tributária interna, na medida em que tais tratados são tratados-contrato, que versam sobre assuntos específicos nas relações bilaterais entre dois Estados.” Gilberto de Ulhôa canto, foi um dos relatores do anteprojeto do CTN, ao tempo da edição do CTN, a Suprema Corte aceitava tranqüilamente o princípio da prevalência dos tratados em matéria tributária sobre a legislação tributária interna, anterior ou posterior. Foi com no julgamento do citado RE n° 80.004 – SE, que a Suprema Corte mudou seu posicionamento, o qual apesar de não dizer respeito à matéria tributária, fez referencia ao art. 98 do CTN como regra de exceção. Para Mazzuoli (2009, p. 350): À luz do texto constitucional em vigor, nenhum conflito apresenta o art. 98 relativamente a qualquer dispositivo inscrito na Lei Maior. Pelo contrário: a constitucionalidade dessa disposição legal é reafirmada pelo status de lei complementar, em consonância com o disposto no art. 146, inc. III da Constituição de 1988, segundo o qual cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária. A lei posterior que pretenda violar o art. 98 do CTN e revogar o tratado em matéria tributaria preexistente, passa a ser inconstitucional, mas não por atacar diretamente o texto da Lei Maior, mas por pretender violar o campo de competência que a Constituição atribui exclusivamente, à legislação complementar. A questão das isenções de tributos Estaduais e Municipais por meio de tratados Problema que surge da surge da superioridade hierárquica dos tratados internacionais em geral, e em especial, dos tratados em matéria tributária, diz respeito á possibilidade de se isentar, por meio da celebração de tratados, tributos de competência dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Quando se trata de isenção de tributos Federais não surgem maiores problemas, mas quando se trata de tributos Estaduais, Distritais ou Municipais a situação se modifica. O problema nasce do fato de ser o Brasil um Estado Federal, onde existe divisão de competências tributarias entre a União Federal, os seus Estados-membros, Distrito Federal e Municípios. Conforme o art. 18 da Constituição de 1988, os Estados e Municípios brasileiros são entes dotados de autonomia, podendo assim legislar em matéria tributária em assuntos de sua competência, levando em consideração os seus interesses particulares caso a caso. Daí então a regra do art. 151, inc. III, do texto constitucional, segundo o qual é vedado a União instituir isenções de tributos da competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Com base no referido dispositivo fica a questão de saber se a vedação da União de isentar tributos estaduais, distritais ou municipais se estende aos tratados internacionais firmados pela republica federativa do Brasil com outros países. Segundo Mazzuoli (2009, p. 351): “A jurisprudência pátria vem reiteradamente negando a possibilidade de se instituir isenções pela via dos tratados internacionais, como se pode verificar da seguinte decisão do Superior Tribunal de Justiça: “Tributário. Isenção. ICMS. Tratado internacional. 1. O sistema tributário instituído pela CF/88 vedou a União federal de conceder isenção a tributos de competência dos Estados, do Distrito federal e Municípios (art. 151, III). 2. Em conseqüência, não pode a União firmar tratados internacionais isentando o ICMS de determinados fatos geradores, se inexiste lei estadual em tal sentido. 3. A amplitude da competência outorgada á União para celebrar tratados sofre os limites impostos pela própria Carta Magna. 4. O art. 98 do CTN, há de ser interpretado com base no panorama jurídico imposto pelo novo sistema tributário nacional”. Nesse sentido, de acordo com Mazzuoli (2009, p. 351): “Tal posicionamento jurisprudencial encontra-se equivocadamente, uma vez que não é a União que celebra tratados, mas sim a República Federativa do Brasil, da qual a União faz parte. Em verdade, o comando do legislador constituinte que proíbe a concessão de isenções heterônomas (aquelas concedidas por normas emanadas de pessoa pública que ao é titular da competência para instituir o tributo) está direcionada tão somente à União (que é pessoa jurídica de Direito interno) e não a Republica Federativa do Brasil (que é pessoa jurídica de Direito Internacional, á qual o texto constitucional dá competência para assumir compromissos exteriores). É a Republica Federativa do Brasil, e não a União (que é, assim como os Estados e Municípios, apenas um dos componentes da Republica), que tem personalidade jurídica de direito das gentes, e, portanto, pode celebrar tratados internacionais com outros estados soberanos. É clara a regra constitucional do art. 1° da Carta Magna de 1988, segundo a qual a Republica Federativa do Brasil é “formada pela União indissolúvel dos estados e municípios e do distrito federal”. Assim, quando se celebra um tratado internacional, ainda que prevendo determinada isenção que, internamente, seria da competência tributaria dos Estados ou Municípios, o ente o está celebrando é a republica federativa do Brasil, da qual a União, os Estados e os Municípios apenas fazem parte. Portanto, a representação externa da nação é uma e não fracionada, razão pela qual a Constituição ao atribuiu aos componentes da Federação personalidade jurídica de direito Internacional (à luz do art. 84, inc. VIII, aa Constituição) o faz não como Chefe de governo (figura de Direito interno) mas como chefe de Estado (figura de Direito internacional), com competência para disciplinar (interesses da união) ou de cada um dos componentes da Federação (interesses dos Estados e dos Municípios). Por tais motivos é que, a rigor, sequer pode-se dizer serem heterônomas as isenções de tributos estaduais ou municipais concedidas por tratado, vez que não existe qualquer invasão de competência de um ente da Federação em outro neste caso; em verdade, o que se tem aqui são isenções autônomas, nada mais.” Com base no que se acaba de expor, fica nítido que a proibição constitucional para concessão de isenções do art. 151, inc. III da Constituição de 1988, não tem por destinatário o Estado brasileiro, mas tão-somente a União relativamente aos demais componentes da Republica Federativa do Brasil, ou seja, os Estados e Municípios. No dia 16 de agosto de 2007 o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), por unanimidade, finalmente decidiu pelo acerto da tese defendida por Mazzuoli, dando provimento ao Recurso Extraordinário n° 229.096 – RS, em que a Central Riograndense de Agroinsumos Ltda questionava acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que considerou que a Constituição de 1988 não previu a isenção de ICMS para mercadorias importadas de países que compõem o Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT). Todos os Ministros presentes à sessão votou no mesmo sentido do relator o Ministro Ilmar Galvão defendendo a tese de que o Estado Federal não deve ser confundido com a ordem parcial do que se denomina União. Para ele, é o Estado Federal total que mantém relações internacionais, e por isso pode estabelecer isenções de tributos não apenas Federais, mas também Estaduais e Municipais. Não se discute que a Constituição atribui autonomia aos Estados e Municípios para instituir determinados tributos. Contudo, autonomia não significa soberania. As limitações ao poder de tributar só se aplicam ás relações jurídicas internas da União, jamais ás relações internacionais (estabelecidas por meio de tratados) das quais a Republica Federativa do Brasil é parte. Sendo assim o Estado brasileiro não está impedido de concluir tratados com outros países versando tributos de competência de quaisquer dos seus componentes, seja a União, sejam os Estados ou os Municípios. O conflito entre tratado comum e norma de direito interno A Constituição brasileira de 1988, em nenhum de seus dispositivos, estatuiu de forma clara qual a posição hierárquica dos tratados comuns perante o nosso ordenamento jurídico interno, deixando assim, para a doutrina e a jurisprudência esta incumbência. Importante ressaltar que, nunca houve em um texto Constitucional da história das Constituições brasileiras, qualquer orientação acerca do assunto, exceto o art. 98 do CTN. A doutrina brasileira Diante da ausência de dispositivos constitucionais, a jurisprudência brasileira orienta-se pela doutrina e pelos acórdãos que consagram a opção monista nos casos de conflitos entre tratados e leis internas. Essa posição monista, todavia, não é completamente uniforme. Por essa razão, é importante observar como a jurisprudência brasileira tem se posicionado frente à questão do conflito entre Direito Internacional e Direito Interno, envolvendo tratados internacionais e leis internas. Pode-se dizer que, a doutrina brasileira apresenta uma predominância da teoria monista contra uma escassa corrente de adeptos do dualismo. O iminente professor de Direito Internacional Privado Jacob Dolinger defende um tipo de dualismo que pode ser observado, da seguinte forma: Doliger apud Ariosi (2000, p. 160): “(...) minha especulação é no sentido de que a prevalência da lei posterior introduz-se no sentido de uma posição parcialmente dualista”. Amílcar de Castro defende um dualismo, este autor considera que tratado não é lei, mas sim, ato internacional, que obriga apenas o governo nas suas relações exteriores, e não o povo, no âmbito interno. Castro apud Ariosi (2000, p. 160): “É certo que em torno dos efeitos do trabalho, duas teorias se formaram: uma afirmar que o tratado por si mesmo, desde o instante em que entre regularmente em vigor, e tenha sido publicado, é fonte formal de direito nacional, obrigando diretamente particulares e tribunais a obdecer-lhe, sem a necessidade do permeio de ato legislativo (lei ou decreto); outra a dizer que, ratificado e publicado, obriga o governo na ordem internacional, mas ainda não converte o que foi convencionado em direito positivo nacional, que se imponha ao povo e aos tribunais, havendo necessidade de procedimento especial de adaptação do direito nacional ao internacional, denominado ordem de execução. E esta última doutrina é a verdadeira.” Campos Batalha é a favor de um monismo moderado, admitindo, portanto, que a lei posterior revogue tratado anterior que lhe seja contraditório. Batalha apud Ariosi (2000, p. 161): “O legislador de cada país pode elaborar uma lei interna que contrarie frontalmente uma convenção ou tratado internacional. Com isso será descumprido uma obrigação assumida. Não obstante, a lei prossegue válida (...)”. Hildebrando Accioly defende um monismo radical, ademais, argumenta que todo tratado é direito especial, enquanto a lei pode ser considerada direito comum; apropria-se do princípio no qual in toto jure genus per speciem derrogatur para justificar sua tese na qual a lei, considerada como norma geral, não pode revogar tratado, que seria norma especial. Accioly apud Ariosi (2000, p. 161 – 162): “Na prática, o resultado da dita incorporação é o seguinte: do fato de que o direito convencional (tratados ou convenções internacionais) se transforma em lei nacional, decorre a conseqüência de que ficam implicitamente revogadas as leis ou disposições de leis internas anteriores, contrárias ao referido direito. Se trata de leis nacionais, posteriores, que estejam em contradição com o referido direito convencional transformado em lei interna, este último ainda deve prevalecer, porque o Estado tinha o dever de respeitar as obrigações contratuais assumidas anteriormente e constantes de tal direito.” Oscar Tenório segue a mesma linha de raciocínio de Accioly, ou seja, do monismo radical. Tenório apud Ariosi (2000, p. 162): “Ele prudentemente acrescenta, todavia, que o tratado apenas suspende temporariamente a aplicação da lei entre os Estados signatários”. Haroldo Valladão é adepto do monismo radical, assevera que o Direito Internacional tem seus próprios meios de revogação dos tratados, como por exemplo, a denúncia. Não se pode conceber uma revogação por outros meios, como asseveram alguns autores, onde leis internas não podem prevalecer, sob nenhuma hipótese, sobre os tratados. Os monistas radicais, e este é o caso de Valladão, baseiam-se no art. 98 do CTN, que prevê a supremacia dos tratados sobre as leis qualquer que seja sua ordem cronológica, e que este artigo aplicar-se-ia a todas as situações jurídicas em âmbito nacional, não apenas ás matérias essencialmente tributárias, como costumam afirmar alguns autores. Dolinger apud Ariosi (2006, p. 162): “Valladão além - para ele, nem uma nova Constituição pode afetar tratados em vigor”. Ademais Valladão apropria-se do princípio intoto jure genus per speciem derrogatur para asseverar que, de fato, as normas internas são gerais, enquanto as internacionais são especiais, limitadas, portanto, aos Estados signatários: Isso autoriza a coexistência de ambas, sendo regra a primeira e a segunda exceção. Rubens Requião, Mirtô Fraga e Vicente Marrota Rangel defendem um monismo radical. As contribuições desses autores ajudaram a fundar uma verdadeira Escola do Monismo no Brasil. Rangel apud Ariosi (2000, p. 163): “Impõem-se a nosso ver, de forma irrecusável, o reconhecimento da norma internacional. É o que a razão humana compreende, o que recomenda a noção de unidade e solidariedade do gênero humano (...)”. Francisco Campos diferentemente dos autores supracitados, defende um monismo moderado. Segundo este autor, a incorporação do direito internacional ao direito nacional é tornar as normas convencionais exigíveis como as legais, portanto, revogáveis por leis posteriores. José Francisco Rezek pode-se dizer que expressa a atual tendência brasileira nas questões dos conflitos entre normas, que é a do monismo moderado. Para Rezek, os tratados se equivalem às leis, podendo ser revogados por uma lei posterior que lhe seja contrária. A jurisprudência brasileira Há mais de duas décadas vigora na jurisprudência do STF o sistema paritário onde o tratado, uma vez formalizado passa a ter força de lei ordinária, podendo por isso, revogar as disposições em contrário, ou ser revogado diante de lei posterior. A jurisprudência brasileira, durante algumas décadas, mostrou-se firme na consagração da primazia do Direito Internacional sobre o Direito Interno, posicionamento que só veio s ser modificado a partir de 1977, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 80.004-SE. Rezek (2008, p. 99 – 100): “De setembro de 1975 a junho de 1977 estendeu-se, no plenário do Supremo Tribunal Federal, o julgamento do Recurso Extraordinário 80.004, em que assentada, por maioria, a tese de que, ante a realidade do conflito entre o tratado e lei posterior, esta, porque expressão última de vontade do legislador republicano deve ter sua prevalência garantida pela Justiça – sem embargo das conseqüências do descumprimento do tratado, no plano internacional. (...) Entenderam as vozes majoritárias que, faltante na Constituição do Brasil garantia de privilégio hierárquico do tratado internacional sobre as leis do Congresso, era inevitável que a justiça devesse garantir a autoridade da mais recente das normas, porque paritária sua estrutura no ordenamento jurídico.” Ariosi (2000, p. 177) transcreve a ementa do RE n° 80.004 - SE: “Convenção de Genebra – Lei uniforme sobre Letras de Câmbio e Notas Promissórias – Aval aposto à nota promissório não registrada no prazo legal – Impossibilidade de ser o avalista acionado, mesmo pelas vias ordinárias. Validade do Decreto-lei n. 427, de 22.1.1969. Embora a Convenção de Genebra que previu uma lei uniforme sobre letras de câmbio e notas promissórias tenha aplicabilidade no direito interno brasileiro, não se sobrepõe ela às leis do País, disso decorrendo a constitucionalidade e conseqüente validade do Decreto-lei n. 427/1969, que instituiu o registro obrigatório da nota Promissória em Repartição Fazendária, sob pena de nulidade do título. Sendo o aval um instituto do direito cambiário, inexistente será ele se reconhecida à nulidade do titulo cambial a que foi aposto. Recurso extraordinário conhecido e provido.” Tratava-se do caso envolvendo a Lei Uniforme de Genebra sobre Letras de Câmbio e Notas Promissórias, que entrou em vigor com o Decreto 57.663, de 1966, e uma lei posterior, o Decreto-lei 427/69. Ficou estabelecido que, se o Decreto-lei n° 427 era posterior à Convenção de Genebra, então o Decreto-lei deveria prevalecer sobre o tratado internacional. O RE n° 80.004, tem sido considerado um marco na jurisprudência brasileira. Dolinger apud Ariosi (2000, p. 181): “A questão finalmente alcançou o Supremo Tribunal Federal, resultando em um dos mais importantes acórdãos sobre essa matéria de Direito Internacional já exarados pela mais alta Corte do país, tratando-se de uma decisão que tem sido discutida e criticada nos últimos 25 anos.” Flávia Piovesan apud Mazzuoli (S/d): “Acredita-se que o entendimento firmado a partir do julgamento do Recurso Extraordinário 80.004 enseja, de fato, um aspecto crítico, que é a sua indiferença às conseqüências do descumprimento do tratado no plano internacional, na medida em que autoriza o Estado-parte a violar dispositivos da ordem internacional – os quais se comprometeu a cumprir de boa-fé. Esta posição afronta, ademais, o disposto pelo art. 27 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, que determina não poder o Estado-parte invocar posteriormente disposições de direito interno como justificativa para o não-cumprimento de tratado. Tal dispositivo reitera a importância, na esfera internacional, do princípio da boa-fé, pelo qual cabe ao Estado conferir cumprimento às disposições de tratado, com o qual livremente consentiu. Ora, se o Estado no livre e pleno exercício de sua soberania ratifica um tratado, não pode posteriormente obstar seu cumprimento. Além disso, o término de um tratado está submetido à disciplina da denúncia, ato unilateral do Estado pelo qual manifesta seu desejo de deixar de fazer parte de um tratado. Vale dizer, em face do regime de Direito Internacional, apenas o ato da denúncia implica a retirada do Estado de determinado tratado internacional. Assim, na hipótese de inexistência do ato da denúncia, persiste a responsabilidade do Estado na ordem internacional.” Mais recentemente, na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIn) 1480-DF, o STF determinou que: Gabriel (S/d): “Os tratados ou convenções internacionais, uma vez regularmente incorporados ao direito interno, situam-se, no sistema jurídico brasileiro, nos mesmos planos de validade, de eficácia e de autoridade em que se posicionam as leis ordinárias, havendo, e conseqüência, entre estas e os atos de direito internacional público, mera relação de paridade normativa. Precedentes.” Segundo o posicionamento do STF, a Constituição ao tratar da competência da Excelsa Corte, teria colocado os tratados internacionais ratificados pelo Brasil, no mesmo plano hierárquico das normas infraconstitucionais, o que reflete a concepção monista moderada. Assim, em caso de conflito entre a norma internacional e a lei interna, será aplicado o princípio geral relativo às normas de idêntico valor, isto é, o critério cronológico, onde a norma mais recente revoga a anterior que com ela conflite. Um precedente importante alterou a regra do STF, (que além de adotar o critério cronológico lex posterior derogat prior), também adotou o critério da especialidade Lexspecialis derogat generalis. Trata-se do conflito ocorrido entre o Pacto San Jose da Costa Rica, em seu art. 7º, parágrafo 7º, e o art. 5 º, inciso LXVII da Constituição, que recepcionou o Decreto - lei 911/69. O caso envolvia a questão da prisão civil por dívida de inadimplente alimentício e devedor infiel. A norma internacional, mais branda, limitava a hipótese de prisão civil ao caso do devedor de alimentos. Eis os dispositivos legais. Gabriel (S/d): “Art. 5º, inciso LXVII da CF: não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. Art. 7, parágrafo 7º do Pacto San Jose da Costa Rica : ninguém deve ser detido por dívidas. Este princípio não limita os mandados de autoridade judiciária competente expedida em virtude de inadimplemento de obrigação alimentar.” De acordo com Mazzuoli (S/d): “O ilustre Ministro Celso Mello deixou firmada a seguinte lição (excerto): A circunstância de o Brasil haver aderido ao pacto de São José da Costa Rica – cuja posição, no plano da hierarquia das fontes jurídicas, situa-se no mesmo nível de eficácia e autoridade das leis ordinárias internas – não impede que o Congresso Nacional em tema de prisão civil por dívida, aprove legislação comum instituidora desse meio excepcional de coerção processual destinado a compelir o devedor a executar a obrigação que lhe foi imposta pelo ordenamento positivo, nos casos expressamente autorizados pela própria Constituição da República. Os tratados internacionais não podem transgredir a normatividade emergente da Constituição, pois, além de não disporem de autoridade para restringir a eficácia jurídica das cláusulas constitucionais, não possuem força para conter ou delimitar a esfera de abrangência normativa dos preceitos inscritos no texto da Lei Fundamental. (...) Parece-me irrecusável, no exame da questão concernente á primazia das normas de direito internacional público sobre a legislação interna ou doméstica do Estado brasileiro, que não cabe atribuir, por afeito do que prescreve a art.5°, parágrafo 2°, da Carta Política , um inexistente grau hierárquico das convenções internacionais sobre o direito positivo interno vigente no Brasil, especialmente sobre as prescrições fundadas em texto constitucional, sob pena de essa interpretação inviabilizar, com manifesta ofensa à supremacia da Constituição – que expressamente autoriza a instituição da prisão civil por dívida em duas hipóteses extraordinárias (CF, Art. 5°, LXVII) -, o próprio exercício, pelo Congresso Nacional, de sua típica atividade política-jurídica consistente no desempenho da função de legislar. (...) A indiscutível supremacia da ordem constitucional brasileira sobre os tratados internacionais, além de traduzir um imperativo que decorre de nossa própria Constituição (art.102, III, b), reflete o sistema que, com algumas exceções, tem prevalecido no plano do direito comparado, que considera inválida a convenção internacional que se oponha, ou restrinja o conteúdo eficacial, ou ainda, que importe em alteração da Lei Fundamental (Constituição da Nicarágua de 1987, art. 182; Constituição Colombiana de 1991, art. 241, n° 10; Constituição da Bulgária de 1991, art. 149, parágrafo 1°, n° 4, v.g.). Desse modo, não há como fazer abstração da Constituição para, com evidente desprestígio da normatividade que dela emana, conferir, sem razão jurídica, precedência a uma convenção internacional.” Neste julgamento ocorrido em 1998 (Hábeas Corpus (HC) 77.631-5), determinou o STF que a norma internacional estava prejudicada, por se tratar de norma de caráter geral em relação à norma especial da Constituição. Em casos de extradição, a Excelsa Corte tem considerado que a lei interna (Lei n° 6.815/80), por ser lei geral, deve ceder ao tratado, que é regra especial. De acordo com Mazzuoli (S/d): “No sistema brasileiro, ratificado e promulgado, o tratado bilateral de extradição se incorpora, com força de lei especial, ao ordenamento jurídico interno, de tal modo que a cláusula que limita a prisão do extraditado ou determina a sua libertação, ao termo de certo prazo (quarenta e cinco dias contados do pedido de prisão preventiva), cria direito individual em seu favor, contra o qual não é oponível disposição mais rigorosa da lei geral (noventas dias, contados da data em que efetivada a prisão – art. 82, parágrafos 2° e 3° da Lei n° 6.815/80).” Em suma, a partir do HC nº 72.131-RJ, o Supremo Tribunal Federal passou a entender que nem todo tratado novo revoga lei anterior que com ele conflite. Exige-se que além de novo, esteja o tratado apto a revogar a lei anterior, e isso apenas acontece quando ambas as espécies normativas sejam gerais ou ambas sejam especiais. É o primado da Lexposterior generalis non derogat legi priori speciali, ou seja, a norma de caráter especial, mesmo que mais antiga, prevalece sobre a norma de caráter geral. A doutrina majoritária acredita que o Tratado prevalece até que seja ele denunciado internacionalmente. Neste sentido dispõe o art. 11 da Convenção de Havana sobre Tratados de 1928 (âmbito da América): “Tratados continuarão a produzir seus efeitos, ainda quando se modifique a Constituição interna dos Estados contratantes”. Diferente da posição atualmente adotada pelo STF, os internacionalistas primam pela superioridade do Tratado. A justificativa para tanto está no fato de o tratado possuir forma própria para sua revogação, ou seja, a denúncia. De outra forma, só podem ser alterados por normas de igual categoria. Não é aceitável que norma interna revogue compromisso internacional. Considerações finais Conforme visto durante o desenvolvimento, este trabalho se esforçou em demonstrar qual a opção do judiciário brasileiro para as questões de conflito entre tratados internacionais e leis internas e em que medida essa opção pode ser considerada com uma boa opção para as relações internacionais do Brasil. Percebemos que o art. 98 do CTN deixa bem nítido a superioridade do Direito Internacional em relação ao Direito Interno, entretanto a jurisprudência entende ser o referido artigo aplicável somente aos chamados tratados – contrato, posição esta, discordada por parte da doutrina, sob a argumentação que tal posicionamento carece de fundamento jurídico. O judiciário brasileiro favorece ao monismo do tipo moderado nas questões de conflito entre tratado comum e lei interna. Como demonstra o tão comentado RE n° 80.004, o STF, respaldado pela legislação constitucional, utiliza-se da regra later in time para dirimir os conflitos entre tratados internacionais e leis internas. Como fora bastante salientado, o tratado internacional tem sido considerado como fonte mais importante do direito internacional e sido considerado, portanto, como um elemento fundamental para os hodiernos processos de integração ao nível do que tem denominado por globalização das relações internacionais. Essa opção monista moderada não corresponde nem um pouco à realidade internacional, muito menos aos paradigmas defendidos pela diplomacia brasileira. Se o Estado brasileiro ratifica um tratado de boa-fé, cabe ao Estado conferir cumprimento às disposições impostas no tratado, não sendo aceitável aprovar leis contrárias ao tratado. O art. 27 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados determina que não pode o Estado – parte invocar posteriormente disposições de direito interno como justificativa para o não cumprimento de um tratado. O Estado brasileiro, tendo a consciência que não pode mais cumprir determinado tratado, poderá denunciá-lo, isso implicaria a retirada do Estado de determinado tratado internacional. Assim, inexistindo o ato da denúncia, persiste a responsabilidade do Estado na ordem internacional. A tendência dos próximos anos é de que os conflitos entre tratados e leis internas tendam a crescer, haja vista o montante de tratados que têm sido assinado nestes últimos anos pelo Brasil. A opção pelo monismo moderado, no momento em que suprimi a eficácia de tratado internacional, coloque em cheque exatamente os solf powers de credibilidade e confiabilidade do Brasil. Há de se pensar sobre essa opção não apenas sob o ângulo técnico-juridico, mas, sobretudo, como uma decisão que pode interferir na diplomacia brasileira. Espera-se que haja uma adaptação entre o discurso externo e a prática interna, só assim poderá a diplomacia presidencial garantir a credibilidade e a confiabilidade internacional almejada. Propõe-se que o monismo radical seja a melhor opção, já que garante o cumprimento do principio pacta sunt servanda. Referências bibliográficas: ARIOSI, Mariângela. Conflitos entre Tratados Internacionais e Leis Internas: O judiciário e a nova ordem internacional. Rio de Janeiro. Renovar, 2000. BRASIL. Vade Mecum. 8 ed. São Paulo, 2009. GABRIEL, Amélia Regina Mussi. O conflito entre tratado e direito interno face ao ordenamento jurídico brasileiro e outras questões conexas. (online) Disponível naInternet via www.jus.uol.com.br. Arquivo capturado em 18 de abril de 2009. GOUVEIA, Jorge Bacelar. Manual de Direito Internacional Público. Rio de Janeiro. Renovar, 2005. MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de Direito Internacional Público. 3 ed. [S.I.] Revista dos Tribunais Ltda, 2009. MAZZUOLI, Valério de Oliveira. A opção do judiciário brasileiro em face dos conflitos entre Tratados Internacionais e Leis Internas. (online) Disponível na Internet viawww.jus.uol.com.br. Arquivo capturado em 19 de abril de 2009. MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Supremo Tribunal Federal e os conflitos entre tratados internacionais e leis internas. (online) Disponível na Internet via www.jus.uol.com.br .Arquivo capturado em 19 de abril de 2009. RESEK, J. Francisco. Direito Internacional público. 11 ed. São Paulo. Saraiva, 2008. RIBEIRO, Sílvia Pradines Coelho. A participação do Legislativo no processo de celebração dos tratados. (on line) Disponível na Internet via www.jus.uol.br . Arquivocapturado em 27 de setembro de 2009. TEIXEIRA, Carla Moura. Direito Internacional: Público, privado e dos direitos humanos. 2 ed. São Paulo. Saraiva, 2008.
Download