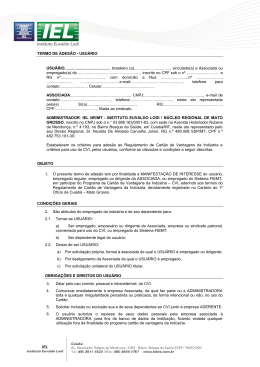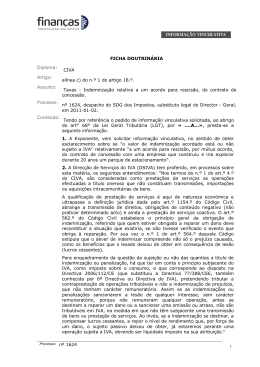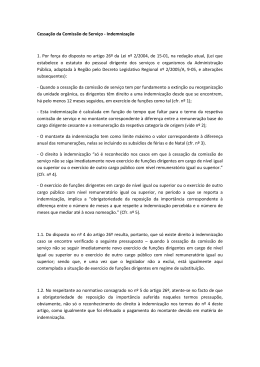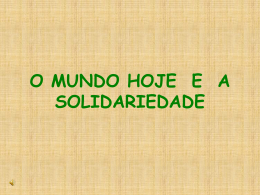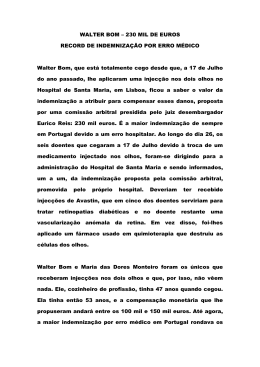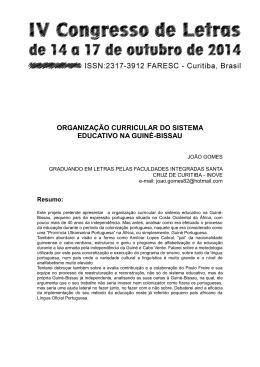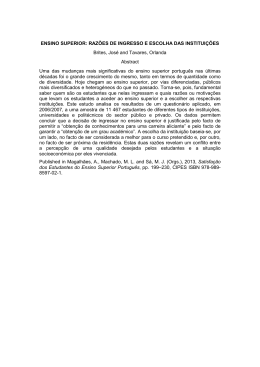PERTURBAÇÕES DO CONTRATO E COMÉRCIO INTERNACIONAL: DUAS CONVENÇÕES E UMA DISTINÇÃO I – INTRODUÇÃO. É conhecida de todos os presentes a integração da Guiné-Bissau na UEMOA. Não se poderá dizer o mesmo da também recente adesão à OHADA – Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires, Organização para a Harmonização do Direito do Comércio em África. Trata-se de uma iniciativa de Estados francófonos circunvizinhos, apoiada pela República Francesa, que procura, através da harmonização rectius, integração jurídica, promover as trocas de bens e serviços entre os seus membros, como instrumento, é claro, do progresso económico. Tenho por muito curiosa esta falta de publicidade, sobretudo quando é certo que se projectam alterações que transfigurarão o quotidiano de juízes, advogados e estudiosos do direito privado i.e., o direito que trata as relações entre os particulares ou com entidades públicas sem que estas ostentem as suas prerrogativas de autoridade , pelo menos, do direito privado patrimonial. Os actos uniformes já preparados (mas que não entrarão em vigor sem o consenso da totalidade dos Estados Membros) tocam vastíssimos sectores do Código Civil, do Código Comercial, da Lei das Sociedades por Quotas, do Código de Processo Civil, etc., etc.. Não vou hoje tratar todas essas matérias, mas apenas aproveitar o ensejo para apreciar em termos muito gerais um capítulo do Acto Uniforme sobre o “Direito Geral do Comércio”, no “Livro V”, relativo às perturbações do contrato compra e venda, e, de seguida, olhar para o direito interno guineense precisamente num ponto em que as técnicas e as soluções dos dois sistemas mais se distanciam. Notemos, antes, que o bimilenar direito privado é aqui chamado a intervir num contexto que lhe é, diríamos, estranho: o dos instrumentos do desenvolvimento. O Leitmotiv destas Jornadas Direito e Desenvolvimento pareceria vocacionado para fazer intervir apenas, de entre os privatistas, os que se dedicam, p.ex., ao direito das sociedades ou aos contratos financeiros, mas são textos de direito internacional em vias de aprovação que trazem à ordem do dia o coração do direito civil: temas como a formação dos contratos, o cumprimento e o incumprimento ou a compra e venda. Ganha alento o “funcionalismo jurídico”? O direito como meio para a prossecução de fins heterónomos, como o crescimento económico? Estão de há muito ultrapassadas as correntes que quiseram reduzir o jurídico ao útil, o pensamento jurídico a uma Zweckrationalität (racionalidade finalística), mas não se pode negar do mesmo modo a repercussão das decisões jurídicas na sociedade e, o que hoje talvez nos preocupe principalmente, na economia.1 De toda a sorte, devemos convir que não se observam diferenças económico-sociais assinaláveis entre estados que acolhem concepções fundamentais do direito privado tão diversas como os EUA, o Reino Unido, a França ou a Alemanha. No Ocidente africano, matrizes A propósito de uma convenção de que falaremos, mas numa postura talvez anacrónica, cf. GUIDO FERRARINI, Il controllo dei rischi como criterio di reponsabilità nella vendita internazionale, in La Vendita Internazionale (La Convenzione di Vienna dell’11 Aprile 1980), in Quaderni di Giurisprudenza Commerciale, 39, Giuffrè, Milão, 1981, pp. 371 a 381. 1 1 jurídicas contrastantes como as da Guiné-Bissau, da Guiné-Conakry ou da Serra Leoa também não parecem ser causa de alguma evolução económica distinta. Que eficácia terá então introduzir novas regras no direito dos contratos? Não se pode dizer que um ou outro dos regimes nacionais modernos do direito dos contratos seja mais favorável ao desenvolvimento. A tratados internacionais como o da OHADA subjaz a ideia de que as diferenças entre os vários sistemas jurídicos constituem um obstáculo ao desenvolvimento. Procura-se, pois, mais do que uma regulação óptima do direito dos contratos, um conjunto de regras aceitáveis em diferentes latitudes, media via entre os ordenamentos tradicionais, capaz de garantir aos agentes económicos particulares alguma segurança e previsibilidade na apreciação jurídica das suas relações. Mais do que um direito ideal, busca-se um direito certo, que não desincentive o comércio internacional. Se possível muitas vezes não será , junte-se um direito simples, que não contribua para arrastar litígios.2 É esta a eficácia que poderemos esperar das convenções internacionais sobre o direito dos contratos. Seríamos cegos, porém, se não víssemos no espírito de alguns dos seus promotores uma preocupação menor com a eficácia das convenções do que com a sua qualidade interna e com o seu simbolismo de construção da utopia de um direito universalmente justo. Voltemos à eficácia da harmonização convencional, que propicia segurança e previsibilidade. Não é, contudo, seguro que as partes no comércio internacional necessitem realmente de um reforço da sua segurança jurídica. Em boa verdade, quando os agentes económicos temem o confronto com um sistema jurídico privado estrangeiro, tomam, sem custos acrescidos sensíveis, todos os cuidados necessários para evitar surpresas, regulando minuciosamente a sua relação e, cada vez com maior frequência, elegendo a jurisdição arbitral para a resolução de eventuais conflitos. A supletividade de princípio das normas de direito privado essa, sim, tendencialmente universal permite que as partes se abriguem, sob as regras acordadas entre si, das surpresas dos direitos legislados. Não virá a despropósito lembrar, outrossim, a padronização dos contratos internacionais, oferecida, p.ex., com desenvoltura, pelos Incoterms da Câmara do Comércio Internacional, cláusulas elaboradas de antemão e difundidas mundialmente.3 Não é imprescindível um direito uniforme. Duvido, portanto, que a uniformização do direito dos contratos possa ter um papel de relevo enquanto incentivo ao comércio. Algum há-de ter e é isso, sem dúvida, que inspira a OHADA. Não se vêem motivos para um cepticismo total. Sucede que nenhum jurista se permitiria ficar pela consideração da utilidade de um texto legal. A justiça ou, evitando conotações, a recondução a valores ou princípios propriamente jurídicos impõe-se como critério aferidor da bondade de um texto legal ou convencional e como modo de exposição do seu conteúdo. Têm, pois, uma índole estritamente jurídica as observações que se seguem sobre as normas relativas à compra e venda contidas num dos actos uniformes preparados pela OHADA e a releitura dos nossos direitos internos que aquelas sugerem. Sobre os reflexos económicos da incerteza ou morosidade das decisões judiciais, cf. C. FERREIRA DE ALMEIDA, Meios jurídicos de resolução de conflitos económicos, in Boletim da Faculdade de Direito de Bissau, 2, 1993, p. 178-179 e, quanto à organização judiciária, p. 186-188. 3 Cf. CÂMARA DO COMÉRCIO INTERNACIONAL, Incoterms 1990, CCI, 1990. É esta a última edição: rigorosa e fácil de manusear. 2 2 II – PERTURBAÇÕES DO CONTRATO NO ACTO UNIFORME. O Acto Uniforme (A.U.) sobre o Direito Geral do Comércio, preparado pela OHADA, inclui um Livro sobre a compra e venda. O seu regime, porém, tem muito pouco de exclusivo do contrato de compra e venda, razão por que é mais amplo o título deste pequeno estudo. Ocupam-nos os problemas de direito associados à insatisfação do credor, ou melhor, do beneficiário de uma atribuição. Não deveríamos dizer “credor” porque, de alguns contratos, embora uma minoria, não resulta nenhum crédito, nenhum direito a uma prestação de outrem pensemos numa troca em que os adquirentes já antes detivessem os bens , mas continuamos, por comodidade, a usar o termo. Pelo mesmo motivo, não é rigoroso falar em incumprimento, que pressupõe um crédito. Contra esta terminologia, levantam-se, contudo, outras razões. Cumprir mal não é, quanto mais não seja, nos direitos romano-germânicos, incumprir. Entregar uma coisa que o comprador escolheu especificamente, mas que não lhe serve, muito menos o será. Entregá-la fora de horas, também não. Todos estes são, no entanto, problemas de insatisfação do credor. A expressão “incumprimento”, acresce, está particularmente comprometida com certas tradições nacionais. Ora, o A.U. não deve ser lido nos quadros dos discursos jurídicos de cada país, pois isso opor-se-ia à intenção unificadora que lhe subjaz. Um instrumento de direito privado internacional exige uniformidade e, daí, autonomia na sua interpretação e, consequentemente, na sua explicação, ou cairemos, encapotadamente, nas soluções dos direitos nacionais que se pretendeu substituir vide o art. 14 do tratado que instituiu a OHADA.4 A melhor solução é usar apenas a terminologia convencional ou uma terminologia descomprometida com toda a tradição natural. Para o nosso tema, preferi “perturbações do contrato”, expressão inócua, obviamente ampla e que evidencia que algo vai mal com a relação instituída pelas partes: o “credor”, justificadamente, não ficou satisfeito. A OHADA, em matéria de compra e venda, seguiu os passos da Convenção de Viena sobre a Compra e Venda Internacional de Mercadorias (CVI). Trata-se de uma convenção internacional promovida pela UNCITRAL,5 assinada em 1980 e que veio substituir uma anterior Lei Uniforme que não concitou a adesão de um número significativo de países. Pelo contrário, a CVI já vigorava em 41 estados em Julho de 96, entre os quais encontramos potências como a China, os EUA e a Rússia, sistemas de direito privado muito próximos do guineense, como os da Alemanha e da Itália, países africanos como o Egipto ou a vizinha Guiné-Conakry, e assim por diante. Talvez infelizmente, nenhum estado de língua oficial portuguesa. Também a CVI se declara, no preâmbulo, ao serviço do comércio internacional, como meio para o crescimento económico. São inúmeras e nucleares as semelhanças entre o A.U. e a CVI, mostrando a grande influência mundial desta. Também uma comissão dependente da União Europeia elaborou uns Sobre a necessidade de uma “interpretação autónoma” dos textos internacionais, cf., v.g., PETER SCHLECHTRIEM, Einheitliches UN-Kaufrecht: Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über internationalen Warenkaufverträge, Mohr (Siebeck), Tubinga, 1981, p. 23-25. 5 Ou CNUDCI, United Nations Commission on the International Trade Law, Comissão das Nações Unidas sobre o Direito do Comércio Internacional. 4 3 “princípios” de direito europeu dos contratos que muito devem à CVI6 e o próprio UNIDROIT, organização não governamental, fez o mesmo.7 A explicação deste sucesso estará na longa, de décadas, preparação da CVI, no leque alargado e variado política, económica e culturalmente de estados que nela participaram e na sábia obtenção de compromissos que conseguiu. Para compreendermos o A.U. e, nessa medida, a CVI na questão das perturbações do contrato, devemos seleccionar alguns pontos centrais reveladores. O primeiro é o do crédito de indemnização em casos de insatisfação de uma das partes. Se o comprador ou vendedor não conseguiu com o contrato tudo aquilo que esperava e que, segundo o contrato, havia de obter, terá direito a uma indemnização. Interessa agora identificar os pressupostos deste direito a ser ressarcido e o montante da indemnização. Outro tema central é o da extinção da eficácia contratual por insatisfação de uma das partes. Quando as coisas não correm bem, é natural que uma das partes se forem as duas, tudo se resolverá por acordo queira desvincular-se do contrato, queira fugir daquela relação que lhe foi nociva. Cumpre então saber se pode ou não fazê-lo e, adiante-se, só em casos de maior gravidade o poderá , ou seja, há que descobrir os pressupostos da extinção da eficácia contratual. Poderemos discutir aí, em especial, o problema do montante da indemnização a que haja lugar. O último ponto significativo e autónomo nas perturbações do contrato é o da possibilidade de exigir judicialmente o cumprimento, por outras palavras, o da execução específica do contrato. Se uma das partes não cumpre, pode a parte fiel recorrer aos tribunais em busca de uma condenação da outra a realizar a prestação prometida? Chamo a atenção para que este problema é radicalmente diferente do da indemnização. Não está em causa que a parte que agiu de forma contrária ao direito seja responsável por danos causados, mas sim que seja forçada a fazer exactamente o que prometeu. Estes três ou quatro pontos que referi marcam soluções diferentes nas várias famílias e subfamílias jurídicas, tal como as define o direito comparado. Os pressupostos e montante da indemnização a conceder são notoriamente diferentes nos direitos do common law ou nos de influência francesa ou alemã, tal como os pressupostos da extinção do contrato por incumprimento ou a possibilidade de recurso à execução específica. Por isso, a sua inclusão num texto internacional como a CVI ou o A.U. da OHADA suscita polémicas e dificuldades. São também pontos identificadores de uma regulação. Vejamos, em termos genéricos, o que a CVI e o A.U. nos reservam nessas matérias, assinalando o que há de diferente em relação ao direito guineense em vigor. Começo pelo mais simples, o problema da exigibilidade judicial do cumprimento. Nos direitos privados de origem romana, ou seja, as famílias francesa, que faz a esmagadora maioria na OHADA, e alemã, em que se insere a Guiné-Bissau, a regra é que o credor pode exigir em tribunal o cumprimento a que a contraparte se obrigou: veja-se o art. 817.º do Código Civil (CC). Ao Cf. COMISSÃO PARA O DIREITO EUROPEU DOS CONTRATOS, Principles of European contract law, Part I: Performance, Nonperformance and Remedies, Martinus Nijhoff, Dordrecht, 1995. 7 Cf. UNIDROIT (Instituto Internacional para a Unificação do Direito Privado), Principles of international commercial contracts, UNIDROIT, Roma, 1994. 6 4 invés, em Inglaterra, nos EUA, etc., esse meio de tutela está reservado para situações consideradas excepcionais, designadamente, quando o credor de qualquer outra forma ficaria muito longe da satisfação que o contrato se destinava a proporcionar. Mais importante, os juristas anglo-americanos mostram-se quase irredutíveis neste ponto, considerando que exorbitaria intoleravelmente das suas competências o tribunal que ordenasse ao devedor inadimplente outra coisa que não fosse um pagamento, uma prestação pecuniária. Tão determinante é esta concepção, que a CVI, que procurou todos os consensos, consagrou uma cláusula de excepção, o seu art. 28, que permite ao tribunal não condenar a parte no cumprimento quando a lei processual do foro lho proíba.8 Uma concessão aos direitos do common law, que o A.U. omitiu, por ser desnecessária para os estados membros da OHADA, mas que poderia ter utilidade para cativar a futura adesão de estados anglófonos da sub-região, dada a intransigência de ambos os lados que aqui se manifesta. Quanto à possibilidade de execução específica, vemos assim que o A.U., ainda mais do que a CVI, se conserva de acordo com a nossa tradição jurídica. Passo agora ao crédito de indemnização e aos pressupostos de extinção da eficácia contratual. Decidi começar por um esboço do sistema guineense para, uma vez ele conhecido, melhor compreendermos o que nos trazem de novo a CVI e o A.U.. Nas perturbações do contrato ou, de modo mais abrangente, do negócio jurídico, o nosso sistema segue a tradição romano-germânica, distinguindo rigidamente as perturbações originárias das supervenientes. Ocorrem aquelas quando o facto que quebra o fluir normal do programa contratual ocorreu ainda antes da celebração; as segundas, quando esse facto é posterior. Assim, num exemplo entre centenas, é completamente diferente que as mercadorias encomendadas fizessem parte de um conjunto deteriorado já no momento em que o contrato foi feito ou que esta deterioração tenha lugar depois, seja abrangendo todo o conjunto, seja limitando-se a parte dele. No primeiro caso, falamos de erro, no segundo, de incumprimento. Não só as palavras são diferentes, mas também as consequências práticas. Há pressupostos diferentes para a relevância que umas e outras concedam o direito à indemnização ou a abandonar o contrato. O montante da indemnização é também diferente: no primeiro caso, em princípio, só o chamado interesse contratual negativo, ou seja, os danos que a contraparte sofreu por ter preparado e celebrado aquele contrato, que a parte não sofreria se nunca se tivesse aproximado da outra; no segundo, o das perturbações supervenientes, tutela-se o interesse contratual positivo, normalmente superior, que consiste no ganho que o contrato permitiria ao credor, i.e., a perda sofrida por o contrato não ter sido completa e pontualmente cumprido. Os vícios originários e supervenientes são tratados como problemas tão diferentes, que nem se estudam no mesmo ano do curso de Direito. Os originários, no segundo ano, em Teoria Geral do Direito Civil; os supervenientes, no terceiro, em Direito das Obrigações. Sobre o art. 28 da CVI, pode ser consultado CESARE MASSIMO BIANCA / MICHAEL JOACHIM BONELL / OLE LANDO, Commentary on the International Sales Law. The 1980 Vienna Sales Convention., Giuffrè, Milão, 1987, p. 232-234, e, contra a execução específica, E. ALLAN FARNSWORTH, Damages and Specific Relief, in American Journal of Comparative Law, Berkeley, CA, 27, nºs 2 e 3, 1979, p. 249-251. 8 5 Dentro de cada um destes momentos, o CC guineense consagra regimes variados, oscilando com o tipo da perturbação. Temos, então, a impossibilidade originária, parcial ou total, do objecto do negócio, a impossibilidade do seu fim, os diversos tipos de erro, o dolo ou a culpa in contrahendo e, depois, a impossibilidade superveniente, também parcial ou total, o incumprimento definitivo, a mora, o cumprimento defeituoso, outros casos de violação positiva do contrato e a alteração das circunstâncias. Devo ter deixado escapar alguns. Esta variedade é, em parte, duplicada pela distinção entre perturbações culposas e não culposas. Em princípio, muito embora se trate de um princípio com múltiplas restrições e excepções, só nas perturbações culposas há direito da contraparte a uma indemnização e facilita-se aí a fuga pela destruição do contrato. Pelo contrário, a CVI, seguida pelo A.U. na maioria dos casos, estatui tomando por irrelevante, nos requisitos como nos efeitos, que a perturbação anteceda ou suceda à celebração do contrato. Mais do que isso, assenta numa categoria unitária de “violação do contrato”, com um ou outro regime específico de relevância limitada. A indemnização é sempre pelo interesse contratual positivo e não depende de culpa, mas sim de factos objectivos, de a causa da violação podemos ilustrar sem cuidado extremo ser interior à empresa da parte ou previsível. Quanto à extinção do contrato, cujos pressupostos se definem cuidadosamente, ainda que reservando ao juiz a necessária margem de manobra no caso concreto, ela opera ou deixa de o fazer sem qualquer dependência da culpa ou de outro elemento de ligação à pessoa do devedor. Violado o contrato de modo essencial, a contraparte pode abandoná-lo, através da figura da resolução. Vemos, então, um sistema simplificado e muito diferente do que vigora na Guiné-Bissau ou no direito interno de qualquer país do mundo. A CVI é, lembremos, um produto de grande qualidade dos estudos jurídicos e jurídico-comparativos do nosso tempo que já demonstrou poder dar um contributo de algum peso para a harmonia jurídica internacional. O A.U. da OHADA, na matéria da compra e venda, afastou-se em aspectos relevantes das regras da CVI. Denotando algum “nacionalismo” dos seus autores, o A.U. optou por uma aproximação, um regresso à tradição francesa. Fê-lo, todavia, revelando alguma imponderação. Recuperou a categoria dos “vícios ocultos” das mercadorias.9 Também no direito vigente no território da Guiné-Bissau, antes de 1967, aqueles, chamados igualmente “vícios redibitórios”, eram referidos na lei. Foram depois eliminados por se mostrarem pouco operacionais e com um regime cuja autonomia era difícil de explicar. Agora, incluídos num texto com características da CVI, são absolutamente anacrónicos e apenas servem para criar desarmonias na sua tessitura interna. O mesmo se pode dizer do acolhimento, no A.U., da figura, por enquadrar dogmaticamente em termos convincentes, da force majeure,10 a “força maior” que o Código de Seabra do mesmo modo previa, ao lado do “caso fortuito”. São remendos que desfeiam e fazem perder resistência o tecido base da CVI. As funções destas figuras eram preenchidas com vantagem por outras, mais amplas, precisas e justificáveis. Para a Guiné-Bissau, acresce, elas não representam o manter de uma tradição. 9 No art. 250. A referência mais relevante encontra-se no art. 267. 10 6 O A.U. procedeu ainda à supressão de alguns trechos da CVI, talvez querendo simplificar o sistema. P.ex., omite-se a regra-chave que determinaria o montante dos danos indemnizáveis.11 Uma falta, a priori, chocante, pois a lacuna terá de ser preenchida de acordo com os direitos nacionais, implicando desigualdade nas decisões. Nem se percebe bem a intenção, pois a CVI estava, neste ponto, bastante próxima da solução de origem francesa, que parecia adequada. Outro exemplo: desaparece, relativamente à CVI, a figura, criada em Roma, da actio quanti minoris, i.e., a possibilidade de redução pelo tribunal do preço a pagar por mercadorias desconformes, quer dizer, “defeituosas”. A eficácia da actio não é despicienda. Agora, tudo terá de se resolver pelos esquemas indemnizatórios, inaplicáveis quando o defeito se não deva a culpa ou a um processo que a substitua. Solução inaceitável tanto para os direitos de origem francesa, quanto para os de alemã. Em tese geral, não se compreende esta intenção redutora. Os membros da OHADA não precisam de um direito da compra e venda “mais simples” do que aquele que tende a tornar-se o “direito do mundo”, livremente aceite pelos estados. Precisam de uma lei completa e, sobretudo, rigorosa. A simplicidade conseguida sem a necessária ponderação e discussão acabará até por criar dificuldades maiores e, inevitavelmente, desarmonia nas decisões dos tribunais. O A.U. apresenta alguns lapsos graves. O mais chocante, evidenciando incompreensão do modelo da CVI, toca os pressupostos de resolução. Na economia da CVI, a “violação fundamental” era o pressuposto nuclear da possibilidade de extinção dos efeitos do contrato devido a uma sua perturbação. Naturalmente, o carácter “fundamental” da violação não pressupunha a existência de culpa, que em lado nenhum é requisito da resolução do contrato, da sua caducidade superveniente, da sua anulação por erro, etc.. O A.U. recorre também, no art. 267, à ideia de “violação essencial”, mas, ao defini-la, exclui-a em casos de force majeure,12 ou seja, grosso modo, quando não houve culpa do devedor. As mercadorias vendidas destroem-se antes da passagem do risco, mas, porque não houve um facto imputável ao vendedor, o comprador tem mesmo assim de pagar o preço, pois não pode resolver o contrato! Isto decerto não foi querido, mas está escrito. As palavras “violação fundamental” impressionaram.13 Tudo visto, permito-me, no espaço oferecido por estas Jornadas, deixar aos decisores políticos da OHADA a seguinte observação. A Convenção de Viena está aberta à adesão de todos os países do globo. Tecnicamente muito perfeita, é um contributo sério para a harmonia jurídica e para a integração económica mundial, na medida restrita em que o direito privado haja de relevar. Para quê criar um sistema regional paralelo, semelhante, mas diferente e, convenhamos, menos conseguido? As cópias perdem sempre na comparação com os originais. Os estados membros querem, estou convicto, um espaço aberto ao exterior. Será melhor abandonar, no A.U., a parte referente à compra e venda e incentivar a adesão de todos à CVI. Nesta, acrescento agora, houve inclusive o cuidado de atender às particulares necessidades dos agentes O art. 283 estatui apenas que a indemnização cobre tanto danos emergentes quanto lucros cessantes, o que certamente não estaria em causa. 12 Art. 267. 13 É verdade que, fruto de um mau conhecimento da Convenção, os termos também suscitaram alguma confusão na Conferência de Viena, em que a CVI foi aprovada. Vide ERNST V. CAEMMERER / PETER SCHLECHTRIEM, Kommentar zum Einheitlichen UN-Kaufrecht, Beck’sche, Munique, 1990, p. 195 e ss.. 11 7 económicos dos países em vias de desenvolvimento.14 Sobre ela, existem já milhares de páginas publicadas em diversíssimas línguas, inclusive isto interessará à Guiné-Bissau em português, e também por um guineense.15 Ouso até prever que, mais tarde ou mais cedo, a adesão à CVI se imporá com naturalidade como a melhor solução. III – A DISTINÇÃO ENTRE PERTURBAÇÕES ORIGINÁRIAS E SUPERVENIENTES. A parte final desta conferência versa sobre o direito guineense. Grande parte do que se disser servirá embora para os restantes sistemas jurídico-privados de filiação romana e, sobretudo, para os que seguem as opções nucleares do CC alemão, o BGB, de 1896 desde a própria Alemanha à Itália e ao Japão, dos sistemas português e africanos de influência portuguesa aos recentíssimos códigos holandês e russo. O Código Civil de 1966, hoje em vigor em seis estados, é o objecto principal do estudo. Reclama-o mais do que outros. É que a distinção entre perturbações originárias e supervenientes do contrato, que já vimos não existir no A.U. nem na CVI, tem maiores reflexos nos nossos países, como se verá. As duas convenções que elegi para apresentar hoje visam promover o comércio internacional através da harmonização jurídica. Procuram-se bons resultados económicos. Como tinha dito, um jurista não resiste, porém, a considerar a justiça de um texto convencional. Proponho-me mostrar que, nesse nível, a indistinção convencional entre ocorrências originárias e supervenientes repercutidas no plano contratual talvez seja mais atraente do que a distinção que existe no nosso CC. Mais um argumento a favor da adesão à CVI. Isto, claro, pressupondo que o direito não é apenas o produto da história, mas pode também ser alvo de crítica racional. Ficarei por uma abordagem quase esquemática, pois algo mais profundo correria o risco de ir muito para além do que se deseja numa exposição como esta e me sinto capaz de empreender. Há inúmeros problemas jurídicos, problemas de solução de casos concretos de perturbações do contrato que têm na lei regulações díspares pela única razão de aquelas ocorrerem ora antes, ora depois da celebração. Assim, a impossibilidade originária do objecto do negócio (arts. 280.º e 401.º) e a impossibilidade superveniente (arts. 790.º a 797.º e 801.º a 803.º). Basta ver a quantidade de preceitos sobre cada caso para descobrir que temos institutos bem desiguais. Ao regime da impossibilidade originária, i.e., essencialmente, a nulidade do negócio, já chamaram, noutras paragens, “lapso legislativo”.16 Um segundo exemplo claro dão o chamado erro sobre a “base do negócio” (art. 252.º, n.º 2) e a “alteração das circunstâncias” (arts. 437.º a 439.º), ambos remetendo a uma apreciação do conteúdo do estipulado à luz da cláusula geral da boa fé. Temos um terceiro caso, ainda, quando o bem vendido padece de algum “defeito”, como decorre dos arts. 913.º e 905.º, se a falha é originária, e dos arts. 918.º e 790.º e ss., se posterior. Poderíamos, Cf. o estudo do professor ganês SAMUEL K. DATE-BAH, The Convention on the international sale of goods from the perspective of the developing countries, in La Vendita Internazionale (La Convenzione di Vienna dell’11 Aprile 1980), in Quaderni di Giurisprudenza Commerciale, 39, Giuffrè, Milão, 1981, pp. 23 a 38. 15 Refiro-me ao estudo cuidado de GRACIANO ANILDO DA CRUZ, A transferência do risco na Convenção de Viena sobre a compra e venda internacional de mercadorias, in BFDB, 3, 1995, pp. 21-65. 16 É a crítica severa de KONRAD ZWEIGERT e HEIN KÖTZ, a propósito do § 306 BGB, em Introduction to Comparative Law, 2.ª ed., trad. ingl. por TONY WEIR, Clarendon, Oxford, 1987 (reimp. de 1993), p. 525-527. 14 8 com certeza, prolongar a lista. É imperioso acentuar que estas situações são essencialmente idênticas. Num como no outro grupo de casos, temos como fulcro do problema um credor insatisfeito e a imputabilidade ou não ao devedor da causa da insatisfação. Varia apenas o momento em que surge o facto contrário a um decurso normal e saudável da relação. Já referi que os regimes são tão diferentes que nem se estudam em conjunto, mas em anos distintos da licenciatura em direito. Separam-se também nos conceitos a que se reconduzem e nas soluções que permitem. Quando o facto que interfere no contrato lhe é anterior ou contemporâneo, pode originar a invalidade do negócio; quando posterior, a caducidade ou a possibilidade de resolução. No primeiro caso, o montante da indemnização a que haja lugar será, na opinião da maioria dos autores17 ou, pelo menos, na maioria dos casos,18 pelo interesse contratual negativo; no segundo, está sempre aberta a porta para o interesse positivo (art. 798.º). Havendo invalidade, podem surgir obrigações de restituir o já prestado, na íntegra (cf. art. 289.º, n.º 1); na caducidade (já não no caso de resolução), a restituição é apenas daquilo com que a parte de boa fé ainda se enriquece (cf., v.g., arts. 795.º, n.º 1, e 479.º, n.º 2). A protecção de terceiros que adquiram com base num negócio inválido dá-se em casos limitados (cf. arts. 289.º e 291.º); pelo contrário, a resolução não afecta nunca os seus direitos (art. 435.º). A menor tutela de terceiros perante a invalidade não existe nos ordenamentos estrangeiros que, ao contrário do nosso, consagrem a regra “posse vale título”, i.e., a da eficácia, com prejuízo para o dono, da aquisição de boa fé e, em princípio, onerosa a um possuidor não proprietário. Saber com precisão o que é um facto anterior ou posterior ao negócio, não se afigura, no entanto, tarefa fácil. O error in futurum, p. ex., não é um caso de erro fonte de anulabilidade. A não ser que o facto futuro seja já, aquando da celebração do negócio, de verificação ou não verificação certa, sugerem alguns autores.19 Outros acrescentam haver também erro quando o facto era previsível e essa previsibilidade desconhecida.20 Levanta-se aqui uma questão interessante: para o determinismo, todos os factos futuros são, hoje, certos, falhando unicamente o nosso conhecimento das suas causas; para a física pós-quântica, todos os factos futuros são incertos, embora mais ou menos prováveis. A previsibilidade, por seu turno, não deixa de suscitar grandes dúvidas: previsível para quem e em que termos? Parece que de acordo com o conhecimento actual das ciências. Mas deve o direito sujeitar-se a indicações que lhe são estranhas? E por que razão o regime jurídico aplicável às partes há-de variar conforme o que descubra algum tempo antes no outro lado do mundo um biólogo ou economista? Nos contratos de formação relevantemente prolongada no tempo, os “contratos entre ausentes”, as coisas são ainda mais complicadas, pois temos de saber se a superveniência se afere pela proposta, pela aceitação, por alguma das contrapropostas ou, conforme o facto eficaz, por todas elas. Apesar de vozes discordantes, de que cabe realçar a de MENEZES CORDEIRO, Da boa fé no direito civil, reimp., Almedina, Coimbra, 1997 (1984), p. 585. Concorde com a opinião dominante, que analisa, veja-se, por último, RAUL GUICHARD, Da relevância jurídica do conhecimento no direito civil, UCP, Porto, 1996. Em legislações estrangeiras, comina-se expressamente, embora apenas para alguns casos, a indemnização pelo interesse negativo. Veja-se o § 307 BGB, para situações de impossibilidade originária. 18 A doutrina dominante, contudo, pretende que a indemnização não pode exceder o interesse negativo em caso algum. 19 Cf. M. DE ANDRADE, Teoria geral da relação jurídica, reimp., Coimbra Ed., Coimbra, 1992 (1944-53), vol. II, p. 404. 20 Cf. MENEZES CORDEIRO, Da alteração das circunstâncias: a concretização do artigo 437.º do Código Civil, à luz da jurisprudência posterior a 1974, sep. Estudos em Memória do Prof. Doutor Paulo Cunha, Lisboa, 1987, p. 37-38. 17 9 À dificuldade referida, soma-se o carácter aleatório de ser superveniente ou originário o facto perturbador. Imaginemos a destruição da coisa vendida, prevista pelo vendedor, durante as negociações e celebração do contrato. Pode dar-se o caso de essa destruição ser anterior, e teremos impossibilidade originária, mas pode ser minutos após a celebração, e teremos impossibilidade superveniente. Diríamos: o direito tem de trabalhar com linhas bem demarcadas e as zonas aparentemente cinzentas são normais em todo o mundo jurídico. Neste caso, contudo, o problema é que não se nos oferecem critérios substanciais para fazer a distinção. O momento da celebração do negócio marca uma ruptura quanto à relevância de quaisquer factos, mesmo que passados nos Antípodas. O acaso do tempo da ocorrência determina o regime, ainda quando as finalidades económicas prosseguidas pelas partes são atingidas de maneira idêntica qualquer que seja esse momento e quando os valores jurídicos intervenientes não mudam. Terá sentido que o montante da indemnização ou da obrigação de restituir e que a tutela de terceiros variem de acordo com um acaso que, nos aspectos substanciais, nada tira nem acrescenta? O razoável é dizer que não. Esta contraposição legal será mais histórica do que racional, mas vamos encontrá-la também numa família jurídica de raízes diferentes das nossas. No direito inglês, a frustration do contrato — p. ex., a destruição por terceiros desconhecidos da coisa específica vendida, antes de se considerar que é do comprador o risco da sua perda —, que permite ao devedor eximir-se de responsabilidades, só é reconhecida quando tem uma causa posterior ao contrato.21 Curiosamente, a anterioridade joga ali contra o devedor, impedindo a sua exoneração, ao contrário do que se passa entre nós, em que o montante de uma eventual indemnização é, nesses casos, inferior. Uma diferença tão clara entre sistemas jurídicos, sem corresponder a visões do mundo diferentes, faz pensar num meio termo ideal, menos comprometido com tradições. Deparamos, no nosso direito, com atenuações à contraposição. As mais claras concernem a algumas das chamadas “relações duradouras”, como o casamento,22 o contrato de trabalho ou as sociedades. Aqui, em que é mais óbvio o efeito arrasador de uma destruição retroactiva do instituído, a lei aproxima os efeitos da invalidade da extinção superveniente não retroactiva. Também para algumas das relações duradouras, dispõe-se com generalidade que a resolução, própria das superveniências, não atinge, em princípio, as prestações já efectuadas (art. 434.º, n.º 2).23 Não seria melhor a equiparação mesmo nos casos em que não é notoriamente chocante a retroactividade, i.e., nos casos das relações não duradouras? Admitamos, agora, que não se justifica, de jure condendo, a distinção entre factos que antecedem a celebração do negócio e os que lhe sucedem. Observar-se-ia então inexistir diferença essencial entre anulabilidade e resolubilidade ou entre nulidade e caducidade. A invalidade e a extinção com fundamento superveniente teriam a mesma natureza. Haveria talvez que forjar uma categoria mais ampla, que abrangesse ambas. Esse é, todavia, um ponto exclusivamente teórico, quase de filosofia do direito, com menos interesse para uma exposição subordinada ao tema “Direito e Desenvolvimento”. Cf. GUENTER TREITEL, The Law of Contract, 9ª ed., Sweet & Maxwell, Londres, 1995, p. 782-802. Neste caso, pela figura do casamento putativo — arts. 1647.º e 1648.º. 23 Cf. também o art. 277.º, n.º 1. 21 22 10
Baixar