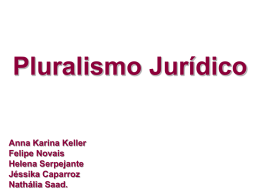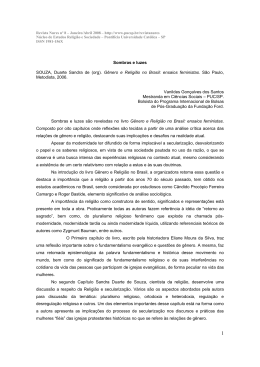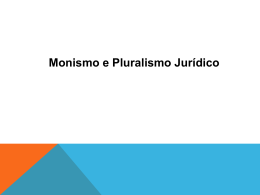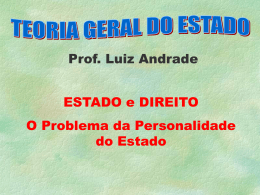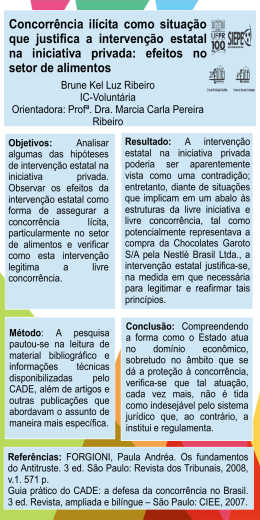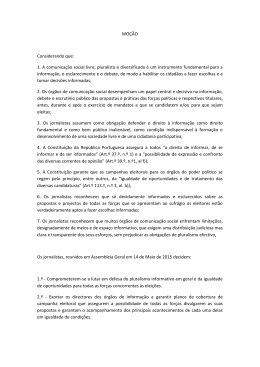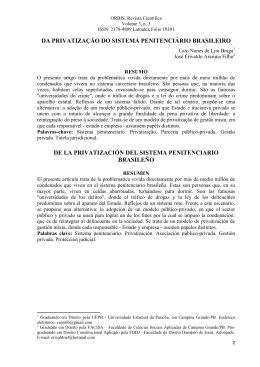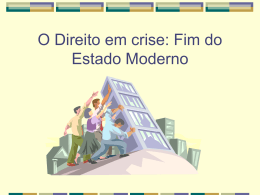ORBIS: Revista Científica Volume 3, n. 1 ISSN: 2178-4809 Latindex Folio 19391 CONSIDERAÇÕES SOBRE O PROGRESSO E AS DIFERENTES FORMAS DE PLURALISMO JURÍDICO Everton Lima da Cruz1 Marcello Freire Alves de Souza Filho2 RESUMO O presente artigo discute as consequências sociais da adoção do modelo de produção normativa como monopólio do Estado. Avalia o desenvolvimento histórico das visões monista e pluralista do Direito. Investiga algumas manifestações contemporâneas do Pluralismo Jurídico. Distingue as diferentes formas deste fenômeno, apontando circunstâncias em que este deve ser incentivado ou combatido. Discute até que ponto as manifestações jurídicas não estatais refletem mecanismos de emancipação dos indivíduos perante o jugo do Estado. Avalia algumas das dificuldades encontradas na tentativa de aceitação da legitimidade dos ordenamentos não estatais. Propõe uma aproximação entre os múltiplos ordenamentos através do reconhecimento de fontes não jurisdicionais de produção normativa e do incentivo ao desenvolvimento dos meios alternativos de resolução de conflitos. Palavras-Chave: Pluralismo jurídico. Emancipação social. Democracia participativa. Eficácia do Direito. Meios alternativos de resolução de conflitos. CONSIDERATIONS ABOUT THE PROGRESS AND DIFFERENT FORMS OF LEGAL PLURALISM ABSTRACT This article discusses the social consequences of adopting the model of production rules as a state monopoly. It does evaluate the historical development of the monist and pluralist visions of the Law. It does investigate some contemporary manifestations of Legal Pluralism. It does distinguish different forms of this phenomenon, pointing to circumstances in which this should be encouraged or opposed. It does discuss the extent to which non-state legal manifestations reflect mechanisms of empowerment of individuals to the yoke of the State. It does assess some of the difficulties encountered in attempting to accept the legitimacy of nonstate jurisdictions. It does propose an approach among the multiple jurisdictions through the recognition of non-legal sources of productions rules and encourage the development of alternative means of conflict resolution. Key-words: Legal pluralism. Social emancipation. Participatory democracy. Effectiveness of Law. Alternative means of conflicts resolution. 1 Graduando em Direito pela Universidade Federal do Rio grande do Norte. Monitor de Filosofia do Direito. Colaborador do Projeto Pesquisas Jurídicas da UFRN. E-mail: [email protected] 2 Graduando em Direito pela Universidade Federal do Rio grande do Norte. Bolsista da PROUNI – UFRN. Email: [email protected]. 86 ORBIS: Revista Científica Volume 3, n. 1 ISSN: 2178-4809 Latindex Folio 19391 1 INTRODUÇÃO O Pluralismo Jurídico, mesmo não sendo uma novidade dos tempos atuais conforme se verá adiante, tornou-se uma das mais expressivas doutrinas contemporâneas, de modo que seu conhecimento desponta como algo essencial à própria compreensão do fenômeno jurídico da atualidade. A doutrina pluralista advém da constatação de que não são apenas as normas provenientes do Estado que propiciam a ordenação, a paz e o bem estar da sociedade, mas também outro conjunto de regras originadas espontaneamente no meio social e, frequentemente, dotadas de maior eficácia que o próprio direito estatal positivado. O Pluralismo enquanto doutrina, além dos aspectos econômicos, sociais e políticos que motivaram seu surgimento, resplandece a partir da chamada “Teoria Institucionalista”, para a qual três aspectos são necessários para que haja direito: a sociedade como princípio, a ordem como fim e a organização como meio de realização. Assim, qualquer grupo social e ordenado seria considerado uma instituição. A Teoria Institucionalista contribuiu para a formação da doutrina pluralista contemporânea no sentido de postular a plena possibilidade de coexistência pacífica de mais de uma ordem jurídica no âmbito de uma mesma sociedade, bastando para isso que os grupos sociais não estatais elaboradores de normas tivessem estrutura organizada e o objetivo principal de ordenação de suas próprias condutas. Com base em considerações doutrinárias, o presente artigo discute a compreensão do fenômeno jurídico no âmbito dos modelos monista e pluralista, apontando a inevitabilidade fática e a superioridade daquele enquanto mecanismo de pacificação social. Visto a conceituação e a quebra de paradigmas que se inicia com a doutrina do pluralismo jurídico, é relevante a compreensão de como ela se desenvolveu ao longo da história e quais foram seus conflitos com o monismo jurídico, doutrina contrária a aquela. É o que veremos a seguir. 2 EVOLUÇÃO HISTÓRICA 2.1 O feudalismo e o pluralismo jurídico 87 ORBIS: Revista Científica Volume 3, n. 1 ISSN: 2178-4809 Latindex Folio 19391 O modo de produção feudal, originado e consolidado sob a influência do colonatus3 romano e da suspensão do comércio europeu com o Oriente devido à expansão muçulmana, predominou na Europa durante toda a Idade Média estendendo-se até o firmamento do sistema capitalista. A economia feudal girava em torno de atividades primárias para hoje em dia como a agricultura e pecuária. Não havia um comércio constituído nesse sistema de produção, pois a produção era voltada para a subsistência, ou seja, produzia-se somente aquilo que iria ser consumido, não havendo excedentes que pudessem ser vendidos ou trocados. Tudo o que se produzia nos feudos advinha da terra (por isso que esta era considerada como o bem mais valioso da época feudal) e era dividido desigualmente entre os servos e nobres, ficando a maior parte dos alimentos e da riqueza nas mãos destes últimos. Esse sistema compreendia também compreendia aspectos sociais e políticos indispensáveis para a sua compreensão. Dentre os sociais, destacam-se: a sociedade estamental feudal composta por basicamente três grupos sociais distintos e rígidos (clero, nobreza e camponeses); o senso de coletividade inerente a essa sociedade, pois o trabalho, o acúmulo de riquezas e a propriedade dos servos teriam que estar ligados ao bem de todos da comunidade e divididos para todos os integrantes dela e as relações sociais de servidão, na qual o nobre cederia um pedaço da sua terra para que camponeses pudessem viver e em troca estes concederiam a força do seu trabalho para alimentar esses nobres e a si mesmos, e as relações de suserania e vassalagem, que representava um elo moral entre os nobres na qual um (suserano) cedia a terra para outro alojar-se e em troca este último (vassalo) passava a dever favores àquele. É importante registrar também a enorme influência que a catolicismo detinha nesta sociedade, muitas vezes ditando o que devia ou não ser feito pelos seus fiéis. Sobre os aspectos políticos, pode-se fazer referência a fragmentação e ao mesmo tempo aos vários centros de poder que existiam nessa época. Como, no sistema feudal, não existia nenhuma forma de governo centralizado que exercesse poder diante de uma nação inteira (nem a noção de nacionalidade havia ainda), a autoridade política se restringia somente as divisões territoriais dos feudos e era exercida pelo nobre que possuía o território feudal, 3 O colonatus romano surgiu como uma tentativa de amortizar os efeitos da crise econômica do império e da escassez de escravos. Constituía-se a partir de um pacto entre o dono da terra e camponeses, no qual estes últimos trabalhariam para os primeiros em troca de um local para viver. Não predominava, em regra, trabalho escravo, porém, os camponeses que não cumprissem inteiramente sua parte no acordo, isto é, não conseguissem alcançar o patamar de produção avençado ou que devessem riquezas ao proprietário da terra, seriam submetidos ao jugo do trabalho, por vezes forçado, até o pagamento de sua dívida, que na maioria das vezes nunca findava. Tal sistema de produção compôs a estrutura básica do Feudalismo e favoreceu sua consolidação ao longo da Idade Média. 88 ORBIS: Revista Científica Volume 3, n. 1 ISSN: 2178-4809 Latindex Folio 19391 gerando assim uma grande quantidade de pólos de poder. Não apenas o nobre, mas conforme já foi evidenciado, a igreja católica também possuía domínio sobre a sociedade, abarcando até mais pessoas sob sua obediência já que a composição majoritária da sociedade pertencia a esta igreja. Diante de todos esses aspectos supracitados e principalmente pela descentralização política característica do feudalismo, fica fácil perceber o pluralismo jurídico nele presente. Havia incontáveis ordenamentos jurídicos estabelecidos por quem detinha o poder (nobres possuidores de feudos, suseranos, igreja, etc.), sendo que somente empregados nas áreas onde esses poderios eram legitimados. As regras que existiam nesses ordenamentos eram costumeiras, que advinham dos próprios hábitos de uma sociedade e que se diferenciavam de lugar para lugar, e na maioria das vezes, regras faladas, sem nenhum tipo de codificação. Havia vários direitos, como o canônico, proveniente da igreja católica, que era tido como superior, pois desempenhava o papel organizador da sociedade na medida em que oferecia regras de conduta, que serviam como ensinamentos para que se possa chegar aos céus, a seus membros e os direitos inferiores, ou específicos, que pertenciam somente a uma parcela da sociedade, como aqueles que emanavam das famílias e das corporações de ofício, este último servindo para disciplinar o comércio nas feiras. 2.2 A transição do feudalismo para o capitalismo O modelo feudal de produção começou sua derrocada na medida em que, nos próprios feudos, houve o desenvolvimento de técnicas de arado e utilização do solo que propiciaram, conseqüentemente, um alto crescimento demográfico e um grande aumento da produção de alimentos. A primeira destas conseqüências gerou uma saída maciça de pessoas dos feudos para as cidades (que mais tarde geraria falta de mão-de-obra, intensificando o processo de extinção do sistema feudal), pois os mesmos já não conseguiam sustentar o enorme contingente de pessoas que continuava a se expandir. A segunda conseqüência deu origem ao comércio dentro dos feudos, pois agora já havia excedentes para serem cambiados. Isto gerou áreas, dentro dos feudos, que modificaram intensamente sua estrutura e sua economia e que tinham como finalidade a comercialização de produtos. Estas eram chamadas de burgos e quem comercializava nestes espaços eram denominados de burgueses. As epidemias e guerras que mataram inúmeras pessoas e geraram uma grande turbulência em todo o continente europeu, o reaparecimento do comércio com o Oriente pelo 89 ORBIS: Revista Científica Volume 3, n. 1 ISSN: 2178-4809 Latindex Folio 19391 Mar mediterrâneo dado pelo fim do império muçulmano, o enfraquecimento político da igreja católica devido à reforma protestante e o enriquecimento da classe nova dos burgueses pelo fortalecimento e importância do comércio deram um fim definitivo ao feudalismo para dar lugar ao capitalismo. Este novo sistema econômico de produção, e mais precisamente esta primeira fase chamada de capitalismo comercial ou mercantilismo, vai se basear basicamente nas concepções e objetivos dos burgueses. Estas serão em suma: políticas de incentivo ao comércio como a criação de corporações de oficio que defendessem os interesses dos comerciantes, a busca e priorização do lucro e da acumulação de capital e o individualismo, como ênfase na posse da propriedade privada, que contrastava totalmente com todo aquele coletivismo presente na sociedade feudal. A chegada desse sistema e de seus objetivos modificará a forma e os interesses da sociedade européia e, por conseguinte, incitará a elaboração de um poder maior que pudesse organizar melhor esta nova sociedade, dando margens assim, para a formação dos Estados Modernos e para a idealização do Direito Estatal. 2.3 A formação dos Estados Modernos e o monismo jurídico A ascensão e expansão do sistema de produção capitalista geraram muitos lucros e posses para os burgueses, mas também trouxe algumas problemáticas. Dentre estas, estava à necessidade desta nova classe social mercantil de existência de uma “forte autoridade estatal que protegesse seus bens, favorecesse seu progresso material e resguardasse sua sobrevivência como classe dominante, reconhecendo o caráter imperioso desta autoridade” (WOLKMER, 2001, p.40). Além dessa busca da burguesia, estavam também presentes os interesses da nobreza e dos reis. Durante a Idade Média, como o predomínio do feudalismo, sua autoridade era limitada somente aonde possuía terras, e isso não agradava a estes nobres, principalmente quando observavam a hegemonia da igreja católica neste período. Todavia, com o enfraquecimento desta entidade religiosa no fim do medievo, a nobreza viu-se na vontade e possibilidade de expandir sua autoridade além dos seus limites territoriais. Diante destas necessidades e objetivos, a nobreza visando o poder e a burguesia visando à organização de sua classe e um meio político que lhe desse segurança, somados com o despertar de um sentimento de nacionalidade de povos de culturas semelhantes, 90 ORBIS: Revista Científica Volume 3, n. 1 ISSN: 2178-4809 Latindex Folio 19391 constituíram gradualmente o Estado Moderno. Este será uma entidade que teria como função primordial o estabelecimento da ordem e da organização da sociedade como um todo, de tal forma que proporcionasse a todos a realização de seus interesses sociais. O Estado ao longo do tempo se modificará de diversas formas, começando com a centralização absolutista, passando pelo Estado liberal burguês, até chegar ao atual estado democrático de direito. Vários teóricos construíram suas teses para explicar a origem e o fundamento da formação do Estado, como o inglês Thomas Hobbes que em seu livro Leviatã, explica que o Estado absolutista sobreveio para “salvar” a sociedade, pois esta sem nenhum tipo de organização, fiscalização e sanção, voltaria ao estado natural e se auto-eliminaria. Os iluministas, como os pensadores Rousseau, Montesquieu, John Locke e outros, defenderam a adoção de uma fundamentação ao Estado a partir da liberdade, igualdade e fraternidade e que o ente estatal nasceu para fazer com que a sociedade se desenvolvesse em paz e segurança. Posteriormente, essas idéias viriam a contribuir para o desenvolvimento e consolidação do Estado liberal de direito. Sob a égide desse nascente Estado Moderno, a forma de se ver o direito se modificou. Aquele pluralismo jurídico advindo de várias fontes, característico desde a época feudal, agora não se encontrava mais tão nítido, pois a entidade estatal, tomando para si a responsabilidade de organizar e ordenar toda a sociedade irá, “através da eliminação ou absorção dos ordenamentos jurídicos superiores e inferiores pela sociedade nacional, por meio de um processo que se poderia chamar de monopolização da produção jurídica” (BOBBIO, 2008, p. 31), ensejará a idéia para o que é denominado de monismo jurídico. Esta doutrina estatalista vai afirmar que somente o Estado pode ser o legitimado para a elaboração de normas destinadas a sociedade e somente as leis do proveniente deste Estado irão existir, visto que ele é órgão máximo para a organização e convivência social pacífica. A criação de leis pelo Estado se dará principalmente de forma escrita (diferenciandose assim das normas feudais) e seu método legitimador se modificará ao longo do tempo. Nos primeiros tipos de Estados Modernos, os Absolutistas, as normas serão elaboradas e adquiram poder e coercibilidade somente se vierem das mãos do rei, pois este é a encarnação do próprio Estado, poder este conferido por Deus as realezas (princípio do direito divino). Nas formas dos Estados ulteriores, as leis serão advindas de órgãos colegiados próprios para esta função, como o Senado ou o Parlamento, que por ventura representarão a sociedade e atenderam seus anseios. Embora haja alterado o modo e a autoridade legislativa competente, o Estado, desde a 91 ORBIS: Revista Científica Volume 3, n. 1 ISSN: 2178-4809 Latindex Folio 19391 sua formação, sempre vai utilizar seu poder coercitivo e sancionatório para criar o direito que servirá para atingir a sua finalidade social. 2.4 O enfraquecimento do monismo e o retorno do ideário pluralista Durante séculos, o monismo dominou a ideologia jurídica em todos os Estados do Ocidente. Em sua fase máxima, ocorreu a formação do chamado positivismo jurídico. Esta doutrina pautava-se basicamente pelo fascínio às normas escritas, positivadas (daí a origem da sua denominação), que acreditavam serem justas, eficazes e sem lacunas, pois advinham do poder legítimo para a organização social (poder estatal); desconsideração do direito natural e subestimação do poder judiciário que para os positivistas eram nominados de “boca da lei”, pois sua única função era aplicar o que estava nas perfeitas leis positivadas. Esta forma de ver o direito se espalhou de diversas maneiras para vários Estados, influenciando-os cada vez mais a enxergar o lado monista do direito. Porém, mais notadamente nestes últimos 50 anos, o desenvolvimento e inovações dos ramos tecnológico, social, econômico e até político dos Estados em todo o planeta cresce de forma gigantesca. Pode-se citar como exemplo dessas mudanças a globalização do planeta, a partir dos anos 70 do século passado, que, ao “reduzir” indiscriminadamente as fronteiras territoriais e tornar os países mais próximos comercialmente, ocasionou um descompasso econômico e social ainda maior entre eles, tornando os que já eram ricos cada vez com mais poder e os pobres cada vez com menos probabilidade de desenvolvimento. Esta nova e crescente realidade transformava os interesses e objetivos da sociedade como um todo, gerando novas necessidades que com o passar do tempo o direito estatal não vai conseguir responder. Como dizia o professor Antônio Carlos Wolkmer (2001, p. 75): Agora, no entanto, a dogmática jurídica concebida enquanto saber começa a vivenciar uma profunda crise, por permanecer rigorosamente presa a legalidade formal escrita, ao tecnicismo de um conhecimento abstrato e estático e ao monopólio da produção normativa estatal, afastando-se das práticas sociais cotidianas, desconsiderando a pluralidade de novos conflitos coletivos de massas, desprezando as emergentes manifestações extralegislativas, revelando-se desajustadas às novas e flexíveis formas do sistema produtivo representado pelo Capitalismo globalizado, dando pouca atenção às contradições das sociedades liberal-burguesas (principalmente aquelas provenientes de necessidades materiais dos pólos periféricos) e, finalmente, sendo omissa e descompromissada com as mais recentes investigações interdisciplinares. Assim, crescerá na doutrina jurídica uma diferente forma de ver o fenômeno normativo. Agora ele não será mais somente aquele criado e imposto pelo ente estatal, mas 92 ORBIS: Revista Científica Volume 3, n. 1 ISSN: 2178-4809 Latindex Folio 19391 será este também composto pelos específicos ordenamentos jurídicos fruto da omissão do Estado (conforme se vê na citação acima), da ineficácia do direito estatal para com o novo contexto social e da própria tentativa de emancipação de determinados grupos sociais que visam ficar longe da coação estatal (p.ex. crime organizado). Estes novos ordenamentos serão tidos como uma alternativa ao poder e direito estatal. Nascerá assim, a doutrina do pluralismo jurídico. A despeito disso o pluralismo ainda é muitas vezes doutrinariamente negado por mero apego às idéias positivistas que insistem na ilegitimidade de todo o Direito não produzido pelo Estado. Mesmo assim, a realidade fática desafia constantemente tais concepções na medida em que vê surgir inúmeros exemplos que demonstram a inevitabilidade do fenômeno. No ponto seguinte examinaremos alguns destes exemplos verificando o modo como se produzem e discutindo até que ponto consistem em verdadeiros atos de emancipação da sociedade. 3 MANIFESTAÇÕES CONTEMPORÂNEAS DO PLURALISMO JURÍDICO Apesar da constante negação, as diversas manifestações do pluralismo jurídico são facilmente perceptíveis. O Estado, conforme dito anteriormente, nem sempre consegue com seus diversos órgãos alcançar todos os núcleos de convívio social, permitindo que ordens jurídicas relativamente autônomas surjam no interior das comunidades humanas, sobretudo as menos favorecidas. Em outros casos, apesar de presentes, as respostas estatais são insatisfatórias perante a variedade dos dissídios sociais, os mecanismos de regulação e os instrumentos de coerção que o Estado utiliza se mostram insuficientes para garantir a paz social e corresponder às expectativas da população, que por sua vez passa a insistentemente não observar as normas postas e a produzir soluções à sua própria maneira. A seguir abordaremos brevemente algumas dessas manifestações, tentando perceber até onde correspondem verdadeiramente a vias de emancipação do jugo estatal ou até que ponto não constituem formas alternadas de dominação, o que nos possibilitará efetuar a distinção entre o pluralismo que emancipa e o pluralismo que meramente conserva o status quo da desigualdade (WOLKMER, 2001). Desse modo, abordaremos a questão em três perspectivas: a os ordenamentos paralelos que surgem no interior do “mundo do crime”; o direito consuetudinário das comunidades indígenas; os modos informais espontâneos de autoregulação, como os chamados “contratos de gaveta”. 93 ORBIS: Revista Científica Volume 3, n. 1 ISSN: 2178-4809 Latindex Folio 19391 3.1 Pluralismo e Criminalidade Lugar comum quando se busca exemplificar a existência de ordenamentos jurídicos não estatais, no universo característico da criminalidade manifestam-se variadas regras de conduta, usualmente fundadas sobre um sistema hierárquico baseado na disposição de meios para o exercício da violência, condensadas em um conjunto de normas não escritas que determinam o modo como cada criminoso deve se comportar e que cominam penas frequentemente desproporcionais aos desvios que venham a ser observados. Em outros termos, é possível afirmar que o mundo do crime, ao invés de se constituir por um aglomerado de ações aleatórias e desconexas, é regido por regras próprias, razoavelmente bem definidas, orientadas por uma lógica interna (MARQUES JÚNIOR, 2009). Nesse sentido é possível observar inclusive uma divisão social entre os indivíduos que integram tal universo baseada prioritariamente na percepção da gravidade dos delitos cometidos e na propensão para a prática de novas infrações. Ou seja, as “classes” de criminosos estariam ordenadas conforme o temor despertado por suas atitudes passadas e potenciais atitudes futuras. Com relação a isso, o sociólogo Gessé Marques Júnior (2009) elabora uma classificação que numa escala de ascensão poderia ser organizada da seguinte forma: estupradores, delatores, vagabundo, malandros e bandidos, ao que se poderiam acrescentar os integrantes das organizações criminosas. De tais “categorias”, os condenados por crimes sexuais ocupariam o patamar mais baixo da hierarquia, sendo invariavelmente considerado pervertido e por isso a tratamento extremamente degradante. O vagabundo seria o criminoso ocasional, o sujeito que por não possuir emprego ou comprometimento com os padrões éticos convencionais recorreria vez por outra ao crime. Os malandros e bandidos corresponderiam ao que pode denominar de criminosos profissionais, diferenciados respectivamente pelo foco de suas ações, o lucro financeiro no primeiro caso e o mero exercício da violência no segundo (MARQUES JÚNIOR, 2009). No topo dessa hierarquia estariam os integrantes das facções criminosas organizadas, tidos comumente como inimigos do Estado a ponto de poderem ser submetidos ao isolamento do Regime Disciplinar Diferenciado com base na mera suspeita de filiação a tais organizações (art. 52, §2°, LEP4). 4 Art. 52, §2°, Lei de Execução Penal: “Estará igualmente sujeito ao regime disciplinar diferenciado o preso provisório ou o condenado sob o qual recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou participação, a qualquer título, em organizações criminosas, quadrilha ou bando.” (Acrescentado pela Lei 10.792 / 2003) 94 ORBIS: Revista Científica Volume 3, n. 1 ISSN: 2178-4809 Latindex Folio 19391 Em resumo, é possível perceber com isso que o mundo do crime manifesta um triste exemplo de pluralismo originado pelo descaso do Estado com a população carcerária, geralmente pobre e mau informada, e por sua incapacidade de propiciar igualdade de oportunidades e condições. 3.2 Pluralismo e Cultura Indígena Outro exemplo de ordem jurídica paralela àquela posta pelo Estado pode ser encontrado nas regras de conduta provenientes dos costumes indígenas. A despeito da questão antropológica sobre a anterioridade de sua cultura em relação ao ordenamento jurídico estatal, a realidade é que os diversos grupos indígenas que habitam no território brasileiro manifestam no interior de suas comunidades regras próprias de conduta baseadas em antigos costumes e tradições orais. A disparidade de tais costumes em relação ao modo de visa dito civilizado muitas vezes ocasiona celeumas capazes de produzir questionamentos sobre a necessidade de preservação das culturas indígenas. Exemplo relativamente recente foi polêmica em torno do infanticídio perpetrado pela tribo dos kamaiurás na Floresta Amazônica noticiado pela Revista Istoé em 2008. A notícia relatava o sepultamento vivo de uma criança por sua própria mãe, cujo ato teria sido executado em observação ao código natural da tribo, que determina que os filhos de mães solteiras devam ser assim enterrados (SUZUKI, 2008). Esta e outras formas de sacrifício são comuns não apenas entre os kamaiurás como em outras tribos. Sem entrar na discussão sobre se tais práticas devem ou não ser aceitas, o fato é que o direito tradicional desses povos tem como ponto de partida visões de mundo absolutamente diversas do ideário predominante no Mundo Ocidental, em tais culturas o homem comumente não é visto como o centro da natureza, de modo que o valor da própria vida humana pode ser mitigado diante da observância de práticas tidas como naturais. Sobre a concepção indígena de Direito firma o pesquisador Orlando Aragón Andrade (2007, p. 19): O direito indígena seria então a ordem intuitiva desenvolvida pelos povos originários de um território – país – Estado, com base na crença de que todas as forças – elementos – energias – razões existentes na Natureza são organicamente solidárias, sendo o homem considerado, como ente coletivo, parte integrante de tais elementos. (tradução nossa) Para além dessa definição, cabe ainda ressaltar que os direitos desenvolvidos no seio das comunidades indígenas não correspondem a práticas isoladas fundadas em concepções 95 ORBIS: Revista Científica Volume 3, n. 1 ISSN: 2178-4809 Latindex Folio 19391 religiosas mais ou menos primitivas, mas, ao contrário articulam-se num eixo sistemático de normas e procedimentos capazes de resolver seus conflitos e promover a ordem e a regulação interna de sua vida social (ARAGÓN, 2007). 3.3 Pluralismo e Direito Informal Outro exemplo característico de pluralismo corresponde ao que se pode denominar direito informal, ou seja, a prática informal de atos cuja validade para direito estatal está condicionada à observação de regras definidas. Um exemplo corriqueiro disto são os chamados contratos de gaveta, expressão utilizada para informar a transmissão de bens imóveis por meio de instrumento particular quando de acordo com o ordenamento jurídico posto pelo Estado isso só poderia ser realizado através de escritura no cartório de registros públicos. A natureza comum dos contratos de gaveta é devida principalmente aos elevados custos de regularização fundiária e de transmissão de bens imóveis, o que evidentemente não impede que transações envolvendo tais propriedades sejam realizadas através de mecanismos não oficiais. Tal situação reflete um exemplo claro da resposta insatisfatória fornecida pelo estado em determinados casos. Apesar disso, o Judiciário tem avançado ocasionalmente no sentido de reconhecer os efeitos de acordos deste tipo, ainda que doutrina e legislação continuem etiquetando-os com o rótulo da ilegitimidade5. Outra fonte de produção jurídica informal provem das associações de moradores formadas no seio de comunidades carentes. Tais organizações fariam a mediação entre as partes conflitantes, normalmente oferecendo soluções e buscando a composição através de um diálogo argumentativo envolvendo desde a compreensão coloquial do direito estatal, até ideias morais fundadas no senso comum. A juridicidade das normas produzidas pelas associações de moradores seria decorrente do consenso comunitário sobre a legitimidade de tais instituições para solucionar seus desentendimentos e na conseqüente eficácia de tais soluções (SANTOS, 1988). 4 PLURALISMO SANCIONADO PELO ESTADO: OBSTÁCULOS E PROPOSTAS DE ACEITAÇÃO 5 Cf. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RE 591089 MG. 3ª Turma. Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito. J. 27/09/2004. DJ 01/02/2005, p. 546. 96 ORBIS: Revista Científica Volume 3, n. 1 ISSN: 2178-4809 Latindex Folio 19391 Ainda que de modo razoavelmente incipiente e geralmente com caráter alternativo, é possível perceber formas de Pluralismo já incorporadas pelo Estado. Tais mecanismos fogem do comportamento orientado para submeter todas as questões à jurisdição estatal ao permitir que os indivíduos recorram a meios não litigiosos de composição ou mesmo que as soluções oficiais sejam orientadas por concepções extrajurídicas, como acontece nos casos em que se faculta aos magistrados decidir com base em critérios de equidade. Em relação a isto vale ter sempre em mente que o Pluralismo Jurídico é uma circunstância fática, não dependente da sanção ou da aceitação do Estado. Motivo pelo qual não há que se falar em meios alternativos de resolução de conflitos como variantes do Direito positivo. Do mesmo modo, o Pluralismo não depende de construções teóricas, revelando-se antes na historicidade de cada unidade coletiva concreta, configurando uma expressão de juridicidade que busca acomodar as sociabilidades, os anseios e os interesses, harmoniosos ou não, coerentes ou não, condensados ou reunidos, de cada um daqueles empreendimentos coletivos (ALBERNAZ; WOLKMER, 2008). A incorporação gradativa do modelo pluralista pelo Estado pode conduzir à construção de um justiça mais apta a produzir a paz social, mais dinâmica por abranger um horizonte mais amplo de opiniões na medida em permite a participativa ativa dos indivíduos. Entre as várias vias à disposição para a adoção deste novo modelo, cabe ressaltar três exemplos que já vêm sendo utilizados com grau variado de sucesso: a arbitragem, a conciliação e a mediação. O juízo arbitral possui uma longa história de aplicação e consiste na utilização de procedimentos razoavelmente informais, tribunal formado por julgadores com formação técnica ou jurídica e, por convenção das próprias partes, limitada possibilidade de recurso e caráter vinculante das decisões, que a despeito disto devem comumente ser homologadas pelo Estado (CAPPELLETTI; GARTH, 1988). Os benefícios da arbitragem podem ser percebidos imediatamente quando se observa o tempo que normalmente utilizada para chegar às soluções dos dissídios e a maior certeza que possibilita quanto à satisfação de ambas as partes quanto ao desfecho da lide, o que se dá pelo fato de que, ao contrário do contencioso, na arbitragem não precisa haver necessariamente vencedores e sucumbentes. Infelizmente, devido às partes terem de suportar o geralmente alto custo financeiro envolvido, o uso da arbitragem tem se mostrado ainda tímido. Outra instituição capaz de promover a justiça participativa corresponde à conciliação. Por esse caminho não apenas as partes, mas também o sistema jurídico é 97 ORBIS: Revista Científica Volume 3, n. 1 ISSN: 2178-4809 Latindex Folio 19391 favorecido pela celeridade com que as questões são resolvidas e pela significativa redução dos custos normalmente envolvidos em um processo judicial. Outro benefício da conciliação está no envolvimento direto das partes na construção da solução, cabendo ao conciliador o papel de mero proponente de sugestões e orientador, o de fato muitas vezes se mostra amplamente mais aceitável e satisfatório que os decretos judiciais unilaterais (CAPPELLETTI; GARTH, 1988). Infelizmente a conciliação é vista ainda com desconfiança pelo próprio Estado, sendo adotada prioritariamente na resolução dos conflitos trabalhistas, muitas vezes não cabendo sua extensão para outras áreas, como a seara Penal, onde poderia ser um instrumento orientado não apenas para o alcance dos aspectos de retribuição mas também a necessária e justa reparação dos danos causados. Como outro exemplo, a mediação corresponde ao processo em que as partes chegam por conta próprias à solução de seu desacordo. Corresponde a verdadeira alternativa ao modelo de litígio, onde ao Inês de uma relação triangular entre juiz e partes, estas dialogam diretamente com o auxílio de um terceiro absolutamente imparcial que lhes facilitará a percepção dos reais pontos de conflito e dos variados caminhos que podem ser utilizados para sua resolução. Dado o preconceito histórico em relação à auto-composição e as injustiças que dessa resultaram no período anterior à formação do Estado, o instituto da mediação é ainda visto com grande desconfiança, sendo sua utilização limitada não somente quanto ao uso esporádico como também em relação aos tipos de conflito que pode resolver. Por fim, é importante salientar que as formas apresentadas não constituem iniciativas de substituição do direito posto, mas meios de reduzir os impactos sociais de uma cultura jurídica voltada exclusivamente para o litígio e determinada por mecanismos desenvolvidos unicamente pelo Estado. Evidentemente, “o pluralismo jurídico não visa negar a existência do Direito estatal, mas tão somente em reconhecer que este é mais uma das formas jurídicas existentes na sociedade” (CUNHA, 2003, p. 76). Em virtude disso afirma-se a necessidade de reconhecimento dos direito que emergem de modo espontâneo no meio social, afastando a idéia de que não correspondem a manifestações jurídicas ilegítimas de uma sociedade incapaz de determinar aquilo que lhe é conveniente. 5 CONCLUSÃO De tudo que foi afirmado, é possível extrair que o Pluralismo Jurídico corresponde a uma realidade presente em vários momentos históricos, encontrando maior ou menor 98 ORBIS: Revista Científica Volume 3, n. 1 ISSN: 2178-4809 Latindex Folio 19391 aceitação ao longo das épocas conforme a predominância da necessidade de auto-regulação dos indivíduos ou do desejo por uma entidade paterna supra-individual delineadora das regras de comportamento. O Pluralismo é uma realidade que não convém ser ignorada por uma nação verdadeiramente comprometida com a Democracia e com a justiça material. Em face da persistente crença de que o abandono do modelo meramente monista de produção normativa conduziria à instabilidade social, torna-se urgente a ampliação do debate e da investigação sobre os temas tratados. Não se pode sustentar a idéia fruto das concepções liberais de que a sociedade não é capaz de por si mesma discernir os modelos de juridicidade mais adequados às suas necessidades. Ainda que não se deva abandonar a doutrina da segurança jurídica, é preciso reavaliá-la em contraste com os modelos de Democracia e justiça participativa. Apesar do já existente progresso nesse sentido, como a admissão da possibilidade de mitigar os efeitos da coisa julgada em prol da justiça, muito ainda deve ser feito para que possamos ter um Direito que faça jus ao que a sociedade espera. Em suma, é somente com a ampliação da forma como o fenômeno jurídico vem sendo compreendido já há várias gerações, no sentido de considerar não apenas o Estado, mas toda a sociedade como produtora da ordem normativa é que poderemos afirmar o cumprimento do papel do próprio Direito, não como ferramenta de dominação, mas como instrumento de ordenação dos interesses coletivos e de promoção da justiça e da harmonia do corpo social. REFERÊNCIAS ALBERNAZ, Renata Ovenhausen; WOLKMER, Antonio Carlos. As Questões Delimitativas do Direito no Pluralismo Jurídico. Sequência: Estudos Juridicos e Politicos. V. 29, n. 57, 2008. Disponível em: http://www.doaj.org/doaj?func=fulltext&passMe=http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/se quencia/article/view/14946. Acesso em: 05. dez. 2011. ANDRADE, Orlando Aragón. Los sistemas jurídicos indígenas frente al derecho estatal en México. Una defensa del pluralismo jurídico. Boletín Mexicano de Derecho Comparado. v. XL, n. 118, 2007. Disponível em: http://www.doaj.org/doaj?func=fulltext&passMe=http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdf Red.jsp?iCve=42711801. Acesso em: 29. nov. 2011. BOBBIO, Norberto. Teoria da norma jurídica. 4 ed. Bauru: EDIPRO, 2008. 99 ORBIS: Revista Científica Volume 3, n. 1 ISSN: 2178-4809 Latindex Folio 19391 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à Justiça. Porto Alegre: Sergio Antônio Fabris, 1988. CUNHA, Djason B. Della. Crise do Direito e da Regulação Jurídica nos Estados Constitucionais Periféricos. Porto Alegre: Sergio Antônio Fabris, 2003. MARQUES JUNIOR, Gessé. O Mundo do Crime é uma Ordem Jurídica. In: LEMOS FILHO, Arnaldo (Org.). Sociologia Geral e do Direito. 4 ed. Campinas: Alínea, 2009. SANTOS, Boaventura de Souza. O Discurso e o Poder. Porto Alegre: Sergio Antônio Fabris, 1988. SUZUKI, Edson. O Garoto Índio que foi Enterrado Vivo. Istoé. v. 38, n. 1998, 2008. WOLKMER, Antonio Carlos. Pluralismo Jurídico: Fundamentos de uma Nova Cultura no Direito. São Paulo: Alfa Omega, 2001. Artigo recebido em: 25/03/2012 Artigo aprovado em: 20/04/2012 100
Download