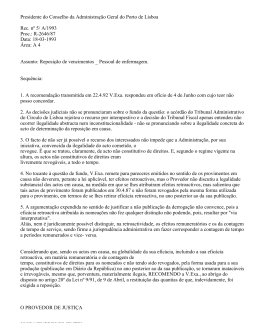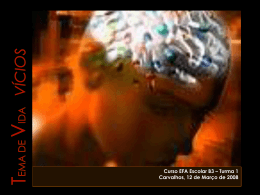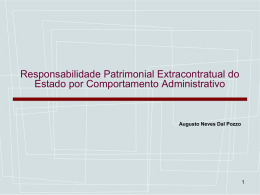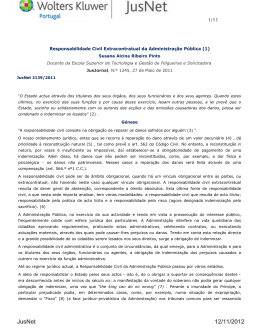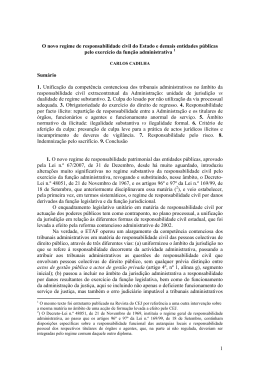Contributo para uma reforma da lei da responsabilidade civil da Administração Margarida Cortez I. SOBRE O ABANDONO DA DISTINÇÃO ENTRE GESTÃO PÚBLICA E GESTÃO PRIVADA Actualmente, o regime da responsabilidade civil extracontratual da Administração encontra-se regulado no DL nº 48051, de 21 de Novembro de 1967. Porém, este diploma como faz notar o seu art. 1º ocupa-se apenas da responsabilidade por actos de gestão pública, cuja efectivação acrescente-se terá lugar na jurisdição administrativa. Da responsabilidade da Administração por actos de gestão privada cuida o Código Civil (art. 501º), sendo competente para o conhecimento das acções de indemnização correspondentes a jurisdição comum. Naturalmente que a primeira dificuldade que enfrentamos é precisamente a de saber o que separa a gestão pública da gestão privada. Esta é, porém, uma tarefa complexa, e porventura até inútil. Com efeito, num tempo em que, especialmente no contexto de uma administração constitutiva, é frequente o recurso a fórmulas organizatórias jurídico-privadas, i.e., à criação de entidades privadas fictícias ou de mão pública, que formam uma Administração paralela, mais eficaz porque liberta de certos controlos públicos; num tempo em que é frequente o uso de meios privatísticos, designadamente na gestão de estabelecimentos públicos; por fim, num tempo em que se assiste a um aumento exponencial da contratualização da actividade administrativa com privados, fará sentido manter essa bipartição? Parece-nos evidente que essa miscigenação entre público e privado retirou sentido à distinção, que aliás sempre encontrou dificuldades no campo da actividade material e técnica da Administração, que é juridicamente neutra. A nosso ver, o que verdadeiramente está em causa, para efeitos de um regime próprio de responsabilidade civil, não é o tipo de gestão, mas o exercício da função administrativa em si, independentemente da natureza dos meios empregues e dos sujeitos a quem é confiado. Propomos então e ao que julgamos saber não estamos sozinhos a substituição da ideia de gestão pública pela ideia de exercício da função administrativa. Alargar-se-á assim, e de modo impressivo, o âmbito de aplicação da habitualmente chamada responsabilidade civil da Administração: não só ela se estenderá a domínios onde a prossecução do interesse público é feita com recurso a instrumentos de direito privado, como contemplará a actuação dos privados que se encontram a exercer a função administrativa. Esta nova referência, de marcado pendor finalístico, tem ainda a virtualidade de nos manter na órbita da relação jurídica administrativa que, como se sabe, serve de critério delimitador do âmbito material de competência da jurisdição administrativa. É certo que nem tudo fica assim resolvido Temos consciência de que o cenário acabado de descrever e que já de si é complexo não dá conta de todas as zonas de indefinição. Estamos a pensar, nomeadamente, nas áreas de concurso positivo entre público e privado, i.e., em actividades que tradicionalmente eram consideradas públicas, mas que hoje se vêm abrindo, em regime de concorrência, à iniciativa privada. Cremos, no entanto, que essa tarefa de clarificação deve ter lugar noutra sede. II. SOBRE O REGIME DE REPARTIÇÃO DE RESPONSABILIDADES Outro aspecto eventualmente carecido de revisão diz respeito ao regime de repartição de responsabilidades entre a entidade pública e os seus servidores. Convém recordar que o DL nº 48051 (nos arts. 2º e 3º) poupa os titulares dos órgãos, funcionários e agentes de responderem civilmente perante os lesados quando actuam funcionalmente com mera culpa, independentemente do grau que a caracterize, limitando portanto a sua responsabilidade externa aos casos de dolo. Assim, nos casos de negligência leve ou de diligência e zelo manifestamente inferiores àqueles que eram devidos em razão do cargo, a responsabilidade é exclusiva da entidade pública, que todavia tem direito de regresso na última hipótese, i.e., no caso de negligência grosseira. Queremos desde já sublinhar que não partilhamos a opinião dos Autores que consideram este regime revogado por inconstitucionalidade superveniente, por força do disposto no art. 22º da CRP. O facto de aí se dizer que o Estado e as demais entidades públicas são civilmente responsáveis, em forma solidária, com os titulares dos órgãos, funcionários e agentes, não pode significar um agravamento automático da responsabilidade destes no plano das relações externas. A nosso ver, a Constituição de 76 (no actual art. 22º) veio simplesmente estabelecer um princípio geral de responsabilidade das entidades públicas, pondo termo a uma tradição constitucional caracterizada pela responsabilidade pessoal e exclusiva dos "empregados públicos", sem todavia pôr em causa a liberdade conformadora do legislador ordinário na definição dos pressupostos do dever de responder. Todavia, isto não significa que o regime do DL nº 48051 permaneça imune a qualquer crítica. Por nossa parte, veríamos com bons olhos os servidores da Administração passarem a responder perante os lesados não só no caso de dolo, mas também no caso de diligência e zelo manifestamente inferiores àqueles a que se achavam obrigados em razão do cargo. Mais do que isso parece-nos, no entanto, excessivo. E excessivo porque desrazoável, na medida em que se estaria a colocar os titulares dos órgãos, funcionários e agentes administrativos ante o constante fantasma da responsabilidade civil, o que inevitavelmente os inibiria na sua actuação, convertendo-os em agentes timoratos, com as indesejáveis consequências em matéria de eficiência administrativa. De todo o modo, independentemente do alcance que se vier a dar à responsabilidade solidária, sempre nos parecerá adequada uma limitação da discricionaridade quanto ao exercício do direito de regresso por parte das entidades públicas. A nosso ver, havendo dolo ou negligência grosseira e sendo a entidade pública chamada a responder pela obrigação integral, não pode ela deixar de exercer esse direito face ao autor material do facto ilícito. Deve portanto abandonar-se a ideia de que estamos perante uma prerrogativa de exercício discricionário. A discricionaridade existirá apenas quanto à determinação do valor a reclamar, que deverá resultar de uma ponderação de vários factores, a saber: o resultado danoso produzido, a existência ou não de intencionalidade, a responsabilidade profissional do agente ao serviço da Administração e a sua relação com a produção do resultado danoso. III. SOBRE AS FORMAS DE RESPONSABILIDADE CIVIL Reservo a última parte desta intervenção às formas de responsabilidade civil. Como se sabe, a doutrina juspublicística desde há muito que optou entre nós por reconduzir à ideia de responsabilidade civil grande parte dos deveres públicos de compensação de prejuízos. Daí que a responsabilidade civil da Administração compreenda hoje três tipos bem distintos: a responsabilidade por factos ilícitos, a responsabilidade pelo risco e a responsabilidade por actos lícitos. É sobre cada uma delas que teceremos breves comentários, justamente aqueles que nos parecem mais oportunos no quadro de uma programada reforma. a) Responsabilidade por factos ilícitos: No que se refere à responsabilidade por factos ilícitos, deve o conceito de ilicitude ser suficientemente abrangente, de forma a compreender, quer no campo da actividade jurídica, quer no campo da actividade material, todas as acções ou omissões que violem as normas constitucionais, legais e regulamentares ou os princípios gerais aplicáveis, que infrinjam as regras de ordem técnica e de prudência comum que devam ser tidas em consideração, ou que não correspondam aos padrões de actuação dos órgãos ou dos serviços, e de que resulte lesão dos direitos ou interesses legalmente protegidos de terceiros. Como facilmente se perceberá, julgamos ser esta a sede própria da chamada "culpa do serviço" tradução menos feliz da expressão francesa faute du service , figura que cobre os danos anónimos ou colectivos quanto à autoria, e que em bom rigor nada tem a ver com um juízo de censura subjectivo, mas antes com o afastamento dos standards de actuação e rendimento dos serviços. Por estarmos no âmbito da responsabilidade subjectiva, outro aspecto que merece referência é naturalmente a culpa. A nosso ver, não devemos persistir na técnica de remissão para as disposições do Código Civil, mas antes formular um conceito próprio de culpa, adaptado à realidade da Administração, elegendo assim como paradigma de diligência e de aptidão aquele titular do órgão, funcionário ou agente respeitador das normas jurídicas e demais regras aplicáveis, tendo em conta naturalmente as circunstâncias de cada caso. Todavia, é em matéria de repartição do ónus da prova que se aconselha maior ousadia. Por um lado, justifica-se uma presunção de culpa no caso da prática de actos jurídicos ilícitos. Dir-se-á, portanto, que a ilegalidade dispensa uma indagação autónoma sobre o pressuposto da culpa, o que em bom rigor nem constitui grande novidade, se tivermos em consideração a prática jurisprudencial nesta matéria. Por outro lado, deve proceder-se a uma inversão do ónus da prova da culpa em certos domínios da actividade material da Administração. Assim, por exemplo, deve a Administração responder pelos danos causados por pessoas que se encontram sob sua vigilância ou por coisas sobre as quais tenha um dever de conservação, salvo se provar que não houve culpa da sua parte ou que, mesmo com a diligência devida, se não teriam evitado os danos. Por último, uma nota dedicada à relação entre ilegalidade e responsabilidade civil, ou ao relacionamente entre o recurso de anulação e a acção de indemnização, especialmente quando estão em causa danos resultantes de actos administrativos ilegais. Como se sabe, o art. 7º do DL nº 48051 trata deste problema, embora a fórmula utilizada pelo legislador tivesse suscitado enorme controvérsia. Estabelece este preceito que "O dever de indemnizar por parte do Estado e demais pessoas colectivas públicas, dos titulares dos seus órgãos e dos seus agentes, não depende do exercício pelos lesados do seu direito de recorrer dos actos causadores do dano; mas o direito destes à reparação só subsistirá na medida em que tal dano se não possa imputar à falta de interposição de recurso ou a negligente conduta processual no recurso interposto". Abstraindo dos termos da mencionada controvérsia, importará esclarecer no futuro que o dever de indemnização não depende da utilização pelo lesado dos meios contenciosos adequados à remoção do acto jurídico causador de danos. Significa isto que a impugnação contenciosa do acto (ou mesmo de uma norma administrativa ilegal) não constitui um pressuposto processual da acção de indemnização. Todavia, há que prevenir um eventual concurso de culpa do lesado, decorrente da sua negligência processual. Assim, caso o lesado omita culposamente a utilização de meios processuais principais e acessórios aptos a evitar a produção ou o agravamento dos danos, pode a indemnização ser reduzida ou mesmo excluída. Sublinhe-se, pois, que o que está em causa não é saber se por via desses meios processuais o lesado teria conseguido a reparação total ou parcial dos danos sofridos em virtude do acto ilegal, mas se o recurso a esses meios processuais podia ter evitado os danos cujo ressarcimento ele vem reclamar numa acção de indemnização. b) Responsabilidade pelo risco Quanto à responsabilidade pelo risco, torna-se necessário alargar a cláusula geral prevista no art. 8º do DL nº 48051. Diz-se aqui que "O Estado e demais pessoas colectivas públicas respondem pelos prejuízos especiais e anormais resultantes do funcionamento de serviços administrativos especialmente perigosos ou de coisas e actividades da mesma natureza, salvo se, nos termos gerais, se provar que houve força maior estranha ao funcionamento desses serviços ou ao exercício dessas actividades, ou culpa das vítimas ou de terceiro, sendo neste caso a responsabilidade determinada segundo o grau de culpa de cada um". Em primeiro lugar, e em coerência com o que dissemos de início, o âmbito subjectivo desta responsabilidade deve estender-se a entidades privadas que exercem funções administrativas. Em segundo lugar, parece-nos sensato moderar o grau de perigosidade do serviço, actividade ou coisa de que resulte o dano. Em vez de excepcional, preferimos especial. Em terceiro lugar, temos dúvidas sobre a subordinação da dignidade indemnizatória do dano à condição da sua anormalidade e especialidade. Por um lado, cremos que a circunstância de o serviço, a coisa ou a actividade ser especialmente perigoso constitui condição suficiente para a reparação do dano. Afinal, não constituirá o carácter perigoso do serviço, da actividade ou da coisa um índice semiótico da anormalidade do dano? Por outro lado, acreditamos que, por razões de justiça material, o carácter especial do dano deve dar lugar à possibilidade de fixar equitativamente a indemnização em montante inferior ao que corresponderia à reparação integral dos danos quando for significativamente elevado o número de lesados. Uma última palavra para dizer não desconhecemos as propostas que têm sido feitas no sentido de prever novas hipótese de responsabilidade pelo risco, independentes do carácter perigoso da actividade em causa, especialmente no caso de danos causados por actos informáticos. Cremos, no entanto, que a atrás defendida presunção legal de culpa no caso de actos jurídicos ilícitos já previne as naturais dificuldades de prova deste pressuposto nos casos de actos administrativos praticados com o auxílio de equipamentos informáticos. c) Indemnização pelo sacrifício A categoria da responsabilidade por acto lícito procurou responder a situações de sacrifício legítimo porque imposto pelo interesse comum que, por força do princípio da igualdade dos cidadãos perante os encargos públicos, não devem permanecer sem compensação. Diz-nos o nº 1 do art. 9º do DL nº 48051 que "O Estado e demais pessoas colectivas públicas indemnizarão os particulares a quem, no interesse geral, mediante actos administrativos legais ou actos materiais lícitos, tenham imposto encargos ou causado prejuízos especiais e anormais". Estão manifestamente aqui contemplados os comportamentos ablatórios intencionais da Administração, de que constitui exemplo paradigmático a expropriação por utilidade pública. Acontece que neste caso como em casos afins, designadamente nas chamadas expropriações de sacrifício a indemnização não constitui uma consequência do comportamento público, mas antes um momento constitutivo dele e portanto uma condição de validade do próprio acto jurídico que de tal comportamento vier a resultar. Sendo assim, o que verdadeiramente aqui está em causa não é o ressarcimento de um dano, segundo as regras da responsabilidade civil, mas a contemporânea compensação do valor real do bem ou direito subtraído, sob pena de invalidade do acto impositivo do encargo. Abstraindo, porém, desta evidência, cumpre notar que o legislador de 67 optou, também neste domínio, pela técnica da cláusula geral. Assim, há lugar a compensação quando, no interesse geral, a Administração, por acto jurídico ou material lícito, impuser encargos ou causar prejuízos especiais e anormais aos particulares. Como facilmente se adivinha, a dificuldade está em saber quais são as situações subsumíveis a esta hipótese. E também como se sabe, o direito do ordenamento do território e do urbanismo constitui terreno propício para essa discussão. Aí, porém, tem havido um evidente esforço de clarificação: não só se vem afinando a distinção entre medidas expropriativas e medidas conformadoras do direito de propriedade, como se vem ensaiando mecanismos de perequação compensatória dos benefícios e encargos decorrentes dos instrumentos de gestão territorial vinculativos. Só que nem sempre está em causa o direito de propriedade. Muitas vezes não estão sequer em causa verdadeiros direitos subjectivos, e ainda assim registam-se prejuízos especiais e anormais na esfera dos particulares, em virtude de uma actuação lícita da Administração. Então o que é decisivo: a qualidade da posição jurídica do particular, a qualidade do dano, ou ambas? A nosso ver, ambos os aspectos devem ser ponderados. Aliás, o carácter anormal do dano sugere uma especial qualificação normativa do interesse sacrificado. A questão que agora se põe, é a de saber se deve o legislador fornecer indicações tópicas quanto ao sentido dos requisitos do dano. Por nossa parte, não vemos obstáculo a que isso aconteça, desde que a concretização seja meramente exemplificativa. Terminamos formulando votos de que o anunciado projecto de proposta de lei da responsabilidade civil extracontratual do Estado chegue a bom porto.
Baixar