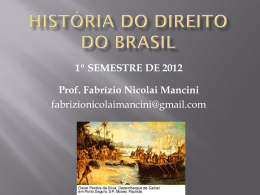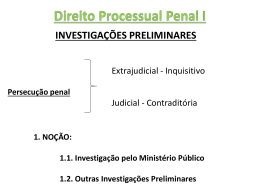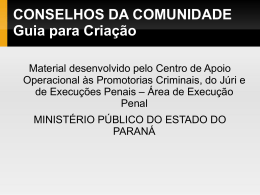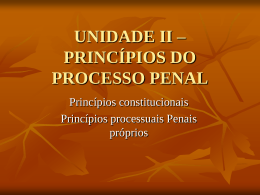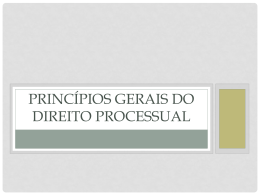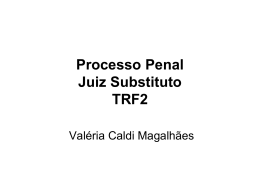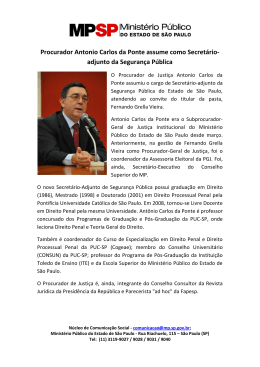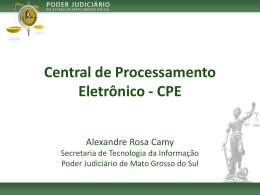A Lei Orgânica do MP e o procedimento de ofício1 Hugo Nigro Mazzilli 1. Com o advento da Lei Complementar 40/81 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), abriu-se acirrada polêmica sobre se ficou ou não ab-rogado o procedimento penal ex officio. Contra a tese da ab-rogação, temos, entre outros, Damásio E. de Jesus (O Estado de S. Paulo, 20/6/82, p. 56) e alguns julgados do TACrimSP (Correição Parcial 302.989-Sorocaba, 1ª Câmara, j. em 24.5.82; Correição Parcial 302.969-Sorocaba, 10ª Câmara, j. em 24.5.82; Recurso em habeas corpus 310.287-Botucatu, Câmara de Férias, j. em 14.7.82); a favor dela temos, entre outros, Frederico Marques (O Estado da S. Paulo, 16/7/82, p. 27), Paulo Édson Marques (RT 557/275 e O Estado de S. Paulo, 30.1.82, p. 27), João Carlos Kurtz (O Estado de S. Paulo, 25/7/82, p. 56), Ada Pellegrini Grinover (O Estado de S. Paulo, 5/9/82, p. 41) e alguns julgados do TACrim do Paraná (HC 87/82 e 93/82). 2. O primeiro argumento dos opositores da tese da ab-rogação é de que a Constituição reservou para a LONMP apenas a estipulação de normas gerais, para a “organização do Ministério Público estadual” (art. 96, parágrafo único). Sendo a legitimidade para a ação penal pública matéria de processo, sustenta-se ter havido desbordamento da LC, cuja aplicação a esse campo, ainda que admitida para argumentar, levaria, segundo estes, a uma inadmissível dicotomia de sistemas, visto que a dita LC só se aplicaria à propositura da ação penal pública a nível estadual e não aboliria o procedimento penal ex officio a nível federal, como nas contravenções de caça (Lei nº 5197/67). Tal objeção, porém, não colhe. Se a LC dispôs que promover a ação penal pública é função institucional do Ministério Público e que as funções deste não podem ser exercidas por pessoas a ele estranhas (arts. 3º inc. II e 55) — está nitidamente organizando o Ministério Público nos Estados, dando-lhe atribuições e vedando seu exercício a terceiros fora da carreira. Não extravasou, pois. E, mesmo que tivesse ido além dos parâmetros a ela reservada pela Constituição, ao inserir junto a normas de organização do Ministério Público estadual uma norma de processo penal, a nível federal — não haveria nem inconstitucionalidade nem ilegalidade alguma. Não colidiria tal norma (muito pelo contrário, como se verá adiante) com o texto constitucional. E é pacífico em doutrina constitucional que, se a LC 1. Artigo escrito em 1982, disponível em www.mazzzilli.com.br/pages/artigos/procexofficio.pdf, publicado no jornal O Estado de S. Paulo, ed. de 26-09-1982, p. 64. 1 também tem normas não próprias nem específicas a seu campo, serão elas dispositivos materialmente ordinários, ainda que inseridos no bojo de uma lei complementar (Geraldo Ataliba, Lei Complementar na Constituição, p. 37; José Souto Maior Borges, RDP 25/93, etc.). Nem pode impressionar a rubrica de uma lei, que nem sempre dá seu justo conteúdo: basta lembrar a chamada Lei de Introdução ao Código Civil, que na verdade é uma lei geral de aplicabilidade das normas jurídicas, sejam do Código Civil ou não. Veja-se a própria LC, que é lei federal, a dispor não só sobre normas de organização do Ministério Público estadual (arts. 4º, 5º, 6º, 9º, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 32, 38, 42, 47, 49, 52, 53, 54, 59), como também a editar normas que se destinam genericamente ao Ministério Público como instituição nacional, a nível federal ou estadual (arts. 1º, 2º, 3º, 15, 61, etc.). E, não fosse tudo isto já muito explícito, ainda convém aqui transcrever seu artigo 60, que não permite dúvidas sobre o alcance federal da lei: “Aplicam-se à organização do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, no que couber, as normas constantes desta lei”. 3. Outro argumento que se tem usado para rebater a tese da ab-rogação do procedimento ex oficio é o de que a LONMP, como lei complementar, destinada apenas a organizar o Ministério Público estadual, não poderia revogar dispositivos codificados, integrantes de um sistema harmônico, a não ser que o legislador fosse expresso quanto aos dispositivos revogados. Tal objeção não convence. A LC 40/81 contém inúmeros dispositivos de caráter processual, derrogando vários artigos do Código de Processo Penal e, para citar assaz contundente exemplo, veja-se o art. 55. Ainda que se admitisse, como quer a corrente restritiva que se formou na sua interpretação, que seu escopo seria apenas o de evitar a nomeação de promotores ad hoc, revogou ele ou não o art. 448 do CPP, que permitia o contrário?! Citem-se ainda dispositivos de caráter processual, como os arts 7º, I e VII, 22 XIII, 20 V e VI, 22 II, etc. (avocatória de inquérito, assistência judiciária pelo Ministério Público, etc.). A própria Lei Orgânica da Magistratura Nacional também contém inúmeros dispositivos de caráter processual, alterando legislação federal codificada sobre competência, processo e julgamento de recursos (arts. 88, 101, etc.). 4. Também se objeta que a iniciativa da ação penal pública pelo Ministério Público não é exclusiva, não só porque a LC não mencionou expressamente tal exclusividade, como ainda não pretendeu fazê-lo, e ainda a interpretação sistemática do inc. II do art. 3º da LC, junto aos demais incisos do mesmo artigo, afastaria tal titularidade exclusiva (porque os demais incisos também cuidam de “funções institucionais” que não são exclusivas, como velar pela observância da Constituição e das leis, promover a ação civil pública). É preciso separar a intenção do legislador da mens legis. Ademais, se a matéria dos incisos I e III do art. 3º não é exclusividade para o Ministério Público, é simplesmente porque a Constituição deu tais atribuições concorrentemente a outros órgãos, poderes ou insti2 tuições. Mas a matéria do inc. II não a reservou concorrentemente a outrem. E, como o art. 55 veda o exercício das funções do Ministério Público a pessoas a ele estranhas, está aí a titularidade exclusiva da ação penal pública. 5. Também procuram alguns dar interpretação restritiva ao art. 55 da LC. Dizem que tal dispositivo visou apenas a vedar a nomeação de promotores ad hoc, tendo Damásio chegado a asseverar que o juiz e o delegado não estariam impedidos de exercer as funções ditas institucionais do Ministério Público, porque não seriam pessoas “estranhas ao Ministério Público”: para ele, só os leigos seriam estranhos. Esta colocação também não colhe. Se juiz e delegado não são “estranhos” ao Ministério Público, também não o são os advogados, os bacharéis, e nada impediria, assim, que continuasse a praxe de nomeações de promotores ad hoc, recaindo na pessoa de delegados, advogados e até juízes de carreira e em exercício, para oficiarem como membros do Ministério Público, onde a intervenção deste fosse obrigatória… A assertiva de que a exceção contida no parágrafo único do art. 55 demonstraria que o caput se refere apenas à proibição de nomear promotores ad hoc é daqueles argumentos que provam demais. Serve o tal parágrafo não só para demonstrar que está vedada a nomeação de promotores ad hoc como também para demonstrar que, tirante o caso de adjuntos de curador de casamentos, é vedado a pessoas fora da carreira do Ministério Público, leigos ou não, exercer quaisquer funções deste. É patente, pois, que “estranhos ao Ministério Público” significa alheios ao seu quadro funcional, à carreira. Com tal interpretação é que se conseguiu em nosso Estado a nomeação de procurador-geral da Justiça dentro da carreira (EC 33/82), o que não colide com a Constituição Federal (esta dispõe sobre a escolha do procurador-geral da República fora da carreira: art. 85 caput; quanto à organização do Ministério Público estadual, porém, o art. 96 parágrafo único manda observar apenas o § 1º e não o caput do artigo anterior). Tem-se de concordar, à vista do acompanhamento do histórico legislativo, que não intentava o legislador tudo isto com o artigo 55. Contudo, a lei que editou tem preceito mais genérico do que o acanhado alcance a ela destinado, tanto assim que o procuradorgeral da Justiça dentro da carreira é notável conquista de independência da instituição e de controle da moralidade, da legalidade administrativa e de responsabilização dos governantes — e só pôde advir graças ao alcance da mens legis. Sabe-se que, na interpretação da lei, depois de promulgada, adquire esta vida própria, separa-se do legislador, a ele se contrapondo como preceito novo: “A lei não é o que o legislador quis, nem o que pretendeu exprimir, e sim o que exprimiu de fato” (Ferrara, cit. por Carlos Maximiliano, Hermenêutica e aplicação do Direito, nº 35). 8. Tem-se dito ainda que o procedimento ex officio é instrumento eficaz visando à celeridade do processo: esta a motivação do ministro Francisco Campos na exposição de 3 motivos do CPP (nº V); não foi outra a da Lei nº 4.611/65, que permitiu tal rito nos delitos culposos. Se essa foi a intenção do legislador, a eficácia e a celeridade jamais ficaram tão longe de serem alcançadas. O procedimento ex officio instaurado pelo juiz é uma avis rara: as contravenções ficaram reduzidas na prática à apuração pelos nossos pretórios de uma pouca meia-dúzia de figuras, permanecendo as demais para meras discussões acadêmicas; nos delitos culposos, o fracasso da Lei 4.611/65 foi tão grande, que o próprio Supremo Tribunal Federal teve que abrir-lhe brechas, para permitir a denúncia concorrente à portaria policial. As falhas da Lei 4.611/65 foram tão graves na prática, que hoje se assiste à ineficácia total do caráter preventivo ou repressivo da sanção penal, prestando-se o procedimento ex officio a um sem-número de expedientes que geram a impunidade, principalmente no tocante à não-interrupção da prescrição. 7. Quer na ordem teórica, quer na ordem prática, não se justifica o procedimento ex officio. Historicamente, há um ponto em comum no procedimento ex officio do CPP de 1941 e no da Lei 4.611/65: ambos resultaram de época de ditadura ou de forte regime de exceção, onde não se cuidava de abertura democrática a que hoje nos propomos a assistir. Assim, essas leis contêm inúmeros dispositivos que colidem frontalmente com as Constituições de 1946 e de 1967, esta com a emenda de 1969. Tanto no CPP como na Lei 4.611, os princípios do contraditório e da ampla defesa, decorrentes do devido processo legal, são calcados aos pés: a) exceto em alguns poucos crimes, como nos dos funcionários públicos, a denúncia é recebida sem se citar nem ouvir previamente o réu; b) o interrogatório deveria ser não o primeiro, mas o último ato da instrução, num sistema onde se facultasse realmente ampla defesa; c) não se poderia admitir, como o TACrimSP não vem admitindo, a eficácia do art. 601 do CPP, que permite a subida de recursos sem a mínima fundamentação em prejuízo da defesa; d) a intimação do defensor dativo, que não é exigida na lei, vem sendo correta e sistematicamente exigida pelo TACrimSP, após a intimação do réu, para o trânsito em julgado da condenação; e) tem-se proclamado o tremendo absurdo do § 1º do art. lº da Lei 4.611, que permite uma fase do processo penal sem defesa! 8. Parece uma temeridade, à primeira vista, questionar a constitucionalidade de normas que há dezenas de anos vêm sendo aplicadas regularmente pelos nossos mais altos tribunais, num implícito reconhecimento de sua legitimidade. Ocorre que o processo penal, a começar pela própria acusação penal, é um dos primeiros instrumentos de efetiva garantia dos direitos individuais, e está intimamente ligado ao desenvolvimento cultural, político, ético e sociológico de uma comunidade. Numa época de abertura democrática liberal, é ocasião oportuna para voltar a questionar velhos temas, mormente este do contraditório no processo penal, lembrando que a boa doutrina sempre considerou teratológica a figura do procedimento penal ex officio, que nem é processo, por nele faltar a figura do juiz na relação triangular autor-réu-juiz. Não se pretende sustentar que o juiz não possa ter alguns po4 deres inquisitórios na busca da verdade real (alguma iniciativa probatória, v.g.); o que se tem de negar é a propositura da ação penal pelo juiz. Este é órgão de juízo (que pressupõe desinteresse inclusive formal para julgar); a ação penal exige um órgão agente (que pressupõe interesse para demandar). Retomemos a lição de Pimenta Bueno: “Que faz o juiz quando procede ex officio? Constitui-se simultaneamente julgador e parte adversa do delinqüente; dá denúncia a si próprio, escolhe as testemunhas e inquire-as, perguntando o que julga conveniente; e, por fim, avalia as provas que ele criou, e pronuncia ou não, como entende. Há nisto garantia alguma?” (Apontamentos sobre o processo criminal brasileiro, 5ª. ed. p. 105/6). Reconhecer-se que não há “processo penal ex officio”, e dizer “procedimento”, não melhora as coisas. Se não há processo, não há legitimamente acusação, nem contraditório, nem ampla defesa, por falta do devido processo legal! 9. Chega-se, assim, ao fulcro da questão que, como se viu, não é a LC do Ministério Público, que serviu como estopim da discussão nacional que se travou, mas a própria sede constitucional do devido processo legal. Note-se que a carta ditatorial de 1937, sob cuja égide foi elaborado o CPP de 1941 (cujo procedimento penal ex officio nas contravenções inspirou o legislador de 1965), não proibia como princípio geral que o cidadão investido nas funções de um dos poderes pudesse exercer as de outro (cf. art. 36 da C. de 1946; art. 6º, parágrafo único, da C. de 1967, E. de 1969). Assim, legitimaram-se sob a vigência da Lei Maior de 1937 os expedientes inquisitoriais, especialmente o do procedimento ex officio, que quebra a harmonia entre os poderes. Se num sentido lato e puro só há duas funções de soberania, legislar e administrar (sendo julgar uma forma de administrar) — em termos de Direito positivo há nítida tricotomia dos poderes, porque a função jurisdicional é considerada uma forma especial de administrar que não se confunde com esta. Ora, o procedimento ex officio, como dito, viola a harmonia entre os poderes. Por parte do juiz, quando este instaura a ação penal, faz um ato de acusação, o qual materialmente é ato administrativo stricto sensu. O juiz, não sob a luz da Constituição de 1937, mas das que lhe sucederam, está totalmente impedido de acusar, pois ao acusar e ao receber a acusação, está acumulando funções de dois poderes distintos. Por parte do delegado, também há quebra da harmonia citada. Quando este instaura a ação penal, ainda não está havendo (ao contrário do juiz) tal quebra. Autoridade administrativa que é, como os membros do Ministério Público, não é a Constituição que lhe impede de acusar: esta função só lhe é vedada pelos arts. 3º inc. II e 55 da LONMP (ns. 1/5 supra). A inconstitucionalidade do procedimento ex officio por parte do delegado não ocorre na sua propositura, mas no seu recebimento, no momento em que o delegado preside a instrução criminal. Já se disse que a instrução criminal contraditória com a presença do juiz é garantia constitucional. Onde o 5 contraditório na instrução criminal dirigida pelo delegado, que acumula as funções de acusador e de juiz presidente?! Ao receber a acusação que ele mesmo formulou, ao mandar citar o réu, ao deferir ou indeferir provas, perguntas, contraditas, assistência à acusação, faz atos privativos dos membros do poder judiciário, pois a atividade jurisdicional não é só julgar uma imputação, mas também dela conhecer, presidindo todo o processo de conhecimento e de condenação. Conclui-se que não foi a LC 40/81 que ab-rogou o procedimento penal ex officio: ela apenas deflagrou uma justa reação latente contra um procedimento que fere de forma profunda a legalidade democrática. Realmente, reconhece-se que a intenção do legislador não foi a de revogar expressamente o procedimento em questão. Mas esta interpretação, que é viável, é também a que melhor atende aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da harmonia dos poderes, e a que melhor se presta às exigências do bem comum e aos fins sociais da lei. Enfim, o que se pode dizer é que a ab-rogação do procedimento penal ex officio era apenas uma questão de tempo, dentro do estado de Direito. 6
Download