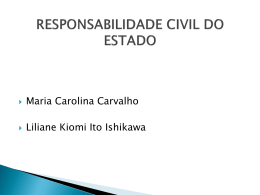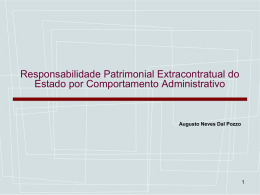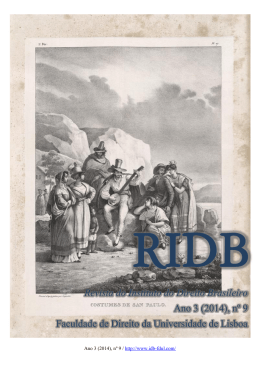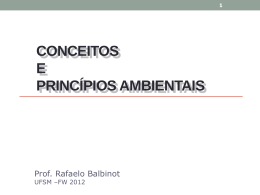UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS SOCIAIS PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO AMBIENTAL ANA BEATRIZ DA MOTTA PASSOS RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR DANOS AMBIENTAIS DECORRENTES DE CONDUTAS OMISSIVAS Manaus 2012 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS SOCIAIS PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO AMBIENTAL ANA BEATRIZ DA MOTTA PASSOS RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR DANOS AMBIENTAIS DECORRENTES DE CONDUTAS OMISSIVAS Dissertação apresentada ao Programa de PósGraduação em Direito Ambiental da Universidade do Estado do Amazonas como requisito para a obtenção do grau de Mestre em Direito Ambiental. Orientador: Prof. Dr. Valmir César Pozzetti Manaus 2012 ANA BEATRIZ DA MOTTA PASSOS RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR DANOS AMBIENTAIS DECORRENTES DE CONDUTAS OMISSIVAS Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Direito Ambiental da Universidade do Estado do Amazonas como requisito para a obtenção do grau de Mestre em Direito Ambiental. Orientador: Prof. Dr. Valmir César Pozzetti Manaus 2012 ANA BEATRIZ DA MOTTA PASSOS RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR DANOS AMBIENTAIS DECORRENTES DE CONDUTAS OMISSIVAS Dissertação aprovada pelo Programa de Pósgraduação em Direito Ambiental da Universidade do Estado do Amazonas, pela Comissão Julgadora abaixo identificada. Manaus, 24 de novembro de 2012. Presidente: Prof. Dr. Valmir César Pozzetti Universidade do Estado do Amazonas Membro Prof. Dr. Eid Badr Universidade do Estado do Amazonas Membro Prof. Dr. Mauro Augusto Ponce de Leão Braga ULBRA – Universidade Luterana do Brasil Dedico este trabalho, de todo o meu coração, à minha família e aos meus amigos, os pilares da minha vida. AGRADECIMENTOS Agradeço, antes de tudo mais, a Deus, por todas as vitórias e oportunidades oferecidas para meu amadurecimento pessoal, A meus pais, Leny e Luiz Fernando Passos, que deram o suporte e o amor incondicional para que eu conseguisse alcançar mais essa conquista, A meus irmãos, Isabella, André e Letícia Passos, por dividirem comigo todos os momentos trilhados até aqui, A meus amigos queridos, a quem também escolhi amar e ter como minha segunda família, e em especial à amiga Alessandra Figueiredo dos Santos Bosquê, pelo estimado auxílio e pertinentes sugestões para a realização do presente trabalho, Ao Professor José Augusto Fontoura Costa, pelas suas valiosíssimas lições e contribuições para o florescimento deste trabalho, Ao Professor Valmir César Pozzetti, por ter me acolhido e me guiado nos momentos finais e decisivos desta jornada, A todos os colegas, professores e funcionários do Programa de Pós-Graduação em Direito Ambiental da UEA, que fizerem desta uma das mais ricas experiências de minha vida acadêmica. Artigo 3 Fica decretado que a partir deste instante, haverá girassóis em todas as janelas, que os girassóis terão direito a abrir-se dentro da sombra e que as janelas devem permanecer o dia inteiro abertas para o verde onde cresce a esperança; (Estatuto do Homem – Thiago de Mello) RESUMO O ordenamento jurídico em vigor após a Constituição Federal de 1988 impôs um regime próprio de responsabilidade à Administração Pública, encartado no § 6º de seu art. 37. Sob esse regramento, convencionou-se ser aplicável às condutas comissivas administrativas que engendrem danos a terceiros a responsabilidade na modalidade objetiva, a qual dispensa a averiguação dos elementos psíquicos do agente público que, agindo em nome do Estado, praticou o ato ilícito. Por outro lado, também é largamente aceito na doutrina administrativista tradicional que este mesmo enunciado constitucional preceitua a aplicação da responsabilidade subjetiva – na qual a presença do dolo ou da culpa é fundamental para o surgimento do dever de indenizar – quando o dano for decorrente da omissão estatal. Na seara ambiental, a objetivação da responsabilidade do poluidor por danos ambientais foi adotada como regra geral pelos artigos 3º, IV, e 14, § 1º, da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938/81), norma também destinada textualmente às pessoas jurídicas de direito público que tenham contribuído para a lesão ao meio ambiente mediante ação ou omissão. Nesse passo, ao se tratar das condutas comissivas, não restam dúvidas quanto à compatibilidade dos mencionados dispositivos com a Carta de 1988, visto que este já é o regime ordinário de responsabilidade reservado ao Poder Público nessa hipótese específica. Nada obstante, com relação aos danos ambientais gerados pela omissão estatal, observa-se uma clara cisão na opinião doutrinária quanto à modalidade de responsabilidade aplicável ao caso, ora a favor da responsabilidade subjetiva – em consonância com o regime ordinário previsto no texto constitucional –, ora a favor da responsabilidade objetiva anunciada na Lei nº 6.938/81. Alimentando ainda mais a discussão, a jurisprudência dos tribunais brasileiros, sobretudo a do Superior Tribunal de Justiça, começou a consolidar o entendimento de que a responsabilidade por danos ambientais do Poder Público é sempre objetiva, mesmo na omissão decorrente da ausência ou de falhas no poder de polícia ambiental. Diante desse cenário, o presente trabalho tem por objetivo precípuo perquirir qual o modelo de responsabilidade efetivamente incidente nos danos ambientais gerados por condutas omissivas do Estado, buscando-se analisar, como objetivos subjacentes: i) quais são os fundamentos constitucionais e legais da objetivação da responsabilidade estatal por danos ao meio ambiente; ii) a possibilidade da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente instituir um regime de exceção ao previsto na Constituição vigente, bem como de ser configurada uma antinomia entre essas duas normas e iii) as bases jurídicas e fáticas sobre as quais foi construída a atual jurisprudência do STJ acerca da matéria, especialmente indagando-se sobre uma eventual hipótese de ativismo judicial. Palavras-chave: Responsabilidade Civil do Estado. Dano ambiental. Omissão. Antinomias Jurídicas. Ativismo Judicial. ABSTRACT With the Federal Constitution of 1988, the present legal system has been imposed a peculiar model of civil liability to the Public Administration, found in § 6 of the article 37. According to this norm, the strict liability is applied every time a damage is caused by a positive behavior, which eliminates the investigation on the fault of the public official who, acting on behalf of the State, commits the tort. On the other hand, it is widely accepted on the traditional doctrine that this same statement prescribes the application of the subjective liability - in which the culpability is fundamental to the give rise to the duty to reparation – when the damage is due to the omission State. In the field environmental law, the strict liability of the polluter was adopted as a main rule by the article 3, IV, combined with article 14, §1, of the Law 6.938/81, which regulates the National Environmental Policy. In this case, the legal concept of polluter also includes the State, every time it has contributed to the environmental damage by a action or an omission. In wich concerns to the damage caused by a State action, the comparison between the Federal Constitution and the Law 6.938/81 shows that these two norms are compatible, because the strict liability is predicted as a common statement in both cases. Nonetheless, with respect to environmental damage generated by omission of the State, there is a clear split in doctrinal opinion, sometimes in favor of the subjective liability provided by the Federal Constitucion and sometimes in favor of strict liability announced in Law 6.938/81. Increasing the discussion, the Brazilian courts understand that the environmental liability of the State is always a strict liability, even if these type of damage results of omission. In this set, the present work has the main purpose to investigate which liability model must be effectively applied to environmental damage caused by the omission of the State, and also to analyse, as a secondary purpose, wich are the constitucional and legal norms that sustain the strict liability in case of environmental damage caused by a State omission, the possibility of an antinomy between the Law 6.93881 and the current Federal Constitucion and which are the legal and factual bases that allow Brazilian courts to decide in favor of strict liability in environmental subjects, especially raising questions about a possible case of judicial activism. Keys-words: State Civil Liability. Environmental Damage. Omission. Juridical Antinomies. Judicial Activism. LISTA DE SIGLAS ADI – Ação Direta de Inconstitucionalidade ADPF – Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental CF – Constituição Federal PNMA – Política Nacional do Meio Ambiente RESP – Recurso Especial STJ – Superior Tribunal de Justiça STF – Supremo Tribunal Federal ANEXO ANEXO A - RECURSO ESPECIAL Nº 1.071.741 - SP (2008/0146043-5) SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SUMÁRIO INTRODUÇÃO ..................................................................................................................... 13 1 ASPECTOS GERAIS DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO ................... 18 1.1 NOÇÕES E CONCEITO DE RESPONSABILIDADE CIVIL ........................................ 18 1.2 RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ............................. 22 1.2.1 Evolução histórica ........................................................................................................ 22 1.2.2 Conceito e pressupostos da Responsabilidade Civil do Estado ................................ 26 1.2.3 O dano............................................................................................................................ 28 1.2.4 Conduta estatal comissiva e omissiva ......................................................................... 29 1.2.5 O nexo causal ................................................................................................................ 30 1.2.6 A antijuridicidade da conduta danosa ........................................................................ 31 1.3 FUNDAMENTOS E FORMAS DE REPARAÇÃO ........................................................ 33 1.4 REGIMES DE RESPONSABILIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ............ 35 1.4.1 Teoria do risco integral ................................................................................................ 37 1.4.2 Teoria do risco administrativo .................................................................................... 39 1.4.3 Teoria do risco criado .................................................................................................. 40 1.4.4 Teoria da falta do serviço............................................................................................. 43 2 BREVES CONSIDERAÇÕES ACERCA DO DANO AMBIENTAL ........................... 48 2.1 CONCEITO DE DANO AMBIENTAL E SUA CONTEXTUALIZAÇÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL ............................................................................................. 48 2.2 PECULIARIDADES ORIUNDAS DO DANO AMBIENTAL: PRINCÍPIOS, FORMAS DE REPARAÇÃO E REGIMES DE RESPONSABILIZAÇÃO .......................... 51 2.2.1 Princípios informativos da relação reparatória ambiental....................................... 52 2.2.2 Princípio da Prevenção .............................................................................................. 53 2.2.3 Princípio do Poluidor-Pagador.................................................................................... 54 2.3 A REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL ................................................................... 56 2.4 REGIMES DE RESPONSABILIDADE PELO DANO AMBIENTAL ........................... 59 2.5 OMISSÃO E A RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR DANOS AMBIENTAIS .......................................................................................................... 62 3 RESPONSABILIDADE SUBJETIVA X RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR DANOS AMBIENTAIS: UMA ANÁLISE À LUZ DA TEORIA GERAL DAS ANTINOMAIS JURÍDICAS ................ 67 3.1 SISTEMA JURÍDICO E O PROBLEMA DA COERÊNCIA SEGUNDO NOBERTO BOBBIO .............................................................................................................. 68 3.2 REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DAS ANTINOMIAS E SUAS CLASSIFICAÇÕES ................................................................................................................ 70 3.3 ANTINOMIAS JURÍDICAS IMPRÓPRIAS ................................................................... 74 3.4 CRITÉRIOS PARA RESOLUÇÃO DAS ANTINOMIAS .............................................. 76 3.5 INSUFICIÊNCIA DOS CRITÉRIOS E ANTINOMIAS DE SEGUNDO GRAU ........... 77 3.6 CONSTITUIÇÃO FEDERAL X LEI DA POLÍTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE: UM CASO DE ANTINOMIA IMPRÓPRIA VALORATIVA ........................ 79 3.7 ANTINOMIAS E CASOS DIFÍCIES ............................................................................... 83 3.8 A SUPERAÇÃO DO CONFLITO ENTRE A LEX ESPECIALIS E A LEX SUPERIOR POR MEIO DA PONDERAÇÃO ....................................................................... 84 4 A FONTE CONSTITUCIONAL DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA LEI Nº 6.938/81: HIPÓTESE DE ATIVISMO JUDICIAL?............................................. 92 4.1 O CONTEXTO CONSTITUCIONAL DOS PRECEDENTES DO STJ SOBRE A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PODER PÚBLICO EM MATÉRIA AMBIENTAL.......................................................................................................................... 93 4.2 ATIVISMO JUDICIAL: ORIGENS E NOÇÕES ............................................................. 97 4.3 SEPARAÇÃO DE PODERES E LEGITIMIDADE DEMOCRÁTICA........................... 102 4.4 CLÁUSULAS DE TEXTURA ABERTA E LACUNAS AXIOLÓGICAS ..................... 106 4.5 MUTAÇÃO CONSTITUCIONAL E ATIVISMO JUDICIAL ........................................ 112 4.6 DOS TRAÇOS ATIVISTAS PRESENTES NA DECISÃO DO RECURSO ESPECIAL 1071741/SP .......................................................................................................... 119 CONCLUSÕES...................................................................................................................... 121 REFERÊNCIAS .................................................................................................................... 125 ANEXO ................................................................................................................................... 131 13 INTRODUÇÃO O sistema brasileiro de proteção ao meio ambiente, atuando em caráter repressivo, consagra a obrigação de reparação do dano ambiental como um de seus principais postulados. Tal fato decorre do acolhimento, por parte do direito constitucional e ambiental, da noção de responsabilidade que há longa data vigora no direito civil com o intuito de resguardar o patrimônio de particulares. Dessa forma, dentro do conceito de responsabilidade, é possível conceber a existência do dever relacionado à recomposição do status quo ante de determinado objeto ou relação jurídica, que tenha sofrido diminuição ou abalo em virtude de um ato danoso, lícito ou ilícito, causado por um terceiro. No que toca ao dano ambiental, a responsabilidade civil também é resultado do reconhecimento da limitação existencial dos bens ambientais, sejam eles naturais, artificiais ou culturais, assim como da sua contínua depredação por uma sociedade cada vez mais ávida pelo consumo e cujo modelo de produção mostra-se altamente nocivo aos ecossistemas em geral. Eis a razão pela qual a atual Constituição Federal prevê no § 3º de seu art. 225 que “as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”. Nesse regime constitucional ambiental, embora se reconheça a grande repercussão inaugurada pelo art. 225 da Carta de 1988, não houve uma definição explícita do modelo de responsabilidade aplicável aos danos ao meio ambiente. Coube, assim, à legislação infraconstitucional complementar essa tutela, definindo as balizas materiais e processuais que conduzem à imputação das consequências de atos lesivos ao meio ambiente a quem lhes houver dado causa. Nesse sentido, a Lei nº 6.839, de 31 de agosto de 1981, ao dispor sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, elegeu a responsabilidade objetiva como resposta às condutas praticadas por pessoas físicas ou jurídicas, de personalidade jurídica de direito privado ou público, que engendrem, direta ou indiretamente, danos ao meio ambiente. Isto implica dizer que particulares, e até mesmo o próprio Estado, deverão arcar com a obrigação de indenizar o dano ambiental que tenha tido origem em um ato comissivo ou omissivo de sua autoria. 14 Outra implicação decorrente das disposições da Lei nº 6.938/91 é que o surgimento da relação indenizatória neste caso ocorrerá independentemente de dolo ou culpa, isto é, mesmo que não tenha havido intenção do agente danoso de gerar qualquer prejuízo ambiental, ou ainda quando este tenha agido com imprudência, imperícia ou negligência. Em síntese, nos termos da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, o modelo de responsabilização adotado em face do dano ambiental é sempre objetivo, seja ele decorrente da ação ou da omissão de pessoas físicas ou jurídicas, de natureza pública ou privada. Entretanto, este modelo de Responsabilidade Civil não é único presente no ordenamento jurídico pátrio, o qual conta com outros regimes jurídicos indenizatórios que variam segundo a natureza do dano ou de acordo com seu agente causador. Um desses regimes específicos está previsto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988, o qual preceitua a responsabilidade civil da Administração Pública nos seguintes termos: Art. 37. A Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) § 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. No patamar constitucional, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos submetem-se ao regime de responsabilidade objetiva quando o dano a terceiros que lhes for atribuído derivar de condutas comissivas. Sob esse aspecto, a Lei nº 6.938/81 e o texto constitucional convergem para a mesma direção normativa, já que ambos adotam o regime jurídico de responsabilização objetiva em face de comportamentos lesivos comissivos do Poder Público. Por outro lado, no que diz respeito aos danos cuja origem resida na omissão da Administração Pública (observados, sobretudo, nas falhas do poder-dever de fiscalização), a doutrina administrativista dominante, liderada por Mello (2004, p. 896), entende que este mesmo art. 37, § 6º, da Constituição Federal reserva às pessoas jurídicas de direito público outro padrão de responsabilidade civil: o subjetivo. Neste caso, diferentemente do regime anterior, o dolo e a culpa tornam-se elementos imprescindíveis à deflagração do dever de indenizar, trazendo como consequências mais imediatas, na hipótese de eventual lide junto ao Poder Judiciário, a ampliação das matérias de 15 defesa à disposição do Poder Público e, invariavelmente, a maior extensão da etapa processual de instrução probatória de ações judiciais indenizatórias. Diante desse cenário, vislumbra-se que o enunciado constitucional em tela institui um duplo regime de responsabilização voltado à Administração Pública, o qual oscila entre a responsabilidade objetiva e a subjetiva, a depender, respectivamente, da prática de condutas danosas comissivas ou omissivas por parte dos agentes estatais. No que respeita aos danos advindos da omissão do Estado, outra notável conclusão desse quadro é a divergência entre os modelos de responsabilidade previstos na Lei nº 6.938/81 e no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, dando lugar a inúmeras discussões doutrinárias e jurisprudenciais quanto ao regime de responsabilização cabível no campo ambiental, em virtude do evidente conflito instaurado entre os dois enunciados. Tal aparente divergência normativa sugere a configuração de uma antinomia jurídica, visto que a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente e a Constituição Federal colocam o operador destas duas normas em uma situação de dúvida sobre qual delas merece ser aplicada no caso concreto, já que ambas são válidas e pertencentes ao mesmo ordenamento jurídico, embora proponham diretrizes diversas para o mesmo problema. Na tentativa de solucionar este impasse – o qual ainda gera discussões no âmbito dos tribunais – o Superior Tribunal de Justiça entendeu, inicialmente, pela aplicação da responsabilidade subjetiva, baseada no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, aos casos de danos ambientais advindos de condutas omissivas do Estado, tal como no exemplo trazido a seguir: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLUIÇÃO AMBIENTAL. EMPRESAS MINERADORAS. CARVÃO MINERAL. ESTADO DE SANTA CATARINA. REPARAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO POR OMISSÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. 1. A responsabilidade civil do Estado por omissão é subjetiva, mesmo em se tratando de responsabilidade por dano ao meio ambiente, uma vez que a ilicitude no comportamento omissivo é aferida sob a perspectiva de que deveria o Estado ter agido conforme estabelece a lei. (...) (STJ, REsp 647493 / SC, Relator Ministro João Otávio Noronha, Segunda Turnma, Julgamento 22/05/2007, DJ 22/10/2007, p. 233, RDTJRJ, vol. 75, p. 94) Contudo, a partir do ano de 2009, a jurisprudência do STJ sobre este tema começou a ser alterada, de maneira a sinalizar, em seus mais recentes precedentes, para a predominância da responsabilidade objetiva da Lei nº 6.938/81 em face da responsabilidade subjetiva do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, como se pode verificar no trecho do acórdão abaixo, 16 referente ao Recurso Especial 1071741/SP (ANEXO A), relatado pelo Ministro Herman Benjamin: Ordinariamente, a responsabilidade civil do Estado, por omissão, é subjetiva ou por culpa, regime comum ou geral esse que, assentado no art. 37 da Constituição Federal, enfrenta duas exceções principais. Primeiro, quando a responsabilização objetiva do ente público decorrer de expressa previsão legal, em microssistema especial, como na proteção ao meio ambiente (Lei 6.938/81, art. 3º, IV, c/c art. 14, § 1º). Segundo, quando as circunstâncias indicarem a presença de um standard ou dever de ação estatal mais rigoroso do que aquele que jorra, consoante construção doutrinária e jurisprudência, do texto constitucional. O poder-dever de controle e fiscalização ambiental (=poder-dever de implementação), além de inerente ao exercício do poder de polícia do Estado, provém diretamente do marco constitucional de garantia dos processos ecológicos essenciais (em especial os arts. 225, 23, VI e VII, e 170, VI) e da legislação, sobretudo, da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/81, arts. 2º, I e V, e 6º) e da Lei 9.605/1998 (Lei dos Crimes e Ilícitos Administrativos contra o Meio Ambiente). (STJ, Recurso Especial 1071741 / SP, Segunda Turma, Relator Ministro Herman Benjamin, Data do Julgamento: 24/03/2009, DJe 16/12/2010). A decisão em tela traz à tona questões de interessante reflexão, todas relacionadas com os fundamentos apresentados pela Corte Federal para justificar a objetivação da responsabilidade por danos ao meio ambiente relacionados com a omissão dos entes públicos. Uma delas refere-se à escolha feita pelo STJ quanto à prevalência da norma especial ordinária frente à norma geral constitucional, tema que também se insere no contexto das antinomias jurídicas. Ademais, merece ser destacada da decisão em tela a assertiva no sentido de que, mesmo na ausência de normatização constitucional ou legal expressa, a responsabilidade objetiva surgirá por força tão somente da ponderação das circunstâncias concretas que envolvem o nascedouro do dano ambiental, entendimento este que igualmente sugere uma inclinação ativista da Corte Federal na concepção do precedente ora analisado. Por conseguinte, partindo dessa e de outras decisões judiciais que rompem com o paradigma constitucional enunciado no § 6º do art. 37 da Carta de 1988, o presente trabalho tem por objetivo principal realizar uma análise de qual é, efetivamente, o regime de responsabilidade do Poder Público por danos decorrentes da omissão quanto ao poder-dever de fiscalização ao meio ambiente, além de tecer algumas considerações quanto ao posicionamento do STJ favorável à aplicação da responsabilidade objetiva na hipótese acima colocada, mediante o desenvolvimento de quatro objetivos secundários: i) investigar a possibilidade de coexistência de outros regimes de responsabilidade objetiva, a par do já expressamente previsto na Constituição Federal; ii) analisar quais são os fundamentos constitucionais que convalidam o regime de responsabilidade inserido no art. 3º, IV, c/c art. 17 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81; iii) investigar a possível configuração de uma antinomia entre a Constituição Federal e a Lei da Política Nacional de Meio Ambiente na situação ora ventilada; e iv) finalmente, examinar se a jurisprudência oriunda do STJ está assentada em uma base legalista ou se apresenta traços típicos de ativismo judicial. Para atingir os objetivos propostos acima, o trabalho também se baseará na metodologia dedutiva, desenvolvida através da revisão bibliográfica de textos doutrinários e de legislações nacionais pertinentes ao tema, dividindo-se em quatro capítulos. O Primeiro Capítulo será dedicado à investigação dos aspectos gerais da Responsabilidade Civil do Estado, abordando o seu conceito, evolução, pressupostos, fundamentos, formas de reparação e as teorias doutrinárias em torno do dever estatal de indenizar. O Segundo Capítulo se voltará ao estudo do dano ambiental e das nuances apresentadas pelos regimes de responsabilização imputáveis à Administração Pública por lesões ao meio ambiente decorrentes de condutas comissivas e omissivas. O Terceiro Capítulo situará seu foco no estudo das antinomias jurídicas, bem como na análise da suposta incompatibilidade verificada entre o art. 37, § 6º, da Constituição Federal e o art. 3º, IV, c/c art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, no que concerne ao regime de responsabilização aplicável à Administração Pública por danos ambientais decorrentes da omissão. O Quarto Capítulo discorrerá sobre o ativismo judicial e sua influência na formação da jurisprudência do STJ em torno da responsabilidade objetiva do Estado em matéria ambiental, abordando ainda o conceito desse fenômeno, suas origens, críticas mais recorrentes, seu papel no preenchimento das lacunas axiológicas e sua correlação com a mutação constitucional que deu origem ao panorama jurisprudencial atualmente encontrado no STJ sobre o tema em questão. 18 1 ASPECTOS GERAIS DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO A recuperação de bens ambientais degradados é o objeto da tutela de diversas normas em vigor no ordenamento jurídico brasileiro, que tencionam ao retorno do status quo ante do meio ambiente lesionado pela atividade humana, por meio da sua recomposição in natura ou por meio de uma justa medida compensatória de natureza financeira (a indenização). Para se atingir essa finalidade, o Direito exige a caracterização de uma série de pressupostos ou elementos essenciais à deflagração da obrigação jurídica de ressarcimento, os quais, em regra, são comuns a muitas outras relações jurídicas que envolvem a ocorrência de um dano gerado ao patrimônio de terceiros. No Estado Democrático de Direito, tal regime jurídico não fica reservado exclusivamente às relações entre particulares, cabendo também ao Poder Público sujeitar-se ao dever ressarcitório – quando comprovada a sua participação na perda sofrida pelo patrimônio alheio – através do instituto da Responsabilidade Civil do Estado. Com base nestas premissas, este Capítulo tem por objetivo fornecer uma visão geral acerca da Responsabilidade Civil do Estado, explorando o seu conceito, evolução histórica, pressupostos, fundamentos e as teorias doutrinárias que buscam explicar sua natureza, a fim de contextualizar o pano de fundo jurídico que se coloca por detrás do embate entre a responsabilidade objetiva e a responsabilidade subjetiva nos danos ambientais decorrentes da omissão da Administração Pública. 1.1 NOÇÕES E CONCEITO DE RESPONSABILIDADE CIVIL A necessidade de proteger o patrimônio material e moral dos cidadãos contra atos lesivos provocados por terceiros levou o Direito, gradativamente, a desenvolver uma série de figuras e teorias que impedissem o desequilíbrio dessas relações jurídicas e reconstituíssem, dentro do possível, seu status quo ante. A Responsabilidade Civil constitui um dos mecanismos eleitos pelo ordenamento jurídico para imputar as consequências de condutas danosas a quem as deu causa e impor o dever de reparação. Portanto, a origem da Responsabilidade Civil está ligada a tentativas de se assegurar que a integridade de acervos patrimoniais não venha a ser injustamente abalada, gerando perdas para os seus titulares. A noção de que cada ato gera uma consequência pelos danos que dele decorrem – normalmente consubstanciada na obrigação de indenizar – perfaz a base da Responsabilidade 19 Civil, cuja finalidade precípua é sempre de restabelecer relações jurídicas de cunho patrimonial, ou moral, violadas. Esta percepção é importante para diferenciar outras situações onde o termo “responsabilidade” também se faz presente, mas não obrigatoriamente associado a um dever de reparação por ato ilícito, como nos exemplos fornecidos por Venosa (2010, p. 6), que menciona o capitão de um navio, responsável pela tripulação e pela embarcação ao seu comando, ou os pais que ficam responsáveis por seus filhos menores. Nestes casos, cuida-se de um sentido mais amplo de responsabilidade, onde é destacada apenas a função de garantidor de seus protagonistas, mas ainda sem a presença do dano, do ato danoso e do nexo causal que motivam o dever de reparação. Com efeito, apenas será oportuno agregar o adjetivo “civil” à palavra “responsabilidade” quando o seu sentido estiver relacionado a situações que engendrem a diminuição do patrimônio alheio mediante a violação de um dever jurídico, dando azo à caracterização dos três elementos mencionados anteriormente. Anota-se ainda que a função da Responsabilidade Civil é dupla: ao mesmo tempo em que funciona como uma garantia à estabilidade do patrimônio material e moral de quem suportou os efeitos de eventual prejuízo causado por terceiro, assume igualmente a função de sanção civil, tendo em vista que o dano derivará, invariavelmente, de um ato ilícito. Nesta última hipótese, ela exercerá o nítido papel de punir condutas antijurídicas já consumadas e de desestimular a ocorrência de danos futuros. A Responsabilidade Civil também pode ser analisada sobre diversos prismas, de maneira a receber uma classificação específica a depender do fator observado. Quanto à origem da ilicitude do ato danoso, ela poderá ter como pano de fundo uma inexecução contratual ou não. Quando o dever de reparação se originar do descumprimento de um contrato, a Responsabilidade Civil se desdobrará na responsabilidade do tipo contratual, onde o dano verifica-se em relação a um dever específico, estipulado livremente e previamente entre as partes. Aqui, a fonte da responsabilidade é a não observância de uma convenção particular, em que a inexecução da obrigação assumida, seja parcial ou total, gera a presunção de culpa. Por outro lado, mesmo na ausência de uma obrigação especial, será possível vislumbra-se a Responsabilidade Civil com fundamento na transgressão de um dever normativo, denominada responsabilidade extracontratual ou aquiliana. Ao contrário da responsabilidade contratual, a responsabilidade aquiliana não parte de um vínculo prévio entre o autor do dano e a vítima, bastando a lesão a um direito subjetivo 20 para sua deflagração. Nesta modalidade de responsabilização, cabe à vítima, em regra, demonstrar a culpa do autor do dano para que se tenha reconhecido o dever de indenizar, salvo quando tal demonstração for dispensável. Já quanto a esse último aspecto, a exigência de um elemento subjetivo na conduta do agente causador do dano evidencia a coexistência de dois regimes de responsabilização diferenciados pela presença do dolo ou da culpa: a responsabilidade objetiva e a responsabilidade subjetiva. Em breves linhas – pois este assunto será tratado com maior profundidade no item 1.4 deste Capítulo –, diz-se que a Responsabilidade Civil será objetiva quando, para a consumação da relação jurídica de reparação, não seja necessário perquirir a intenção que norteou a conduta lesiva. Dessa forma, são somente três os elementos considerados essenciais à configuração da responsabilidade objetiva: uma conduta, omissiva ou comissiva, que seja juridicamente qualificada como ato lícito ou ilícito; o dano a um terceiro e o nexo de causalidade ligando os dois primeiros elementos. Em geral, a responsabilidade objetiva é sempre decorrente de lei ou do risco assumido implicitamente pelo agente quando desenvolve atividades perigosas de grande potencial danoso. A responsabilidade subjetiva, por seu turno, coloca a culpabilidade do agente causador do dano em meio aos seus requisitos essenciais. Nessa esteira, a Responsabilidade Civil subjetiva será aferida no caso concreto toda vez que se verificar que o sujeito causador do dano agiu com imprudência, negligência ou imperícia (hipótese de culpa em stricto sensu), ou mesmo quando tenha agido intencionalmente para produzir o resultado danoso (hipótese de dolo). Assim, para este regime de responsabilidade, se não constatada a culpa, exclui-se a ilicitude do ato e, por conseguinte, a pretensão relativa à indenização. Por fim, outra classificação relevante da Responsabilidade Civil diz respeito à imputação do dano. Nesse sentido, será direta a responsabilidade quando esta recair sobre o próprio autor do ato danoso e indireta quando, mesmo não tendo praticado ou concorrido pessoalmente para o prejuízo de terceiro, determinada pessoa ligada ao ofensor estiver obrigada à reparação. Em suma, a Responsabilidade Civil constitui uma relação jurídica obrigacional verificada entre o autor do ato danoso, ou pessoa a este ligada, e a vítima do prejuízo, regida pelo princípio restitutio in integram, o qual impõe a reparação plena do dano. 21 Diniz (2010, p. 34) conceitua a Responsabilidade Civil como: a aplicação de medidas que obriguem alguém a reparar dano moral ou patrimonial causado a terceiros em razão de ato do próprio imputado, de pessoa por quem ele responde, ou de fato de coisa ou animal sob sua guarda ou, ainda de simples imposição legal. No atual ordenamento jurídico brasileiro, a Responsabilidade Civil encontra no art. 186 do Código Civil o seu principal regramento. Reza este dispositivo que: Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. A norma acima adota a responsabilidade subjetiva como a regra geral aplicável nas relações entre particulares, exigindo a demonstração de que a ação ou omissão do agente foi permeada pela culpa ou pelo dolo. Nada obstante, em exceção à regra acima, o parágrafo único do art. 927 do Código Civil cede espaço para a incidência da responsabilidade objetiva – ou seja, independentemente de culpa – quando assim a lei determinar ou quando a natureza da atividade executada pelo autor do dano implicar, por si só, a exposição de direitos alheios a riscos iminentes: Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. A despeito das normas em questão estarem situadas no Código Civil de 2002, a Responsabilidade Civil não se limita à seara privada. As pessoas jurídicas de direito público, bem como as pessoas jurídicas privadas prestadoras de serviços públicos não estão imunes ao erro e à prática de condutas danosas. Logo, a lei não poderá diferenciá-las dos particulares quanto à possibilidade de responsabilização por atos ilícitos, cabendo ao Estado, também, responder por condutas desta natureza e reparar os danos a que der causa, devendo, a posteriori, ingressar com ação de regresso contra o servidor que agiu com dolo, negligência, imprudência ou imperícia. Contudo, a expansão da Responsabilidade Civil em direção ao setor público apresenta determinadas nuances que resultam da compatibilização entre o direito a obter a reparação e o interesse público. 22 São estas particularidades do regime jurídico da Responsabilidade Civil do Estado que são estudadas com mais detalhes nos tópicos seguintes. 1.2 RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Assim como os particulares, o Poder Público também é considerado responsável por suas ações e omissões no momento em que infringe a ordem jurídica vigente. Trata-se de uma consequência direta e lógica do Estado de Direito, que submete até mesmo as pessoas jurídicas de direito público ao seu manto, igualando-as, em termos de direitos e obrigações, aos demais cidadãos. Não por outra razão, Justen Filho (2006, p. 226) encara a Responsabilidade Civil do Estado como “o dever de reconhecer a supremacia da sociedade e a natureza instrumental do aparato estatal”. Nesse contexto, o art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988 legitima a responsabilização do Estado nos seguintes termos: Art. 37. (omissis) (...) §6º. As pessoas jurídicas de direito públicos e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Nem sempre, porém, essa foi uma realidade ao alcance de todos. Muitas lutas e teorias tiverem de ser travadas e desenvolvidas para se atingir esse atual estágio constitucional. Esta evolução – sempre merecedora de nota – será devidamente elucidada em nossas explanações a seguir. 1.2.1 Evolução histórica No Direito Ocidental Europeu, inspiração forte e constante na construção legislativa do Brasil, a evolução da Responsabilidade Civil do Estado atravessou quatro etapas distintas, a saber: i) etapa da irresponsabilidade; ii) etapa da culpa individualizada; iii) etapa da culpa anônima e iv) etapa da responsabilidade objetiva. Em um primeiro momento, não se cogitava a responsabilização estatal por atos ilícitos. 23 Nas sociedades mais primitivas, a falta de uma arquitetura estatal organizada inviabilizava, por si só, qualquer pretensão ressarcitória, tornando-as um cenário propício para o reinado da vingança privada, onde aos prejudicados só restava suportar a repercussão dos danos sofridos. Com a formação dos primeiros Estados europeus, a institucionalização do poder ainda não foi capaz de trazer a segurança e a igualdade na proteção ao patrimônio dos súditos. Estes, a propósito, encontravam-se claramente em uma linha hierárquica muito abaixo dos monarcas, os quais eram tidos como verdadeiras divindades pela Igreja. Assim, legitimados pelo poder divino, entre os séculos XVI a XVIII (não por acaso o ápice do absolutismo europeu), os reis incorporavam a própria figura do Estado e estavam imunes a qualquer demanda por erros na condução estatal. Desta época remontam os brocardos “the king can do no wrong” e “le roi ne peut mal faire” 1, que bem retratam a infalibilidade destes soberanos. De igual sorte, a política econômica deste período, calcada no liberalismo de Adam Smith, contribuía para alimentar a tese da irresponsabilidade estatal. Se por um lado a postura da intervenção mínima impedia o Estado de regular e de atuar diretamente em relações comerciais entre particulares, por outro este também seria pouco demandado por sua parca interferência na esfera privada, de forma a torna-se – além de intocável ponto de vista jurídico – distante da realidade de seus súditos. Aos poucos, porém, passou-se a admitir a responsabilidade dos agentes do Estado, desde que a vítima arcasse com o ônus de identificar precisamente o autor do dano e comprovasse que a conduta danosa fora consumada com culpa grave ou dolo. Essa postura inaugura a fase da culpa subjetiva, que sem superar totalmente a ideia de irresponsabilidade do ente estatal, permitia aos prejudicados, ao menos em tese, demandar os agentes do Estado se atendidos os requisitos acima mencionados. Na prática, não tardou para que a fase da culpa subjetiva encontrasse grandes óbices para sua implementação, já que, não raramente, as demais normas em vigor na época condicionavam o ajuizamento de ações contra estes funcionários à autorização do Estado. Mais adiante, os entes estatais passaram a ser reconhecidos não apenas como sujeitos de direito, mas também de obrigações para com os seus cidadãos, pensamento que lançou as bases para possibilitar que o Estado fosse diretamente demandado por prejuízos causados ao patrimônio alheio. 1 “o rei não comete falhas” (tradução nossa) 24 Este amadurecimento ideológico, em grande medida, foi fruto da consolidação do Estado de Direito, intermediada pela Revolução Francesa em 1789, e do aprofundamento e difusão dos princípios da legalidade e da igualdade (não por acaso os fundamentos modernos da Responsabilidade Civil). Entretanto, nem todos os atos estatais poderiam ser alvo de pedidos de reparações, pois nesta época vigorava a distinção entre atos de império e atos de gestão, em que apenas estes últimos deflagravam a responsabilidade do Estado. Os atos de império – um ranço ainda resultante da tese da irresponsabilidade – eram considerados aqueles praticados em nome da soberania estatal, ou seja, amparados na supremacia do interesse público e na superioridade hierárquica do Estado frente aos particulares. Já os atos de gestão correspondiam àqueles praticados em situações em que o Estado situava-se no mesmo plano dos particulares, tomando parte em negócios ou praticando atos jurídicos ordinários, tal como o cidadão comum. 2 Apesar de representar um avanço quando comparada à tese da irresponsabilidade, a responsabilização do Estado em função dos atos de gestão se mostrava uma tarefa hercúlea, haja vista a tênue linha que os diferenciava dos atos de império nos casos concretos. Obstáculos à parte, a possibilidade de o Estado ser acionado – agora não mais se exigindo da vítima a identificação do autor do dano – deu início à etapa da culpa anônima, a terceira na evolução e desenvolvimento da Responsabilidade Civil. Seguindo o mesmo modelo previsto no campo privado, a tese da culpa anônima tomava o dolo ou a culpa em estrito senso como alicerces da responsabilidade estatal, com o grande mérito de baseá-la na mera generalidade do serviço, podendo fazer-se presente em três situações: i) quando o serviço público não funcionasse efetivamente; ii) quando ocorresse o funcionamento inadequado do serviço e iii) quando o serviço público funcionasse tardiamente. A partir do século XIX, a responsabilização do Estado ampliou-se para eximir as vítimas do ônus da comprovação do elemento subjetivo da conduta estatal: começavam, assim, a serem traçados os lineamentos da responsabilidade objetiva. 2 Segundo Meirelles (2005, p. 165/166), mesmo nos dias atuais, a distinção entre atos de impérios e de gestão vigente na transição da fase da irresponsabilidade para a responsabilidade subjetiva continua, em sua essência, válida. Para este autor “atos de império ou de autoridade são todos aqueles que a Administração pratica usando sua supremacia sobre o administrado ou servidor e lhes impõe obrigatório atendimento”, citando como exemplos atuais as desapropriações, ordens estatutárias e as interdições de atividade. Quanto aos atos de gestão, estes corresponderiam aos “que a Administração pratica sem usar de sua supremacia sobre os destinatários. Tal ocorre nos atos puramente de administração dos bens e serviços públicos e nos negociais com os particulares, que não exigem coerção sobre os interessados.” 25 Esta quarta e última etapa da evolução da Responsabilidade Civil preceitua que os únicos pressupostos admitidos para imputar ao Estado a reparação por prejuízos decorrentes da conduta de seus agentes eram a prova do dano e o nexo causal. Retirava-se, dessa forma, o pesado encargo das vítimas de demonstrar o elemento subjetivo nas ações estatais, alargando-se ainda mais a aplicação do Princípio da Solidariedade Social, o qual preconiza o compartilhamento dos benefícios e também dos prejuízos a serem suportados por toda a sociedade. O Brasil nunca chegou a vivenciar a fase da irresponsabilidade estatal, pois mesmo nos tempos de ausência de norma específica, era aceita a ideia de responsabilização dos entes públicos. É o que traz à tona Monteiro Filho (2006, p. 43): Note-se que, no direito positivo brasileiro, a teoria da irresponsabilidade do Estado jamais foi adotada. Se tratássemos da evolução histórica tão-somente no Brasil, não passaríamos jamais por essa fase, porque as nossas Constituições do século XIX – tanto a de 1824, quanto a de 1891 – não continham a isenção da responsabilidade do Estado. Ao revés, previam, de modo expresso, a responsabilidade do funcionário e empregado públicos. Portanto, já iniciando seu ordenamento interno na etapa da culpa subjetiva, as Constituições brasileiras de 1824 e de 1891, em dispositivos bastante similares, previam a responsabilização de agentes públicos por abusos e omissões praticados no exercício de suas funções, embora sem mencionar a figura do Estado. Essa circunstância que não impediu que os tribunais locais reconhecessem a responsabilidade solidária do Poder Público em relação aos seus funcionários, o que levou posteriormente a tese da culpa anônima a ser incorporada definitivamente à legislação pátria. Assim, com o advento do art. 15 do Código Civil de 1916, positivou-se na legislação brasileira a Responsabilidade Civil Estado sob a modalidade subjetiva. Apesar desse avanço, gradativamente cresceu o repertório jurisprudencial a favor da objetivação da responsabilidade estatal. Esse clamor veio a ser atendido com a Constituição de 1946, cujo caput de seu art. 194 dispunha que “as pessoas jurídicas de Direito Público Interno são civilmente responsáveis pelos danos que os seus funcionários, nessa qualidade, causem a terceiros”, acrescendo ao seu parágrafo único a possibilidade de ajuizamento de ação regressiva contra o funcionário causador do dano, quando este tiver agido com culpa. Esse mesmo enunciado, sempre acompanhado de pequenas alterações, foi reproduzido nas Cartas de 1967 e de 1969, até ser incluído no art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988. 26 A partir da atual norma constitucional, consagrou-se a responsabilidade objetiva da Administração Pública por danos decorrentes de atos comissivos. Portanto, são suficientes como pressupostos para a aplicação desse regime jurídico a existência de dano e o nexo de causalidade com uma conduta estatal positiva, lícita ou ilícita, capaz de ensejar a diminuição do patrimônio alheio. Todavia, quando o dano atribuído à Administração tem origem em uma omissão, é assente na doutrina administrativista tradicional a prevalência da responsabilidade subjetiva, a qual, diferentemente da modalidade objetiva, inclui entre os elementos necessários à caracterização do dever de indenizar o dolo ou a culpa da conduta danosa. Neste último caso, parte-se da noção de que o ônus patrimonial imposto à Administração Pública é derivado, sempre, de um ato ilícito, consubstanciado na negligência, imprudência ou imperícia. Também é parte fundamental deste entendimento a premissa de que a omissão administrativa não é causa direta do dano, mas sua condição, pois, caso o ente estatal tivesse agido oportunamente para evitá-lo, o prejuízo patrimonial ou extrapatrimonial provocado pela ação de um terceiro não teria se concretizado. 1.2.2 Conceito e pressupostos da Responsabilidade Civil do Estado Em linhas gerais, o conceito de Responsabilidade Civil do Estado não difere muito do conceito válido para a Responsabilidade Civil genérica, ou seja, em vigor no âmbito privado. Nada obstante, a responsabilização do Poder Público guarda determinadas particularidades, que cabem aqui ser destacadas. Primeiramente, quando se fala em Responsabilidade Civil do Estado, é imprescindível ter em mente que a regra inserida no art. 37, § 6º, da CF, é voltada apenas para as pessoas jurídicas de direito público e para as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços. Logo, encontram-se excluídas desse regime as entidades estatais dotadas de personalidade jurídica de direito privado que desempenhem atividades econômicas, como é o caso de algumas empresas públicas e sociedades de econômica mista cujo objeto social é imbuído de finalidade lucrativa. Nessas hipóteses, excetua-se o regime jurídico público prescrito pela Constituição, o qual cede lugar aos regramentos civis incorporados aos arts. 186 e 927 do Código Civil de 2002. 27 Outra particularidade que deve ser levada em conta é a distinção entre responsabilidade contratual e a extracontratual (aquiliana). Nesse contexto, para os fins a que se propõe o presente trabalho, a expressão “Responsabilidade Civil do Estado” há de ser aqui delimitada aos termos do art. 37, § 6º, da Constituição vigente, cujo cenário abrange pessoas jurídicas de direito público envolvidas em casos de responsabilização extracontratual. Com efeito, é possível apresentar alguns conceitos doutrinários que auxiliarão na compreensão e no dimensionamento do tema. Para Justen Filho (2006, p. 227), A responsabilidade civil do Estado, genericamente considerada, consiste no dever de recompor os prejuízos acarretados a terceiros. Ou seja, é o dever de indenizar, por via do pagamento de quantia certa em dinheiro, as perdas e danos materiais e morais sofridos por terceiros em virtude de ação ou omissão antijurídica imputável ao Estado. Meirelles (2005, p. 629), a seu turno, elabora o seguinte conceito: Preliminarmente, fixa-se que a responsabilidade civil é a que se traduz na obrigação de reparar danos patrimoniais e se exaure com a indenização. Como obrigação meramente patrimonial, a responsabilidade civil independe da criminal e da administrativa, com as quais pode coexistir, sem todavia, se confundir. Responsabilidade civil da Administração é, pois, a que impõe à Fazenda Pública a obrigação de compor o dano causado a terceiros por agentes públicos, no desempenho de suas atribuições ou a pretexto de exercê-las. É distinta da responsabilidade contratual e da legal. É válido ainda acrescentar a conceituação oferecida por Mello (2004, p. 876): Entende-se por responsabilidade patrimonial extracontratual do Estado a obrigação que lhe incumbe de reparar economicamente os danos lesivos à esfera juridicamente garantida de outrem e que lhe sejam imputáveis em decorrência de comportamentos unilaterais, lícitos ou ilícitos, comissivos ou omissivos, materiais ou jurídicos. E finalmente, para Pozzetti (2009, p. 228), a Responsabilidade Civil do Estado conceitua-se da seguinte forma: A responsabilidade civil é a obrigação que se impõe ao Estado de reparar o dano que o servidor causou, por culpa ou dolo no desempenho de suas funções. A responsabilidade, para o servidor nasce do ato culposo e lesivo e se exaure com a indenização. Esta responsabilidade é independente das demais ( da administrativa e da penal), e se apura na forma do Direito Privado. Com amparo nestes ensinamentos, começam a ser desenhados os pilares ou pressupostos da Responsabilidade Civil dos entes públicos. Embora com algumas poucas 28 variações doutrinárias, podem ser considerados elementos aptos a deflagrar a Responsabilidade Civil do Poder Público: i) o dano material ou moral sofrido por terceiros; ii) conduta lesiva atribuída ao Estado; iii) nexo causal entre o dano e a conduta estatal e iv) infração de um dever jurídico, capaz de revelar a antijuridicidade do ato estatal danoso. 1.2.3 O dano O primeiro pressuposto da Responsabilidade Civil da Administração Pública é a existência de um dano, seja de natureza material, seja de natureza estritamente moral. De se registrar que o dano aqui referido é mais fielmente retratado e entendido quando se pensa em lesão a direitos juridicamente garantidos. Desse modo, o fato que enseja a Responsabilidade Civil – não apenas do Estado, mas de modo geral – é a violação a um direito, que pode ou não conter um conteúdo econômico intrínseco. Oportunamente, em confirmação a esse pensamento, Mello (2004, p. 903) assevera que “quem não sofreu gravame em um direito não tem título jurídico para postular indenização.” O dano material é aquele representado pela diminuição do patrimônio da vítima do ato lesivo. Se a essência da responsabilidade nada mais é do que a recomposição do equilíbrio patrimonial de terceiro abalado pelo Estado, sem prova do efetivo prejuízo não nascerá a pretensão indenizatória. Por isso, o dano a ser recomposto é sempre um dano real, concreto, e nunca o baseado em meras suposições ou presunções. Isto, todavia, não limita a reparação aos danos materiais presentes ou atuais, podendo ser ainda levados em consideração no momento de se fixar a devida indenização os danos futuros (hipótese dos lucros cessantes, por exemplo), desde que representem eventos de ocorrência certa. O dano moral é o resultado de um prejuízo psíquico, advindo da ofensa a um dos direitos de personalidade. A imagem, a honra, a privacidade, tutelados na forma do art. 5º, X, da CF, são exemplos de direitos que podem vir a ser atingidos através do dano moral. À vítima do dano moral também incumbe o ônus de demonstrar a certeza quanto às repercussões presentes e futuras do prejuízo sofrido. A par das mencionadas características, o dano indenizável deve ser pautado por sua especialidade, isto é, deve estar relacionado a fatos específicos e pontuais e não a acontecimentos generalizados e com repercussão em toda a sociedade, o que exclui, por 29 exemplo, a possibilidade de reparação em razão do aumento de impostos sobre determinados setores da economia ou da elevação da taxa de juros oficial. De mais a mais, tratando-se de dano material ou moral, o mesmo deve ainda representar uma perda patrimonial considerável e não um simples aborrecimento, dissabor ou gravame módico inerente ao convívio social. 1.2.4 Conduta estatal comissiva ou omissiva Outro pressuposto da responsabilidade da Administração Pública repousa na conduta danosa comissiva ou omissiva. Faz-se necessário um ato humano voluntário, praticado por meio de ação ou omissão, e atribuído a um dos agentes públicos que atuam em nome do Estado para que seja configurado o dever de indenizar. Tal ato poderá ser comissivo, assim entendido quando tenha origem em uma conduta positiva da qual desponte o descumprimento específico de um dever jurídico. Exige-se que o autor do dano, representando a figura do Poder Público, tenha cometido uma infração objetivamente considerada, extrapolando ou realizando defeituosamente alguma atribuição afeta à sua esfera de competência. Em suma, há nas condutas danosas comissivas uma incompatibilidade material entre a obrigação prescrita na norma e a ação praticada pelo agente. A conduta omissiva, como sua própria qualificação evidencia, nasce de uma inação estatal e pode levar a dois desdobramentos, diferenciados por sua qualificação jurídica. No primeiro deles, será considerado um ato omissivo próprio aquele em que a inação do agente, por si só, caracteriza violação a uma norma vigente. Nesses casos, a conduta comissiva e a omissiva própria se equivalerão, na medida em que ambas exprimirão a infração a deveres jurídicos específicos, sendo aquela relativa ao comando “é proibido fazer” e esta ao comando “é obrigatório agir”. No segundo desdobramento, inexiste dever específico impondo uma ação a ser adotada pelo agente estatal, mas esta acaba se tornando imprescindível para se evitar a ocorrência de um dano iniciado por terceiros. Cuida-se, aqui, da omissão imprópria, a qual, isoladamente considerada, não conduziria à responsabilidade da Administração Pública, mas as circunstâncias subjacentes à sua ocorrência a tornam contrária a um dever genérico de diligência. 30 Com efeito, a reprovabilidade da inércia do agente será uma condição fundamental para dar ensejo à reparação quando o dano era previsível e o Poder Público dispunha de meios suficientes para evitá-lo. Vale igualmente notar que a identificação do autor da conduta comissiva ou omissiva enquanto agente público é condição determinante para o surgimento da Responsabilidade Civil do Estado, devendo este agir na qualidade de representante do Poder Público no momento da lesão. Fora dessas circunstâncias, não advirá o dever de indenizar imputável ao Estado. Isto se deve ao fato do Estado, enquanto uma criação jurídica, não possuir vontade e tampouco ser capaz de produzir atos próprios. Suas manifestações, intelectuais ou concretas, se dão através das pessoas naturais que o representam e atuam em seu nome. São os chamados agentes públicos, pessoas que detém o status jurídico de representação do ente público, no contexto de uma relação orgânica que se baseia na teoria da imputação. Segundo tal teoria, cada ato praticado pelo agente público será associado ao ente por ele representado, ou seja, todas as ações dos agentes serão imputadas à pessoa jurídica de direito público a que estejam vinculados, como se fossem praticados diretamente pelo Estado. Assim, o art. 37, § 6º, da CF faz uso da expressão “nessa qualidade” ao se referir ao termo “agente”, já que ele e o Estado formam um ser unitário, cujas condutas não se bipartem. Ainda sobre esse aspecto, cabe destacar a acepção ampla do significado da palavra “agente” mencionada pelo texto constitucional, cujo conceito compreende os agentes políticos, honoríficos, administrativos e até mesmo particulares em colaboração com a Administração Pública. Outro fator importante relacionado à conduta estatal é a exigência de que a mesma seja sempre voluntária, isto é, praticada livre e conscientemente, excluindo-se os atos praticados sob coação ou sob outras situações que levem ao estado de inconsciência do agente. 1.2.5 O nexo causal O terceiro pressuposto para se configurar a Responsabilidade Civil do Estado consiste na relação de causalidade entre o evento danoso e a conduta da Administração Pública. É o denominado nexo causal, liame que permitirá averiguar se o dano pode ser imputado ao Estado. 31 O principal mérito desse elemento é estabelecer uma relação de causa e efeito entre o dano e o seu responsável, possibilitando a identificação deste último. O ônus da sua demonstração caberá sempre à vítima do prejuízo, que poderá não ter reconhecido o direito ao ressarcimento na ausência do nexo causal, normalmente em face de quatro situações: quando o dano advier exclusivamente da conduta da própria vítima, de terceiros estranhos ao Poder Público, de caso fortuito ou de força maior. São as chamadas causas excludentes, porquanto atuam interrompendo a relação de causalidade. Diante da culpa exclusiva da vítima ou de terceiros que não representam a vontade do Estado, o nexo causal é interrompido visto que a produção da lesão não foi fruto de uma conduta omissiva ou comissiva pública. Inexiste, pois, comportamento estatal a partir do qual tenha sido produzida uma consequência gravosa a direitos de outrem. Caso vítima e agente público tenham agido concorrentemente para a geração do dano, a responsabilidade é apenas repartida entre seus causadores e atenuada, o que se reflete na diminuição proporcional da indenização devida, a qual nunca poderá vir a ser totalmente suprimida nesta hipótese. O caso fortuito e a força maior, embora ensejem um mesmo resultado prático – na medida em que ambos elidem o nexo causal –, representam conceitos diferenciados. O caso fortuito corresponderia a eventos imprevisíveis, em geral associados a fenômenos naturais como terremotos, inundações e incêndios não provocados. Já a força maior consistiria em fenômenos naturais ou humanos, cuja ocorrência é possível de ser prevista, mas não de ser evitada. Todas as situações citadas acima compartilham uma característica comum: retratam fatos estranhos à vontade do Poder Público, bem como a ausência de culpa, elemento que também pode ser incluído como um dos pressupostos da Responsabilidade Civil, quando a lei não a tenha expressamente dispensado. 1.2.6 A antijuridicidade da conduta danosa A antijuridicidade é o elemento que exprime a censurabilidade da conduta do agente, a qual nasce da infração a um dever jurídico. Sua inclusão em meio aos pressupostos da Responsabilidade Civil do Estado implica dizer que a fonte da obrigação de indenizar é o ato ilícito, cuja prática é sempre associada à noção de culpa. 32 Estas são as principais ideias em destaque na conceituação ofertada por Diniz (2010, p.41): O comportamento do agente será reprovado ou censurado quando, ante circunstâncias concretas do caso, se entende que ele poderia ou deveria ter agido de modo diferente. Portanto, o ato ilícito qualifica-se pela culpa. Não havendo culpa, não haverá, em regra, qualquer responsabilidade. Se o ato ilícito é a faceta mais visível e concreta da antijuridicidade, o aspecto subjetivo da conduta do agente causador do dano – representado pela culpa – é a sua essência. Em uma acepção ampla, a culpa refere-se ao dolo, ou seja, à vontade deliberada e consciente de se violar a ordem jurídica, e à culpa em estrito senso, que se consubstancia pela imperícia, imprudência ou negligência, através da qual o dano é atingido mesmo sem ser resultado de um ato consciente. Uma controvérsia recorrente na doutrina consiste em saber se apenas atos ilícitos deflagrariam a Responsabilidade Civil do Poder Público ou se atos lícitos – onde, evidentemente, restaria excluída a antijuridicidade – também figurariam como fonte do dever de indenizar. Justen Filho (2006, p. 232) defende que somente a antijuridicidade (ato ilícito) dá azo à responsabilidade do Estado: (...) é necessária grande cautela quanto à defesa da possibilidade de responsabilização civil do Estado por atos lícitos. Adota-se o entendimento de que, ressalvadas hipóteses em que houver solução legislativa explícita diversa, somente é possível responsabilizar o Estado quando a ação ou omissão a ele imputável for antijurídica. Outros autores, como Pietro (2006, p. 254), consideram que os atos lícitos da Administração deflagram a Responsabilidade Civil tanto quanto os atos ilícitos: A responsabilidade patrimonial pode decorrer de atos jurídicos, de atos ilícitos, de comportamentos materiais ou de omissão do Poder Público. Ao contrário do direito privado, em que a responsabilidade exige sempre um ato ilícito, no âmbito da responsabilidade do Estado ela pode decorrer de atos ou comportamentos que, embora lícitos, causem a determinadas pessoas um ônus maior do que o imposto aos demais membros da coletividade. Trata-se da aplicação da teoria de repartição dos encargos sociais e assim se resume: assim como os beneficiários decorrentes da atuação estatal repartem-se por todos, também os prejuízos sofridos por alguns membros da sociedade devem ser repartidos. (...) Por outras palavras, para fins de responsabilização civil do Estado não é importante discutir a licitude ou ilicitude do ato danoso. Importante destacar, por ora, que o posicionamento concernente à inclusão dos atos lícitos como fonte da Responsabilidade Civil sofre certa mitigação quando se trata de condutas omissivas, onde ante a definição legal da culpa – que compreende a negligência, 33 imprudência e imperícia –, tende-se a admitir que apenas os atos ilícitos provocam o dever de indenizar. 3 1.3 FUNDAMENTOS E FORMAS DE REPARAÇÃO Por detrás dos pressupostos da responsabilização civil apresentados nos tópicos anteriores, a justificação jurídica para imputar ao Poder Público o ressarcimento por danos a terceiros repousa, prioritariamente, no princípio da igualdade. A Responsabilidade Civil, seja voltada aos particulares ou ao Estado, prima pelo objetivo maior de resguardar a estabilidade de relações ou situações jurídicas, sobretudo em sociedades cada vez mais patrimonialistas, onde não se toleram perturbações ilegítimas a direitos subjetivos. E uma vez alterada a estabilidade buscada pelo Direito, a equidade – cuja formatação também é moldada pela isonomia – exige que o status quo ante seja recomposto. Assim, o dever de ressarcimento surge como resposta e consequência imediata do abalo ao equilíbrio da ordem jurídica de outrem. Na seara pública, o princípio da igualdade atua em ligação estreita com o Estado de Direito, submetendo particulares e entes públicos, indistintivamente, à ordem jurídica vigente. Desse modo, ao exercer a missão de zelar pelo bem ambiental comum, na forma preconizada pelo art. 23 4, VI, e pelo art. 225 5, caput, da Constituição Federal, o Estado não se furta de indenizar a quem sofreu, de maneira visivelmente mais gravosa do que os demais, com a sua atuação, sob pena de convalidar-se e aceitar-se a violação a direitos de terceiros como uma ocorrência irrelevante. Por isso, a patente submissão estatal à ordenação jurídica também consagra o princípio da legalidade como o segundo fundamento da Responsabilidade Civil do Poder Público. Quanto à forma de reparação do dano, a mesma poderá ocorrer na via administrativa ou judicial. 3 Embora inicialmente Pietro (2006, p. 262) entenda pela inclusão dos atos lícitos no rol daqueles que levam à responsabilidade civil do Estado, ressalva a autora que na omissão administrativa, a ilicitude é condição única para o surgimento do dever de reparação. Este raciocínio, como se verá mais adiante, é decisivo para consolidar construção teórica da doutrina que adota a responsabilidade subjetiva do Estado na hipótese de danos decorrentes da omissão. 4 Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: (...) VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; 5 Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações. 34 No primeiro caso, a indenização advirá do reconhecimento, pelo Poder Público, da lesão engendrada por seu servidor a direito de terceiro, seguida de composição administrativa onde se acordará o valor a ser ressarcido. Não havendo tal composição, o caminho que restará ao terceiro prejudicado será o judicial, onde caberá a propositura da correspondente ação indenizatória, respeitado o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32 6. Uma discussão que ganha lugar na hipótese da reparação judicial diz respeito à possibilidade de denunciar à lide o servidor que deu causa ao dano, com fundamento no art. 70, inciso III, do Código de Processo Civil 7. De acordo com a previsão do art. 37, § 6º, da Constituição Federal 8, a legitimidade passiva da demanda com foco na Responsabilidade Civil recai sobre a pessoa jurídica de direito público ou de direito privada prestadora de serviço público. Contudo, não é pacífico, no âmbito doutrinário, a possibilidade do Estado acionar, na mesma ação em que está sendo demandado, o servidor que efetivamente deu causa ao dano e contra quem possui o direito de manejar ação regressiva. Nesse contexto, a denunciação à lide pode ser considerada obrigatória, a fim de viabilizar o direito de regresso assegurado constitucionalmente; facultativa, sem prejuízo à ação regressiva e, por fim, vedada. Ao sintetizar as diferentes correntes doutrinárias sobre o tema e expor suas conclusões, Pietro (2001, p. 525) sinaliza para os seguintes desdobramentos que podem ser verificados em relação à denunciação à lide: (...) quando se trata de ação fundada em culpa anônima do serviço ou apenas na responsabilidade objetiva decorrente do risco, a denunciação não cabe, porque o denunciante estaria incluindo novo fundamento na ação: a culpa ou dolo do funcionário, não argüida pelo autor; 6 Art. 1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem. 7 Art. 70. A denunciação da lide é obrigatória: (...) III – àquele a que estiver obrigado, pela lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo do que perder a demanda. 8 Art. 37. (omissis) (...) § 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. 35 (...) quando se trata de ação fundada na responsabilidade objetiva do Estado, mas com argüição de culpa do agente público, a denunciação da lide é cabível como também é possível o litisconsórcio facultativo (com citação da pessoa jurídica e de seu agente) ou a propositura de ação diretamente contra o agente público. 1.4 REGIMES DE RESPONSABILIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA A necessidade de recomposição de bens jurídicos violados injustamente consubstancia o principal fio condutor da Responsabilidade Civil, tônica esta que, segundo as disposições do § 3º do art. 225 da Constituição Federal, também se irradia e se faz presente no Direito Ambiental: Art. 225. (omissis) (...) § 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Todavia, no que tange ao regime constitucional previsto para a Administração Pública, as modalidades de responsabilização serão definidas conforme a origem do ato estatal danoso. Na esteira desse pensamento, Mello (2004, p. 893) distingue três diferentes situações em função das quais podem ser aplicados regimes diversos de responsabilidade à Administração Pública: i) quando o dano é causado diretamente por comportamento do Estado; ii) quando, diante de uma omissão estatal no tocante ao dever de fiscalização, um terceiro vem a gerar dano que deveria ter sido evitado pelo Poder Público; e iii) quando o Estado, também por ato próprio, cria uma situação propícia ao dano, embora não tenha sido ele o seu causador direto. Gasparini (2009, p. 1059) aponta que tais distintas hipóteses de responsabilidade derivam da utilização, pelo art. 37, § 6º, da atual Constituição 9, do verbo “causar”, significando que a objetivação da responsabilidade do Poder Público, para ser configurada, requer uma atuação concreta – isto é, uma conduta comissiva – do agente público. Nesta situação, a culpa da Administração Pública é presumida e sobre ela recairá o ônus da prova. A contrário senso, explica esse mesmo autor, “não haverá responsabilidade objetiva por atos 9 Art. 37. (omissis) (...) § 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. 36 omissivos, devendo a vítima, nestes casos, provar a culpa do Estado, pois sua responsabilidade é subjetiva (...).” Com efeito, segundo os enunciados constitucionais vigentes, admite-se que a Responsabilidade Civil do Estado possa ser objetiva ou subjetiva, modelos estes que se diferenciam em razão da natureza da conduta lesiva. A esta altura, é igualmente importante salientar as principais características que diferenciam a responsabilidade objetiva da responsabilidade subjetiva. Ao assumir a concretização dos anseios coletivos, e até mesmo ao corporificar a própria sociedade, o Estado é dotado de abundantes prerrogativas e poderes para atingir esse mister. A lei, entretanto, não exime o Estado do mesmo tratamento reservado aos seus administrados, guardadas as particularidades por ele ostentadas. Sendo assim, ao Poder Público também se dirige o Princípio da Isonomia, que o impende ao ressarcimento dos danos causados por seus agentes, mas sob o pálio de um regime de responsabilidade mais rígido do que aquele aplicável ordinariamente aos particulares, haja vista a evidente superioridade dos poderes estatais e da supremacia do interesse público a que lhe cabe preservar. Daí o porquê de se falar em objetivação da responsabilidade do Estado toda vez que um dano é causado por um comportamento ativo, que se qualifica pela irrelevância do aspecto psíquico do agente público que lhe houver dado causa, bem como pelo seu foco na lesão sofrida pelo terceiro. Por isso, a essência da responsabilidade objetiva está concentrada no patrimônio lesionado da vítima e não na conduta danosa da Administração Pública. Nessa linha de raciocínio, é possível citar o lançamento de dejetos ou resíduos sólidos em leitos de rios, coletados durante o serviço público de esgotamento sanitário, como exemplo de ação apta a sujeitar a Administração competente para a prestação de tal serviço à obrigação de restaurar os recursos hídricos atingidos. Cabe ainda destacar que a responsabilidade objetiva também se afigurará quando a Administração Pública, por ato comissivo próprio, cria as condições para que o dano provocado por terceiro possa vir a surgir. Aqui, a conduta estatal positiva, embora não produza diretamente o dano, faz florescer os riscos necessários e suficientes para a causação do evento danoso. Em outras palavras, será a exposição a riscos o segundo fator da incidência da responsabilidade objetiva do Poder Público. 37 Como exemplo de conduta de risco, citam-se as atividades nucleares desenvolvidas em regime de monopólio pela União, as quais já estão sujeitas à responsabilidade objetiva, nos termos do art. 21, XXIII, alínea “d”, da Constituição Federal: Art. 21. Compete à União: (...) XXIII - explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza e exercer monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios nucleares e seus derivados, atendidos os seguintes princípios e condições: (...) d) a responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de culpa; De outro modo, diante de um dano derivado de uma omissão da Administração Pública , aplicar-se-á a responsabilidade subjetiva, onde o dolo e a culpa passam a ser levados em consideração como elementos ínsitos à Responsabilidade Civil do Estado. É o que passa, de modo geral, nas falhas verificadas no exercício do poder de polícia. Alicerçando ambos os regimes, diversas teorias, construídas fundamentalmente através de posições jurisprudenciais e doutrinárias, visam estabelecer a extensão e os limites da aplicabilidade da responsabilidade estatal objetiva e subjetiva, retratando, em grande medida, a continuidade no atual estágio de evolução da responsabilização do Estado. A maior profusão teórica sobre o tema concentra-se na responsabilidade objetiva, a quem se dedicam a teoria do risco integral, a teoria do risco administrativo e a teoria do risco criado. Com relação à responsabilidade subjetiva, seu marco teórico mais relevante finca-se na construção francesa da faute du service, teoria que dá origem à noção de “falta do serviço”. 1.4.1 Teoria do risco integral Todas as ações desenvolvidas pela Administração Pública criam, potencialmente, ambientes propícios para ocorrência de agraves aos membros da sociedade. Com base nessa premissa, desenvolveram-se teorias que giram em torno da ideia do risco trazido pela atividade administrativa. De fato, não se pode negar que a gestão do interesse público, eventualmente, acarreta ônus a alguns membros da coletividade, os quais suportam mais intensamente os sacrifícios impostos pelo Poder Público do que os demais particulares. É o caso, por exemplo, de danos 38 oriundos da realização de obras e serviços públicos, da condução de veículos oficiais, da guarda de objetos ou pessoas nas dependências da Administração, etc. Diante de tais fatos, assim como os benefícios da atividade administrativa são repartidos por toda a sociedade, os prejuízos individualmente arcados por essa mesma atividade também devem ser compartilhados por todos. Assim nasceu a teoria do risco integral, vertente teórica da responsabilidade objetiva, que propõe uma das formas mais radicais de conceber a responsabilização do Estado: é o Poder Público obrigado a indenizar o dano provocado por suas condutas ilícitas, independentemente de culpa e sem admitir qualquer forma de abrandamento ou exclusão dessa responsabilidade. Dito de outra forma, a teoria do risco integral não permite que causas excludentes de responsabilidade, tais como o caso fortuito ou a força maior, sejam alegadas em favor da Administração, que mesmo na ocorrência dessas hipóteses estaria obrigada a realizar o ressarcimento. Consoante lembra Mattos (2011, p. 36/38), a teoria do risco integral conduz a um amplo alargamento do nexo causal, de maneira que qualquer ato ou fato que tenha contribuído, em alguma medida, para consumação do dano, ainda que não o tenham gerado diretamente, sejam consideradas causas equivalentes da lesão a direito de outrem (teoria da conditio sine quanon). Em face de seu radicalismo, muitas críticas se voltaram contra as implicações práticas do risco integral. Meirelles (2005, p. 632) é um desses críticos: A teoria do risco integral é a modalidade extremada da doutrina do risco administrativo, abandonada na prática, por conduzir ao abuso e à iniqüidade social. Por essa fórmula radical, a Administração ficaria obrigada a indenizar todo e qualquer dano suportado por terceiros, ainda que resultante de culpa ou dolo da vítima. Daí por que foi acoimada de “brutal”, pelas graves conseqüências que haveria de produzir se aplicada na sua inteireza. Apesar do contínuo crescimento da responsabilidade objetiva, que cede cada vez menos espaço à responsabilidade subjetiva da Administração, a teoria do risco integral – cujo efeito principal, na prática, é tornar o Poder Público uma espécie de garantidor universal para toda a sorte de danos – não encontrou guarida na legislação brasileira. 39 1.4.2 Teoria do risco administrativo A teoria mais aceita como o principal suporte da responsabilidade estatal preceituada pela ordem constitucional vigente é a do risco administrativo 10, a qual apregoa a responsabilidade objetiva da Administração Pública, mas rejeitando os extremismos ínsitos à teoria do risco integral. Isto implica dizer que, apesar de não incluir o dolo e a culpa em meio aos elementos imprescindíveis ao dever de indenização, tal obrigação poderá ser excluída caso a conduta da vítima ou fatores alheios à conduta do Estado tenham influenciado na consumação do dano. Estas são as considerações mais peculiares sobre a teoria do risco administrativo anotadas por Barcellar Filho (2006, p. 314): A orientação da Constituição de 1988 acerca da responsabilidade estatal repousou no risco administrativo, pelo qual se leva em conta a potencialidade de ações danosos do Estado, normais ou anormais, lícitas ou ilícitas, aliada ao fator de possível anormalidade de conduta da vítima e eventos exteriores na determinação do dano injusto. Nesse mesmo caminho, Meirelles (2005, p. 631), mais uma vez, ressalta a prescindibilidade da culpa, bem como a incidência de causas excludentes de responsabilidade, entre as características mais marcantes da teoria do risco administrativo: Aqui não se cogita a culpa da Administração ou de seus agentes, bastando que a vítima demonstre o fato danoso e injusto ocasionado por ação ou omissão do Poder Público. Tal teoria, como o nome está a indicar, baseia-se no risco que a atividade pública gera para os administrados e na possibilidade de acarretar dano a certos membros da comunidade, impondo-lhes um ônus não suportado pelos demais. Para compensar essa desigualdade individual, criada pela própria Administração, todos os outros componentes da coletividade devem concorrer para a reparação do dano, através do erário, representado pela Fazenda Pública. O risco e a solidariedade social são, pois os suportes dessa doutrina, que sua objetividade e partilha de encargos, conduz à mais perfeita justiça distributiva, razão pela qual tem merecido o acolhimento dos Estado modernos, inclusive o Brasil, que a consagrou pela primeira vez no art. 194 da CF de 1946. Advirta-se, contudo, que a teoria do risco administrativo, embora dispense a prova da culpa da Administração, permite que o Poder Público demonstre a culpa da vítima para excluir ou atenuar a indenização. Isto porque o risco administrativo não se confunde com o risco integral. O risco administrativo não significa que a Administração deva indenizar sempre e em qualquer caso o dano suportado pelo particular; significa, apenas e tão somente, que a vítima fica dispensada da prova da 10 Sobre o reconhecimento da inserção da teoria do risco administrativo no âmbito constitucional, pronunciou-se o Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o nexo de causalidade entre o dano sofrido e a conduta da Administração, conforme dispõe o art. 37, § 6º, da Carta Magna de 1988, que adotou a teoria do risco administrativo, demonstrado no aresto objurgado, gera o inescusável dever de indenizar.” (STJ, REsp 926140 / DF, Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, Data do Julgamento 01/04/2008, DJe 12/05/2008) 40 culpa da Administração, mas esta poderá demonstrar a culpa total ou parcial do lesado no evento danoso, caso em que a Fazenda Pública se eximirá integral ou parcialmente da indenização. Dessa forma, é suficiente, segundo a teoria em tela, a demonstração do dano e do nexo de causalidade para dar azo ao dever de indenizar, que poderá, no entanto, ser excluído ou atenuado de acordo com as circunstâncias concretas que emergem ao redor do evento danoso, como nas hipóteses de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, do caso fortuito ou da força maior. Na seara ambiental, a aplicação da teoria do risco administrativo também está consagra na conjuntura normativa decorrente do art. 3º, IV, e do art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, que versa sobre a Política Nacional do Meio Ambiente: Art. 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: (...) IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental; (...) Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores: (...) § 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente. Nesse contexto legal, qualquer ação imputável ao Estado, que concorra direta ou indiretamente para a configuração do dano ambiental, permitirá a aplicação da responsabilidade objetiva, sob o pálio do risco administrativo. É o que ocorre com a concessão de licença para a construção de um edifício comercial dentro de uma área de preservação permanente ou com a inadvertida demolição de bens imóveis tombados de grande valor histórico e cultural. 1.4.3 Teoria do risco criado A teoria do risco criado está atualmente prevista no art. 927, parágrafo único, do Código Civil, cuja redação final impõe a incidência da responsabilidade objetiva “quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”. 41 A teoria em tela parte da acepção de que as atividades potencialmente perigosas, em que dano não só é previsível, mas também provável, devem ensejar a responsabilização, sem amparo na culpa, de quem as promove, haja vista o alto grau de receio quando à concretização do evento lesivo. Segundo Carvalho Filho (2008, p. 118), a base teórica do risco criado está ligada à responsabilidade extracontratual oriunda de atividades humanas lícitas, porém perigosas, em razão da natureza e dos meios utilizados, sujeitando o empreendedor ou agente aos riscos e danos dela decorrentes. Uma das características mais marcantes dessa teoria – e que justamente a diferencia da teoria do risco integral – é a admissão de excludentes de responsabilidade. Com efeito, quando o autor da atividade de risco comprovar ter adotado todas as medidas possíveis e cabíveis para prevenir o dano, tendo este sido causado pela força maior, caso fortuito, culpa exclusiva da vítima e etc., restará afastada qualquer responsabilidade, por inexistir correlação entre sua ação ou omissão e o risco produzido nessas circunstâncias. Neste ponto, observa-se que a teoria da conditio sine qua non, que tão fortemente orienta a idéia de risco integral, é substituída pela teoria da causalidade adequada, a qual, segundo Mattos (2011, p. 37), preceitua a seleção, entre as diversas causas prováveis de terem ocasionado o dano, daquela que realmente demonstre o risco concretizado no resultado danoso. Importa ainda destacar que neste modelo teórico de responsabilidade inexiste nexo causalidade direto entre o ato comissivo do Estado e a lesão a direitos de terceiros, eis que o dano é, em si, obra de outrem. Mas a ação estatal, embora mediata, é considerada decisiva na cadeia de causalidades deflagradoras do dano, por conferir o ponta pé inicial para a prática danosa. Oportunamente, em mais uma síntese primorosa, Mello (2004, p. 900) explica os contornos que a teoria do risco criado toma em relação ao Estado: embora a ação danosa não seja efetuada pelo agente estatal, é a conduta comissiva do Poder Público que produz a situação da qual a existência do dano depende. Os antecedentes que permitirão ao terceiro provocar o dano são obra do Estado. É, enfim, a ação do Estado que propicia a ocorrência do dano, construindo o cenário ideal para sua materialização. Nessa linha de raciocínio, conclui o referido autor que, embora não gere diretamente o efeito danoso, tal conduta equivale aos danos produzidos pela própria ação do Estado, ensejando, por conseguinte, a aplicação da responsabilidade objetiva presente na teoria do risco administrativo. 42 No que respeita ao Direito Ambiental, a teoria do risco do criado é particularmente acolhida pelo art. 22, § 1º, V e VII, da Constituição Federal, o qual preconiza, em resumo, o dever de precaução do Estado: Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações. § 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: (…) V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente; (…) VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade. Por decorrência do enunciado acima, a teoria do risco criado representa um desdobramento do Princípio da Precaução, conquanto impõe à Administração Pública a tarefa de antecipar-se aos danos ambientais mais iminentes, pelos quais responderá não só quando efetivamente consumados, mas, sobretudo, pela mera potencialidade de sua ocorrência. Ainda em relação à norma em referência, Machado (2005, p. 130-131) assevera que e “se Constituição não mencionou expressamente o princípio da precaução (que manda prevenir mesmo na incerteza do risco), é inegável que a semente desse princípio está contida no art. 225, § 1º, V e VII, ao obrigar à prevenção do risco do dano ambiental.” Um exemplo clássico de responsabilidade estatal com base no risco criado, outrora mencionado no item 1.4 deste Capítulo, advém de danos decorrentes de atividades nucleares, merecedora de previsão expressa através do art. 21, XXIII, alínea “d”, da Carta Magna vigente 11, onde o texto constitucional também ressalta a objetivação da responsabilidade por serviços e instalações nucleares. Também exemplificam danos oriundos do risco criado pela ação do Estado a morte de detentos sob a custódia do Estado ou de servidores que desempenhem suas atividades funcionais em ambientes de trabalho considerados potencialmente perigosos ou insalubres, como em um depósito de materiais inflamáveis ou em ações ligadas à vigilância sanitária. 11 Art. 21. Compete à União: (...) XXIII - explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza e exercer monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios nucleares e seus derivados, atendidos os seguintes princípios e condições: (...) d) a responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de culpa; 43 1.4.4 Teoria da falta do serviço A maior parte da doutrina administrativa brasileira, ancorada pela jurisprudência em torno do art. 37, § 6º, da Carta Magna, abre exceção à objetivação da Responsabilidade Civil do Estado quando o efeito danoso está ligado a uma conduta omissiva 12. Com efeito, nas omissões do Poder Público, admite-se a incidência da responsabilidade subjetiva, devendo, portanto, a vítima do prejuízo demonstrar o dolo ou a culpa administrativa. De acordo com a evolução observada em relação à Responsabilidade Civil ao longo dos séculos, não é necessário que o elemento subjetivo exigido para as condutas omissivas seja individualizado. Assim, pode a vítima do dano acionar a Administração Pública mesmo sem saber precisamente qual servidor se omitiu no cumprimento de suas funções institucionais, bastando que atribua, em caráter genérico, o dano ao Poder Público. A teoria que sustenta essa possibilidade é a da falta do serviço, a qual permite a responsabilização subjetiva pela omissão administrativa com amparo na noção de culpa anônima do serviço, a qual ocorrerá, basicamente, em três hipóteses: i) quando o serviço não funcionar (ausência de fiscalização para combater o desmatamento em florestas nacionais 13); ii) quando o serviço funcionar tardiamente (retirada tardia de invasores de área verde ou o exercício a destempo de ação fiscalizatória ou punitiva do Poder Público quanto a loteamentos irregulares 14) e iii) quando o serviço apresentar funcionamento defeituoso (quando o Estado deixa de promover o adequado tratamento da água que abastece uma cidade). 12 ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO EM VIA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ATO OMISSIVO – AUSÊNCIA DE PRECAUÇÃO DA CONDUTORA – CULPA RECÍPROCA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SÚMULA 7/STJ. 1. Omissão do Município em conservar de forma adequada a sinalização de trânsito, diante disso, deve ser responsabilizado subjetivamente pelos danos suportados. (...) (STJ, Recurso Especial 2007/0111628-2, Relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, Data do Julgamento 18/09/2008, Dje 21/10/2008). 13 PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. ADOÇÃO COMO RAZÕES DE DECIDIR DE PARECER EXARADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. ART. 2º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 4.771/65. DANO AO MEIO AMBIENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. ARTS. 3º, IV, C/C 14, § 1º, DA LEI 6.938/81. DEVER DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO. 1. A jurisprudência predominante no STJ é no sentido de que, em matéria de proteção ambiental, há responsabilidade civil do Estado quando a omissão de cumprimento adequado do seu dever de fiscalizar for determinante para a concretização ou o agravamento do dano causado pelo seu causador direto (...) (STJ, AgRg no REsp 1001780 / PR, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, Data do Julgamento: 27/09/2011, DJe 04/10/2011) 14 ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO IRREGULAR. DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. ART. 40 DA LEI N. 6.766/79. PODER-DEVER. PRECEDENTES. 44 Tal culpa anônima é encarada muitas vezes como uma presunção jurídica, dispensando, em tese, a vítima de demonstrar sua existência. Em razão dessa característica, muitos autores asseveram que a falta do serviço também estaria compreendida no campo da objetivação da responsabilidade estatal, já que o ônus probatório tocante à negligência, imperícia ou imprudência da Administração Pública não constituiria mais um dever de quem sofreu o dano. Todavia, Meireles (2004, p. 886) adverte que a teoria da falta do serviço não é modalidade de responsabilidade objetiva, pois a presunção não afasta o dolo ou a culpa enquanto elementos tipificadores da relação jurídica indenizatória. Quanto a essa discussão, esclareceu o doutrinador: É mister acentuar que a responsabilidade por “falta de serviço, falha do serviço ou culpa do serviço (faute du service, seja qual for a tradução que se lhe dê) não é, de modo algum, modalidade de responsabilidade objetiva, ao contrário do que entre nós e alhures, às vezes, tem-se inadvertidamente suposto. É responsabilidade subjetiva porque baseada na culpa (ou dolo) (...) É muito provável que a causa deste equívoco, isto é, da suposição de que a responsabilidade pela faute du service seja responsabilidade objetiva, deva-se a uma defeituosa tradução da palavra faute. Seu significado corrente em Francês é o de culpa. Todavia, no Brasil, como de resto em alguns países, foi inadequadamente traduzida como “falta” (ausência), o que traz ao espírito a idéia de algo objetivo. Outro fator que há de ter ocorrido para robustecer este engano é a circunstância de que inúmeros casos de responsabilidade por faute du service necessariamente haverá de ser admitida uma “presunção de culpa”, pena de inoperância desta modalidade de responsabilização, ante a extrema dificuldade (às vezes intransponível de demonstrar-se que o serviço operou abaixo dos padrões devidos, isto é, com negligência, imperícia ou imprudência, vale dizer, culposamente. Em face da presunção da culpa, a vítima do dano fica desobrigada de comprová-la. Tal presunção, entretanto, não elide o caráter subjetivo desta responsabilidade, pois, 1. O art. 40 da Lei 6.766/79, ao estabelecer que o município "poderá regularizar loteamento ou desmembramento não autorizado ou executado sem observância das determinações do ato administrativo de licença", fixa, na verdade, um poder-dever, ou seja, um atuar vinculado da municipalidade. Precedentes. 2. Consoante dispõe o art. 30, VIII, da Constituição da República, compete ao município "promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano". 3. Para evitar lesão aos padrões de desenvolvimento urbano, o Município não pode eximir-se do dever de regularizar loteamentos irregulares, se os loteadores e responsáveis, devidamente notificados, deixam de proceder com as obras e melhoramentos indicados pelo ente público. 4. O fato de o município ter multado os loteadores e embargado as obras realizadas no loteamento em nada muda o panorama, devendo proceder, ele próprio e às expensas do loteador, nos termos da responsabilidade que lhe é atribuída pelo art. 40 da Lei 6.766/79, à regularização do loteamento executado sem observância das determinações do ato administrativo de licença. 5. No caso, se o município de São Paulo, mesmo após a aplicação da multa e o embargo da obra, não avocou para si a responsabilidade pela regularização do loteamento às expensas do loteador, e dessa omissão resultou um dano ambiental, deve ser responsabilizado, conjuntamente com o loteador, pelos prejuízos dai advindos, podendo acioná-lo regressivamente. 6. Recurso especial provido. (STJ, REsp 1113789 / SP, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, Data do Julgamento 16/06/2009, DJe 29/06/2009) 45 se o Poder Público demonstrar que se comportou com diligência, perícia e prudência – antítese da culpa –, estará isento da obrigação de indenizar, o que jamais ocorreria se fora objetiva a responsabilidade. Uma das implicações mais relevantes da teoria da falta do serviço é o reconhecimento do papel de coadjuvante desempenhado pelo Estado na configuração do dano. Fala-se em coadjuvante, pois o Poder Público não é o autor do dano, o qual será efetivado por um terceiro. Cabe ao Estado, diante do ato material lesivo provocado por outrem, impedir que este dano se configure. Faz parte da teoria da falta do serviço o pressuposto de que a inação estatal, a rigor, é incapaz de gerar dano; por conseguinte, se a lesão patrimonial não se opera de um vazio, dependerá de uma ação concreta (a conduta comissiva de terceiros) para ser produzida. Nesse aspecto, encontra-se grande semelhança entre a teoria da falta do serviço e a teoria do risco criado, pois ambas defendem que a Administração Pública não concorre diretamente para o dano, mas apenas oferecendo as condições para que ele se concretize através de um terceiro. Entretanto, as duas teorias se diferenciam na medida em que, na teoria do risco criado, a lesão será propiciada por um ato estatal comissivo, ao passo que na teoria da falta do serviço, o dano derivará de uma condição relacionada a uma conduta omissiva, geralmente consubstanciada na falha do poder-dever de fiscalização. E, em arremate, não sendo o evento danoso obra da Administração, já que sua autoria sempre será de um terceiro, sua responsabilidade só se verifica quando houver a obrigação legal de impedi-lo, cabendo, então, aferir se essa omissão deu-se em detrimento de uma atuação diligente, determinada intencionalmente (dolo) ou mediante negligência, imperícia ou imprudência (culpa). Silveira (apud PORFÍRIO JÚNIOR, 2002, p. 70) oportunamente recorda que a responsabilidade subjetiva nas condutas omissivas da Administração está correlacionada ao descumprimento do dever geral de cautela exigido de qualquer ente público. Entretanto, para esse mesmo autor, a averiguação do dever de vigilância do Estado não é das mais fáceis e dependerá, conforme o caso, de minuciosa análise judicial: O juiz, ao analisar uma ação de responsabilidade por omissão do Estado, deverá verificar a conduta realizada pelo Estado. Haverá responsabilidade civil por omissão sempre que o Estado ferir o dever geral de cautela exigido para aquela espécie de caso. Assim, é dever geral de cautela, e não dever total de cautela. A responsabilidade que surge é do tipo subjetivo, ou seja, não basta à configuração da responsabilidade estatal a simples relação entre ausência de serviço (omissão estatal) e o dano sofrido. É necessário demonstrar a culpa por negligência, imprudência ou 46 imperícia no serviço ensejador do dano, quando ao Estado era exigido um certo padrão de conduta capaz de obstar o evento lesivo. Assim, não há como não admitir que a responsabilidade subjetiva referente à falta do serviço só pode ser decorrente de ato ilícito, uma vez que os fatos geradores desse regime de responsabilização estão todos relacionados ao descumprimento de um dever legal. Por decorrência lógica, caso inexista obrigação legal de agir ou não sendo possível impedir o dano, a responsabilidade estatal não se afigurará, pois do contrário, conforme pondera Mello (2004, p. 896), “seria verdadeiro absurdo imputar ao Estado responsabilidade por um dano que não causou, pois isto equivaleria a extraí-la do nada”. Outra importantíssima constatação decorrente da afirmativa acima é a de que a omissão administrativa é tida como condição do dano e não sua causa, por se entender que, apesar de não ser o efetivo autor do dano, se o ente estatal tivesse agido oportunamente para evitá-lo, o prejuízo patrimonial provocado pela ação de um terceiro não teria se concretizado. Dito por outras palavras, se a origem do dano não está na ação da Administração Pública, mas sim na de um terceiro, conclui-se que a omissão administrativa não integra diretamente a relação de causalidade que perpetra o evento lesivo, pois do nada, nada pode advir. Logo, a conduta omissiva administrativa não é causa do dano, embora confira as condições necessárias para sua ocorrência. A compreensão da diferença entre causa e condição é o que justifica a exclusão da responsabilidade objetiva em favor da subjetiva, independentemente da natureza do dano e dos direitos subjacentes atingidos pela inércia administrativa. Aqui, ao contrário do regime de responsabilização objetiva por condutas comissivas, o cerne principal de análise da relação indenizatória estará no seu pólo ativo, à medida que se faz necessário verificar se o Estado agiu abaixo dos padrões sociais e normativos de diligência a que estava compelido, de forma a qualificar o comportamento omissivo como incompatível com o Direito. Com efeito, seria injusto desconsiderar as peculiaridades que envolvem o surgimento do dano neste caso sem se indagar o porquê da omissão administrativa – justamente o efeito prático da incidência da responsabilidade objetiva. Em resumo, a teoria da falta do serviço justifica a responsabilização do Estado com base nas noções de dolo ou culpa apenas quando seus atos omissivos forem censuráveis, isto é, diante do descumprimento da obrigação legal de evitar o dano ou quando sua ação para evitá-lo for insuficiente, abaixo dos padrões normais exigidos legalmente e esperados pelos anseios sociais. 47 Com relação aos danos ambientais, Porfírio Júnior (2002, p. 71) cita exemplos de responsabilização subjetiva do Estado, baseada na teoria da falta do serviço, referindo-se aos prejuízos causados por “inundações devidas a chuvas intensas, quando a limpeza das bocasde-lobo, das galerias de águas pluviais e as canalizações dos córregos não foi efetivada a tempo, antes da previsível precipitação”. 48 2 BREVES CONSIDERAÇÕES ACERCA DO DANO AMBIENTAL O caráter difuso e o patamar constitucional do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado trazem um arcabouço de características próprias ao dano ambiental, que o particularizam frente a lesões ou perdas de outras naturezas, agregando, também, traços ímpares à responsabilização por atos nocivos aos bens ambientais. Dessa forma, com o intuito de colocar em evidência todas as peculiaridades que envolvem a Responsabilidade Civil por danos ao meio ambiente, este Capítulo buscará expor o conceito de dano ambiental, seus fundamentos normativos, seus princípios de regência, suas formas de reparação e como a doutrina e a jurisprudência vêm situando a responsabilização da Administração Pública diante da sua ocorrência. 2.1 CONCEITO DE DANO AMBIENTAL E SUA CONTEXTUALIZAÇÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL A ordem constitucional instaurada pela Carta de 1988 conferiu grande destaque à tutela de direitos de terceira geração, merecendo o direito ambiental uma proteção específica e bastante abrangente, baseada em regras e princípios próprios deste ramo do Direito. Assim, o art. 225, caput, da Constituição Federal consagrou o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso do povo e essencial à sadia qualidade de vida, ao mesmo tempo em que impôs ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Com vistas a conferir maior efetividade a esse direito fundamental, o §3º do mesmo enunciado normativo estabeleceu a sujeição do autor de danos ambientais a sanções nas esferas cível, penal e administrativa: Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações. (...) § 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. A partir do mencionado marco regulatório constitucional, infere-se pela existência de três esferas de atuação do Direito em face do dano ambiental: a preventiva, a reparatória e a repressiva. 49 A tutela preventiva fica prioritariamente a cargo da atuação administrativa em defesa do meio ambiente (embora esta não seja a sua única função) 15, onde o exercício do poder de polícia deverá ajustar a conduta de pessoas que lidam com atividades com o potencial de gerar a lesão ambiental, mediante a exigência de licenças específicas, bem como de estudos e relatórios de impactos ambientais. A tutela repressiva é corporificada, em sua mais severa e máxima expressão, pela tipificação criminal de condutas lesivas ao meio ambiente, especialmente na forma retratada na Lei nº 9.605, de 12 de dezembro de 1998, que dispõe sobre os crimes ambientais. Já a tutela reparatória ocupa-se da Responsabilidade Civil por danos ao meio ambiente, cujo fundamento, além do art. 225, § 3º, da Constituição Federal, encontra-se no art. 3º, IV, c/c art. 14, § 1º, ambos da Lei nº 6.938/81 (Lei da Política Nacional do Meio Ambiente), normas que assim dispõem: Art. 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: (...) IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental; (...) Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores: (...) § 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente. Mas o que se compreende por dano ambiental? 15 É cediça ainda a possibilidade da esfera administrativa atuar repressivamente em relação aos danos ao meio ambiente, tal como se verifica no art. 72 da Lei nº 9.605, de 12 de dezembro de 1998, que institui sanções a serem aplicadas quando da ocorrência de infrações ambientais: Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6º: I - advertência; II - multa simples; III - multa diária; IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração; V - destruição ou inutilização do produto; VI - suspensão de venda e fabricação do produto; VII - embargo de obra ou atividade; VIII - demolição de obra; IX – suspensão parcial ou total de atividades; X – (vetado) XI - restritiva de direitos (...) 50 A lei brasileira é lacunosa quanto ao conceito de dano ambiental. O art. 3º, inciso II, da Lei nº 6.938/81 não faz uso da palavra “dano”, dando preferência à “degradação ambiental”, expressão conceituada por esse mesmo dispositivo como “a alteração adversa das características do meio ambiente”. A doutrina, por seu turno, oscila quanto à terminologia empregada, ora referindo-se à “dano ecológico”, ora à “dano ambiental”, como expressões equivalentes ou não. Para Silva (2011, p. 308), dano ecológico é considerado “qualquer lesão ao meio ambiente causada por condutas ou atividades de pessoa física ou jurídica de Direito Público ou de Direito Privado”. Porfírio Júnior (2002, p. 51), entretanto, opta por distinguir o dano ambiental do ecológico, enquadrando este último como espécie do primeiro, por compreendê-lo como uma agressão limitada ao meio ambiente natural: É necessário, portanto, que se faça distinção entre os conceitos de dano ambiental e dano ecológico. Entende-se, aqui, que o dano ecológico (que pode ser chamado de dano ambiental puro) é uma espécie do dano ambiental, que considera apenas as lesões causadas aos elementos naturais do meio ambiente, ainda que estas não resultem necessariamente em prejuízos patrimoniais diretos ou indiretos. Tal distinção é importante quando se trata de estudar a responsabilidade estatal, pois, como o dano ambiental puro atinge bens ou interesses difusos, são conseqüentemente, diferentes as soluções a serem dadas quanto à sua reparação ou indenização. Leite e Ayala (2011, p. 94/95) endossam a distinção entre dano ecológico e dano ambiental e afirmam que o dano ecológico puro apresenta conceituação restrita, “relacionada aos componentes naturais do ecossistema e não ao patrimônio cultural ou artificial”, ao passo que o dano ambiental lato sensu abrangeria o meio ambiente em todas as suas dimensões ou componentes. Prosseguem estes mesmos autores na conceituação do dano ambiental, caracterizando-o como a alteração nociva e indesejável ao meio ambiente, cujos efeitos atingem a saúde das pessoas e seus interesses. Machado (2005, p. 334), valendo-se da expressão “dano ecológico”, também o associa ao conceito de alterações observadas no meio ambiente, assim como o faz da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, mas adverte que nem sempre tais alterações ocasionarão prejuízos, sob pena de condenar o meio ambiente ao imobilismo e à impossibilidade de mudanças e inovações. Como intuitivo, a ideia de dano ambiental não abandona a pressuposição de perda patrimonial, mas seu grande diferencial está na pulverização do prejuízo advindo desse dano, capaz de atingir direta ou indiretamente um número indeterminado de pessoas. Assim, o 51 patrimônio atingido pelo evento danoso é difuso, fugindo da índole individualista tradicionalmente presente na Responsabilidade Civil entre particulares e entre estes e a Administração Pública. Além disso, correta é a distinção entre dano ecológico e dano ambiental, já que a concepção de meio ambiente é multifacetada e não se limita somente ao meio ambiente natural (ecológico), irradiando-se também para o meio ambiente artificial, cultural e do trabalho. Outra conotação importante para configuração do dano ambiental repousa sobre a anormalidade dos efeitos gerados pela atividade danosa em face do meio ambiente. A interação entre o homem e o meio ambiente é um acontecimento dinâmico, com reflexos mútuos. Logo, faz parte da condição para a sobrevivência humana a interferência e a troca decorrente do contato permanente com o meio ambiente, o que não pode ser considerado – como alertou Machado (2005, p. 334) –, a princípio, um ato danoso. Esta interferência só dará ensejo ao dano ambiente quando for abusiva, vale dizer, quando extrapolar os limites da normalidade, de forma que a alteração provocada pela atividade humana torne o ambiente inviável para garantir a sadia qualidade de vida preceituada pelo art. 225 da Constituição Federal. Em síntese, os elementos mais marcantes do dano ambiental estão na noção de abuso de direito, ou de anormalidade no trato com o meio ambiente, e na propagação de reflexos difusos ocasionados pelo prejuízo ambiental. 2.2 PECULIARIDADES ORIUNDAS DO DANO AMBIENTAL: PRINCÍPIOS, FORMAS DE REPARAÇÃO E REGIME DE RESPONSABILIZAÇÃO A Responsabilidade Civil do Estado em decorrência do dano ambiental é regida não somente por regras impostas pela Constituição e pela lei, mas também por postulados normativos mais abstratos e basilares, consubstanciados nos princípios. Logo, a compreensão em torno desse tema não seria possível sem o estudo prévio dos princípios que informam o processo de reparação ambiental. No patamar constitucional, Silva (2001, p. 99) explica que os princípios são “normassíntese” ou “normas-matriz” que exprimem valores políticos acolhidos pelo legislador constituinte. Em função de seu conteúdo essencialmente axiológico, os princípios, segundo Barroso (2010, p. 170), caracterizam-se por uma relativa indeterminação, embora tragam um núcleo 52 de sentido, bastante similar ao das regras, que prescrevem objetivamente determinados modelos de conduta. Considerando tal característica, ao distinguir as regras dos princípios, Alexy (2012, p. 90) define estes últimos como “mandamentos de otimização”, pois a flexibilidade que lhes é própria permite que os mesmos sejam aplicados dentro das possibilidades apresentadas no caso concreto e, por conseguinte, realizados em diversos graus: O ponto decisivo na distinção entre regras e princípios é que princípios são normas que ordenam que algo seja realizado na maior medida possível dentro das possibilidades jurídicas e fáticas existentes. Princípios são, por conseguinte, mandamento de otimização, que são caracterizados por poderem ser satisfeitos em graus variados e pelo fato de que a medida devida de sua satisfação não depende somente das possibilidades fáticas, mas também das possibilidades jurídicas. O âmbito das possibilidades jurídicas é determinado pelos princípios e regras colidentes. Já as regras são normas que são sempre ou satisfeitas ou não satisfeitas. Se uma regra vale, então, deve se fazer exatamente aquilo que ela exige; nem mais, nem menos. Regras contêm, portanto, determinações no âmbito daquilo que é fática e juridicamente possível. No Direito Ambiental, a reparação de lesões causadas contra o meio ambiente é norteada por alguns princípios específicos, cujo conteúdo e efeitos serão apresentados a seguir. 2.2.1 Princípios informativos da relação reparatória ambiental Na qualidade de relação jurídica ressarcitória que é, a responsabilidade por danos ambientais não se afasta dos pressupostos comuns a quase todas as espécies de responsabilização civil: dano, nexo de causalidade e conduta lesiva por ação ou omissão. Nada obstante, a envergadura constitucional da resposta frente ao dano ambiental, aliada ao caráter publicístico e difuso do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e à sadia qualidade de vida, acrescentam determinadas nuances à responsabilidade decorrente de agressões ao meio ambiente. Como não poderia deixar de ser, grande parte dessas nuances são fruto da influência de princípios próprios o direito ambiental, dos quais merecem destaque os Princípios da Prevenção e do Poluidor-Pagador. 53 2.2.2 Princípio da Prevenção Prevenir traz à tona a noção de antecipação, de predizer e preparar-se para o que está por vir. É seguindo esta tônica que se desenvolve a orientação ditada pelo Princípio da Prevenção. Transportando para o direito o conhecido dito popular segundo o qual “é melhor prevenir do que remediar”, o referido princípio preceitua uma postura acautelatória com vistas a evitar a ocorrência do dano ambiental. Nesse sentido, a Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento de 1992 reafirma explicitamente a prevenção como medida impositiva contra a degradação ambiental: Princípio 14 Os Estados devem cooperar de forma efetiva para desestimular ou prevenir a realocação e transferência, para outros Estados, de atividades e substâncias que causem degradação ambiental grave ou que sejam prejudiciais à saúde humana. Princípio 15 Com o fim de proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deverá ser amplamente observado pelos Estados, de acordo com suas capacidades. Quando houver ameaça de danos graves ou irreversíveis, a ausência de certeza científica absoluta não será utilizada como razão para o adiamento de medidas economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental. No ordenamento pátrio, o artigo 225 da Constituição Federal impõe a prevenção como dever do Estado e de toda a sociedade, o que coloca em evidência que o cerne programático do mencionado princípio está na exigência de cuidado e de ponderação quanto à necessidade de intervenção humana no meio ambiente. Em outras palavras, a potencialidade da degradação ambiental é fator que deverá ser cuidadosamente avaliado quando se pretende utilizar os recursos ambientais direta ou indiretamente, de maneira a se impedir a propagação de externalidades negativas 16, sobretudo no que diz respeito às atividades econômicas. Privilegia-se, assim, a adoção de políticas públicas e de ações concretas preventivas ao surgimento do dano ambiental. É importante lembrar que alguns doutrinadores diferenciam o Princípio da Prevenção do Princípio da Precaução, ao passo em que outros os tratam como equivalentes ou sinônimos. 16 Externalidades negativas podem ser entendidas como reflexos ou produtos prejudiciais da atividade econômica sentidos ou absorvidos pelo seu próprio produtor e por toda a coletividade. Derani (2008, p. 143) realça que as externalidades negativas são assim denominadas porque “embora resultante da produção, são recebidas pela coletividade, ao contrário do lucro, que é percebido pelo produtor privado. Daí a expressão “privatização dos lucros e socialização das perdas”, quando identificadas as externalidades negativas” 54 No primeiro caso, a diferenciação entre estes dois princípios é feita em função do grau de certeza científica no tocante à consumação do dano ao meio ambiente. Dessa forma, o Princípio da Precaução se dissociaria do Princípio da Prevenção, na medida em que aquele incidiria em relação às intervenções humanas em que os impactos ambientais não podem ser seguramente conhecidos e provados, obrigando à implementação de ações acautelatórias para a preservação do meio ambiente, sob o manto do brocardo in dubio pro natura; ao revés, o princípio da prevenção atuaria quando estes mesmos impactos tivessem uma base científica já consolidada e reconhecida. Outra diferença que marcaria a diferenciação entre estes princípios se refere à generalidade do aspecto acautelatório preconizado por cada um deles. Assim, o Princípio da Precaução aplicar-se-ia preferencialmente à regência de situações mais voltadas ao caso concreto, enquanto que a prevenção assumiria dimensões mais amplas e abstratas. Seja como for, Milaré (2004, p. 145) resume a essência dos dois princípios ao comentar que “sua atenção está voltada para momento anterior à consumação do dano – o do mero risco. Ou seja, diante da pouca valia da simples reparação, sempre incerta e, quando possível, excessivamente onerosa, a prevenção é a melhor, quando não a única, solução.” A partir das colocações acima, pode-se dizer que relação entre o Princípio da Prevenção e a Responsabilidade Civil do Estado por danos ambientais repousa no fato de que a prevenção impõe-se como parâmetro para atuação da atividade estatal, que se não exercida satisfatoriamente, ensejará, como consequência, a obrigação de reparação pela degradação ambiental. Vale assim concluir, em outras palavras, que a não observância do Princípio da Prevenção é a principal condição para imputar ao Poder Público o dever de indenizar o prejuízo ambiental decorrente suas ações ou omissões. 2.2.3 Princípio do Poluidor-Pagador Outro princípio que traz profundos reflexos à Responsabilidade Civil do Estado por danos ao meio ambiente é o Princípio do Poluidor-Pagador. Ao contrário do princípio da prevenção, o princípio do poluidor-pagador informa a proteção do meio ambiente quando o dano já se materializou. Apesar da presença de um forte aspecto reparatório, o princípio do poluidor-pagador certamente também abrange um aspecto preventivo tendente à redução e à anulação do dano ambiental, em razão da função pedagógica por ele exercido. 55 Sua diretriz baseia-se no imperativo ético que rechaça o compartilhamento, por toda a coletividade, de efeitos ambientais degenerativos causados por um agente poluidor específico, dentro do exercício de determinado processo produtivo. Para reverter esse quadro, é exigido do poluidor que este arque com os impactos ambientais negativos decorrentes de sua atividade. Daí a se falar na internalização do ônus oriundo da degradação do meio ambiente, isto é, na reabsorção de externalidades negativas. E de que forma ocorreria essa internalização? Em geral, a responsabilidade decorrente do Princípio do Poluidor-Pagador obriga o autor da degradação ambiental a pôr em prática medidas compensatórias em face do dano causado, seja reparando in natura os cenários ecológicos por ele afetados, seja pecuniariamente, quando irreparável ou de difícil reparação for o prejuízo. Entretanto, não se descartam outras formas de internalização, normalmente ligadas ao contexto do processo produtivo poluidor, cabendo ao Estado um importante papel no marco regulatório pela recuperação do meio ambiente degradado por força do crescimento econômico. Nesse contexto, o princípio em voga está intimamente ligado a políticas públicas de taxação e monetarização pelo mau uso dos recursos ambientais, especialmente daqueles mais raros e cujo usufruto ocorre, a princípio, gratuitamente. Ilustrando essa situação, pondera Machado (2005, p. 59) sobre o uso gratuito de recursos naturais por atividades poluidoras: O uso gratuito dos recursos naturais tem representado um enriquecimento iletígimo do usuário, pois a comunidade que não usa dos recursos ou que o utiliza em menor escala fica onerada. O poluidor que usa gratuitamente o meio ambiente para nele lançar os poluentes invade a propriedade pessoal de todos os outros que não poluem, confiscando o direito de propriedade alheia. Visando corrigir tal distorção, o Poder Público pode passar a cobrar pela utilização de recursos naturais, como mecanismo para que o responsável pela degradação suporte, economicamente, os custos ambientais gerados por sua atividade. Na prática, esta se mostra a forma mais recorrente de reabsorção das externalidades negativas, retratando uma orientação acolhida até mesmo como um dos objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente. Quanto a esse aspecto, o art. 4º, VII, da Lei nº 6.938/81 estabelece a “imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos.” 56 O duplo caráter preventivo e reparatório do Princípio do Poluidor-Pagador é passível de ser observado em dois momentos distintos. O primeiro deles (o preventivo), verificar-se-á quando o Estado, através da atuação extrafiscal, institui e cobra tributos ou preços públicos como exigência prévia para o início de operações consideradas potencialmente poluidoras, a exemplo do pagamento de taxas para o licenciamento ambiental. Contudo, o pagamento de tributos ou tarifas ambientais não confere ao agente econômico o direito de poluir e tampouco o exime de reparar o dano ambiental, pois a obrigação de zelar pela preservação do meio ambiente continua como finalidade a ser alcançada por meio do Princípio do Poluidor-Pagador. Nesse quadrante, o segundo momento (o reparatório) ganhará lugar quando, a despeito de todas as medidas preventivas tomadas, o dano ambiental se torna uma realidade. É a partir de então que a Responsabilidade Civil do Estado por danos ao ambiente desponta como outro importante instrumento de concretização do Princípio do PoluidorPagador. 2.3 A REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL A titularidade difusa do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado traz aspectos interessantes concernentes à forma de reparação do dano ambiental. No plano constitucional, observa-se através do § 1º do art. 225 que a preferência será a restauração do bem ambiental, isto é, a recomposição in natura do prejuízo causado pela atividade degradadora. É esta a interpretação mais escorreita a ser conferida ao referido enunciado, segundo o qual incumbe ao Poder Público “restaurar os processos ecológicos essenciais”. Em reforço a essa diretriz, o § 2º do art. 225 do texto magno também alude à recomposição in natura ao anunciar que “aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei.” A preferência pela recomposição ou restauração visa atender ao postulado da responsabilidade intergeracional anunciada no caput do mencionado art. 225. Denomina-se intergeracional a solidariedade imposta entre a atual e as futuras gerações, com o fito de que a utilização dos recursos naturais do planeta se dê sem que se chegue ao seu total esgotamento e de forma que a futuras gerações herdem o meio ambiente 57 em condições melhores ou, no mínimo, iguais às usufruídas pela atual geração. Em resumo, trata-se de um dever de solidariedade diacrônico e sincrônico. No fio condutor anunciado pela responsabilidade intergeracional, surgem alguns desdobramentos. Destes, o mais relevante e comumente apontado diz respeito ao conceito de desenvolvimento sustentável. Nas pertinentes colocações de Sachs (2008, p. 15), o desenvolvimento sustentável apresenta-se com os seguintes contornos: O conceito de desenvolvimento sustentável acrescenta uma outra dimensão – a sustentabilidade ambiental – à dimensão da sustentabilidade social. Ela é baseada no duplo imperativo ético de solidariedade sincrônica com a geração atual e de solidariedade diacrônica com as gerações futuras. Ela nos compele a trabalhar com escalas múltiplas de tempo e espaço, o que desarruma a caixa de ferramentas da economia convencional. Ela nos impele ainda a buscar soluções triplamente vencedoras, eliminando o crescimento selvagem ao custo de elevadas externalidades negativas, tanto sociais quanto ambientais. Outras estratégias, de curto prazo, levam ao crescimento ambientalmente destrutivo, mas socialmente benéfico, ou ao crescimento ambientalmente benéfico, mas socialmente destrutivo. Os cinco pilares do desenvolvimento sustentável são: a – Social, fundamental por motivos tanto intrínsecos quanto instrumentais, por causa da perspectiva da disrupção social que paira de forma ameaçadora sob muitos lugares problemáticos de nosso planeta; b – Ambiental, com as suas duas dimensões (os sistemas de sustentação da vida como provedores de recurso e como “recipientes” para a disposição de resíduos; c – Territorial, relacionado à distribuição espacial de recursos, das populações e das atividades; d – Econômico, sendo a viabilidade econômica condição sine qua non para que as coisas aconteçam; e – Político, a governança democrática é um valor fundador e um instrumento necessário para as coisas acontecerem; a liberdade faz toda a diferença. De acordo com as lições acima, pode-se dizer que a sustentabilidade, ao agregar o valor ambiental às várias faces do desenvolvimento, preconiza a conciliação entre crescimento econômico e preservação do meio ambiente, como instrumento de garantia do bem estar do homem e da realização de seus direitos fundamentais. Pela ótica do desenvolvimento sustentável (cujas propostas constituem o meio – e ao mesmo tempo o fim – de dar dignidade plena a todos os seres humanos a longo prazo), as repercussões futuras do dano ambiental se revestem de maior preocupação e gravidade, já não mais se limitando simplesmente aos lucros cessantes e danos emergentes. Com efeito, o paradigma inaugurado pelo desenvolvimento sustentável indica a recomposição in natura do meio ambiente como o processo mais adequado de realização da responsabilidade intergeracional. Nem sempre, porém, tal recomposição será possível. Não é incomum que o dano ao meio ambiente seja tamanho que se torne inviável retornar ao status quo ante, a exemplo do 58 que verifica quando é extinta determinada espécie vegetal ou animal, ou quando um bioma único, de características muito peculiares e não encontrada em outros lugares, é totalmente dizimado. Nesses casos, a reparação do dano pode ser feita por meio de compensações, alternativa pela qual são recompostas ou conservadas áreas ou processos ecológicos diversos daquele originalmente danificado 17, ou pela monetarização (indenização) do dano ambiental. Com relação à segunda hipótese, podem ocorrer situações em que o dano ambiental possui um sujeito passivo identificável, que também figurará como beneficiário da indenização. Mas, como regra geral, não há individualização do dano, pois, invariavelmente, sua única vítima será o meio ambiente. Leite e Ayala (2011, p. 154/169) denominam de dano ambiental individual reflexo ou indireto aquele que “tem como base um interesse próprio do indivíduo ao microbem ambiental e que, de forma incidental, repercute na proteção do macrobem ambiental pertencente à coletividade” e de dano ambiental coletivo “a lesão a macrobem ambiental difuso, cuja titularidade pertence à coletividade”. Quanto a esse aspecto, Pozzetti (2009, p. 230) dá ênfase à dúplice destinação do ressarcimento por danos ambientais, salientando que De acordo com o §1º do artigo 14 da Lei nº 6.938/81 – Política Nacional do Meio Ambiente – PNMA, a reparação do dano ambiental comporta duas esferas: a reparação do dano em si, quando há lesão ao meio ambiente; e a reparação do particular atingido pelo dano. Assim, o ressarcimento pecuniário em face do dano ambiental poderá ser feito diretamente a um terceiro (o proprietário de uma reserva particular do patrimônio natural danificada por invasores, para ilustrar) ou a toda coletividade (caso de bens públicos ambientais, como florestas nacionais). A indenização dirigida à coletividade dar-se-á na forma do art. 13 da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985 (Lei da Ação Civil Pública), norma pela qual o montante obtido “reverterá a um fundo gerido por um conselho federal ou por conselhos estaduais de que 17 Diversos exemplos de compensação ambiental podem ser encontrados no texto do novo Código Florestal (Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012), como a prevista no inciso II do § 4º do art. 26: “Art. 26. A supressão de vegetação nativa para uso alternativo do solo, tanto de domínio público como de domínio privado, dependerá do cadastramento do imóvel no CAR, de que trata o art. 29, e de prévia autorização do órgão estadual competente do Sisnama. § 4o O requerimento de autorização de supressão de que trata o caput conterá, no mínimo, as seguintes informações: II - a reposição ou compensação florestal, nos termos do § 4o do art. 33;” (grifo nosso) 59 participarão necessariamente o Ministério Público e representantes da comunidade, sendo seus recursos destinados à reconstituição dos bens lesados.” Atualmente, o fundo em questão denomina-se Fundo Federal de Defesa dos Direitos Difusos e é regulamentado pela Lei nº 9.008, de 21 de março de 1995, e pelo Decreto nº 1.306, de 9 de novembro de 1994. 2.4 REGIMES DE RESPONSABILIDADE PELO DANO AMBIENTAL Ao determinar que a obrigação de indenizar ou reparar “independe da existência de culpa”, a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente claramente opta pela objetivação da responsabilidade civil como resposta ao dano ambiental 18. Em relação aos atos danosos comissivos da Administração Pública, a responsabilidade objetiva também foi a regra adotada expressamente pelo art. 37, § 6º, da Constituição Federal 19, cuja aplicação, decerto, se volta à tutela ao meio ambiente. Para a doutrina, a invocação desse regime decorre de peculiaridades muito próprias do dano ambiental. Milaré (2001, p. 753) sustenta três razões para se adotar a objetivação da responsabilidade por danos ambientais como regra. A primeira delas se refere ao caráter difuso do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e à sadia qualidade de vida, qualidade que expõe a significante repercussão do ilícito e a ampla pluralidade de vítimas. A segunda, relaciona-se à dificuldade de se comprovar a culpa do agente poluidor, o qual, não raras vezes, tem sua atividade danosa amparada por licenças e autorizações concedidas pelo Poder Público. A terceira razão corresponde à existência de causas excludentes da responsabilidade, como o caso fortuito e a força maior, no regime subjetivo. 18 Art. 14. (omissis) (...) § 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente. 19 Art. 37. (omissis) (...) § 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. 60 Outros fatores são declinados por Porfírio Júnior (2002, p. 52) como especificidades do dano ambiental, que dão azo ao endurecimento da responsabilidade para indenizá-lo: sua não rara irreversibilidade, os efeitos acumulativos e sinérgicos da poluição, a repercussão direta e indireta (por ricochete) dos efeitos danosos (que podem também acabar por atingir direito individuais), a dificuldade recorrente de avaliar a extensão do dano, etc. Tais situações, como não se pode olvidar, são objeto de tutela específica no ordenamento jurídico ambiental, através, principalmente, dos Princípios da Prevenção, da Precaução e do Poluidor-Pagador, igualmente afirmados como fundamentos de uma responsabilidade especial, típica dos danos ambientais. A par dessas considerações, pondera-se também que o estágio de sociedade de risco na qual se vive atualmente – resultado de um ciclo econômico desenfreado e cujo nascedouro está na Revolução Industrial de meados do século XVIII – colocou o uso de bens ambientais em crescente escala, quase que de forma ilimitada, tornando iminente a possibilidade de grandes desastres naturais. A crise ambiental é uma das consequências dessa sociedade de risco, que percebe agora o caminho a largos passos traçado pelo modelo econômico contemporâneo rumo ao esgotamento total dos recursos naturais mais essenciais. O permanente estado de risco, seja concreto ou imprevisível, confere uma nova percepção do dano ambiental, enfocando-se sobretudo a projeção futura de seus efeitos e uma revisão das atuais atividades produtivas, a fim de se coibir os malefícios sociais gerados pela economia de mercado e pelo cada vez mais arraigado hábito do consumismo. Por todas essas razões, demanda-se a existência de um regime de responsabilização mais rigoroso para o enfrentamento do dano ambiental. Daí, o porquê de a responsabilidade objetiva ser, a priori, a que melhor se amolda a esses anseios. Nesse passo, o dolo e a culpa são afastados quando se tratam dos pressupostos configuradores da responsabilidade por danos ambientais, reconhecendo-se, apenas, a necessidade da verificação do evento danoso e do nexo causal. A esse propósito, oportunamente, Machado (2005, p. 351) esclarece que A responsabilidade objetiva ambiental significa que quem danificar o ambiente tem o dever jurídico de repará-lo. Presente, pois, o binômio dano/reparação. Não se pergunta a razão da degradação para que haja o dever de indenizar e/ou reparar. A responsabilidade sem culpa tem incidência na indenização ou na reparação dos “danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados por sua atividade” (art. 14, § 1º, da Lei 6.938/81). Não interessa que tipo de obra ou atividade seja exercida pelo que degrada, pois não há necessidade de que ela apresente risco ou seja perigosa. Procura-se quem foi atingido e, se for o meio ambiente e o homem, inicia-se o 61 processo lógico-jurídico de imputação civil objetiva ambiental. Só depois é que se entrará na fase do estabelecimento do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano. É contra o Direito enriquecer-se ou ter lucro à custa da degradação do meio ambiente. Muito se discute sobre uma possível mitigação das causas excludentes da responsabilidade objetiva diante da magnitude alcançada pelo dano ambiental. Para Venosa (2010, p. 248), a ordem jurídica brasileira adotou, em matéria de danos ao meio ambiente, a responsabilidade objetiva sob a modalidade do risco integral, de modo que o caso fortuito e a força maior constituiriam acontecimentos irrelevantes para descaracterizar a obrigação de indenizar. Contudo, parte da doutrina rejeita a não incidência das causas de exclusão da responsabilidade em relação ao dano ambiental, entendendo vigorar, no lugar da teoria do risco integral, a teoria do risco criado. Esse raciocínio funda-se na premissa de que a redação empregada pelo art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81 (“é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade”) exige que o liame entre o dano ao ambiente e o poluidor decorra de uma conduta de autoria por este último, vale dizer, de uma ação ou omissão do agente poluidor (grifo nosso). Consistente crítica desferida contra a teoria do risco integral e a favor da teoria do risco criado é feita por Carvalho (2008, p. 119): Parece-nos que a teoria do risco criado seja, em sua acepção mais ampla ou restrita, a variação mais adequada para delimitação da abrangência da teoria do risco concreto, uma vez que permite a incidência de fenômenos capazes de excluir a incidência da responsabilidade objetiva, sempre que esses eventos forem capazes de causar a ruptura do nexo causal entre a atividade e o dano. Já a teoria do risco integral demonstra-se demasiadamente punitiva, uma vez que abre mão da existência do nexo causal entre uma conduta e os danos provocados, sendo capaz de provocar uma sobrecarga e, conseqüentemente, profundas irritações (Niklas Luhmann) no sistema econômico a partir de uma exacerbada insegurança jurídica ao empreendedor acerca de suas possíveis responsabilizações. De fato, a exigência realizada pelo próprio texto legal ressalta a importância do nexo causal enquanto pressuposto do dever de indenização. Com efeito, admitir a prescindibilidade da relação de causalidade ensejaria também admitir que todo e qualquer dano, relacionado ou não com a conduta do agente poluidor, deveria ele ser atribuída. 62 Não parece ser esta a orientação mais consentânea com os ideais de razoabilidade e de justiça, pois se chegaria ao extremo de afastar condições processuais indispensáveis para o reconhecimento da relação jurídica reparatória, como a legitimidade passiva, além desestimular e comprometer a interação normal e necessária entre o homem e o ambiente visando assegurar sua sobrevivência. Consolidando a visão dessa vertente, conclui Mukai (2012, p. 8): (...) da mesma forma que em relação ao Estado, há que haver um nexo causal entre o dano e uma ação do funcionário, nessa qualidade, para que aquele seja responsabilizado pelo dano, aqui também há que ficar configurado o nexo causal entre o dano ambiental e a terceiros, e o poluidor, por sua atividade. Assim, não há falar em responsabilidade de um eventual “poluidor”, se houve ação de terceiros na causa do dano ambiental, vítima ou não, e, evidentemente, nesse rol, ainda está o caso fortuito (evento causado pela ação humana de terceiros) e a força maior (evento causado pela natureza). Conclusões: à semelhança do que ocorre no âmbito da responsabilidade objetiva do Estado, é que, no Direito positivo pátrio, a responsabilidade objetiva por danos ambientais é o da modalidade do risco criado (admitindo as excludentes da culpa da vítima ou terceiros, da força maior de do caso fortuito) e não a do risco integral (que inadmite excludentes), nos exatos e expressos termos do § 1º do art. 14 da Lei n.º 6.938/81, que, como vimos, somente empenha a responsabilidade de alguém por danos ambientais, se ficar comprovada a ação efetiva (atividade) desse alguém, direta ou indiretamente na causação do dano (grifo nosso). Apesar de vigorosas defesas em favor da teoria do risco criado, Leite e Ayala (2011, p. 201) advertem que a tendência observada no âmbito da doutrina majoritária é a de acolher a teoria do risco integral e, por conseguinte, não se aceitar o caso fortuito e a força maior enquanto excludentes de responsabilidade do dano ambiental. 2.5 OMISSÃO E A RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR DANOS AMBIENTAIS Ao lado da Constituição Federal, um dos principais instrumentos normativos de proteção ao meio ambiente consubstancia-se na Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que regulamenta a Política Nacional do Meio Ambiente. Ao discorrer sobre a autoria do dano ambiental, o art. 3º, inciso IV, do referido diploma legal preceitua que as pessoas jurídicas de direito público, sempre que contribuam direta ou indiretamente para o prejuízo ao meio ambiente, também se incluirão no conceito de poluidor. Outra relevante norma da Lei nº 6.938/81 relacionada à figura do poluidor é § 1º do art. 14, que diz respeito à responsabilidade objetiva imputável nos danos ambientais: 63 Art. 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: (...) IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental; (...) Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores: (...) § 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente. A leitura conjunta desses dois enunciados normativos acarreta duas importantes constatações. A primeira delas relaciona-se com a inevitável conclusão de que toda vez que o Poder Público agir ativamente como agente poluidor, ou seja, provocar dano ambiental por meio de condutas comissivas, haverá incidência da responsabilidade objetiva. Tal afirmação vai ao encontro da responsabilidade objetiva ordinariamente prevista no art. 37, § 6º, da Constituição, havendo plena harmonia entre as regulamentações trazidas pela Carta de 1988 e pela Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Nada obstante, na omissão estatal tocante à obrigação constitucional de proteger o meio ambiente, notadamente na ocorrência de falhas no poder-dever de fiscalização ambiental, infere-se, como segunda constatação, pela existência de conflito entre o texto constitucional e a Lei nº 6.938/81, já que para os danos ocasionados por condutas omissivas a orientação constitucional predominante indica a incidência da responsabilidade subjetiva do Estado. Isto se deve ao caráter aberto da definição de “poluidor” trazido pela Lei nº 6.938/81, revelado, sobretudo, pelo advérbio “indiretamente”, que permite ao intérprete incluir a omissão administrativa como causa prejuízo ambiental e, com isso, sustentar que em matéria de danos ambientais, sejam estes decorrentes da ação ou da omissão das pessoas jurídicas de direito público, dar-se-á aplicação à responsabilidade objetiva. Desse cenário, despontam duas regras que ensejam consequências jurídicas distintas para a problemática da responsabilidade ambiental do Poder Público por omissão: uma, a favor da responsabilidade subjetiva, com fundamento constitucional direto – art. 37, § 6º, da 64 CF 20 – e a outra, a favor da responsabilidade objetiva, com fundamento infraconstitucional – arts. 3º, IV, e 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81 21. Esta divergência normativa não passou despercebida pela doutrina e pela jurisprudência. No entendimento esposado por Zockun (2006, p. 86/87), o art. 37, § 6º, da Constituição Federal representa o ponto de partida e de chegada da responsabilização dos entes públicos, constituindo o único e exclusivo fundamento de validade da Responsabilidade Civil do Estado. Sendo assim, arremata a autora, a legislação infraconstitucional não poderá dispor de forma diversa do Texto Magno, imputando ao Estado outra forma de responsabilização extracontratual, ao risco de se subverter a primazia de que goza a norma constitucional na pirâmide hierárquica proposta por Kelsen. Silva (2011, p. 324), apesar de aderir formalmente à corrente favorável à aplicação da responsabilidade objetiva aos danos ambientais oriundos de condutas omissivas do Estado, demonstra que a controvérsia ainda não está pacificada: Disso decorre outro princípio, qual seja: o de que à responsabilidade por dano ambiental se aplicam as regras da solidariedade entre os responsáveis, podendo a reparação ser exigida de todos e de qualquer um dos responsáveis. Há até quem sustente que o Estado também é solidariamente responsável, podendo a ação dirigirse contra ele, que, depois de reparar a lesão, poderá identificar e demandar regressivamente os poluidores (Ferraz, Milaré, Nery Jr., Mancuso). Mas Helli Alves Oliveira pondera que o art. 37, § 6º, da Constituição só admite a responsabilidade objetiva de pessoas jurídicas de Direito Público por danos causados por seus agentes, nessa qualidade. Portanto, sua responsabilidade por dano de terceiros funda-se na culpa. Só quando ocorra omissão, negligência, imperícia, provadas, em relação à atividade causadora do dando ficam elas responsáveis pela sua reparação. 20 Art. 37. (omissis) (...) § 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. 21 Art. 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: (...) IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental; (...) Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores: (...) § 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente. 65 Torna-se, no entanto, complicado defender essa posição diante da cláusula constitucional que impõe ao Poder Público o dever de defender o meio ambiente e de preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Mas a questão merece reflexão mais detida, que não cabe aqui. A defesa mais veemente a favor da objetivação da Responsabilidade Civil do Estado nessas hipóteses vem da jurisprudência, especialmente de recentes posicionamentos tomados pelo Superior Tribunal de Justiça. Ilustrando um desses pronunciamentos, consignou o STJ no Recurso Especial 1071741/SP, relatado pelo Ministro Herman Benjamin, o que segue: Ordinariamente, a responsabilidade civil do Estado, por omissão, é subjetiva ou por culpa, regime comum ou geral esse que, assentado no art. 37 da Constituição Federal, enfrenta duas exceções principais. Primeiro, quando a responsabilização objetiva do ente público decorrer de expressa previsão legal, em microssistema especial, como na proteção ao meio ambiente (Lei 6.938/81, art. 3º, IV, c/c art. 14, § 1º). Segundo, quando as circunstâncias indicarem a presença de um standard ou dever de ação estatal mais rigoroso do que aquele que jorra, consoante construção doutrinária e jurisprudência, do texto constitucional. O poder-dever de controle e fiscalização ambiental (= poder-dever de implementação), além de inerente ao exercício do poder de polícia do Estado, provém diretamente do marco constitucional de garantia dos processos ecológicos essenciais (em especial os arts. 225, 23, VI e VII, e 170, VI) e da legislação, sobretudo, da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/81, arts. 2º, I e V, e 6º) e da Lei 9.605/1998 (Lei dos Crimes e Ilícitos Administrativos contra o Meio Ambiente). (STJ, Recurso Especial 1071741 / SP, Segunda Turma, Relator Ministro Herman Benjamin, Data do Julgamento: 24/03/2009, DJe 16/12/2010). De acordo com o acórdão acima, dois argumentos justificam o rompimento com o paradigma constitucional enunciado pelo § 6º do art. 37. O primeiro se relaciona com a existência de marcos regulatórios de proteção ambiental previstos pelo art. 23, incisos VI e VII 22, art. 170, inciso VI23, e art. 225 24 da própria Constituição Federal, que a despeito de não apontarem expressamente a responsabilidade objetiva como o modelo vigente para os danos ambientais causados pela omissão estatal, servem de fundamento para concepção de microssistemas especiais que 22 Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: (...) VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; VII - preservar as florestas, a fauna e a flora; 23 Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: (…) VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação; 24 Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações. 66 enrijecem o regime de responsabilização do Poder Público no campo ambiental, a exemplo da Lei nº 6.938/81. No segundo argumento apresentado, defende o STJ que mesmo na ausência de normatização constitucional ou legal expressa, a responsabilidade objetiva surgirá por força tão somente da ponderação das circunstâncias concretas que envolvem o nascedouro do dano ambiental. Os fundamentos invocados pela jurisprudência para convalidar a responsabilidade objetiva do Estado põem em perspectiva dois temas subjacentes ao principal propósito deste trabalho, que é o de perquirir qual o efetivo regime de responsabilidade dos entes públicos por danos decorrentes da omissão quanto ao poder-dever de fiscalização ao meio ambiente. A aparente divergência entre o art. 37, § 6º, da Constituição e o art. 3º, IV, c/c art. 14, § 1º, da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente propõe a configuração de uma antinomia jurídica, uma vez que coexistem duas diferentes respostas para a problemática da Responsabilidade Civil do Estado por omissão, ambas vigentes e pertencentes ao mesmo ordenamento jurídico. A preponderância da norma especial ordinária frente à norma geral constitucional, consoante opção feita pelo STJ, é um dos objetos de estudo do tema pertinente às antinomias, que aqui merece ser melhor explorado com a finalidade de investigar se, diante do princípio da primazia do texto constitucional, é possível instituir-se um regime de exceção ao previsto na Carta de 1988 por meio de lei ordinária. Ademais, cumpre ainda indagar se na construção jurisdicional do STJ sobre o tema da responsabilização estatal, existe apego e fundamento em orientações normativas expressas para eleger a responsabilidade objetiva como regra para as condutas omissivas do Poder Público ou há indícios da influência do ativismo judicial nesses precedentes. 67 3 RESPONSABILIDADE SUBJETIVA X RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR DANOS AMBIENTAIS: UMA ANÁLISE À LUZ DA TEORIA GERAL DAS ANTINOMIAS JURÍDICAS Uma das mais atuais e polêmicas questões envolvendo a Responsabilidade Civil da Administração Pública diz respeito ao regime de responsabilização a ser aplicado aos danos ambientais decorrentes de condutas estatais omissivas. Na raiz de tal discussão, encontra-se a aparente divergência instaurada entre o art. 37, § 6º, da Constituição Federal 25 e o art. 3º, IV, c/c art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81 26, no que tange ao tratamento jurídico conferido à Responsabilidade Civil por omissão do Estado. Segundo a mencionada norma constitucional, haverá incidência da responsabilidade subjetiva – que se caracteriza pela averiguação do dolo e culpa como condição para instaurar o dever de indenizar – toda vez o dano verificado, qualquer que seja a sua natureza, derivar de uma omissão do Poder Público. Já de acordo com a Lei nº 6.938/81, a Responsabilidade Civil por danos ambientais será sempre objetiva – dispensando, assim, a comprovação do dolo ou da culpa do poluidor –, seja esse dano decorrente da ação ou omissão de particulares ou da Administração. Com efeito, enquanto que para a ordem constitucional em vigor, a Responsabilidade Civil do Estado por omissão, em uma visão geral, seguirá o regime da responsabilidade subjetiva, para a Lei nº 6.938/8, especificamente no tocante aos danos ambientais, a Responsabilidade Civil do Estado por omissão será objetiva. O panorama trazido pelo problema acima – que se traduz, em suma, na incompatibilidade entre uma lei geral superior (a Constituição Federal) e uma lei especial inferior (a Lei nº 6.938/81) – induz à conclusão pela existência de uma antinomia jurídica, 25 Art. 37. (omissis)(...) § 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. 26 Art. 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: (...) IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental; (...) Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores: (...) § 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente. 68 representada pela conflituosidade entre os diversos regimes vigentes de responsabilização por condutas danosas omissivas do Estado. A partir do cenário ora apresentado, este Terceiro Capítulo buscará propor uma resposta para o impasse observado entre a Constituição Federal e a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente quanto à modalidade de responsabilização cabível em relação aos danos ambientais gerados por condutas omissivas da Administração Pública, analisando, com esse intuito, o que é uma antinomia jurídica, qual a natureza ou espécie de antinomia verificada no problema ora estudado, quais os critérios indicados pela doutrina para solucioná-la e, finalmente, se diante do princípio da supremacia do texto constitucional, é possível que a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente institua um regime especial de exceção às previsões encartadas no art. 37, § 6º, da atual Constituição, tal como decidiu o STJ no julgamento do Resp 1071741/SP, transcrito ao final do capítulo anterior. 3.1 SISTEMA JURÍDICO E O PROBLEMA DA COERÊNCIA SEGUNDO NOBERTO BOBBIO O Direito é uma realidade mutante e complexa. Mutante, pois a cada momento suas fontes formais e materiais alteram sua estrutura e seu conteúdo, adequando-o aos novos rumos ditados pelos valores sociais, pela ideologia dominante ou por conveniências políticas. Essa pluralidade de fontes também dá origem a uma pluralidade de normas, as quais, enquanto vigentes, estão em um constante e recíproco relacionamento. Por conseguinte, o Direito é igualmente complexo, por não se perfazer por uma única norma, mas por um conjunto de normas que interagem entre si para regular a vida em sociedade, compondo, dessa maneira, um ordenamento. Esta regulamentação a que o Direito se propõe não seria viável se as normas que o integram não apresentassem um mínimo de harmonia, pois a contradição normativa minaria a segurança e a estabilidade buscadas através das relações jurídicas. Assim, uma das principais condições para a funcionalidade do ordenamento jurídico é a coerência entre suas normas. Poucos autores trabalharam com tanta maestria a questão da coerência do ordenamento jurídico como Bobbio em sua obra clássica “Teoria do Ordenamento Jurídico”. Segundo Bobbio (2011, p. 71), é justamente a presença dessa condição (a coerência) que permitirá ao ordenamento ser qualificado como sistema, isto é, como uma “totalidade 69 ordenada”, onde impera uma relação de harmonia e adequação entre as normas que o compõe e com o próprio ordenamento do qual fazem parte. Ordenamento jurídico, nesses termos, seria sinônimo de sistema quando nele não existirem normas incompatíveis. Nem sempre, porém, essa coerência se fará presente. Casos há em que será perfeitamente possível encontrar, no mesmo ordenamento, duas ou mais normas legítimas do ponto de vista formal – porque produzidas dentro de um processo legislativo válido e emanadas de autoridades competentes para tanto –, mas contraditórias no que concerne ao seu conteúdo. Para admitir a existência de duas normas válidas, porém contraditórias, dentro do mesmo ordenamento jurídico, Bobbio (2011, p. 71/74), adota a classificação kelseniana que divide o ordenamento entre dois tipos de sistemas: estático e dinâmico. No sistema estático, as normas se relacionariam entre si através de um critério material, ou seja, pelo seu conteúdo, de forma que uma norma nova seria simplesmente deduzida ou extraída do conteúdo de outra norma prévia. Nesse primeiro caso, estariam situados os ordenamentos puramente morais. No sistema dinâmico, as normas se relacionariam entre si através de um critério formal, onde as normas novas surgem de uma delegação de poder e cujo relacionamento tem por parâmetro a autoridade legislativa que as produziu. Nesse segundo caso, estariam situados os ordenamento jurídicos. São, portanto, os sistemas dinâmicos que permitem a existência de normas válidas do ponto de vista meramente formal, mas, eventualmente, contraditórias no seu conteúdo, pois a relação existente entre essas normas e o ordenamento jurídico, diversamente do que ocorre nos sistemas estáticos, não se estabelece por um critério material. A legitimidade formal que marca as normas situadas nos sistemas dinâmicos não exclui a necessidade de haver compatibilidade no que toca ao conteúdo dessas mesmas normas. Nesse contexto, a fim de continuar a ostentar o rótulo de sistema, o ordenamento jurídico se guiará pelo princípio da exclusão das incompatibilidades normativas. Em outras palavras, ocorrendo oposição entre duas normas, a solução será eliminar uma das (ou as duas) normas em contradição, com a finalidade de preservar a harmonia exigida para que determinado ordenamento jurídico seja considerado um sistema. A incompatibilidade de normas formalmente válidas e pertencentes a um mesmo ordenamento jurídico constitui o fenômeno conhecido como antinomia e dá lugar ao 70 surgimento da célebre frase em que Bobbio (2011, p. 81) assevera que “o Direito não tolera antinomias”. Com efeito, a antinomia jurídica se traduz no conflito entre duas regras, entre dois princípios, ou mesmo entre um princípio geral e uma regra, todos válidos e integrantes de um mesmo ordenamento jurídico, mas que conduzem a uma indecisão sobre qual deles há de prevalecer no caso concreto, já que, sendo as soluções propostas incompatíveis entre si, a opção por uma levará à violação da outra. Com já foi dito, caso seja constatada a coexistência de duas normas contraditórias entre si, uma delas, ou até mesmo as duas, deverão ser, em regra, eliminadas, a fim de se garantir a harmonia do sistema. Isto não quer dizer que a presença da antinomia nessas circunstâncias descaracterizará totalmente o ordenamento enquanto sistema, visto que a incompatibilidade verificada afetará apenas a validade das normas em conflito e não o ordenamento como um todo. Nesses termos, mais do que um exigência voltada para o ordenamento, a coerência é uma condição voltada para partes isoladas do conjunto de normas jurídicas, sem comprometêlo como um todo. Outrossim, é importante salientar que a exata compreensão do problema das antinomias e da sua correlação com o dever de coerência do ordenamento jurídico será essencial ao enfrentamento e à solução do impasse gerado entre a responsabilidade objetiva da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente e a responsabilidade subjetiva preceituada pela Constituição Federal. 3.2 REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DAS ANTINOMIAS E SUAS CLASSIFICAÇÕES Uma vez visto que as antinomias jurídicas encerram a noção de incompatibilidade ou de contrariedade entre normas de um mesmo ordenamento, uma indagação é inevitável: quando duas normas podem ser consideradas contraditórias? Tradicionalmente, a compreensão do que seja contradição em matéria de antinomias jurídicas ocorre no plano meramente abstrato, ou seja, através estritamente do exame de enunciados normativos e não de casos concretos, já que normalmente as antinomias são identificadas apenas no âmbito de proposições normativas que apresentam sanções ou consequências distintas – e, por isso mesmo, incompatíveis – para o mesmo comportamento. 71 Mas, como adverte Costa (2001, p. 81), o problema das antinomias não se limita somente ao seu sentido lógico, que se apresenta quando “há intercessão pelo menos parcial dos elementos descritivos presentes em hipóteses normativas de regras cujos funtores são incompatíveis (contrários ou contraditórios)”. Com efeito, a antinomias ultrapassam a mera incompatibilidade abstrata proporcionada pelo dever ser próprio das normas jurídicas, para também emergirem em face de casos concretos, dando origem às chamadas antinomias pragmáticas. Nesse cenário, as antinomias pragmáticas são as que derivam de um conflito de fato, do qual decorre a impossibilidade de se cumprir simultaneamente dois ou mais comandos que, embora, diferentes não são semanticamente opostos. Em outros termos, enquanto nas antinomias lógicas o conflito se encontra no patamar dos enunciados normativos, caracterizando-se por proposições que se opõe sob o aspecto semântico (“se A deve ser Z” x “se A deve ser –Z”), nas antinomias pragmáticas o conflito relaciona-se com dúvida quanto à escolha da norma que regerá o caso concreto em face da possibilidade de aplicação de duas ou mais normas de conteúdo material diverso, mas não necessariamente contrários quanto à sua significação (“se A deve ser Z” x “se B deve ser C”), posto que ausente a intercessão entre as hipóteses normativas em questão. A distinção entre antinomias lógicas e antinomias pragmáticas é um elemento relevante para caracterizar o âmbito de incidência dos conflitos envolvendo as antinomias jurídicas e definir a abordagem conceitual que orientará este trabalho, que se centrará no exame das antinomias jurídicas lógicas. Nessa diretriz, sendo a norma o resultado do dever ser imposto à sociedade ou almejado por ela, a contrariedade que caracteriza a antinomia será extraída a partir dos diferentes graus e sentidos de coercitividade das hipóteses previstas nas normas cotejadas. Ao se falar em coercitividade, tem-se em vista normas que obrigam, normas que proíbem e normas que permitem determinada conduta. Contrapondo-se uma norma que obrigue a adoção de uma conduta com outra que proíbe a mesma conduta anterior, estará evidenciada a contradição entre ambos, em razão da impossibilidade de ambas serem concomitante válidas, ou seja, de se cumprir uma sem se descumprir a outra. É o caso, por exemplo, da norma que determina ser obrigatória a vacinação de crianças de até cinco anos contra a paralisia infantil e de outra que proíba a vacinação de crianças de até cinco anos contra a paralisia infantil. O mesmo raciocínio é válido para a oposição entre a norma que obriga e a norma que permite (no sentido de se exercer uma permissão negativa), assim como entre a norma que 72 proíbe e a norma que permite (no sentido de uma permissão positiva). Em mais uma ilustração, cite-se a norma que obrigue médicos a se vestirem somente em trajes brancos dentro de hospitais e outra que permita aos médicos não se vestirem somente de branco dentro dos hospitais (hipótese de oposição entre norma obrigatória e norma permissiva negativa) ou a norma que proíba a entrada de animais em um determinado espaço público e de outra que permita a entrada de animais neste mesmo espaço público (hipótese de oposição entre a norma proibitiva e a norma permissiva positiva). Mas a mera existência de contrariedade não dará azo automaticamente à antinomia. Além da divergência quanto ao conteúdo das normas, outros dois requisitos são necessários à configuração da antinomia: o pertencimento das normas em contradição a um mesmo ordenamento jurídico e sua coexistência no mesmo plano de validade. Isto implica dizer que uma norma da Constituição francesa que proíba a prática da conduta “X” e outra norma presente em um lei ordinária brasileira que permita a prática dessa mesma conduta “X” não serão consideradas antagônicas, pois pertencentes a diferentes ordenamentos normativos. Nesse caso, a observância de uma dessas normas não implicará no descumprimento da outra. Quanto ao plano de validade, as normas comparadas devem guardar a mesma correlação quanto aos aspectos temporal, material, pessoal e territorial para deflagrar a contradição, a qual inexistirá, por exemplo, quando uma norma sanitária que proíba a comercialização de um medicamento “X” e outra que permita a comercialização de um medicamento “Y” (não atendimento do aspecto material), ou quando uma norma proíba a circulação de veículos automotores pesados no centro da cidade entre 9 da manhã à 1 da tarde e outra que permita o tráfego desses mesmos veículos no centro da cidade entre 6 da tarde até às 5 horas da manhã do dia seguinte (não atendimento do aspecto temporal). Com isso, apenas quando a contrariedade estiver associada à presença destes dois outros requisitos, estar-se-á diante de uma antinomia jurídica. Vistas principais características das antinomias, é interessante destacar, ainda que de modo perfunctório, as diversas classificações que esta categoria jurídica usualmente recebe. Quanto às regras indicadas para solucionar as antinomias jurídicas, será considerada aparente a antinomia que encontrar no ordenamento jurídico em vigor normas para desfazê-la e indicar a norma prevalecente meio àquelas que se encontrem em conflito. Constitui exemplo de antinomia aparente aquelas que podem ser resolvidas através do critério temporal, 73 expressamente situado no art. 2º, § 1º, do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro) 27. Seguindo esse mesmo elemento classificador, será considerada real a antinomia que não dispõe de mecanismos de superação previstos em um dado ordenamento, tornando impossível sua resolução. Nesse mesmo caminho, Ferraz Júnior (1994, p. 211), salienta que a oposição ostentada pela antinomia real coloca o “sujeito numa posição insustentável pela ausência ou inconsistência de critérios aptos a permitir-lhe uma saída nos quadros de um ordenamento dado”. No que tange ao âmbito de validade, as antinomias serão do tipo: i) total-total, quando nenhuma das normas em conflito poderá ser aplicada em sua integralidade, sem com isso infringir, também integralmente, a norma oposta; ii) parcial-parcial, quando o conflito atingir apenas uma parte das normas cotejas, restando outra parcela dessas mesmas normas onde não subsiste a antinomia e iii) total-parcial, quando a primeira norma não poderá ser aplicada por evidenciar integral conflito com a segunda norma, que por sua vez, apenas em parte conflita com a primeira, apresentando campo de aplicação sem antinomias. Outra classificação bastante relevante refere-se à diferenciação entre antinomia própria e imprópria. Fala-se em antinomia própria quando uma norma obriga e outra proíbe, ou uma norma obriga e a outra permite, ou ainda quando uma norma permite e outra proíbe uma certa conduta, tornando extremamente patente a contradição normativa. Daí, inexoravelmente, uma delas há de ser afastada, segundo os critérios de solução de antinomias, os quais serão visto mais adiante. Por seu turno, quando se fala em antinomia imprópria ou imanente, tais assertivas tornam-se bastante mitigadas, porque neste caso a contradição entre as normas não residirá no seu enunciado objetivamente considerado, mas no conteúdo axiológico dos comandos normativos. Assim, enquanto a antinomia própria encerra um antagonismo direto e explícito entre duas normas (ex. norma de proibição x norma permissiva), a antinomia imprópria traz consigo contradições mais amenas, percebidas mesmo quando as duas normas comparadas permitem ou vedem uma mesma conduta específica, situação que pode ser detectada em pequenos 27 Art. 2º. (omissis) § 1o A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. 74 fragmentos do enunciado – e não na norma como um todo –, nas bases principiológicas e ou nas finalidades das normas conflitantes. Na classificação adotada por Diniz (2011, p. 503), a antinomia imprópria ramifica-se em três espécies: i) na antinomia de princípios, caracterizada pelo conflito entre as proposições mais basilares do ordenamento, que findam por tutelar valores opostos; ii) na antinomia valorativa, observada “no caso do legislador não ser fiel a uma valoração por ele próprio estabelecida”, graduando-se, ora para mais, ora para menos, uma mesma consequência ou sanção prescrita em duas diferentes normas que regulam casos idênticos e iii) na antinomia teleológica, “se se apresentar incompatibilidade entre os fins propostos por certa norma e os meios previstos por outra para a consecução daqueles fins”. Como o nome indica, a antinomia imprópria não apresenta o conflito clássico atinente às normas em contradição. Isto se deve ao fato de que invariavelmente (embora tal situação não seja sempre verdadeira), as normas opostas, na hipótese da antinomia imprópria, não se excluirão mutuamente. Ademais, a sutileza do conflito decorrente da antinomia imprópria está mais diretamente ligada a aspectos axiológicos de conteúdo normativo, invocando oposições de natureza mais ideológicas e voltadas a questões de equidade. 3.3 ANTINOMIAS JURÍDICAS IMPRÓPRIAS As peculiaridades que envolvem o estudo das antinomias jurídicas impróprias merecem ser mais aprofundadas, pois o enfrentamento prévio de tal tema – como se verá mais a adiante no item 3.6 deste Capítulo – será fundamental para o correto enquadramento da espécie antinômica de que se trata o conflito entre a responsabilidade objetiva encartada no art. 3º, IV, c/c art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81 e a responsabilidade subjetiva do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. De início, há de se ressaltar que a característica mais acentuada das antinomias impróprias está no seu distanciamento da noção clássica de incompatibilidade normativa bobbiniana, na medida em que, na referida hipótese, não é possível se verificar uma contrariedade entre: i) uma norma que ordena fazer algo e uma norma que proíbe de fazê-lo; ii) uma norma que ordena fazer e uma que permite não fazer e iii) uma norma que proíbe fazer e uma que permite fazer. 75 O próprio Bobbio (2010, p. 89) reafirma essa particularidade observada em relação às antinomias impróprias: Ao lado do significado aqui exposto de antinomia como situação produzida pelo encontro de duas normas incompatíveis, fala-se, na linguagem jurídica, de antinomias como referências a outras situações. Limitamo-nos a enumerar outros significados de antinomia, lembrando, porém, que o problema clássico das antinomias jurídicas é aquele que temos explanado até aqui. Para distingui-las, vamos chamá-las de antinomias impróprias. Estabelecida a premissa acima, quais situações normativas podem, então, ostentar a qualificação de antinomia imprópria? Para Ferraz Júnior (2012, p. 180), as antinomias impróprias são identificadas pelo conteúdo material dos enunciados normativos, os quais dão ensejo a conflitos instaurados entre o comando extraído da norma e a consciência ou juízo de valor particular de seu operador, excluindo, com isso, a indecisibilidade que as antinomias próprias colocam ao intérprete, pois nada impede que este aja de acordo com o que é determinado pelo relato normativo. Nesses termos, segundo este mesmo autor, as antinomias impróprias sequer podem ser consideradas como antinomias aparentes: Chamam-se antinomias próprias aquelas que ocorrem por motivos formais (por exemplo, uma norma permite o que outra obriga), e são impróprias as que se dão em virtude do conteúdo material das normas. Entre estas, incluem-se as antinomias de princípios (quando as normas de um ordenamento protegem valores opostos, como liberdade e segurança), antinomias de valoração (quando, por exemplo, atribui-se pena mais leve para um delito mais grave), antinomias teleológicas (quando há incompatibilidade entre os fins propostos por certas normas e os meios propostos por outras para a consecução daqueles fins). Nesses casos, a antinomia é imprópria porque nada impede o sujeito de agir conforme as normas, ainda que, em virtude de um juízo particular de valor, ele não concorde com elas. Ou seja, não se cogita, nesses casos, sequer de antinomia aparente, pois neste o sujeito fica numa situação em que tem de optar e sua opção por uma norma implica a desobediência de outra, devendo recorrer a regras para sair da situação. Nas antinomias impróprias, conflito é mais entre o comando estabelecido e a consciência do aplicador, aproximando-se a noção de antinomia imprópria da noção de lacunas políticas ou de lege ferenda. Das lições trazidas acima, tem-se que as antinomias impróprias, apesar de não exprimirem uma contrariedade normativa ostensiva, consubstanciam, do ponto de vista científico, uma categoria jurídica relevante e de inegável utilidade para qualificar – e até solucionar – questões diversas afetas ao Direito. 76 3.4 CRITÉRIOS PARA RESOLUÇÃO DAS ANTINOMIAS Se o ordenamento jurídico tem como pressuposição a ideia de coerência, uma vez identificada a antinomia, a pergunta que naturalmente se segue é como resolvê-la. Para isso, são utilizadas determinadas regras ou critérios para definir qual das normas em oposição terá predominância no caso concreto, eliminando a outra norma com ela incompatível: critério hierárquico (lex superior derogat inferiori), cronológico (lex posterior derrogat priori) e da especialidade (lex especialis derogat generali). O critério da hierarquia reporta-se à ideia de organização formal do sistema jurídico, onde o fundamento de validade de uma norma inferior encontra-se na norma que lhe for hierarquicamente superior. Como não poderia deixar de ser, o critério hierárquico amolda-se perfeitamente à hodierna centralização da Constituição enquanto vértice máximo do sistema jurídico e enquanto fundamento de validade das demais normas que o compõe, quadro do qual se extrai o princípio da supremacia ou primazia das normas constitucionais. O critério cronológico é aquele que confere prevalência à norma de vigência mais recente, toda vez que instaurado um conflito entre normas de mesma hierarquia. O critério da especialidade toma em conta o conteúdo das normas em conflito, solucionando-o em favor da mais específica. Tal critério é centrado no princípio da isonomia e nele encontra sua razão de ser. Assim, a escolha da norma mais específica se justificaria como medida de justiça para os sujeitos em situação de desigualdade amparados por essa norma. Em outras palavras, a prevalência da norma especial se deve ao fato da mesma conferir uma tutela mais adequada, apropriada às particularidades de sujeitos que não se enquadram perfeitamente no objeto na norma geral. Cuida-se, em suma, da aplicação do princípio da isonomia, que recomenda que os iguais sejam tratados de maneira igual (situação que dá ensejo à aplicação da norma geral) e que os desiguais sejam tratados de maneira desigual, na medida de sua desigualdade (situação que dá ensejo à aplicação da norma especial). 77 3.5 INSUFICIÊNCIA DOS CRITÉRIOS E ANTINOMIAS DE SEGUNDO GRAU Embora os critérios mencionados anteriormente detenham grande importância na superação da dificuldade que decorre das antinomias, há casos em que os mesmos não são serão suficientes para dizimar a contrariedade entre normas. Uma ilustração comum dessa situação ocorre quando as normas conflitantes são, ao mesmo tempo, contemporâneas (o que elimina a sucessividade que permitiria aplicação do critério cronológico), pertencentes ao mesmo patamar hierárquico (o que afastaria a aplicação do critério hierárquico, ante a ausência de norma que possa considerada superior àquela com a qual conflita) e com mesmo grau de generalidade (inexistiria, portanto, a especialidade apta a ensejar o critério da lex especialis). Na hipótese acima, não há espaço para a aplicação de nenhum dos critérios tradicionalmente indicados para a resolução das antinomias. São, como assinalado nos tópicos pretéritos, as chamadas antinomias reais. Contudo, também há casos onde mais de um critério de resolução é possível de ser empregado. Nestas situações, é comum se observar que, além do conflito normativo, surge também o conflito entre os próprios critérios que deveriam servir de base para a resolução das antinomias Assim, a incompatibilidade se faz presente tanto no plano normativo (antinomia de primeiro grau), quanto no plano dos critérios de resolução (antinomia de segundo grau). Um dos exemplos de antinomia de segundo grau citados por Bobbio (2011, p. 106) verifica-se em relação à incompatibilidade entre uma norma constitucional anterior e uma norma ordinária posterior. Na hipótese colocada pelo ilustre doutrinador italiano, a incidência dos critérios hierárquico e cronológico será concomitante. Mas o dever de coerência ínsito ao ordenamento jurídico que busque ser reconhecido enquanto sistema também afeta os critérios para resolução das antinomias, que também não poderão sustentar qualquer tipo de contradição. Por decorrência lógica, para sanar este impasse, um dos critérios terá de ser sacrificado para dar prevalência ao outro. Mas qual deles há de prevalecer? A fim de dirimir as antinomias de segundo grau, são estabelecidos metacritérios, ou seja, parâmetros indicados pela doutrina para o uso dos critérios tradicionais de solução de antinomias. São também denominados “critérios dos critérios”, pois consubstanciam regras relativas às regras de resolução das incompatibilidades normativas. 78 Nesse sentido, os metacritérios são os seguintes: a) prevalência do critério hierárquico sobre o cronológico e b) prevalência do critério da especialidade sobre o cronológico. Como facilmente se nota, a fragilidade do critério cronológico sempre cederá lugar aos demais critérios com ele em conflito. Na primeira hipótese, isso ocorre porque a validade e a aplicabilidade do critério cronológico estão condicionadas à incompatibilidade entre normas jurídicas que estejam no mesmo plano hierárquico. Não se verificando tais condições, a norma hierarquicamente superior sempre prevalecerá em face daquela que lhe for inferior, embora superveniente. Na segunda hipótese, a prevalência da norma especial decorre da necessidade de se preservar uma tutela jurídica própria para situações pontuais que podem vir a sofrer um tratamento injusto, ou que acentue sua condição de desigualdade, se lhes for aplicada a norma superveniente, porém geral. O único conflito onde inexiste uma regra objetiva para sua resolução é o pertinente aos critérios da especialidade e da hierárquica. À primeira vista, a saída tecnicamente mais adequada para esse conflito estaria no reconhecimento da preponderância do critério hierárquico, especialmente em casos envolvendo contraposição entre a Constituição, vértice dos ordenamentos dinâmicos, e as demais normas especiais infraconstitucionais. Na prática, essa solução pode se mostrar muitas vezes falha porque, desprezando as razões de ordem fáticas e as particularidades da tutela que motivaram a edição da lei especial, é possível se propiciar o surgimento de situações injustas, repudiadas pelo direito e pela moral. De fato, os conflitos entre uma norma superior geral e uma norma inferior especial são os que trazem uma maior carga de subjetividade na sua resolução e por isso se apresentam como os de maior dificuldade teórica para fixação de uma saída generalizada e absoluta. Isto porque a noção de justiça – conceito aberto, apto a expor diferentes soluções a depender do caso concreto – é que servirá de guia para o desfazimento do impasse quanto à aplicação do critério hierárquico ou da especialidade. Nessa linha de pensamento, Diniz (2011, p. 507-508), acertadamente, assevera que No conflito entre o critério hierárquico e o da especialidade, havendo uma norma superior-geral e outra inferior-especial, não será possível estabelecer uma metarregra geral dando prevalência ao critério hierárquico, ou vice-versa, sem contrariar a adaptabilidade do direito. Poder-se-á, então, preferir qualquer um dos critérios, não exisitindo, portanto, qualquer predominância de um sobre o outro. Todavia, segundo 79 Bobbio, dever-se-á optar, teoricamente, pelo hierárquico, uma lei constitucional geral deverá prevalecer sobre uma lei ordinária especial, pois se se admitisse o princípio de que uma lei ordinária especial pudesse derrogar normas constitucionais, os princípios fundamentais do ordenamento jurídico estariam destinados a esvaziarse, rapidamente, de seu conteúdo. Mas, na prática, a exigência de se aplicarem as normas gerais de uma Constituição a situações novas levaria, às vezes, a aplicação de uma lei especial, ainda que ordinária, sobre a Constituição. A supremacia do critério de especialidade só se justificaria, nessa hipótese, a partir do mais alto princípio da justiça: suum cuique tribuere, baseado na interpretação de que “o que é igual deve ser tratado como igual e o que é diferente, de maneira diferente”. Em caso extremo de falta de um critério que possa resolver a antinomia de segundo grau, o critério dos critérios para solucionar o conflito normativo seria o do princípio supremo da justiça: entre duas normas incompatíveis, dever-se-á escolher a mais justa. Com efeito, apenas analisando-se as minúcias presentes em cada caso concreto – e considerando, sobretudo, a equidade demandada pela questão – poder-se-á definir a qual critério conflitante urge ser dada preponderância. 3.6 CONSTITUIÇÃO FEDERAL X LEI DA POLÍTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE: UM CASO DE ANTINOMIA IMPRÓPRIA VALORATIVA Após a breve revisão sobre a teoria geral das antinomias jurídicas feita nos tópicos anteriores, cumpre agora ser analisado qual dos tipos de antinomia se aplica ao conflito entre a responsabilidade subjetiva prevista no art. 37. §6º, da Constituição Federal e a responsabilidade objetiva do art. 3º, IV, c/c art. 14. §1º, da Lei nº 6.938/81, que dá origem ao impasse sobre qual dos regimes de responsabilização há de ser aplicado em relação aos danos ambientais decorrentes de condutas omissivas do Estado. Antes de apontar para a natureza da contradição que habita essas duas normas, é importante ressaltar os pontos em comum de ambas. Nesse contexto, vale lembrar que tanto a atual Constituição quanto a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente estatuem regramentos específicos sobre a responsabilidade do Estado, que culminam na eleição do dever de indenizar como resposta ao dano perpetrado pelo agente estatal. Levando-se em conta essa diretriz, é possível concluir que ambas as normas apontam para um mesmo caminho, já que inserem a responsabilização estatal nas suas respectivas matrizes normativas e axiológicas para as situações que especificam. Em verdade, tratam-se de normas cujas prescrições objetivamente consideradas são coincidentes e não antagônicas. Ambas buscam tutelar determinados bens jurídicos, apregoando a necessidade de se restabelecer o equilíbrio – patrimonial ou não – de relações jurídicas abaladas por um ato danoso. 80 Por conseguinte, o dever de indenizar corporifica o campo de convergência entre a Constituição e a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente e, nessa medida, não é possível vislumbrar a ocorrência de proposições normativas incompatíveis entre si, do tipo observado quando uma norma obriga e outra proíbe, quando uma norma obriga e a outra permite ou quando uma norma proíbe e a outra permite. Por esse motivo, infere-se que não existe entre o texto constitucional e a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente a incompatibilidade típica das antinomias próprias, pois as normas examinadas – art. 37. §6º, da Constituição Federal e art. 3º, IV, c/c art. 14. §1º, da Lei nº 6.938/81 – anunciam o mesmo dever jurídico: a indenização decorrente do dano imputado ao Estado. O fator que as diferencia e cria a divergência nesta hipótese é bem mais sutil do que inicialmente se apresenta e está ligada a aspectos legais mais subjetivos do que objetivos. Isto porque embora nos planos constitucional e infraconstitucional seja uníssona responsabilidade civil do Estado, o § 6º do art. 37 da Constituição Federal e o §1º do art. 14 da Lei nº 6.938/81 preceituam regimes diferentes de responsabilização (a saber, a responsabilidade subjetiva e objetiva, respectivamente), os quais impactarão a fase de instrução processual quando da eventual apreciação pelo Poder Judiciário do dano concreto imputado ao Estado, trazendo diversas consequências práticas. Nesses termos, a responsabilidade subjetiva que emerge da Constituição e a responsabilidade objetiva da lei ordinária apontam para incompatibilidades mais amenas, que melhor se encaixam entre as antinomias impróprias. Das espécies de antinomias impróprias, antinomia de princípios é logo afastada do caso em tela, eis que não se vislumbra uma contraposição entre princípios que encerram valores opostos; a preservação do equilíbrio das relações patrimoniais – o verdadeiro valor tutelado pela Constituição e pela Lei da Política Nacional do Meio Ambiente –, mais do que uma oposição, representa um ponto comum às duas normas. A antinomia teológica, por seu turno, também não retrata fielmente o conflito ora analisado. Mais uma vez, frisa-se que a resposta oferecida pela Constituição e pela Lei da Política Nacional do Meio Ambiente ao dano estatal é mesma, pois ambas deflagram o dever de indenizar por meio da responsabilidade civil do Estado; logo, sendo idênticos os instrumentos apontados por ambas as normas para se atingir o mesmo objetivo, não há de se cogitar a oposição entre fins e meios. A qualificação mais condizente ao conflito em estudo é o pertinente às antinomias impróprias valorativas, visto que são contrapostos diferentes pesos ou gradações, relacionadas 81 às consequências trazidas por cada um dos possíveis regimes de responsabilidade aplicáveis à Administração Pública em matéria ambiental, que variam entre uma implicação processual mais drástica – a responsabilidade objetiva – e outra menos árdua – a responsabilidade subjetiva. Portanto, embora as disposições constitucionais e infraconstitucionais aqui comparadas assemelhem-se por preceituarem a responsabilidade civil do Estado em face do dano imputado ao agente estatal, tal semelhança, ou consequência, é prevista por cada uma das normas mencionadas em diferentes medidas. Conforme se salientou no primeiro capítulo deste trabalho, a responsabilidade subjetiva obriga a vítima que busca o ressarcimento pelo evento danoso a trilhar um caminho maior e mais difícil para atingir esse objetivo, pois se exigirá dela que, além do próprio dano, do comportamento estatal lesivo e do nexo de causalidade, seja comprovado também o dolo ou a culpa do agente do Estado, elemento este que muitas vezes é impossível de ser demonstrado. Diante dessa circunstância, o Poder Público se encontrará numa situação mais confortável do ponto de vista processual se puder ser inserido no regime de responsabilização subjetiva, onde ônus probatório de todos elementos citados acima recairá sobre os ombros da vítima, permitindo a dilação ou alargamento de matérias que poderão ser alegadas em sua defesa, quando comparadas àquelas a sua disposição no regime de responsabilidade objetiva. Não se coloca em dúvida que, uma vez reconhecida pelo Poder Judiciário a responsabilidade civil do Estado, o dever de indenizar deve ser adimplido de imediato. Porém, o caminho para o reconhecimento dessa obrigação pode ser mais célere ou não, a depender da natureza da responsabilidade adotada no caso concreto. A par dessa discussão, outra questão relevante que se sobressai em torno do conflito em análise é a escolha do critério a ser aplicado na sua solução. A princípio, considerando-se que a fonte constitucional da responsabilidade subjetiva do Poder Público por condutas lesivas omissivas é direta e concentra-se no art. 37, § 6º, da Carta Magna de 1988, poder-se-ia inferir que em respeito ao princípio da primazia da Constituição, o critério prevalente neste caso seria o hierárquico. Esta seria, em tese, a resposta mais imediata para o principal problema proposto neste trabalho, especialmente porque a concepção do atual sistema jurídico brasileiro não admite que uma lei infraconstitucional irradie efeitos validamente em confronto com a Constituição. 82 Contudo, embora o critério da lex superior seja, via de regra, predominante sobre os demais, poderá o mesmo comportar algumas exceções, dando espaço para a aplicação do critério da especialidade, sobretudo no terreno das antinomias impróprias valorativas. No que concerne ao critério cronológico, poder-se-ia cogitar, em um primeiro momento, a não recepção do art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938 – datada de 31 de agosto de 1981 – pelo art. 37, § 6º, da atual Constituição. Porém, considerando que a construção jurisprudencial que sustenta a compatibilidade da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente com a ordem constitucional vigente se ampara em outros pilares argumentativos, descarta-se a diretriz cronológica como caminho apto a dirimir o conflito. Já à luz da lex especialis, é questionável a afirmação de que a Lei nº 6.938/81 representaria um microssistema especial de exceção à Constituição Federal, consoante o entendimento sedimentado pelo STJ. Isto porque o regime estatuído pelo art. 37 do texto constitucional já constitui, per si, um microssistema especial que foge ao regramento comum dos arts. 186 e 927 do Código de Civil, tendo como parâmetro de especialização o autor do evento danoso: a Administração Pública. É, como intuitivo, um conjunto de normas setoriais e dotadas de supremacia frente a outras que regem relações jurídicas fora da órbita pública. Em contrapartida, a Lei nº 6.938/81 também cria um regime especial de responsabilidade, mas fundado na natureza do dano: o ambiental. Dessa forma, são apresentados dois marcos de especialização distintos, onde um é fixado em função do sujeito e o outro, em função da natureza do dano. Diante desse quadro, pode-se concluir pela inexistência de parâmetro objetivo e absoluto para a escolha da regra preponderante, pois ambos os sistemas guardam fundamentos e características peculiares, que, por vezes, também demonstram ser incomunicáveis entre si. Nada obstante, à vista das decisões judiciais favoráveis à predominância do critério da especialidade, as fragilidades apontadas acima não são reconhecidas por muitos como suficientes para afastar a aplicação da Lei nº 6.938/81, o que dá início um novo conflito, desta vez verificado entre os próprios critérios de solução de antinomias jurídicas (hierárquico x especialidade). E, não diferentemente do que fora assinalado linhas atrás, o impasse que subsiste entre a aplicação do art. 37, §6º, da Constituição Federal e o art. 3º, IV, c/c art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81 não possui uma saída objetiva e previamente estabelecida entre os metacritérios, consubstanciando, por esse motivo, um exemplo típico de caso difícil. 83 3.7 ANTINOMIAS E CASOS DIFÍCEIS Outro ponto de fundamental importância para a solução da antinomia gerada entre a aplicação da responsabilidade objetiva da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente e da responsabilidade subjetiva preceituada pela Constituição Federal é a correlação com os chamados “casos difíceis”, assim entendidos aqueles nos quais o problema fático não encontra solução perfeitamente acabada e precisa no ordenamento jurídico, seja em função da ausência de previsão na norma in abstrato ou pela pluralidade de normas que podem vir a ser aplicadas concretamente. Na tradição hermenêutica adotada nos ordenamentos influenciados pelo sistema romano-germânico, impera a técnica da subsunção, pela qual cabe ao intérprete identificar em meio ao universo de normas jurídicas existentes aquela cuja hipótese descrita no seu enunciado regula determinada situação fática para, então, aplicá-la ao caso concreto. Pauta-se a subsunção por um processo interpretativo dedutivo, que se inicia em uma premissa maior ou caso genérico (relato abstrato ou hipótese contida no enunciado normativo), passando por uma premissa menor ou caso individual (fato concreto), para resultar na incidência efetiva do comando legal. Ocorrendo a correspondência integral entre o caso genérico e o caso individual, a subsunção será suficiente para conduzir a interpretação e viabilizar a efetiva aplicação da norma. Nessas circunstâncias, onde não resta dúvida sobre o arranjo entre norma e fato, ou melhor, entre o caso genérico e o caso individual, estar-se-á diante de caso fácil. Por outro lado, não se pode deixar de reconhecer que as previsões normativas de um ordenamento jurídico, por maior que seja a sua extensão, não são capazes de acompanhar a dinâmica da vida em sociedade e as freqüentes transformações das relações humanas. Daí decorre o também inevitável reconhecimento das limitações implícitas dos ordenamentos jurídicos quanto à sua capacidade de apresentar resposta a todos os conflitos sociais. Sendo assim, a técnica da subsunção se mostrará falha e insuficiente para casos nos quais inexista regulamentação expressa e precisa, ou mesmo quando verificada a possibilidade de se aplicar mais de uma regra ou princípio a um mesmo fato. Estes dois exemplos práticos de dificuldades na aplicação da técnica da subsunção compreendem os chamados casos difíceis. A principal característica que diferencia os casos difíceis dos fáceis é a impossibilidade de se seguir o raciocínio linear típico da subsunção, que é afastado pela existência de mais de uma premissa maior ou mesmo pela sua inexistência. 84 Segundo Costa (2000, p.13), os principais tipos de casos difíceis são os que envolvem as lacunas e as antinomias. Nos problemas relacionados às lacunas, o caso difícil será superado mediante o emprego das técnicas de integração, como a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito, temas que, por mais instigantes que sejam, não cabem ser aprofundados neste trabalho. Já nos problemas relacionados às antinomias, quando os critérios e os metacritérios não são satisfatórios para a resolução do conflito, especialmente o concernente ao critério da especialidade e da hierárquica, um possível caminho para se chegar à justiça (suum cuique tribuere) que definirá a norma prevalecente é a ponderação. 3.8 A SUPERAÇÃO DO CONFLITO ENTRE A LEX ESPECIALIS E A LEX SUPERIOR POR MEIO DA PONDERAÇÃO Na condição de carta analítica 28, a Constituição Federal de 1988 albergou ao longo de seus enunciados aspirações e valores extremamente diversos, cujo conteúdo material, quando não traz latente o antagonismo entre suas normas, pode levar o intérprete à dúvida sobre qual delas deverá ser aplicada no caso concreto em virtude de recorrentes colisões constitucionais. Servem de exemplo de tensão entre normas e/ou valores constitucionais o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e o direito ao desenvolvimento econômico, o direito de resguardo ao sigilo e o direito de acesso à informação pública e o direito de greve e o princípio da continuidade do serviço público. A colisão constitucional tem se tornado fenômeno cada vez mais freqüente no direito brasileiro contemporâneo, encontrando no Supremo Tribunal Federal o seu grande palco de discussão e resolução. Uma das técnicas mais utilizadas pela Corte Constitucional para dirimir os conflitos que afloram do texto magno – e que inevitavelmente também são encontrados em normas infraconstitucionais – é a ponderação. Barroso (2010, p. 335) introduz a temática da ponderação identificando-a como a “técnica de decisão jurídica, aplicável a casos difíceis, em relação aos quais a subsunção se 28 Qualificam-se como analíticas as Constituições que versam sobre matérias que extrapolam o âmbito da organização do Estado, o regime político, a aquisição do poder e sua forma de exercício, bem como os direitos e as garantias individuais fundamentais, tratando sobre temáticas que poderiam perfeitamente estarem previstas em normas infraconstitucionais. 85 mostrou insuficiente. A insuficiência se deve ao fato de existirem normas de mesma hierarquia indicando soluções diferenciadas”. A insuficiência da subsunção é um importante fator para deflagrar a necessidade da ponderação. Mas o que efetivamente caracteriza tal técnica de decisão é o exercício da atribuição de pesos e dimensões diversos para as normas em conflito, o que vem a ser denominado o sopesamento. Segundo Alexy (2012, p. 95), a finalidade do sopesamento “é definir qual dos interesses – que abstratamente estão no mesmo nível – tem maior peso no caso concreto.” Para que o sopesamento atinja esse propósito, Alexy (2012, p. 586/611) propõe que a ponderação se constitua em um processo – não se exaurindo, portanto, em um único ato – que exige um complexo e segmentado esforço intelectual do intérprete, o qual culminará na escolha da norma a ser aplicada ao caso difícil. O referido processo inicia-se com a identificação, no ordenamento vigente, de possíveis normas jurídicas aptas a serem aplicadas ao caso concreto. Nessa etapa inicial, o primeiro paradigma inato à subsunção já é rompido, pois mais de um caso genérico ou relato abstrato normativo podem apresentar potencial aplicação. Estes casos genéricos, ainda, podem derivar de uma norma jurídica isolada ou do conjunto de duas ou mais normas, que se combinam para dar origem a um novo comando normativo. O conflito entre o §6º do art. 37 da Constituição Federal e a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente representa bem como os casos genéricos se estruturam no ordenamento jurídico brasileiro, porquanto a responsabilidade objetiva anunciada na lei ordinária ambiental é resultado da conjugação de dois enunciados normativos (inciso IV do art. 3º e § 1º do art. 14), ao passo que a responsabilidade subjetiva por omissão da Administração Pública é extraída de um único enunciado constitucional (§ 6º do art. 37). Uma vez selecionadas as normas jurídicas que se destacam pela sua correlação e importância para o caso concreto, a segunda etapa do processo de ponderação consistirá em analisar as repercussões que cada uma dessas normas trarão ao mundo dos fatos, guardadas as peculiaridades presentes em cada situação. Na terceira e derradeira fase do processo, a ponderação propriamente dita ocorrerá por meio do confronto entre as diferentes consequências advindas das normas em conflito e da atribuição dos pesos a serem destinados a cada norma. 86 Assim, tendo como norte balizador o princípio da proporcionalidade 29, nesta etapa serão analisados quais são os gravames e benefícios trazidos pelas soluções normativas propostas e, acima de tudo, a intensidade de seus prós e contras, para afinal se definir qual delas deverá prevalecer. Tal sopesamento é marcado pela possibilidade de graduação das normas a serem aplicadas, de forma que não necessariamente deve o intérprete excluí-las mutuamente. Assim, a ponderação permite que todas soluções conflitantes possam ser validamente aplicadas, na medida do peso atribuído a elas pelo intérprete. Nesses termos, a ponderação pode resultar na opção pela prevalência de uma única norma, por considerar conter ela o maior e mais preponderante peso sobre as demais, ou na opção pela conciliação de diferentes normas, as quais são relativizadas, cedendo-se parte do espaço inicialmente destinado no plano fático para aplicação de uma delas, a fim de que as demais também possam ser aplicadas. O que determinará, nesta última hipótese, a maior ou menor extensão de aplicabilidade de cada norma será, mais uma vez, o peso atribuído a cada uma delas pelo intérprete. Esta situação levou Alexy (2012, p. 593) a formular a sua célebre “lei do sopesamento” ou “máxima da proporcionalidade”, segundo a qual “quanto maior for o grau de não-satisfação ou afetação de um princípio, tanto maior terá de ser a importância da satisfação do outro”. A lei do sopesamento nada mais representa do que uma síntese das etapas inerentes ao processo de ponderação. Nas palavras do próprio Alexy (2012, p. 594), A lei do sopesamento mostra que ele pode ser dividido em três passos. No primeiro é avaliado o grau de não-satisfação ou afetação de um dos princípios. Depois, em um segundo passos, avalia-se a importância da satisfação do princípio colidente. Por fim, em um terceiro passo, deve ser avaliado se a importância da satisfação do princípio colidente justifica a afetação ou não-afetação do outro princípio. O resultado conciliatório trazido pela ponderação, mediante o exercício do sopesamento, é mais facilmente observado quando as normas em conflito são princípios, visto 29 O princípio da proporcionalidade, segundo Carvalho Filho (2008, p. 33), foi incorporado pelos Direito Constitucional e Administrativo brasileiros sob a inspiração da doutrina alemã. Seu enunciado essencial, no campo do direito administrativo, consiste na vedação ao excesso de poder, expondo três parâmetros de validade para a atividade estatal: i) a adequação, que preceitua a compatibilidade entre os meios e os fins pretendidos pelo ato administrativo; ii) a exigibilidade, que pressupõe a averiguação da necessidade da prática do ato, com vistas a assegurar a inexistência de outro meio menos oneroso para se atingir a mesma finalidade, e iii) a proporcionalidade em estrito sendo, consistente no confronto entre as vantagens e desvantagens trazidas pelo ato administrativo, através do qual se verificará se as primeiras podem superar as segundas. A ideia central trazida pela proporcionalidade no âmbito constitucional e administrativo também pode ser aplicada a outros campos do direito, onde a adequação, a necessidade e a proporcionalidade em estrito senso servem como balizas de validade para subsidiar a escolha do intérprete quanto às diferentes proposições normativas presentes no caso concreto. 87 que a natureza plástica e maleável dessa espécie normativa permite sua mitigação frente a outros princípios, de maneira a ampliar ou diminuir o seu campo de aplicabilidade de acordo com os interesses e valores em jogo no caso concreto. Diferentemente, as regras não admitem relativização, posto que somente irradiarão alguma eficácia se consideradas em sua integralidade. Sob esse aspecto, a maleabilidade dos princípios contrasta com os direitos e deveres definitivos inerentes às regras. Em razão dessa característica peculiar das regras, Dworkin (2010, p. 39) destaca que as mesmas seguem o padrão de aplicação “tudo ou nada”, que se expressa no sentido de que “dados os fatos que uma regra estipula, então ou a regra é válida, e neste caso a resposta que ela fornece deve ser aceita, ou não é válida, e neste caso em nada contribui para a decisão”. Em relação às regras, embora não seja possível mitigá-las tal como os princípios, a ponderação certamente indicará o caminho para a escolha da regra válida no caso concreto, mostrando-se também uma alternativa importante para a superação de problemas advindos do conflito entre os metacritérios da especialidade e da hierarquia, justamente por concatenar os parâmetros de justiça usados para a eleição do metacritério predominante. Salienta-se, porém, que a técnica da ponderação nem sempre induzirá o intérprete a trabalhar apenas com argumentos de ordem objetiva, ou seja, com considerações e conclusões limitadas a elementos normativos. Invariavelmente, outros fatores influenciarão o intérprete no exame das vantagens e desvantagens trazidas pelas normas conflitantes: valores pessoais, experiências de vida, preferências ideológicas ou religiosas, etc. A condição humana do operador do direito faz com que sua percepção em torno das normas jurídicas seja afetada também por fatores subjetivos e extrínsecos à norma. Muitas vezes, o resultado de tal influência dá nova dimensão aos enunciados normativos, os quais, através da interpretação, tem sua significação profundamente alterada, ao ponto de ensejar o surgimento de novos marcos regulatórios. Com efeito, a interpretação é capaz de operar a revisão do sentido e do alcance das normas jurídicas, em especial quando há a necessidade de se acompanhar as transformações de valores sociais, relacionando os fatores extrínsecos que conferirão o peso axiológico avaliado sob o pálio da ponderação. Há, finalmente, uma observação importante a ser feita em relação à ponderação. Apesar de seu crescente papel na hermenêutica contemporânea, Barroso (2010, p. 338) lembra que ela não indica referências materiais ou axiológicas prévias e objetivamente estabelecidas ao intérprete. Por esse motivo, a ponderação também pode se prestar ao voluntarismo e a 88 adoção de soluções ad hoc, conduzindo, para o bem ou para o mal, o resultado prático da incidência das normas jurídicas. Para restabelecer a racionalidade e a legitimidade no uso da ponderação e diminuir os riscos de sua má aplicação, Barroso (2010, p. 338) faz um apanhado de alguns parâmetros interpretativos encontrados na doutrina, segundo os quais deve o intérprete, sempre que possível, vincular a decisão tomada com base no processo ponderativo a uma norma constitucional ou legal, contextualizando-a em uma decisão majoritária do legislador constituinte ou ordinário; evitar casuísmos, mediante interpretações que contenham o máximo de generalidade e universalidade e, por fim, buscar a conciliação e harmonização entre os enunciados normativos conflitantes, “preservando o núcleo essencial dos direitos”. Retornando ao objeto central do presente estudo, observa-se que, na prática, a ponderação conduziu o STJ a dirimir o conflito decorrente entre o art. 37, § 6º, da Constituição Federal e o art. 3º, IV, c/c art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81 de maneira que fosse reconhecida a preponderância do metacritério da lex especialis e, portanto, da objetivação da responsabilidade civil por omissão do Estado nos danos ambientais. Dessa decisão, é importante destacar a conclusão pela exceção trazida ao art. 37, § 6º, da Constituição Federal, pela previsão legal expressa de microssistema especial de proteção ao meio ambiente, corporificado pela Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Sob esse aspecto, a teoria geral das antinomias jurídicas mostra que é possível que a lei especial se sobreponha à lei superior, mesmo que esta última se trate da Constituição Federal. Esta mesma teoria igualmente demonstra a possibilidade de relativização do princípio da supremacia do texto constitucional em favor de norma infraconstitucional que, à vista da ponderação empregada no caso concreto, apresente proposições normativas consideradas mais justas do que as encontradas no texto magno. Outra consequência oriunda da conclusão em tela é a possibilidade, em tese, de coexistência de dois diferentes regimes de responsabilização do Poder Público por condutas danosas omissivas, que encontra no art. 37, § 6º, da Constituição Federal sua regra geral e na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente sua exceção aplicável aos danos ambientais. Entretanto, é inegável que as conclusões listadas acima transcendem o plano meramente teórico, sendo capazes de confirmar, no caso concreto, o acerto da ponderação empregada pelo STJ para resolver a antinomia imprópria entre a responsabilidade objetiva propugnada na Lei nº 6.938/81 e a responsabilidade subjetiva do texto constitucional. 89 Nesse diapasão, com base no modelo de ponderação alexyniano, devem ser colocados em evidência, em um primeiro momento, os interesses ou valores tutelados pelas normas em aparente conflito. Assim, ao preceituar a incidência da responsabilidade subjetiva da Administração, o art. 37, § 6º, da Constituição Federal busca evitar que o erário seja onerado com obrigações pecuniárias desvinculadas da participação direta ou determinante do Estado no evento danoso. Isto porque, de acordo com os fundamentos que regem a responsabilidade subjetiva, a omissão só será considerada relevante para fins indenizatórios quando a mesma representar o descuprimento de um dever jurídico, que normalmente se relaciona com obrigações genéricas de vigilância e de garantia. Sob tal lógica, agindo os agentes do Estado com dolo ou culpa quando da inobservância de suas atribuições legais, a omissão constituirá causa juridicamente relevante para configurar o dever de indenizar. A contrário senso, inexistindo tais requisitos psíquicos, não subsistirá omissão a ser imputada ao Estado, pois se presume que todas as medidas cabíveis foram adotadas visando cumprir o mister estatal. Este raciocínio permite inferir que a ausência do dolo e da culpa, no âmbito da responsabilidade subjetiva, equivale ao afastamento do nexo causal, criando a presunção de que a Administração, despeito da consumação do dano, agiu dentro dos padrões comportamentais que se mostravam, do ponto de vista jurídico e factual, possíveis e adequados naquelas circunstâncias específicas. Daí o motivo pelo qual, sem os elementos subjetivos, não surgirá a responsabilidade quanto à reparação do dano, excluída por força do Princípio da Reserva do Possível. Para Barroso (2012, p. 23), a reserva do possível limitaria a ação estatal às possibilidades jurídicas e fáticas de cada caso concreto, em especial ante a existência de restrições de ordem financeira e orçamentária para efetivação de direitos individuais e sociais: Os recursos públicos seriam insuficientes para atender às necessidades sociais, impondo ao Estado sempre a tomada de decisões difíceis. Investir recursos em determinado setor sempre implica deixar de investi-los em outros. De fato, o orçamento apresenta-se, em regra, aquém da demanda social por efetivação de direitos, sejam individuais, sejam sociais. Com relação à responsabilidade objetiva, o art. 3º, IV, c/c art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81 tem por finalidade fornecer a tutela mais ampla e completa para evitar e reparar o dano ambiental. 90 Este intuito, por si só, já releva o grande peso e a dimensão conferidos pelo legislador ordinário à necessidade de proteção ao meio ambiente, que representa um interesse socialmente muito mais abrangente do que a mera contenção de gastos do erário. Além disso, a responsabilidade objetiva encontra-se amparada por princípios constitucionais de natureza difusa, fraternal e solidária, que espelham, em última instância, preocupações atinentes à sobrevivência e ao futuro da própria humanidade, como os Princípios da Prevenção, da Precaução e do Poluidor-Pagador. Com efeito, a antinomia entre o art. 37, § 6º, da Constituição Federal e o art. 3º, IV, c/c art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81 traz como pano de fundo o conflito entre os Princípios da Prevenção, da Precaução e do Poluidor-Pagador, os quais exprimem interesses públicos primários, e o Princípio da Reserva do Possível, que representa um interesse público secundário 30. Identificados os interesses e princípios em aparente contraste, o segundo momento da ponderação recomenda avaliar as consequências decorrentes da afetação ou não-satisfação de cada um deles. A não-satisfação do interesse público secundário que decorre do Princípio da Reserva do Possível possui uma única consequência imediata: a oneração do erário com o aumento de custos financeiros e humanos empregados para a reparação do meio ambiente. A não-satisfação do interesse público primário sustentado pelos Princípios da Prevenção, da Precaução e do Poluidor-Pagador envolve, por seu turno, diversas outras consequências que extrapolam a seara meramente patrimonial: a inobservância do direito à vida, à saúde pública, ao ordenamento urbano eficiente, à história, à memória, às tradições, à identidade popular, a condições laborais dignas, entre outros inúmeros exemplos. No terceiro momento da ponderação, devem, enfim, ser sopesadas as consequências listadas acima, verificando-se em que proporção cada um dos interesses antinômicos é afetado pela satisfação do outro e vice-e-versa. Nesse cenário, a plena satisfação do interesse público secundário de minimizar despesas do erário poderá implicar em um prejuízo invariavelmente maior e irreversível para toda a sociedade. 30 A diferença entre interesse público primário e interesse público secundário – conceitos essenciais ao escorreito entendimento da antinomia entre o art. 37, § 6º, da Constituição Federal e o art. 3º, IV, c/c art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81– é explicada por Barroso (2010, p. 70): “O interesse público primário é a razão de ser do Estado e sintetiza-se nos fins que cabe a ele promover: justiça, segurança e bem-estar social. Estas são os interesses de toda a sociedade. O interesse público secundário é da pessoa jurídica de direito público que seja parte em determinada relação jurídica – quer se trate da União, quer se trate do Estado-membro, do Município ou das suas autarquias. Em ampla medida, pode ser identificado como o interesse do erário, que é o de maximizar a arrecadação e minimizar as despesas. 91 Tal premissa tem por base a notória e cada mais próxima esgotabilidade dos bens ambientais, os quais, não raramente, não estão sujeitos a uma reparação in natura, pois o que se perde em relação ao meio ambiente pode nunca mais vir a ser resgatado, como no caso da extinção de uma espécie vegetal ou da cultura de uma comunidade tradicional. No entanto, na via reversa, a recomposição do erário ocorre com muito mais facilidade do que a recomposição do meio ambiente, tendo em vista os fartos mecanismos à disposição do administrador público para aumentar a arrecadação, a exemplo da majoração de impostos. Ademais, os custos advindos da degradação ambiental trazem normalmente um impacto financeiro futuro maior do que aquele decorrente da não reparação imediata do meio ambiente, visto que os efeitos do dano ambiental se perpetuarão no tempo, atingindo outras vítimas que não só aquelas afetadas a priori e mais imediatamente pela conduta danosa omissiva. Por conseguinte, a não-satisfação do interesse público primário atinente ao meio ambiente traz consequências muito mais graves e irreversíveis do que a não-satisfação do interesse público secundário de resguardar o erário. Sendo assim, o resultado final da presente ponderação indica a necessidade de se conferir um maior peso à responsabilidade objetiva da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente do que à responsabilidade subjetiva do texto constitucional, posto que o interesse público secundário, na hipótese analisada, apresenta maiores condições de ser sacrificado ou mitigado do que o interesse público primário. Com isso, conclui-se, derradeiramente, que a antinomia imprópria valorativa observada entre o art. 37, §6º, da Constituição Federal e o art. 3º, IV, c/c art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81 deve ser dirimida com esteio no critério da lex especialis, de maneira que a responsabilidade objetiva da Administração Pública por danos ambientais que decorram de condutas omissivas prepondere em face da responsabilidade subjetiva. 92 4 A FONTE CONSTITUCIONAL DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA LEI Nº 6.938/81: HIPÓTESE DE ATIVISMO JUDICIAL? Ao decidir pela aplicação da responsabilidade objetiva da Administração Pública em relação aos danos ambientais cuja origem esteja relacionada com a omissão estatal, o julgamento realizado pelo STJ no Resp 1071741/SP menciona dois argumentos: o primeiro, fundado na preponderância do microssistema especial de proteção ao meio ambiente instituto pela Lei nº 6.938/81, que consistiria em uma exceção ao art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e o segundo, baseado na premissa de que a responsabilização objetiva surgirá sempre que as peculiaridades presentes no caso concreto indicarem um dever de ação mais rigoroso por parte do Estado do que aquele inicialmente previsto em lei, consoante construção doutrinária e jurisprudencial: Ordinariamente, a responsabilidade civil do Estado, por omissão, é subjetiva ou por culpa, regime comum ou geral esse que, assentado no art. 37 da Constituição Federal, enfrenta duas exceções principais. Primeiro, quando a responsabilização objetiva do ente público decorrer de expressa previsão legal, em microssistema especial, como na proteção ao meio ambiente (Lei 6.938/81, art. 3º, IV, c/c art. 14, § 1º). Segundo, quando as circunstâncias indicarem a presença de um standard ou dever de ação estatal mais rigoroso do que aquele que jorra, consoante construção doutrinária e jurisprudência, do texto constitucional. O poder-dever de controle e fiscalização ambiental (= poder-dever de implementação), além de inerente ao exercício do poder de polícia do Estado, provém diretamente do marco constitucional de garantia dos processos ecológicos essenciais (em especial os arts. 225, 23, VI e VII, e 170, VI) e da legislação, sobretudo, da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/81, arts. 2º, I e V, e 6º) e da Lei 9.605/1998 (Lei dos Crimes e Ilícitos Administrativos contra o Meio Ambiente). (STJ, Recurso Especial 1071741 / SP, Segunda Turma, Relator Ministro Herman Benjamin, Data do Julgamento: 24/03/2009, DJe 16/12/2010). No tocante a este segundo fundamento, a Corte Federal entendeu pela objetivação da responsabilidade do Estado mesmo sem um lastro legal expresso que a ampare. Aqui, nota-se que a influência de elementos extrínsecos no sopesamento entre o art. 37, § 6º, da Constituição Federal e o art. 3º, IV, c/c art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81 é mais fortemente sentida do que na primeira conclusão, onde a responsabilidade objetiva é extraída diretamente de um regramento legal vigente (Lei da Política Nacional do Meio Ambiente) e não apenas das circunstâncias que se apresentam no caso concreto. Como qualquer intérprete da norma jurídica, os tribunais também são influenciados por mudanças ocorridas na sociedade, imprimindo, em maior ou menor escala, fatores de ordem subjetiva em suas decisões. Nesse cenário, relevantes transformações nas relações 93 sociais tem sido materializadas pelo Poder Judiciário por meio da interpretação, superando-se antigos precedentes e trazendo à tona novas leituras do ordenamento vigente. No ápice do exercício dessa prerrogativa, nos últimos anos os tribunais brasileiros assumiram para si a responsabilidade de solucionar alguns dos temas políticos de maior impacto e ressonância no País, embora tal postura tenha gerado uma visível tensão no equilíbrio de forças entre os três Poderes. Na tentativa de identificar e sistematizar esse novo horizonte de atribuições judiciais, surgiu o ativismo judicial, fenômeno cujo estudo ainda é recente no Brasil e que apresenta alguns indícios de sua presença no posicionamento adotado do STJ citado no presente trabalho. Assim sendo, mediante o estudo do conceito, das origens e características do ativismo judicial, o presente Capítulo visa averiguar se o precedente consubstanciado no Recurso Especial 1071741/SP realmente sofre uma influência ativista, buscando ainda realizar uma breve reflexão sobre de que forma o ativismo judicial contribui para a formação do convencimento de magistrados. 4.1 O CONTEXTO CONSTITUCIONAL DOS PRECEDENTES DO STJ SOBRE A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PODER PÚBLICO EM MATÉRIA AMBIENTAL Os fundamentos normativos da responsabilidade objetiva do Estado em matéria ambiental não se limitam apenas ao patamar infraconstitucional conferido pela Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Nesses termos, conforme consignou o acórdão do Recurso Especial 1071741/SP, o entendimento apresentado pelo STJ ampara-se nos arts. 23, VI e VII, 170, VI, e 225, caput, da Constituição vigente, a seguir transcritos: Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: (...) VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; VII - preservar as florestas, a fauna e a flora; Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: (…) VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação; Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 94 Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações. § 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas; II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético; III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção; IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade; V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente; VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente; VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade. § 2º - Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei. § 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. § 4º - A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. § 5º - São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. § 6º - As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas. Embora esses dispositivos acarretem reflexões mais profundas, um breve esboço de suas diretrizes merece ser exposto. O primeiro deles (art. 23) trata da competência material comum na seara ambiental. Consequência imediata do federalismo acolhido pela Carta 1988, a distribuição de competências entre as pessoas jurídicas de direito público norteia-se por um complexo e sofisticado sistema de poderes, que permite o exercício de atos administrativos concretos e de atos legislativos por todos os entes políticos, ora conjuntamente e ora em caráter privativo ou exclusivo. Apenas para relembrar alguns conceitos relevantes sobre este tema, a competência aludida no texto constitucional é denominada exclusiva quando se outorga apenas à União a prática de determinados atos de efeitos concretos (também ditos materiais) ou a prestação de serviços específicos, devidamente listados no art. 21. 95 Neste ponto, é bem clara a opção do legislador constituinte em conferir destaque à atuação da União na formulação e execução de políticas ambientais (art. 21, IX, XIX e XX 31), o que não exclui, entretanto, outros papéis remanescentes reservados somente aos Estados (art. 25, § 1º 32) e aos Municípios (art. 30, I 33). A competência será, ainda, comum, quando a Constituição atribuir atividades materiais que deverão ser compartilhadas concomitantemente por todos os entes federativos. É o caso cristalizado no art. 23. A classificação das competências constitucionais será, por fim, considerada privativa quando for outorgado apenas à União legislar sobre determinadas matérias, excluindo a competência dos demais entes (hipótese prevista no art. 22) e concorrente, quando União, os Estados e o Distrito Federal forem autorizados a legislar sobre outros temas (hipótese do art. 24). O segundo enunciado (art. 170, IV), referente à ordem econômica, coloca a proteção ao meio ambiente como um fator de limitação à livre iniciativa, impondo o desenvolvimento sustentável como um dos principais nortes da atividade econômica. O terceiro enunciado (art. 225) afigura-se como a norma mais importante sobre o meio ambiente na Carta de 1988 e que acaba por compreender, em certa medida, o conteúdo dos outros dois dispositivos vistos até o momento. Em meio aos vários aspectos regulados pela norma em questão, sobressai-se a natureza difusa e intergeracional do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e a reafirmação da obrigação do Poder Público – expressão que inclui União, Estados, Municípios e Distrito Federal – de protegê-lo e preservá-lo. Sem embargo do peso e da repercussão dos demais parágrafos do art. 225, não se pode negar que a temática da responsabilidade ambiental é tratada, mais frontalmente, pelo § 3º, o 31 Art. 21. Compete à União: (...) IX - elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social; (...) XIX - instituir sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos e definir critérios de outorga de direitos de seu uso; XX - instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos; 32 Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição. § 1º - São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição. 33 Art. 30. Compete aos Municípios: I - legislar sobre assuntos de interesse local; 96 qual reproduz o postulado ordinário civilista que prega o dever de reparar a todo aquele que gerar dano. Dessa observação, decorre outra: a de que nenhum dos dispositivos examinados versa explicitamente sobre o regime responsabilidade aplicável ao dano ambiental. No único momento em que o dever de reparação é mencionado, o art. 225, § 3º da Constituição Federal 34 limita-se a repetir o regramento basilar vigente no Direito Civil, sem esclarecer se tal responsabilidade será objetiva ou subjetiva, e sem avançar, especificamente, sobre a espécie de conduta a ser considerada para fins de incidência de um ou outro regime de responsabilidade. Assim, os atuais comandos constitucionais sobre o meio ambiente − que mais discorrem, genericamente, sobre o poder-dever da Administração de protegê-lo do que propriamente sobre a espécie de responsabilidade a ela atribuída quando o dano ambiental for propiciado pela falha do serviço de fiscalização ou pela liberação da atividade danosa (caso dos licenciamentos ambientais) − não seriam suficientes para justificar, ainda que de maneira indireta, a existência de uma norma infraconstitucional especial de exceção ao art. 37, § 6º, da Lei Maior. E não havendo suporte explícito e literal para justificar a constitucionalidade do art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81 na regência de danos ambientais gerados por omissões administrativas, o caminho tomado para a formação dos precedentes ditados pelo STJ só poderia nascer a partir de uma interpretação mais ampla e flexível da Constituição, o que se torna uma realidade concreta quando se considera a presença de diversas normas de textura aberta em nossa Carta Magna. As normas ou cláusulas de textura aberta referem-se aos enunciados normativos que contenham termos ou palavras de conteúdo vago ou incerto e que demandam uma atuação mais proativa do intérprete e aplicador do direito quanto à complementação do seu significado. São as cláusulas de textura aberta, portanto, a porta de entrada para uma conduta mais participativa dos tribunais na construção do sentido e alcance das normas jurídicas no caso concreto, fenômeno reconhecido como ativismo judicial. 34 Art. 225. (omissis) § 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. 97 4.2 ATIVISMO JUDICIAL: ORIGENS E NOÇÕES O crescente papel do Poder Judiciário na tomada de decisões políticas e de tantas outras de repercussão nacional – até pouco tempo uma atribuição exclusiva do Executivo e do Legislativo – tem despertado a atenção de todo o Brasil nos últimos anos. Temas polêmicos e sensíveis como o nepotismo, a verticalização de coligações partidárias, demarcações de terras indígenas e a união homoafetiva colocaram o Supremo Tribunal Federal em meio a inúmeras polêmicas, em boa parte motivadas pela opção feita pela Corte Constitucional brasileira por uma forma de interpretação mais ampla e irrestrita da Magna Carta, a qual se convencionou chamar, em muitos desses casos, de ativismo judicial. Conforme aponta Green (2009, p. 45), a primeira menção ao termo ativismo judicial foi feita em janeiro de 1947 pelo historiador norte-americano Arthur Schlesinger Jr., em um artigo da revista Fortune intitulado “The Supreme Court: 1945”. O artigo de Schlesinger não se trata de uma abordagem teórica profunda sobre o papel do Judiciário, mas sim de um retrato de determinado momento na história da Suprema Corte dos Estados Unidos, no qual o seu autor descreve o perfil de cada um de seus membros, bem como as divergências, jurídicas e não jurídicas, que dividiam a Corte, além de tecer comentários sobre os principais julgamentos realizados naquele ano. Talvez por essa razão, Schlesinger não tenha se preocupado em conferir uma significação precisa ao ativismo judicial, o que não impediu que o tema fosse continuamente incluído na pauta do debate político e jurídico americano, embora até hoje a sua definição permaneça nebulosa. Associado a conotações ora positivas, ora negativas, o ativismo judicial é usualmente contraposto à contenção judicial, também conhecida como moderação ou restrição judicial, indicando a existência de dois modelos comportamentais ou interpretativos diversos diante da Constituição e das leis em geral Sowell (2012, p. 2) sustenta que as controvérsias envolvendo o ativismo judicial caracterizam-se por decisões baseadas em fundamentos extrínsecos à Constituição e, não raramente, contrárias às leituras mais recorrentes e convencionais do texto constitucional. Nota-se, assim, que o ativismo implica a ampliação dos horizontes da atividade jurisdicional, na medida em que permite o desenvolvimento de um processo decisório mais inovador e menos apegado à literalidade da lei. Desse modo, influências oriundas de fora do campo legal – como, por exemplo, valores sociais, convicções filosóficas e experiências pessoais do julgador – contribuem para a 98 formação de novos paradigmas interpretatórios, trazendo duas potenciais consequências: i) a atualização do conteúdo da norma jurídica posta e ii) a criação de novos regramentos imperativos de conduta. Por sua vez, a contenção judicial opõe-se à fuga dos limites estabelecidos pela lei, com a proposta de uma postura mais parcimoniosa do julgador quanto a possíveis atualizações da norma jurídica que se distanciem das intenções originais do legislador, de forma a evitar a criação de novos modelos de conduta. Na prática, porém, é difícil formar um consenso quanto às características que identificam os julgados ativistas. Segundo Sowell (2012, p. 8), o ativismo ganharia espaço quando os julgadores escolhem não ater sua interpretação aos significados literais ou semânticos das leis e da Constituição, bem como quando existirem lacunas legais que devam ser supridas por elementos extrínsecos à lei, não obstante ressalte o autor que apenas a primeira hipótese constituiria uma típica forma de ativismo. Já para Canon (apud LEWIS, 1999, p. 6/7) existiriam seis dimensões ou graus de ativismo judicial, os quais se refletiriam nas seguintes situações: i) quando políticas públicas adotadas através de processos democráticos, ou seja, por atos dos Poderes Legislativo e Executivo, são anuladas (ou tem sua eficácia negada) pelo Judiciário; ii) quando antigos precedentes judiciais, posicionamentos doutrinários e interpretações normativas são alteradas; iii) quando as normas constitucionais são interpretadas de maneira contrária às intenções e aos significados inicialmente concebidos pelo poder constituinte, ou ainda sem um rigoroso apego semântico ao enunciado normativo; iv) quando o Poder Judiciário avança sobre o mérito de atos administrativos e questões políticas; v) quando o próprio Poder Judiciário estabelece políticas públicas, ao invés de deixar sua definição à discricionariedade do Poder Executivo e vi) quando a decisão judicial substitui ou afasta considerações de ordem técnica apresentadas por órgãos especializados do Poder Executivo. A partir dos variados pontos de vista sobre o ativismo judicial, observa-se que uma das principais características do fenômeno é a flexibilização de limites normativos preexistentes, ensejando interpretações fundamentadas em considerações de ordem supralegal, com a possibilidade de criação de novas regras de conduta, originadas diretamente da atividade jurisdicional e não mais do Parlamento ou do Executivo. Ainda no cenário americano, a tal flexibilização encontra justificação em diversas teorias, dentre as quais se destaca o trabalho de Ronald Dworkin, para quem, sob a inspiração 99 na obra de L. A. Hart, direito e moral se entrelaçam para legitimar uma conduta mais criativa e inovadora por parte dos órgãos julgadores. De acordo com Dworkin (2011, p. 231), cada homem detém uma série de direitos morais perante o Estado, direitos estes que se diferenciam de direitos jurídicos, na medida em que prescindem de normas formalmente elaboradas através de um processo legislativo para sua existência e validade. A aplicação desses direitos morais se faz através de padrões linguísticos imprecisos, vagos ou indeterminados presentes nos enunciados dos textos normativos, também denominados “cláusulas de textura aberta”, expressão cunhada por Hart. Para Hart (2009, p. 166), as cláusulas de textura aberta são, a um só tempo, uma necessidade e uma consequência natural da tentativa de regulamentar geral e abstratamente todos os comportamentos de uma sociedade: Qualquer que seja a estratégia escolhida para a transmissão de padrões de comportamento, seja o precedente ou a legislação, esses padrões, por muito facilmente que funcionem na grande massa de casos comuns, se mostrarão imprecisos em algum ponto, quando sua aplicação for posta em dúvida; terão o que se tem chamado de textura aberta. (...) a incerteza nas zonas limítrofes é o preço a pagar pelo uso de termos classificatórios gerais em qualquer forma de comunicação referente a questões factuais. Nesse contexto, cabe aos tribunais empregar a moralidade vigente quando da interpretação de termos como “devido processo”, “cruel”, “dignidade da pessoa humana”, dentre outros, permitindo constantemente a revisão do seu significado de acordo com os valores sociais constitucionalmente amparados pelo ordenamento jurídico. Sem dúvida, a atividade dos tribunais que resulta na combinação da moral com cláusulas normativas abertas pressupõe o reconhecimento de certo grau de discricionariedade judicial, empregada, sobretudo, quando não se encontra na norma jurídica posta uma resposta clara e precisa para a resolução dos conflitos submetidos ao julgamento do Estado. Igualmente, é importante ressaltar que a teoria de Dworkin rechaça a interpretação voltada a perquirir as intenções que tinha o legislador em mente durante o processo de elaboração da norma jurídica, pois a exegese em torno das cláusulas de textura aberta exige o apelo a conceitos morais – noção que traz a ideia de uma moralidade resiliente em termos de tempo e espaço, mas que preserva o seu núcleo essencial não obstante a transmutação paulatina de comportamentos sociais – e não a concepções específicas dominantes em determinado momento histórico. Com suporte nessa distinção, Dworkin (2011, p. 213/216) traça as principais diferenças entre o ativismo e a contenção judicial: 100 (...) parece óbvio que devemos considerar o que venho chamando de cláusulas constitucionais “vagas” como representando apelos aos conceitos que elas empregam, tais como legalidade, igualdade e crueldade. (...) De fato, agora se pode ver que a própria prática de chamar essas cláusulas de “vagas”, prática à qual aderi, envolve um erro. As cláusulas são “vagas” somente se as considerarmos como tentativas remendadas, incompletas ou esquemáticas de estabelecer concepções particulares. Se as encararmos como apelos a conceitos morais, um maior detalhamento não as tornará mais precisas. (...) O programa do ativismo judicial sustenta que os tribunais devem aceitar a orientação das chamadas cláusulas constitucionais vagas no sentido que descrevi, a despeito das razões concorrentes do tipo que mencionei. Devem desenvolver princípios de legalidade, igualdade e assim por diante, revê-los de tempos em tempos à luz do que parece ser a visão moral recente da Suprema Corte, e julgar os atos do Congresso, dos Estados e do presidente de acordo com isso. (...) Ao contrário, o programa da moderação judicial afirma que os tribunais deveriam permitir a manutenção das decisões de outros setores do governo, mesmo quando elas ofendam a própria percepção que os juízes têm dos princípios exigidos pelas doutrinas constitucionais amplas, excetuando-se, contudo, os casos nos quais essas decisões sejam tão ofensivas à moralidade política a ponto de violar as estipulações da qualquer interpretação plausível, ou, talvez, nos casos em que uma decisão contrária for exigida por um precedente inequívoco. Pelas lições acima, talvez o mais relevante legado deixado pela teoria moral de Dworkin seja superação da visão da Constituição enquanto um texto impositivo e insuscetível a mudanças operadas através da interpretação. No entanto, o sistema jurídico americano guarda determinadas peculiaridades – a exemplo dos precedentes judiciais, tidos como uma das principais fontes formais do direito nos ordenamentos adeptos da common law – que formam uma compreensão sobre o ativismo mais abrangente do que a observada em outros países, cujo resultado é uma maior aproximação entre o exercício da função judicial e legislativa. No Brasil, o ativismo judicial é usualmente apontado como fruto do pós-positivismo acolhido pela Constituição Federal de 1988, o qual propõe uma confluência entre o positivismo jurídico e o jusnaturalismo, culminando em uma leitura mais ampla e flexível dos enunciados normativos e do próprio sentido de legalidade. Algumas das maiores influências da referida corrente filosófica, que marca o constitucionalismo contemporâneo em diversas nações, consistem na aplicação de valores constitucionais, corporificados nos princípios, diretamente como fundamento para solução de litígios concretos e na possibilidade do uso da interpretação construtiva do texto constitucional. Seguramente, estes são pilares para a tomada de decisões judiciais mais discricionárias e menos submissas ao sentido literal das leis em geral. Na definição sugerida por Ramos (2010, p. 116), 101 Ao se fazer menção ao ativismo judicial, o que se está a referir é a ultrapassagem das linhas demarcatórias da função jurisdicional, em detrimento principalmente da função legislativa, mas, também, da função administrativa e, até mesmo, da função de governo. Não se trata do exercício desabrido da legiferação (ou de outra função não jurisdicional), que, aliás, em circunstâncias bem delimitadas, pode vir a ser deferido pela própria Constituição aos órgãos superiores do aparelho judiciário, e sim da descaracterização da função típica do Poder Judiciário, como incursão insidiosa sobre o núcleo essencial de funções constitucionalmente atribuídas a outros Poderes. Barroso (2010, p. 284) assevera que o ativismo judicial está fortemente associado a uma maior participação do Poder Judiciário na concretização de valores e fins constitucionais, ao ponto de muitas vezes avançar sobre a competência reservada aos demais Poderes, especialmente nos espaços onde a atuação do Legislativo e do Executivo mostra-se mais acanhada ou inócua. Ainda de acordo com os ensinamentos de Barroso (2010, p. 285), a postura ativista manifesta-se, basicamente, através das três condutas: i) na aplicação direta da Constituição a situações não expressamente contempladas em seu texto e independentemente de manifestação do legislador ordinário; ii) na declaração de inconstitucionalidade de atos normativos emanados do legislador, com base em critério menos rígidos que os de patente e ostensiva violação da Constituição e iii) na imposição de condutas ou de abstenções ao Poder Público, notadamente em matéria de políticas públicas. Embora a discussão brasileira sobre o ativismo judicial ainda esteja iniciando, é possível situá-lo, a partir das definições oferecidas acima, como a quebra dos limites da atuação judicial e a consequente invasão de funções típicas dos Poderes Executivo e Legislativo. Isto se evidencia, de um modo mais especial e ostensivo, através da construção de normas concretas concebidas pelo Poder Judiciário a partir dos casos submetidos ao seu julgamento. É o que parece se tratar, a priori, da hipótese referente à objetivação da responsabilidade do Poder Público concebida pelo STJ, quanto aos danos ambientais decorrentes de omissões administrativas. Muitos críticos, porém, se insurgem contra o ativismo judicial sob diversos argumentos. Um dos mais incisivos, relacionado à ausência de legitimidade do Poder Judiciário para interferir em temas afetos exclusivamente aos Poderes Legislativo e Executivo, passa a ser explorado no tópico a seguir. 102 4.3 SEPARAÇÃO DE PODERES E LEGITIMIDADE DEMOCRÁTICA Uma das maiores críticas ao ativismo judicial, que parte da percepção de que aos tribunais cabe apenas aplicar a lei em vigor, finca suas bases argumentativas na teoria da separação dos poderes e na ausência de representação democrática dos membros do Judiciário. Adotado pelo art. 2º da atual Constituição 35, o princípio da separação dos Poderes representa um dos sustentáculos do Estado Democrático de Direito, preceituando a divisão do poder do Estado em três funções específicas: Executivo, Judiciário e Legislativo. Embora a separação dos poderes seja apresentada como a base das críticas ao ativismo judicial, Ramos (2011, p. 120) lembra que são justamente os sistemas constitucionais que abrigam o mencionado princípio que dão licença ao agigantamento das funções jurisdicionais: Se não se pode afirmar que o ativismo judicial esteja necessariamente associado a Estados cujas Constituições adotam como dogma a independência e harmonia entre os Poderes, não é menos verdadeiro que a identificação do fenômeno, em geral, provenha desses sistemas constitucionais. Com efeito, nos Estados democráticos a subversão dos limites impostos à criatividade da jurisprudência, com o esmaecimento de sua feição executória, implica a deterioração do exercício da função jurisdicional, cuja autonomia é inafastável sob a vigência de um Estado de Direito, afetando-se inexoravelmente, as demais funções estatais, máxime a legiferante, o que, por seu turno, configura gravíssima agressão ao princípio da separação dos Poderes. A segmentação do poder estatal pensada por Montesquieu não compromete sua unicidade, já que apenas confere uma maior especialização às suas mais variadas atividades, ao mesmo tempo em que realiza uma necessária limitação do poder estatal, por meio do sistema de freios e contrapesos. Conforme expresso na Carta Magna de 1988, a separação de poderes baseia-se na independência de cada uma de suas esferas, fato que se traduz na existência de prerrogativas institucionais próprias de cada Poder. Tais prerrogativas, por sua vez, ostentam determinadas dimensões materiais as quais pressupõem que o núcleo essencial de cada função estatal deva de ser exercido, com exclusividade, pelo Poder indicado pela Constituição. 35 Art. 2º. São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 103 Nada obstante, quando o Poder Judiciário, ultrapassando a delimitação constitucional para o regular exercício da jurisdição, incursiona-se pelo núcleo essencial e adjacências dos Poderes Legislativo e Executivo, afigura-se a inobservância do princípio da separação dos poderes. Em um exemplo claro de como a mencionada incursão ocorre, Grau (2011, p. 341/342) explica, de maneira bastante lúcida, como se dá o avanço do Poder Judiciário sobre a seara do Poder Legislativo: No Estado Democrático de Direito o poder é uno e indivisível, mas as funções estatais são distribuídas entre o Legislativo, Executivo e Judiciário. Todos eles exercitam a função normativa, mas a parcela mais relevante dessa função, a legislativa, é própria do Legislativo. Ao Poder Judiciário é vedado o exercício da função legislativa, ainda que lhe caiba o da função regimental. Essa regra essencial ao Estado Democrático de Direito é rompida sempre que os juízes passam a exercer o controle da razoabilidade – ou proporcionalidade das leis. O que prevalece na decisão judicial já não é a Constituição, porém a preferência, o valor que cada juiz adote, subjetivamente, como critério de aferição da razoabilidade ou proporcionalidade da cada lei. Em outros termos, o juiz avalia não a sua constitucionalidade, mas se a lei é boa (razoável) ou má (irrazoável), segundo suas preferências pessoais. (...) Esse controle (de razoabilidade ou proporcionalidade das leis) é francamente subjetivo, importando atribuição ao Poder Judiciário, de modo francamente inconstitucional, da função de corrigir o Legislativo – vale dizer, de exercer função legislativa. Embora não o diga de modo expresso, a referência feita pelo ex-Ministro do STF a decisões fundadas em valores e preferências pessoais acaba por aludir, implicitamente, a um deslocamento do suporte para a formação dos atos decisórios, que passa dos enunciados normativos a elementos subjetivos e extrínsecos ao texto legal – uma das premissas do ativismo judicial. Cabe também destacar que o juízo da razoabilidade ou proporcionalidade das leis pelo Poder Judiciário é um reflexo da identificação – ou melhor, da incorporação – de valores sociais aos princípios, cuja função normativa permite que seu conteúdo possa ser moldado por julgadores e aplicado diretamente na solução de casos concretos. Assim, os princípios funcionam tal como as cláusulas de textura aberta de Hart (isto quando os princípios já não veiculam, eles próprios, expressões vagas e indeterminadas), operando a releitura de normas e o surgimento de novas regras jurídicas. Isto se deve, em grande proporção, ao fato dos princípios, diferentemente das regras jurídicas, não preconizarem direitos ou obrigações de modo definitivo; seu conteúdo plástico e maleável afasta o método de aplicação conhecido como “tudo ou nada” típico das regras: ou caso concreto se subsume perfeitamente à previsão enunciada na regra jurídica ou ela será 104 totalmente inválida. O mesmo não ocorre com os princípios, que podem assumir diferentes pesos ou dimensões dependendo da situação concreta que demande a sua aplicação. No quadro descrito acima, o juízo de razoabilidade ou proporcionalidade – também princípios normativos – prestará o auxílio necessário ao intérprete para determinar qual princípio, e em que medida, será preponderante no caso concreto, em especial quando utilizada a técnica da ponderação. É no momento de exercitar a razoabilidade e a proporcionalidade para subsidiar a aplicação de princípios que tribunais têm a possibilidade de manifestar uma inclinação ativista, recorrendo a valores e preferências pessoais para eleger critérios de escolha e de prevalência entre diferentes matrizes principiológicas. Esta ocorrência só é permitida em função da hermenêutica encampada pelo constitucionalismo contemporâneo, onde a ostensiva presença de cláusulas de textura aberta e a eficácia normativa direta dos princípios criam um ambiente favorável à discricionariedade judicial e à influência de subsídios externos à lei na fundamentação de decisões do Judiciário. Com efeito, não se pode negar que a nova interpretação constitucional trouxe uma maior interação entre o intérprete e a norma jurídica, o qual já não se adstringe à subsunção mecânica e automática do texto legal. Dessas constatações, advém o segundo foco de críticas ao ativismo: o questionamento sobre a legitimidade da atuação criativa dos tribunais, que dá azo ao surgimento de novos regramentos sociais. No Estado Democrático de Direito, a lei é o norte de conduta do cidadão e do Estado, pois é ela fruto da vontade popular, externada através de agentes eleitos pelo próprio povo. Em outras palavras, a lei é o produto do autogoverno do povo, que a aceita como resultado de sua livre e autônoma escolha, intermediada por seus representantes no Parlamento. Por conseguinte, apenas estes representantes teriam a legitimidade para fazer novas proposições legislativas e, assim, dar concretude ao poder popular. Mas quando a nascente de novas regras de conduta já não está no Legislativo, cujas funções passam a ser exercidas, reversamente, por outras esferas de Poder, instaura-se a crise de legalidade ligada à soberania popular. Na história brasileira recente, inicialmente as críticas quanto à usurpação de funções típicas do Parlamento foram dirigidas ao Poder Executivo, que institucionalizou e banalizou o uso do decreto-lei durante o período militar e das medidas provisórias no regime democrático, para suprir, por muito tempo, vácuos deixados por uma agenda legislativa coerente e contínua. 105 Porém, com o fim do regime militar e, anos depois, com o advento da Emenda Constitucional nº 32 – que limitou sensivelmente o manejo das medidas provisórias –, a cúpula do Poder Judiciário brasileiro, notadamente o Supremo Tribunal Federal, chamou para si a responsabilidade de dirimir casos concretos por meio de inovações normativas ditadas pelos próprios tribunais. Um argumento muito utilizado para justificar a legitimidade dessa postura judicial ataca justamente o princípio majoritário que sustenta os Estados democráticos. Nesta visão, o ideal democrático não se perfaz apenas com concretização da vontade da maioria. Setores populares minoritários não podem ter tolhida sua manifestação de vontade pelo simples fato de não possuírem o número de votos suficientes para tanto. Com isso, restaria ao Poder Judiciário tutelar essas minorias e fazer valer seus direitos fundamentais mesmo contra a vontade da maioria representada no Parlamento. Segundo noticia Barroso (2010, p. 164), nos Estados Unidos este argumento motivou a Suprema Corte a promover uma série de históricas e dramáticas mudanças sociais durante as décadas de cinquenta e sessenta, período mais conhecido “Corte Warren”, uma alusão à figura de Earl Warren, que a presidiu entre 1953 a 1969. Destacam-se como modelos de defesa das minorias engendrados pela Corte Warren o caso Brown v. Board of Education of Topeka, decisão pioneira na luta a favor dos direitos civis na qual foi declarada a inconstitucionalidade da segregação racial em escolas públicas americanas, e o caso Loving v. Virginia, no qual a lei de anti-miscigenação do Estado da Virgínia (Racial Integrity Act of 1924), que proibia casamentos inter-raciais, também foi declarada inconstitucional. A postura judicial ativista que busca a defesa das minorias frente à “tirania” da maioria tem como pano de fundo teórico o constitucionalismo fraternal. Na visão de Machado (2012, p. 4/7), o constitucionalismo fraternal defende o emprego de ações estatais afirmativas como instrumento de realização da justiça distributiva, a fim de se chegar a senso comunitário mais abrangente e de inclusão. A dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial devem ser garantidos igualmente a todos os membros de uma mesma sociedade, independentemente da condição apresentada por cada deles, o que justificaria a existência de uma tutela jurídica voltada especialmente para as minorias, como os negros, os índios e os portadores de deficiências. Ainda segundo Machado (2012, p. 3), o constitucionalismo fraternal é encarado como uma terceira fase na evolução do direito constitucional, que acompanharia o clássico ideal da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. 106 Com o reconhecimento dos direitos de terceira dimensão por boa parte das Constituições de Estados democráticos, a fraternidade e a solidariedade atingiram status de princípios, informando a condução de ações públicas mais compromissadas com grupos sociais historicamente menos favorecidos. Na qualidade de direito constitucional difuso e, portanto, categorizado como de terceira dimensão, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado não ficou imune à influência do constitucionalismo fraternal e do Princípio da Solidariedade; ao revés, estes passam a integrá-lo, constituindo sua base jurídica e filosófica, ao mesmo tempo em que permitiram emergir modelos de decisões judiciais implementadoras de valores sociais que tangenciam com a problemática ativista. Com efeito, a nova visão da jurisprudência em torno de temas ambientais propiciada pelo constitucionalismo fraternal – refletida, em grande parte, no julgamento do STJ pela aplicação da responsabilidade objetiva aos danos ambientais decorrentes de omissões do Poder Público – não poderia ser totalmente compreendida sem o estudo dos mecanismos que permitem o encontro entre o direito e a moral: as cláusulas de textura aberta e sua estreita correlação com as lacunas axiológicas. 4.4 CLÁUSULAS DE TEXTURA ABERTA E LACUNAS AXIOLÓGICAS Para chegar à conclusão pela incidência da responsabilidade objetiva do Poder Público, o STJ realizou uma ampla e nova leitura dos marcos constitucionais de garantia dos processos ecológicos essenciais. Tal postura judicial só se torna possível com respaldo nas chamadas cláusulas de textura aberta, que se constituem em expressões ou palavras de conteúdo indeterminado ou impreciso, exigindo uma interpretação mais atuante dos tribunais com vistas à complementação de seu sentido, à luz dos valores morais presentes em determinado momento histórico. A despeito da decisiva contribuição de Hart na conceituação das cláusulas de textura aberta, para o aprofundamento da compreensão em torno do ativismo judicial, é fundamental também se avançar em direção à definição da natureza jurídica de tais cláusulas. Por força da imprecisão e da vagueza que tipificam as cláusulas de textura aberta, não cabe ao intérprete simplesmente descobrir o sentido da norma jurídica, pois ele próprio trabalhará para construir o seu significado e alcance no caso concreto. 107 O trabalho de construção interpretativa que se volta para o preenchimento do conteúdo material da norma jurídica pressupõe, por decorrência lógica, um vazio ou espaço a ser complementado pela ação do intérprete. Nesse sentido, começam a ser desenhadas grandes semelhanças entre as cláusulas de textura aberta e as lacunas, uma vez que ambas associam-se à problemática da completude do ordenamento jurídico. Por completude, entenda-se a qualidade ostentada pelo ordenamento jurídico que ofereça ao juiz uma norma específica para cada litígio submetido a seu julgamento. Ao revés, quando o julgador não for capaz de encontrar uma norma que atenda às especificidade do caso concreto, restará afigurado um problema de incompletude, cujo resultado imediato é a formação de uma lacuna, isto é, a inexistência de norma proibindo, obrigando ou permitindo a prática de um ato concreto. Empiricamente, portanto, a lacuna corresponde à ausência de norma a reger determinados comportamentos, tornando o ordenamento jurídico incompleto e insuficiente para permitir o emprego da interpretação baseada na técnica da subsunção, cuja premissa maior, conforme destacado no tópico anterior, parte da pressuposição de uma norma especialmente moldada para cada situação fática. Nesses termos, as lacunas qualificariam como juridicamente irrelevantes os fatos e as relações sociais excluídos de qualquer previsão contida em norma oriunda do monopólio legislativo do Estado. Tal compreensão das lacunas no Direito, porém, está longe de ser encarada de forma tão simplista. A densidade – e até mesmo a dificuldade – da temática em estudo começa pelo plano de existência das lacunas, já que a maior parte dos ordenamentos jurídicos contemporâneos, especialmente aqueles inspirados na tradição romano-germânica, assentam-se no dogma da completude. Em breves linhas, o dogma da completude impõe a existência de uma norma para cada caso apresentado ao Poder Judiciário, de forma que completude do ordenamento vigente é encarada como condição para o seu funcionamento. Bobbio (2011, p. 119) apresenta o dogma da completude como “o princípio de que o ordenamento jurídico seja completo para fornecer ao juiz, em cada caso, uma solução sem recorrer à equidade”. Assim, com esteio no referido dogma, renomados juristas chegam a negar a ocorrência das lacunas, sob o argumento comum de que o Direito consiste em um sistema fechado, hermético e autossuficiente no que toca à regulamentação de todos os comportamentos em sociedade. 108 Esse ponto de vista pressupõe que o reconhecimento ou não da existência das lacunas passa pelo exame de algumas características do sistema jurídico, especialmente se este é concebido como um sistema aberto e incompleto ou como uma unidade normativa fechada, perfeita e acabada. Na concepção fechada de sistema, as lacunas são apenas aparentes, posto que sempre haverá uma norma aplicável a cada caso concreto. Seus fundamentos repousam no princípio da razão suficiente e na noção da plenitude hermética da norma jurídica. Segundo Diniz (2007, p. 31/45) dentre os adeptos das teorias negadoras da existência das lacunas estão Savigny e Kelsen. Enquanto para o primeiro o Direito é universal e dispõe de tamanha força orgânica que toda vez que um fato não encontrar regulamentação expressa em lei, será ainda assism possível alocá-lo em face de outro instituto jurídico preexistente, para o segundo, a ideia de norma geral exclusiva (que preceitua que tudo o que não está juridicamente proibido, está permitido) é empregada para negar a existência das lacunas – que não passariam de mera ficção – e propagar o caráter pleno do sistema jurídico, capaz de oferecer, por si só, a solução para todos os conflitos postos ao Judiciário. De outro lado, adotando a visão aberta de sistema jurídico – e, por conseguinte, admitindo sua incompletude –, encontra-se a corrente que defende a existência das lacunas. Bobbio (2011, p. 112) lembra que um dos críticos mais contundentes do dogma da completude foi Eugen Ehrlich, um dos pioneiros no estudo da sociologia jurídica e precursor da ideia de que o Direito é, antes de tudo, um fenômeno social, possuidor um caráter dinâmico e em estado de constante mutação para melhor se adaptar aos anseios reclamados pela sociedade, embora nem sempre seja possível ao legislador prever e normatizar todas as relações sociais na mesma velocidade em que estas se transformam. Tais constatações, como se pode esperar, conduzem ao reconhecimento da presença de lacunas em qualquer ordenamento jurídico, haja vista os eventuais descompassos entre a produção da norma pelo Estado e a realidade por ela a ser regulada, o que representa, em certa medida, a ruptura da tridimensionalidade do Direito. É fácil observar que o sistema jurídico brasileiro abraça a tese da existência das lacunas. A Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942) enuncia em seu art. 4º que “quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito”, em franca admissão da natureza aberta e incompleta de nosso ordenamento. Admitida formalmente a existência de possíveis vazios no ordenamento jurídico brasileiro, torna-se também importante discorrer rapidamente sobre as classificações 109 oferecidas pela doutrina em relação às espécies de lacuna. Neste ponto, será concentrada maior atenção na diferenciação entre as lacunas autênticas ou normativas e entre as lacunas não autênticas ou axiológicas, que denotam mais relevância para o tema das cláusulas de textura aberta. As lacunas são autênticas quando inexistir norma contemplando uma solução para o caso concreto. É a hipótese típica de lacuna tratada na conceituação inicial deste tópico. As lacunas são consideradas não autênticas quando, apesar de existir previsão normativa expressa, a solução conferida pelo ordenamento jurídico não se amolda ao fato, por ser tida como falsa ou insatisfatória. Em complemento às definições acima, Diniz (2007, p. 84) assevera que “só é autêntica a lacuna jurídica, a não autêntica é apenas uma lacuna política.” A distinção entre lacunas autênticas e inautênticas também se desdobra na diferenciação entre lacunas normativas e axiológicas. As lacunas normativas correspondem às lacunas autênticas, na qual, na forma anunciada acima, verifica-se a ausência de norma para regular o caso concreto. Já as lacunas axiológicas giram em torno da discrepância entre o ato normativo e os valores vivenciados por uma determinada sociedade, onde a norma, a despeito de estar posta e vigente, é considerada injusta. Recorrendo mais uma vez às lições de Diniz (2007, p. 85), tem-se que as lacunas axiológicas “nada mais são do que um problema de apreciação valorativa do sistema normativo e de imprecisão na linguagem do legislador.” Nos estudos de Bobbio (2011, p. 143), as lacunas axiológicas recebem outra designação, passando a ser identificadas por lacunas impróprias ou ideológicas. As lacunas ideológicas nasceriam da comparação entre o sistema jurídico real e o sistema jurídico ideal e da posterior constatação de que a norma oferecida pelo direito positivo não regula a contento o fato concreto. Detalhando com maior riqueza sua tese em torno das lacunas ideológicas, Bobbio (2011, p. 140) explica que Entende-se também por “lacuna” a falta não já de uma solução, qualquer que seja ela, mas de uma solução satisfatória, ou, em outras palavras, não já a falta de uma norma, mas a falta de uma norma justa, isto é, de uma norma que se desejaria que existisse, mas que não existe. Uma vez que essas lacunas derivam não da consideração do ordenamento jurídico como ele é, mas da comparação entre ordenamento jurídico como ele é e como deveria ser, foram chamadas de “ideológicas”, para distingui-las daquelas que eventualmente se encontrassem no ordenamento jurídico como ele é, e que se podem chamar de “reais”. Podemos também enunciar a diferença deste modo: as lacunas ideológicas são lacunas de iure condendo (de direito a ser estabelecido), as lacunas reais são de iure conditio (do direito já estabelecido). 110 Todas as colocações vistas até então revelam que a questão das lacunas ultrapassa a mera noção de omissão normativa frente a um determinado comportamento, constatação que se reflete na prática jurídica cotidiana, sobretudo ante as dificuldades enfrentadas pelos tribunais na superação dos mais diversos conflitos gerados ora em função da ausência de norma, ora em função da inadequação valorativa entre a norma em vigor e as demandas do caso concreto. Sob esse aspecto, é inevitável se concluir pela similitude teórica e prática entre as lacunas axiológicas ou ideológicas e as cláusulas de textura aberta, na medida em que ambas tem sua origem na imprecisão linguística do legislador e retratam o vazio de ordem valorativa eventualmente encontrado em normas que, apesar de vigentes, não mais correspondem aos anseios morais da sociedade. Outro elemento comum às cláusulas de textura aberta e às lacunas axiológicas referese à crítica ao dogma da completude do ordenamento que ambas representam, pois se reconhecida a possibilidade de inadequação entre os valores encontrados no plano normativo e os valores encontrados no plano fático, há de ser afastada a condição hermética e a imposição de completude adotada por tal dogma. É interessante notar que na contestação ao dogma da completude reside uma das raízes do ativismo judicial. Nesse sentido, Bobbio (2011, p. 122) relembra que uma das principais correntes contrárias à crença de que o Direito estatal seria completo foi a Escola do Direito Livre, para quem, nas palavras do mencionado doutrinador italiano, o Direito “está cheio de lacunas e, para preenchê-las, é necessário confiar principalmente no poder criativo do juiz, ou seja, naquele que é chamado a resolver os infinitos casos que as relações sociais suscitam, além e fora de toda a regra pré-constituída”. Também merece ser destacada a natural e intrínseca correlação entre as antinomias impróprias, as lacunas axiológicas e, por conseguinte, as cláusulas de textura aberta. Salutarmente, Ferraz Jr. (2012, p. 180) observa que “nas antinomias impróprias, o conflito é mais entre o comando estabelecido e a consciência do aplicador, aproximando-se a noção de antinomia imprópria da noção de lacunas políticas”. Ante as características anteriormente pontuadas sobre as antinomias impróprias e as lacunas axiológicas, não é difícil entender o porquê da conclusão em referência. 111 As antinomias impróprias só podem despontar num cenário de desacordo de valores entre normas jurídicas. Mesmo as antinomias de princípio e as teleológicas apresentam, em maior ou menor grau, essa característica, que não se limita apenas às antinomias valorativas. É evidente que esse descompasso valorativo nascerá sempre da percepção subjetiva empregada pelo intérprete, o qual poderá igualmente enxergar nessa situação uma discrepância entre o conteúdo material das normas antinômicas e a moral e os valores sociais. É nesse quadrante de colisões valorativas decorrentes do subjetivismo do operador das normas que surge a zona de intercessão entre as antinomias impróprias e as lacunas axiológicas, sendo estas últimas o resultado não só do descompasso de valores entre as normas conflitantes, mas também entre elas e o seu intérprete. De mais a mais, constata-se que ao mesmo tempo em que as cláusulas de textura aberta se identificam com as lacunas axiológicas, também corporificam o instrumento a partir do qual o operador da norma poderá suprir as lacunas dessa natureza, eliminando a incompletude valorativa observada entre o enunciado normativo e o caso concreto, através da implementação dos valores morais e constitucionais vigentes. Como resultado, chega-se, então, à restauração da tridimensionalidade do Direito, caracterizada pela conjugação harmônica de fato, valor e norma, e à conciliação entre a norma real e a norma ideal. No julgamento do Resp 1071741/SP, a conclusão do STJ a favor da responsabilização objetiva do Estado foi conduzida com esteio em uma interpretação mais abrangente e inovadora dos enunciados constitucionais sobre o meio ambiente, dando origem à afirmação elaborada pelo tribunal no sentido de que o poder-dever de controle e fiscalização ambiental decorre diretamente dos arts. 225, 23, VI e VII, e 170, VI, da Carta Magna, e justificando, desse modo, a adoção de um regime de responsabilidade mais rígido para Administração no tocante aos danos ambientais, a despeito da inexistência de uma previsão constitucional expressa e literal nesses termos. Entretanto, cabe ressaltar sem a existência de cláusulas de textura aberta nos referidos enunciados e sem o preenchimento das lacunas axiológicas por elas representadas, a construção do raciocínio desenvolvido pelo STJ não teria sido possível. Nesse diapasão, expressões como “ecologicamente equilibrado”, “sadia qualidade de vida” e “preservar e restaurar processos ecológicos essenciais” – que apresentam conteúdos imprecisos e podem, portanto, comportar múltiplas interpretações a depender do contexto em que forem inseridas – foram alvo de releituras realizadas pelo STJ, que considerou, no momento de interpretá-las, a natureza difusa do direito ao meio ambiente, a esgotabilidade 112 dos bens ambientais, a dificuldade de se obter uma reparação in natura do bem ambiental degradado, os Princípios da Prevenção, da Precaução e do Poluidor-Pagador, bem como a influência dos dispositivos da Lei nº 6.938/81, para conferir o fundamento constitucional exigido para subsidiar a aplicação da responsabilidade objetiva nas omissões da Administração Pública. Com efeito, o precedente consubstanciado no Resp 1071741/SP demonstra, de forma inequívoca, como as cláusulas de textura aberta tem sido utilizadas pelos tribunais brasileiros para proporcionar a atualização das normas jurídicas de acordo com os anseios e valores clamados pela sociedade. 4.5 MUTAÇÃO CONSTITUCIONAL E ATIVISMO JUDICIAL Nem sempre a aplicação da responsabilidade objetiva em relação às omissões do Estado na seara ambiental foi uma orientação predominante no STJ. Ao se analisar as jurisprudências produzidas pelo tribunal nos últimos anos, observa-se que inicialmente a responsabilidade adotada pela Corte era a subjetiva, de forma a afastar, com tal entendimento, a aplicação da Lei nº 6.938/81 ao Poder Público. Um exemplo desses precedentes refere-se ao julgamento do Resp 647493 / SC, relatado pelo Ministro João Otávio de Noronha: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLUIÇÃO AMBIENTAL. EMPRESAS MINERADORAS. CARVÃO MINERAL. ESTADO DE SANTA CATARINA. REPARAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO POR OMISSÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. 1. A responsabilidade civil do Estado por omissão é subjetiva, mesmo em se tratando de responsabilidade por dano ao meio ambiente, uma vez que a ilicitude no comportamento omissivo é aferida sob a perspectiva de que deveria o Estado ter agido conforme estabelece a lei. (...) (STJ, REsp 647493 / SC, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, Julgamento: 22/05/2007, DJ 22/10/2003, p. 233, RDTJRJ vol. 75, p.94) Entretanto, como mais recentemente veio a demonstrar o julgamento do Resp 1071741/SP, a decisão acima transcrita foi superada em favor da prevalência da responsabilidade objetiva, adotada através de uma nova perspectiva de interpretação da Constituição Federal, o que, reflexamente, motivou o STJ a alterar o seu entendimento quanto à responsabilização ambiental da Administração Pública. Assim, um último aspecto a ser abordado visando à compreensão do ativismo judicial – e que explica a mudança de orientação jurisprudencial do STJ quanto ao tema estudado – 113 consiste nas suas semelhanças e diferenças com o fenômeno da mutação constitucional, com o qual muitas vezes é confundido. A mutação constitucional corresponde a uma das formas de alteração das Constituições. Porém, diferentemente dos mecanismos formais de reforma constitucional, que correspondem aos procedimentos previstos na própria Constituição para possibilitar sua alteração 36, a mutação representa um caminho informal de mudança quanto ao sentido e alcance das normas constitucionais. Nesses termos, enquanto a reforma constitucional atinge a estrutura palpável do enunciado normativo, modificando-o semanticamente e consubstanciando um processo afeto, basicamente, ao Poder Legislativo, a mudança operada pela mutação constitucional atinge o conteúdo das normas da Constituição sem alterar sua estruturação semântica, introduzindo novas interpretações e emprestando novos significados ao texto constitucional, em um processo pulverizado entre variados atores do cenário jurídico, mas que certamente concentra sobre os ombros do Poder Judiciário a parcela mais visível e atuante de tal manifestação. Assim, reforma e a mutação retratam ângulos diversos de um mesmo evento jurídico, sendo o primeiro ligado aos componentes extrínsecos da norma constitucional e o segundo, aos seus componentes intrínsecos. Colocando de lado esse elemento diferenciador, vale ressaltar que um dos motivos mais determinantes a ensejar a transformação dos textos constitucionais, seja pela via da reforma, seja pela via da mutação, encontra-se na dinâmica da vida em sociedade, onde cada vez mais se modificam rapidamente os contornos e a essência das relações humanas, exigindo-se uma constante atualização da Constituição para acompanhar os novos paradigmas morais e fáticos. A mutação constitucional, portanto, percorre o caminho inverso da incidência normativa usual: não é mais o Direito que transforma a realidade, determinado como ela deverá ser; é o Direito que se deixa transformar pelos acontecimentos sociais, mediante a atribuição de novos significados às normas constitucionais. Dito isso, a noção de mutação constitucional há de ser associada à necessidade de releitura de institutos, regras e princípios inseridos nas Cartas Magnas, com o objetivo de alcançar as transformações sociais, históricas e políticas que se apresentam no plano fático. 36 No Brasil, as hipóteses de reforma constitucional – que caracterizam a via formal de alteração das normas constitucionais – estão previstas, por exemplo, no art. 60 da Constituição Federal de 1998 (que versa sobre os procedimentos de propositura e elaboração das emendas constitucionais) e no art. 3º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (que versa sobre a revisão constitucional). 114 Baseado nas idéias acima, Barroso (2010, p. 126/127) propõe o seguinte conceito de mutação constitucional: (...) a mutação constitucional consiste em uma alteração do significado de determinada norma da Constituição, sem observância do mecanismo constitucionalmente previsto para as emendas e, além disso, sem que tenha havido qualquer modificação de seu texto. Esse novo sentido ou alcance do mandamento constitucional pode decorrer de uma mudança na realidade fática ou de uma nova percepção do Direito, uma releitura do que deve ser considerado ético ou justo. Para que seja legítima, a mutação precisa ter lastro democrático, isto é, deve corresponder a uma demanda social efetiva por parte da coletividade, estando respaldada, portanto, na soberania popular. Ante as características e os efeitos vistos acima, a mutação constitucional situa-se no mesmo patamar do poder constituinte originário e reformador, para figurar como uma nova espécie de poder constituinte, denominado poder constituinte difuso. Difuso, porque quando não é concretizada por agentes políticos e institucionais – que representam, de maneira indireta, a soberania popular –, a mutação é levada a efeito pelo povo por si mesmo. A partir desse cenário, definem-se os sujeitos e os instrumentos capazes de promover a mutação constitucional: a interpretação de agentes estatais, a norma secundária expedida pelo legislador ordinário e o costume originário da sociedade. No âmbito da interpretação, a mutação ocorrerá por intermédio das cláusulas de textura aberta contidas nos enunciados constitucionais (os conceitos jurídicos indeterminados e os princípios), reformando antigas interpretações e entendimentos a respeito do Texto Magno, a fim de melhor adaptá-lo às mais recentes exigências sociais. Nesse caso, as lacunas axiológicas constitucionais representadas pelas cláusulas de textura aberta são preenchidas pela ponderação do intérprete destinada a resolver a tesão de valores apresentada no caso concreto. Embora possa ser exercida pelos Poderes Executivo e Legislativo na seara de suas respectivas funções administrativas, a mutação constitucional cabe, em maior medida, ao Poder Judiciário e, fundamentalmente, ao Supremo Tribunal Federal, fazendo-se presente de modo mais notável no controle concentrado de constitucionalidade. Um exemplo de mutação constitucional concreta realizada pelo STF foi o reconhecimento do amparo conferido pela Constituição de 1988 aos efeitos jurídicos gerados pela união homoafetiva, por ocasião do julgamento da Ação de Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4277 e da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 132. 115 Naquela oportunidade, decidiu o STF, superando os precedentes anteriores da matéria, que a união estável entre casais do mesmo sexo estava protegida pelo art. 3º, inciso IV, da Constituição Federal – norma que veicula o princípio da isonomia –, aplicando a técnica da interpretação conforme 37 ao art. 1.723 do Código Civil 38, de forma a excluir qualquer impedimento para que a união homoafetiva seja considerada uma entidade familiar. Por decorrência dessa decisão, o conceito de família, inserido inúmeras vezes ao longo do texto da Constituição Federal, também foi atingido reflexamente, alterando-se o entendimento que durante muito tempo o limitou à união entre homem e mulher. Quanto à mutação constitucional propiciada pelo legislador ordinário, esta terá lugar sempre que a norma prevista em lei alterar a interpretação de uma norma constitucional. Tal cogitação se torna concreta quando admitida a existência do poder de regulamentação atribuído ao legislador ordinário, que tem como uma de suas funções precípuas explicitar e complementar os enunciados constitucionais, a fim de permitir sua efetividade e aplicabilidade. Essa foi uma tendência acentuadamente adotada na Magna Carta de 1988, onde facilmente se encontram diversas autorizações expressas para que o legislador ordinário exerça a complementação e a integração de suas normas. Sob esse aspecto, vale lembrar que, segundo a classificação concebida por Silva (2007, p. 88), o campo de eficácia nas normas inseridas na Constituição Federal varia entre a eficácia plena, contida ou limitada, de acordo com a maior ou menor possibilidade produzir efeitos imediatos em relação às situações ou aos comportamentos regulados pela norma constitucional. Com exceção das normas constitucionais de eficácia plena – que se caracterizam pela auto-aplicabilidade ou pela aptidão de incidir direta e imediatamente sobre o caso concreto –, as normas constitucionais de eficácia contida e limitada atribuem à norma infraconstitucional a missão de intermediar a aplicação da Constituição no mundo dos fatos, ora delimitando a abrangência da matéria tratada originalmente no texto constitucional (hipótese das normas de 37 Em breve síntese, a interpretação conforme a Constituição, prevista no parágrafo único do art. 28 da Lei nº 9.868, de 10 de novembro de 1999, permite ao Supremo Tribunal Federal, quando este se deparar com mais de uma interpretação possível em relação a um mesmo enunciado normativo, priorizar a aplicação do entendimento que externe maior harmonia e conformação com o texto constitucional. Assim, o emprego de tal técnica não acarreta a supressão da vigência da norma jurídica e nem a alteração de seu conteúdo, mas tão somente a escolha de uma interpretação – dentre as várias possíveis leituras da norma – que melhor se alinhe com os preceitos constitucionais vigentes. 38 Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. § 1o. A união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do art. 1.521; não se aplicando a incidência do inciso VI no caso de a pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente. § 2o. As causas suspensivas do art. 1.523 não impedirão a caracterização da união estável. 116 eficácia contida), ora delegando à lei ordinária ou lei complementar a normatização, em caráter definitivo, de objetivos genéricos e programáticos traçados pela Constituição (hipótese das normas de eficácia limitada). Com efeito, no que toca às normas constitucionais de eficácia limitada e contida, o legislador infraconstitucional deverá atuar como verdadeiro agente de integração das normas constitucionais, desde que aja com respeito às balizas e condições impostas pelo Texto Magno e paute sua discricionariedade de regulamentar a Constituição na oportunidade e na conveniência ditadas pelo interesse público. Em última instância, é a discricionariedade normativa que recai sobre o legislador ordinário que permitirá a mutação do sentido e do alcance da Constituição Federal, especialmente ante a necessidade de se complementar o conteúdo material das normas que o constituinte originário houve por bem deixar que fossem preenchidas por normas infraconstitucionais. Para os adeptos da ponderação que confere preponderância ao critério da lex especialis, a responsabilidade objetiva por danos ambientais decorrentes da omissão do Poder Público, prevista no art. 3º, IV, c/c art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, constitui exemplo de mutação constitucional operada por obra do legislador ordinário, já que estes dispositivos teriam o condão de alterar a tradicional leitura do ar. 37, § 6º, da Constituição Federal, afastando a incidência da responsabilidade subjetiva do Estado nesta hipótese. Há, ainda, a mutação constitucional que se realiza através do costume. Como visto linhas atrás, o costume posiciona-se entre as fontes secundárias do direito brasileiro, podendo ser aplicado como elemento de integração de lacunas normativas quando não se puder fazer uso da analogia. A identificação de determinada prática enquanto costume para fins jurídicos não é tarefa fácil, haja vista a exigência de dois elementos para sua consolidação: a reiteração e a convicção de sua obrigatoriedade (opinio necessitatis). Diz Ferraz Júnior (2010, p. 2012) sobre esses requisitos: Em suma, o costume, como fonte de normas consuetudiárias, possui em sua estrutura, um elemento substancial – o uso reiterado no tempo – e um elemento relacional – o processo de institucionalização que explica a formação da convicção da obrigatoriedade e que se explica em procedimentos, rituais ou silêncios presumidamente aprovadores. Ao longo de sua formação, a orientação extraída do costume pode adotar diferentes rumos. 117 Quando o costume coincide com norma jurídica presente no direito positivo, fala-se em costume secudum legem, ou seja, o costume que reproduz o conteúdo material do enunciado normativo vigente. Ao revés, pode o costume se colocar contra o direito positivado, indicando a existência de padrões consuetudinários de comportamento que vão de encontro a um enunciado normativo. É o caso do costume contra legem. E mais: é possível ainda que o costume regule situações não previstas em lei, isto é, que o costume se imponha sem se colocar contra ou consoante determinado enunciando normativo. É o denominado costume praeter legem. Com efeito, embora em menor freqüência do que a observada em face dos demais mecanismos de mutação constitucional, o costume é capaz modificar o sentido e o alcance de interpretações acerca da Constituição, sobretudo nas modalidades contra legem e praeter legem. Outrossim, encerrando o estudo das mutações constitucionais, resta a análise das limitações das impostas a esse fenômeno. As mutações encontram barreiras nos elementos que compõe a essência constitucional. Não lhes é legítimo atingir negativamente os pilares mais básicos da organização do Estado e dos direitos e liberdades de seus cidadãos. Logo, cingem-se as mutações ao potencial semântico dos enunciados normativos das Cartas Constitucionais, bem como ao respeito aos direitos e garantias fundamentais, à estruturação e forma de exercício do poder político e aos princípios nelas estampados. Para além desses domínios, Barroso (2010, p. 128/129) admite a possibilidade de ocorrerem mutações inconstitucionais, que afiguram anomalias no sistema jurídico: Como intuitivo, a mutação constitucional têm limites, e se ultrapassá-los estará violando o poder constituinte e, em última análise, a soberania popular. É certo que as normas constitucionais, como as normas jurídicas em geral, libertam-se da vontade subjetiva que as criou. Passam a ter, assim, existência objetiva, que permite sua comunicação com os novos tempos e as realidades. Mas essa capacidade de adaptação não pode desvirtuar o espírito da Constituição. Por assim ser, a mutação constitucional há de estancar diante de dois limites: a) as possibilidades semânticas do relato da norma, vale dizer, os sentidos possíveis do texto que está sendo interpretado ou afetado; e b) a preservação dos princípios fundamentais que dão identidade àquela específica Constituição. Se o sentido novo que se quer dar não couber no texto, será necessária a convocação do poder constituinte reformador. E se não couber nos princípios fundamentais, será preciso tirar do estado de latência o poder constituinte originário. As mutações que contrariem a Constituição podem certamente ocorrer, gerando mutações inconstitucionais. Em um cenário de normalidade institucional, deverão ser rejeitadas pelos Poderes competentes e pela sociedade. Se assim não ocorrer, cria-se uma situação anômala, em que o fato se sobrepõe da Constituição, uma usurpação de poder ou um quadro revolucionário. A inconstitucionalidade, 118 tendencialmente, deverá resolver-se, seja por sua superação, seja por sua conversão em Direito vigente. Aqui chegando, nota-se que muito em comum há entre as mutações constitucionais e o ativismo judicial. Naturalmente, o ativismo judicial pode propiciar e facilitar o surgimento da mutação constitucional, sendo a ponte entre ambos feita a partir da interpretação conferida pelos órgãos judiciários às cláusulas de textura aberta. O caso Brown v. Board of Education of Topeka, notório episódio de ativismo judicial da Suprema Corte dos Estados Unidos mencionado no início deste capítulo, é apontado por Barroso (2010, p. 125) como um exemplo de mutação quanto à interpretação o princípio da isonomia constante da Constituição americana. No Brasil, a Constituição Federal de 1988 está repleta de enunciados de textura aberta, o que constantemente a faz alvo de atualizações ou mutações realizadas pelo Poder Judiciário. O julgamento do caso da união homoafetiva pelo STF, além da retratar um exemplo recente de mutação constitucional no cenário jurídico local, teve sua decisão expressamente reconhecida como uma prática ativista no voto pronunciado por Mello (2011, p. 868), que ressaltou o intuito da Corte de garantir com esse precedente a autoridade da Constituição diante da omissão injustificada do Poder Legislativo: Práticas de ativismo judicial, embora moderadamente desempenhadas pela Corte Suprema em momentos excepcionais, tornam-se uma necessidade institucional, quando os órgãos do Poder Público se omitem ou retardam, excessivamente, o cumprimento de obrigações a que estão sujeitos, ainda mais se se tiver presente que o Poder Judiciário, tratando-se de comportamentos estatais ofensivos à Constituição, não pode se reduzir a uma posição de pura passividade. (STF, ADI 4277, Relator Ministro Ayres Britto, Pleno, Data do Julgamento 05/05/2011, DJe 14/10/2011) A despeito da zona de confluência demonstrada acima, as mutações constitucionais consubstanciam um evento maior que nem sempre encontrará lastro em interpretações ativistas dos órgãos jurisdicionais. Suas múltiplas fontes, que incluem os atos normativos do Poder Legislativo e o costume, dimensionam a mutação constitucional para fora dos domínios da interpretação dos agentes estatais, tornando-a um reflexo de condutas majoritariamente – mas não exclusivamente – protagonizadas pelo Poder Judiciário. Ademais, é necessário lembrar que o ativismo judicial é, acima tudo, uma postura dos tribunais, uma filosofia ou orientação pessoal que influenciará no modo do julgador comportar-se diante dos dilemas inerentes ao seu mister de decidir conflitos sociais. 119 Por outro lado, a mutação constitucional é o resultado prático de novas leituras do texto constitucional, que culmina na superação do entendimento anteriormente prevalecente acerca das proposições normativas contempladas na Constituição Federal. Isto justifica, em grande parte, a mudança jurisprudencial observada no âmbito do STJ quanto à substituição da responsabilidade subjetiva da Administração Pública pela responsabilidade objetiva no tocante aos danos ambientais fundados na omissão estatal, fato que se tornou uma realidade, em virtude da mutação constitucional operada pela Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. 4.6 DOS TRAÇOS ATIVISTAS PRESENTES NA DECISÃO DO RECURSO ESPECIAL 1071741/SP A nova hermenêutica constitucional transformou a forma de atuação do Poder Judiciário e renovou sua importância para o Estado Democrático de Direito. Esta nova era – marcada pela normatividade da Constituição Federal e pela retomada de valores morais através dos princípios – deu origem a um rearranjo de forças entre os três Poderes, onde o controle da atividade dos Poderes Executivo e Legislativo pelo Poder Judiciário passou a ser exercido mais amplamente. Nesse quadrante, a dimensão tomada pela atividade judicial desenhou contornos inéditos à competência dos tribunais, com repercussão direta em temas antes distantes do cotidiano jurídico. Eis então que surge o ativismo, fenômeno no qual se insere boa parte dos eventos que exprimem essa nova realidade judicial, caracterizado, basicamente, pela incursão do Poder Judiciário em direção às funções exercidas pelos demais Poderes. O caso do julgamento do Resp 1071741/SP tangencia com alguns dos principais elementos associados a este novo modelo de tomada de decisões judiciais, de forma que as peculiaridades de tal precedente convergem para um robusto indicativo da presença do ativismo judicial na conclusão assumida pelo STJ em favor da responsabilidade objetiva da Administração Pública por danos ambientais decorrentes de condutas omissivas. Isto se revela, em primeiro lugar, na afirmação sustentada pelo tribunal de que a responsabilidade objetiva do Poder Público também é extraída das circunstâncias apresentadas pelo caso concreto, que poderá justificar a aplicação de um regime de responsabilidade mais rígido do que aquele previsto pelo direito positivo, consoante “construção” doutrinária ou jurisprudencial. 120 A menção ao termo “construção” é de extrema significação, pois demonstra que o tribunal não trabalha, nesta hipótese, simplesmente mediante a aplicação de um direito já posto. Ao revés, a natureza “construtiva” do modelo de decisão seguido pelo STJ sugere a adesão à teoria dworkiniana que propõe a confluência entre a moral e o direito para legitimar a maior participação dos tribunais na composição do ordenamento jurídico em vigor. Com efeito, em mais um indício da adesão às ideais de Dworkin, ao consignar a possibilidade de se construir novos parâmetros de conduta a fim de dirimir conflitos concretos de interesses, o STJ deixa de meramente dizer o que é ou não legal, para enfrentar questões de moralidade política, decidindo, assim, o que é bom ou ruim para a sociedade. O segundo indicativo da inclinação ativista do STJ no acórdão do Resp 1071741/SP se faz presente por meio da justificação constitucional da responsabilidade objetiva da Administração Pública nas condutas danosas omissivas, o que se dá por meio da integração das cláusulas de textura aberta encontradas ao longo dos dispositivos da Carta Magna que versam sobre o meio ambiente. O terceiro ponto do julgamento que flerta abertamente com a conduta ativista refere-se à influência da Lei nº 6.938/81 na mudança de orientação jurisprudencial que deu sustentação constitucional à aplicação da responsabilidade objetiva do Estado por omissão em relação aos danos ambientais, o que também representa um claro exemplo de como o art. 3º, IV, c/c art. 14, § 1º, da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente foram capazes de operar uma mutação constitucional que excetuou a aplicação da responsabilidade subjetiva prevista no art. 37, § 6º, do Texto Maior. Nesse passo, é possível inferir a grande proximidade da decisão do Resp 1071741/SP com o ativismo judicial. 121 CONCLUSÕES A evolução histórica da Responsabilidade Civil deixa transparecer uma forte tendência à objetivação das relações jurídicas indenizatórias nas quais o Poder Público figura como autor ou partícipe de eventos danosos. Na seara do direito ambiental, essa tendência torna-se ainda mais acentuada em virtude de características peculiares deste ramo jurídico. Assim, a natureza difusa e intergeracional do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, o patamar constitucional a que foi alçada a obrigação do Estado de protegê-lo e preservá-lo – em especial na forma prevista no art. 23, incisos VI e VII, art. 170, inciso VI, e art. 225 da Carta de 1988 – , assim como a percepção, cada vez mais concreta, da fragilidade e da finitude dos bens ambientais fornecem os subsídios para a formação de um novo sistema de proteção ambiental, mais preocupado com as precárias perspectivas de sobrevivência dos ecossistemas ainda remanescentes e com a restauração de processos ecológicos dizimados pelas mãos de particulares ou do próprio Poder Público. Essa nova mentalidade de proteção ambiental não passou ao largo dos tribunais pátrios, que nos últimos anos promoveram uma série de significativas mudanças na interpretação do texto constitucional, com o intuito de oferecer uma tutela mais ampla e efetiva no que toca ao ressarcimento do dano ambiental. Nesse sentido, uma das alterações mais impactantes promovidas pelo Poder Judiciário refere-se ao rompimento do paradigma tradicionalmente inserido no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, segundo o qual o regime de Responsabilidade Civil do Estado divide-se entre a responsabilidade objetiva, aplicável às condutas danosas comissivas, e a responsabilidade subjetiva, aplicável às condutas danosas omissivas. Na nova leitura constitucional proposta pelos tribunais, não mais se admite a dualidade de regimes de responsabilização do Estado quando o dano a ser reparado for de natureza ambiental. Nessa hipótese, seja na ação ou na omissão, assentou-se o entendimento de que deve o Poder Público responder, independentemente de culpa ou dolo, pelos danos ambientais a que der causa diretamente ou cujo surgimento tenha permitido ou propiciado. Com efeito, em relação aos danos derivados da omissão no exercício do poder de polícia ambiental, a jurisprudência tem, gradativamente, substituído a responsabilidade subjetiva do Estado pela responsabilidade objetiva. Capitaneando esse movimento da mudança, o Superior Tribunal de Justiça implementou nos últimos anos uma sensível revisão de seu posicionamento acerca da 122 responsabilidade civil do Estado por omissão em matéria ambiental, a princípio propensa ao acolhimento da responsabilidade subjetiva. Assim, atualmente, a Corte tem buscado dar lugar a uma ampla aplicação da responsabilidade objetiva do § 1º do art. 14 da Lei nº 6.938/81, mesmo em se tratando de condutas estatais omissivas, conforme ilustrado através do multicitado acórdão do Recurso Especial 1071741/SP. O primeiro – e talvez mais relevante – efeito concreto de tal precedente consiste na consolidação da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente enquanto microssistema especial de exceção ao art. 37, § 6º, da Constituição Federal. A afirmação de tal status de excepcionalidade não seria possível sem o reconhecimento prévio de uma antinomia entre o art. 3º, inciso IV, c/c art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81 e o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, uma vez que estes dois enunciados oferecem soluções normativas diferentes para a problemática da Responsabilidade Civil do Estado por omissão, de forma a deixar aberta a possibilidade de aplicação simultânea de seus dispositivos – o que é totalmente inaceitável em ordenamentos jurídicos, como o em vigor no Brasil, que prezam pelo dever de coerência. Ainda com relação ao tema da antinomia, restou demonstrado no presente trabalho que o conflito entre os dispositivos acima mencionados não se enquadra na proposição clássica de antinomia jurídica própria, que se verifica quando uma norma obriga e outra proíbe, ou uma norma obriga e a outra permite, ou ainda quando uma norma permite e outra proíbe determinada conduta. No caso em apreço, a contradição analisada possui um viés mais sutil, a qual melhor se adapta ao conceito de antinomia jurídica imprópria, visto que esta categoria jurídica lida com oposições normativas de natureza mais ideológica e voltadas a questões de equidade. Ademais, ante as diversas classificações doutrinárias referentes às antinomias jurídicas impróprias, a que certamente espelha com maior fidelidade o conflito entre a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente e o art. 37, § 6º, da Constituição Federal é a antinomia imprópria valorativa, já que aqui são contrapostos diferentes pesos ou gradações normativas, relacionadas às consequências que decorrem de cada um dos possíveis regimes de responsabilidade imputáveis à Administração Pública em matéria ambiental, que variam entre uma implicação processual mais drástica – a responsabilidade objetiva – e outra menos árdua – a responsabilidade subjetiva. Nada obstante, para chegar à decisão sobre qual das normas em conflito há de prevalecer, o presente trabalho também realizou um breve estudo das regras de resolução de 123 antinomias jurídicas, consubstanciadas no critério hierárquico (lex superior derogat inferiori), critério cronológico (lex posterior derrogat priori) e critério da especialidade (lex especialis derogat generali), concluindo que o caso em tela também traz à tona uma antinomia de segundo grau, visto que a resolução da contradição inicial comporta a aplicação concomitante dos critérios hierárquico e da especialidade, gerando, assim, um novo conflito a ser solucionado. No cenário de conflituosidade que se desenha entre a norma superior geral e a norma inferior especial – onde não há resposta previamente estabelecida para sua superação –, o caminho a ser trilhado para se resolver definitivamente a antinomia entre art. 37, § 6º, da Constituição Federal e o art. 3º, IV, c/c art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81 repousará no emprego do critério de justiça, que tem como fio condutor o princípio da isonomia (suum cuique tribuere). Quanto a esse aspecto, cabe lembrar que as antinomias são consideradas um exemplo típico de caso difícil, isto é, situação na qual o caso concreto ou individual não encontra solução perfeitamente acabada e precisa no ordenamento jurídico, seja em função da ausência de previsão normativa específica (lacunas) ou pela pluralidade de normas que podem vir a ser aplicadas concretamente (antinomias). Nesse contexto, a escolha da norma mais justa a ser aplicada no caso concreto surgirá após o exercício da ponderação de todas as vantagens e desvantagens apresentadas pelas normas conflitantes, técnica comumente utilizada para contornar casos difíceis. Logo, como resultado da ponderação, é possível que a lei especial se sobreponha à lei superior, mesmo que esta última se trate da Constituição Federal, de maneira que o princípio da supremacia do texto constitucional possa ser legitimamente relativizado em favor de norma infraconstitucional que, à vista do sopesamento dos interesses e dos direitos em jogo no caso concreto, apresente proposições normativas consideradas mais justas do que as encontradas no Texto Magno. Outra consequência oriunda dessa constatação é a possibilidade de coexistência de dois diferentes regimes de responsabilização do Poder Público no que tange aos danos oriundos de condutas estatais omissivas, que encontra no art. 37, § 6º, da Constituição Federal sua regra geral e na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente a exceção aplicável diante de danos ambientais, tal como vem sendo construída a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em torno desse tema. O segundo efeito decorrente dos precedentes estudados é assunção, ainda que implícita, de um comportamento ativista por parte do STJ ao defender a incidência da 124 responsabilidade objetiva quando o caso concreto indicar a presença de um padrão ou dever de ação estatal mais rigoroso do que aquele que jorra do texto constitucional. Neste particular, nota-se que apesar dos arts. 23, incisos VI e VII, 170, inciso VI, e 225 da Constituição Federal não definirem expressamente a responsabilização objetiva do Poder Público como regra para as condutas danosas omissivas, a ostensiva presença de cláusulas de textura aberta nesses enunciados normativos (dentre as quais vale citar expressões como “ecologicamente equilibrado” ou “sadia qualidade de vida”), permitiu ao STJ operar uma releitura dos mencionados dispositivos, baseada na consciência coletiva que impele à ampliação do sistema de proteção ambiental, de forma a neles encontrar a fonte constitucional da responsabilidade objetiva do Estado frente a danos ambientais motivados pela omissão do poder-dever de fiscalização. Com efeito, a conciliação realizada pela Corte Federal entre o direito e a crescente moral “verde” ou “sustentável” da sociedade contemporânea permitiu que o tribunal alterasse seu entendimento pretérito sobre a Responsabilidade Civil do Estado na seara ambiental e suprisse a lacuna axiológica que vinha sendo deixada pelo emprego da responsabilidade subjetiva na situação em estudo. Também não se pode deixar de registrar o papel da Lei nº 6.938/81 enquanto instrumento de renovação e mitigação do alcance do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, caracterizando típica hipótese de mutação constitucional propiciada pelo legislador ordinário, haja vista a notória influência do referido diploma legal na nova interpretação emprestada pelo STJ a esse enunciado constitucional. Finalmente, infere-se que, mais do que uma tendência doutrinária e jurisprudencial, a responsabilidade objetiva do Estado por danos ambientais decorrentes de condutas omissas é uma realidade cada vez mais concreta e irreversível, fortalecida por um robusto pano de fundo teórico que comprova a plasticidade de que se reveste a Constituição Federal de 1988. 125 REFERÊNCIAS ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. 2ª ed. São Paulo: Malheiros, 2012. 669 p. BARCELLAR FILHO, Romeu Felipe. Responsabilidade Civil da Administração Pública – Aspectos Relevantes. A Constituição Federal de 1988. A Questão da Omissão. Uma Visão a partir da Doutrina e da Jurisprudência Brasileiras. In: FREITAS, Juarez (Org.). Responsabilidade Civil do Estado. Rio de Janeiro: Malheiros, 2006. p. 293-336. BARROSO, Luís Roberto Barroso. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: os conceitos fundamentais e a construção do novo modelo. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 453 p. ______.Da falta de efetividade à judicialização excessiva: direito à saúde, fornecimento gratuito de medicamentos e parâmetro para atuação estatal. Disponível em: http://www.luisrobertobarroso.com.br/wpcontent/themes/LRB/pdf/da_falta_de_efetividade_a _judicializacao_excessiva.pdf. Acesso em: 9 nov. 2012. BRASIL. Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento e Meio Ambiente. Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Disponível em: < http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/rio92.pdf>. Acesso em: 20 set. 2012. ______. Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm>. Acesso em: 23 fev. 2012. ______.Decreto nº 1.306, de 9 de novembro de 1994. Regulamenta o Fundo de Defesa de Direitos Difusos, de que tratam os arts. 13 e 20 da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, seu conselho gestor e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D1306.htm>. Acesso em: 15 ago. 2012. ______.Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932. Regulamenta a prescrição quinquenal. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D20910.htm >. Acesso em: 15 ago. 2012. ______.Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942. Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil/DecretoLei/Del4657.htm>. Acesso em: 23 fev. 2012. ______.Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil/Leis/L6938.htm>. Acesso em: 23 fev. 2012. ______.Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985. Disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio-ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico (VETADO) e dá outras providências. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7347orig.htm>. Acesso em: 15 ago. 2012. 126 ______.Lei nº 9.008, 21 de março de 1995. Cria, na estrutura organizacional do Ministério da Justiça, o Conselho Federal de que trata o art. 13 da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, altera os arts. 4º, 39, 82, 91 e 98 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, e dá outras providências. Disponível. em: <http://www3.dataprev.gov.br/SISLEX/paginas/42/1995/9008.htm>. Acesso em: 15 ago. 2012. ______.Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9605.htm>. Acesso em: 12 jun. 2012. ______.Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/2002/L10406.htm>. Acesso em: 30 fev. 2012. ______.Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial. Ação Civil Pública. Poluição ambiental. Empresas mineradoras. Carvão mineral. Estado de Santa Catarina. Reparação. Responsabilidade do Estado por omissão. Responsabilidade solidária. Responsabilidade subsidiária. Recurso Especial 647493 / SC, Relator Ministro João Otávio Noronha, Segunda Turma, Julgamento 22/05/2007, DJ 22/10/2007, p. 233, RDTJRJ, vol. 75, p. 94. Disponível em:<http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?livre=647493&&b=ACOR&p=true &t=&l=10&i=7>. Acesso em: 28 abr. 2012 ______.Superior Tribunal de Justiça. Administrativo. Ação Civil Pública. Loteamento irregular. Dano ambiental. Responsabilidade do Município. Art. 40 DA Lei N. 6.766/79. Poder-dever. Precedentes. Recurso Especial 1113789 / SP. Relator Ministro Castro Meira. Segunda Turma. Data do Julgamento 16/06/2009. DJe 29/06/2009. Disponível em: <http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?livre=1113789&&b=ACOR&p=true&t= &l=10&i=8>. Acesso em: 28 out. 2012. _____.Superior Tribunal de Justiça. Administrativo e Processual Civil. Ausência de sinalização em via pública. Responsabilidade Civil do Estado. Ato Omissivo. Ausência de precaução da condutora. Culpa Recíproca. Honorários Advocatícios. Súmula 7/STJ. Recurso Especial 951625/RS. Relatora Ministra Eliana Calmon. Segunda Turma. Data do Julgamento 18/09/2008. Dje 21/10/2008. Disponível em: http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?livre=951625&&b=ACOR&p=true&t=&l =10&i=4>. Acesso em: 28 out. 2012. ______.Superior Tribunal de Justiça. Ambiental. Unidade de conservação de proteção integral (Lei 9.985/00). Ocupação e construção ilegal por particular no parque estadual de Jacupiranga. Turbação e esbulho de bem público. Dever-poder de controle e fiscalização ambiental do estado. Omissão. Art. 70, § 1º, da Lei 9.605/1998. Desforço imediato. Art. 1.210, § 1º, do Código Civil. Artigos 2º, I e V, 3º, IV, 6º e 14, § 1º, da Lei 6.938/1981 (Lei da Política Nacional Do Meio Ambiente). Conceito de poluidor. Responsabilidade civil do Estado de natureza solidária, objetiva, ilimitada e de execução subsidiária. Litisconsórcio facultativo. Recurso Especial 1071741 / SP. Relator Ministro Herman Benjamin. Segunda Turma. Data do Julgamento: 24/03/2009. DJe 16/12/2010. Disponível em: <http://www.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp?newsession=yes&tipo_visualizacao=RESUMO& b=ACOR&livre=Resp%201071741>. Acesso em: 22 maio 2011. 127 ______.Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial. Ação Civil Pública. Poluição ambiental. Empresas mineradoras. Carvão mineral. Estado de Santa Catarina. Reparação. Responsabilidade do Estado por omissão. Responsabilidade solidária. Responsabilidade subsidiária. Recurso Especial 647493 / SC, Relator Ministro João Otávio Noronha, Segunda Turma, Julgamento 22/05/2007, DJ 22/10/2007, p. 233, RDTJRJ, vol. 75, p. 94. Disponível em:<http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?livre=647493&&b=ACOR&p=true &t=&l=10&i=7>. Acesso em: 28 out. 2012 _____. Superior Tribunal de Justiça. Processual Civil, Administrativo e Ambiental. Adoção como razões de decidir de parecer exarado pelo Ministério Público. Inexistência de Nulidade. Art. 2º, parágrafo único, da Lei 4.771/65. Dano ao meio ambiente. Responsabilidade Civil do Estado por Omissão. Arts. 3º, IV, c/c 14, § 1º, da Lei 6.938/81. Dever de controle e fiscalização. Agravo Regimental no Recurso Especial 1001780 / PR, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, Data do Julgamento: 27/09/2011, DJe 04/10/2011. Disponívelem:<http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?livre=1001780&&b=AC OR&p=true&t=&l=10&i=1>. Acesso em: 28 out. 2012. _____. Superior Tribunal de Justiça. Processual Civil. Administrativo. Intervenção do Estado no Domínio Econômico. Responsabilidade objetiva do Estado. Fixação pelo Poder Executivo dos preços dos produtos derivados da cana-de-açúcar abaixo do preço de custo. Dano moral. Indenização cabível. Juros moratórios. Cabimento. Correção monetária devida. Pedido implícito. Expurgos. Tabela única. Recurso Especial 926140 / DF. Relator Ministro Luiz Fux. Primeira Turma. Data do julgamento: 01/04/2008. DJe: 12/05/2008. Disponível em: <http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?livre=926140&&b=ACOR&p=true&t= &l=10&i=15>. Acesso em: 12. jun. 2012. _____. Supremo Tribunal Federal. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF). Perda parcial de objeto. Recebimento, na parte remanescente, como ação direta de inconstitucionalidade. União homoafetiva e seu reconhecimento como instituto jurídico. Convergência de objetos entre ações de natureza abstrata. Julgamento conjunto. Proibição de discriminação das pessoas em razão do sexo, seja no plano da dicotomia homem/mulher (gênero), seja no plano da orientação sexual de cada qual deles. A proibição do preconceito como capítulo do constitucionalismo fraternal. Homenagem ao pluralismo como valor sóciopolítico-cultural. Liberdade para dispor da própria sexualidade, inserida na categoria dos direitos fundamentais do indivíduo, expressão que é da autonomia de vontade. Direito à intimidade e à vida privada. Cláusula pétrea. Tratamento constitucional da instituição da família. Reconhecimento de que a constituição federal não empresta ao substantivo “família” nenhum significado ortodoxo ou da própria técnica jurídica. A família como categoria sóciocultural e princípio espiritual. Direito subjetivo de constituir família. Interpretação nãoreducionista [...]. Ação Direta de Inconstitucionalidade 4277 / DF. Relator Ministro Carlos Ayres Britto. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Data do julgamento: 05/05/11. DJe nº 198, de 13/10/2011. Disponível em: < http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=628635>. Acesso em: 29 mar. 2012. _____. Supremo Tribunal Federal .Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF). Perda parcial de objeto. Recebimento, na parte remanescente, como Ação Direta de Inconstitucionalidade. União homoafetiva e seu reconhecimento como instituto jurídico. Convergência de objetos entre ações de natureza abstrata. julgamento conjunto. Encampação dos fundamentos da ADPF nº 132-RJ pela ADI nº 4.277-DF, com a finalidade de conferir 128 “interpretação conforme à Constituição” ao art. 1.723 do Código Civil. Atendimento das condições da ação [...]. Arguição de Descuprimento de Preceito Fundamento 132/RJ. Relator Ministro Carlos Ayres Britto. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Data do julgamento: 05/05/11. DJe nº 198, de 13/10/2011. Disponível em: < http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28adpf+132%29&ba se=baseAcordaos>. Acesso em: 29 mar. 2012. CARVALHO, Délton Winter de. Dano ambiental futuro: a responsabilização civil pelo risco ambiental. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2008. 180 p. CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 19. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. 1095 p. COSTA, José Augusto Fontoura. Antinomias Jurídicas. Revista Universidade Guarulhos, Guarulhos, v. 1, n. 2, p. 79-85, 2001. ______.Normas jurídicas, aplicação e casos difíceis. Pesquisa em Pós-Graduação. Editora Universtária Leopoldianum, 2000. 21 p. Série Cadernos de Pós-Graduação da Universidade Católica de Santos. Santos DERANI, Cristiane. Direito ambiental econômico. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. 290 p. DINIZ, Maria Helena. Compêndio de introdução à ciência do direito: introdução à teoria geral do direito, à filosofia do direito, à sociologia jurídica e à lógica jurídica, norma jurídica e aplicação do direito. 22. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 613 p. ______.Curso de direito civil brasileiro: responsabilidade civil. v. 7. 24. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 706 p. ______.As lacunas no direito. 8. ed. adaptada ao novo Código Civil (Lei n. 10.406, de 10-12002). São Paulo: Saraiva, 2007. 340 p. DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2010. 568 p. FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2012. 346 p. GASPARINI, Diógenes. Direito Administrativo. 14. ed. São Paulo: Saraiva. 2009. 1.180 p. GRAU, Eros Roberto. O direito posto e o direito pressuposto. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 2011. 384 p. GREEN, Craig. An intellectual history of judicial activism. Emory University School of Law. Emory law journal. 5. ed. Vol. 58, 2009. Disponível em: <http://www.law.emory.edu/fileadmin/journals/elj/58/58.5/Green.pdf>. Acessado em: 28 dez. 2011 HART, L. A. H. O conceito de direito. São Paulo: Martins Fontes, 2009. 399 p. 129 JUSTEN Filho, Marçal. A responsabilidade do Estado. In: FREITAS, Juarez (Org.). Responsabilidade Civil do Estado. Rio de Janeiro: Malheiros, 2006. p. 226-248. LEITE, José Rubens Morato. AYALA, Patryck de Araújo. Dano ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimonial: teoria e prática. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. 410 p. LEWIS, Frederick P. The context of judicial activism: the endurance of the Warren Court legacy in a conservative age. Maryland (USA): Rowman & Littlefield Publishers Inc, 1999. 141 p. MACHADO, Clara Cardoso. Limites ao ativismo judicial à luz do constitucionalismo fraterno. Disponível em <http://www.academus.pro.br/mundojustica/artigomj_fraterno.pdf>. Acesso em: 28 jun. 2012. MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 13 ed. São Paulo: Malheiros, 2005. 1092 p. MATTOS, Fernanda Miranda Ferreira de. Responsabilidade Pós-Consumo: a aplicação da logística reversa na destinação dos resíduos decorrentes do encerramento da cadeia produtiva. 2011. 96 p. Dissertação (Mestrado em Direito). Universidade do Estado do Amazonas, Manaus, 2011. MEIRELLES, Hely Lopes Meirelles. Direito administrativo brasileiro. 30. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. 807 p. MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. 960 p. MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. 1024 p. MONTEIRO FILHO, Carlos Edison do Rêgo. Problemas da Responsabilidade Civil do Estado. In: FREITAS, Juarez (Org.). Responsabilidade Civil do Estado. Rio de Janeiro: Malheiros, 2006. p. 37-69. MUKAI, Toshio. Responsabilidade civil objetiva por dano ambiental com base na teoria Disponível em: < do risco criado. http://www.tonirogerio.com.br/_gravar/download/responsabilidade_civil_objetiva_por_dano_ ambiental_com_base_no_risco_criado.pdf>. Acesso em: 12 abr. 2012. NOBERTO, Bobbio. Teoria do ordenamento jurídico. Trad.: Ari Marcelo Sólon. São Paulo: Edipro, 2011. 176 p. PIETRO, Maria Sylvia Zanella di. Direito administrativo. 13. ed. São Paulo: Atlas, 2003. 712 p. PORFÍRIO JÚNIOR, Nelson de Freitas. Responsabilidade do Estado em face do dano ambiental. São Paulo: Malheiros, 2002. 128 p. 130 POZZETTI, Valmir César. Segurança Alimentar do Consumidor e os Alimentos Transgênicos: Estudo de Direito Comparado Brasil e França. França, 2009. Tese (Doutorado), Universidade de Limoges, 2009. 329 p. RAMOS, Elival da Silva. Ativismo judicial: parâmetros dogmáticos. São Paulo: Saraiva, 2010. 333 p. SACHS, Ignacy. Desenvolvimento: includente, sustentável, sustentado. Rio de Janeiro: Garamond, 2008. 151 p. SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. 7 ed. São Paulo: Malheiros, 2007. 319 p. ______.Curso de Direito Constitucional Positivo. 19 ed. São Paulo: Malheiros, 2001. 878 p. ______. Direito Ambiental Constitucional. 9. ed. São Paulo: Malheiros, 2011. 358 p. SOWELL, Thomas. Judicial activism reconsidered. <http://www.tsowell.com/Judicialact.pdf>. Acesso em: 26 fev. 2012. Disponível em: VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: responsabilidade civil. 10 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 376 p. ZOCKUN, Carolina Zancaner. Da Responsabilidade do Estado na Omissão da Fiscalização Ambiental. In: FREITAS, Juarez (Org.). Responsabilidade Civil do Estado. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 70-88. 131 ANEXO ANEXO A - RECURSO ESPECIAL Nº 1.071.741 - SP (2008/0146043-5) SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA RECURSO ESPECIAL Nº 1.071.741 - SP (2008/0146043-5) RELATOR : MINISTRO HERMAN BENJAMIN RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO RECORRIDO : FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO ADVOGADO : IARA ALVES CORDEIRO PACHECO E OUTRO(S) RECORRIDO : MARILDA DE FÁTIMA STANKIEVSKI E OUTRO ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS RECORRIDO : APARECIDO SILVIERO GARCIA ADVOGADO : IDALUCI B C SOBREIRA EMENTA: AMBIENTAL. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL (LEI 9.985/00). OCUPAÇÃO E CONSTRUÇÃO ILEGAL POR PARTICULAR NO PARQUE ESTADUAL DE JACUPIRANGA. TURBAÇÃO E ESBULHO DE BEM PÚBLICO. DEVER-PODER DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL DO ESTADO. OMISSÃO. ART. 70, § 1º, DA LEI 9.605/1998. DESFORÇO IMEDIATO. ART. 1.210, § 1º, DO CÓDIGO CIVIL. ARTIGOS 2º, I E V, 3º, IV, 6º E 14, § 1º, DA LEI 6.938/198 (LEI DA POLÍTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE). CONCEITO DE POLUIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO DE NATUREZA SOLIDÁRIA, OBJETIVA, ILIMITADA E DE EXECUÇÃO SUBSIDIÁRIA. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. 1. Já não se duvida, sobretudo à luz da Constituição Federal de 1988, que ao Estado a ordem jurídica abona, mais na fórmula de dever do que de direito ou faculdade, a função de implementar a letra e o espírito das determinações legais, inclusive contra si próprio ou interesses imediatos ou pessoais do Administrador. Seria mesmo um despropósito que o ordenamento constrangesse os particulares a cumprir a lei e atribuísse ao servidor a possibilidade, conforme a conveniência ou oportunidade do momento, de por ela zelar ou abandoná-la à própria sorte, de nela se inspirar ou, frontal ou indiretamente, contradizê-la, de buscar realizar as suas finalidades públicas ou ignorá-las em prol de interesses outros. 2. Na sua missão de proteger o meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações, como patrono que é da preservação e restauração dos processos ecológicos essenciais, incumbe ao Estado “definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção” (Constituição Federal, art. 225, § 1º, III). 3. A criação de Unidades de Conservação não é um fim em si, vinculada que se encontra a claros objetivos constitucionais e legais de proteção da Natureza. Por isso, em nada resolve, freia ou mitiga a crise da biodiversidade – diretamente associada à insustentável e veloz destruição de habitat natural –, se não vier acompanhada do compromisso estatal de, sincera e eficazmente, zelar pela sua integridade físico-ecológica e providenciar os meios para sua gestão técnica, transparente e democrática. A ser diferente, nada além de um “sistema de áreas protegidas de papel ou de fachada” existirá, espaços de ninguém, onde a omissão das autoridades é compreendida pelos 132 degradadores de plantão como autorização implícita para o desmatamento, a exploração predatória e a ocupação ilícita. 4. Qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, no Direito brasileiro a responsabilidade civil pelo dano ambiental é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios do poluidor-pagador, da reparação in integrum , da prioridade da reparação in natura , e do favor debilis, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à Justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental. Precedentes do STJ. 5. Ordinariamente, a responsabilidade civil do Estado, por omissão, é subjetiva ou por culpa, regime comum ou geral esse que, assentado no art. 37 da Constituição Federal, enfrenta duas exceções principais. Primeiro, quando a responsabilização objetiva do ente público decorrer de expressa previsão legal, em microssistema especial, como na proteção do meio ambiente (Lei 6.938/1981, art. 3º, IV, c/c o art. 14, § 1º). Segundo, quando as circunstâncias indicarem a presença de um standard ou dever de ação estatal mais rigoroso do que aquele que jorra, consoante a construção doutrinária e jurisprudencial, do texto constitucional. 6. O dever-poder de controle e fiscalização ambiental (= dever-poder de implementação), além de inerente ao exercício do poder de polícia do Estado, provém diretamente do marco constitucional de garantia dos processos ecológicos essenciais (em especial os arts. 225, 23, VI e VII, e 170, VI) e da legislação, sobretudo da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/1981, arts. 2º, I e V, e 6º) e da Lei 9.605/1998 (Lei dos Crimes e Ilícitos Administrativos contra o Meio Ambiente). 7. Nos termos do art. 70, § 1º, da Lei 9.605/1998, são titulares do dever-poder de implementação “os funcionários de órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA, designados para as atividades de fiscalização”, além de outros a que se confira tal atribuição. 8. Quando a autoridade ambiental “tiver conhecimento de infração ambiental é obrigada a promover a sua apuração imediata , mediante processo administrativo próprio, sob pena de co-responsabilidade ” (art. 70, § 3°, da Lei 9.605/1998, grifo acrescentado). 9. Diante de ocupação ou utilização ilegal de espaços ou bens públicos, não se desincumbe do dever-poder de fiscalização ambiental (e também urbanística) o Administrador que se limita a embargar obra ou atividade irregular e a denunciá-la ao Ministério Público ou à Polícia, ignorando ou desprezando outras medidas, inclusive possessórias, que a lei põe à sua disposição para eficazmente fazer valer a ordem administrativa e, assim, impedir, no local, a turbação ou o esbulho do patrimônio estatal e dos bens de uso comum do povo, resultante de desmatamento, construção, exploração ou presença humana ilícitos. 10. A turbação e o esbulho ambiental-urbanístico podem – e no caso do Estado, devem – ser combatidos pelo desforço imediato , medida prevista atualmente no art. 1.210, § 1º, do Código Civil de 2002 e imprescindível à manutenção da autoridade e da credibilidade da Administração, da integridade do patrimônio estatal, da legalidade, da ordem pública e da conservação de bens intangíveis e indisponíveis associados à qualidade de vida das presentes e futuras gerações. 11. O conceito de poluidor, no Direito Ambiental brasileiro, é amplíssimo, confundindo-se, por expressa disposição legal, com o de degradador da qualidade ambiental, isto é, toda e qualquer “pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente , por atividade causadora de degradação ambiental” (art. 3º, IV, da Lei 6.938/1981, grifo adicionado). 12. Para o fim de apuração do nexo de causalidade no dano urbanístico-ambiental e de eventual solidariedade passiva, equiparam-se quem faz, quem não faz quando deveria 133 fazer, quem não se importa que façam, quem cala quando lhe cabe denunciar, quem financia para que façam e quem se beneficia quando outros fazem. 13. A Administração é solidária, objetiva e ilimitadamente responsável, nos termos da Lei 6.938/1981, por danos urbanístico-ambientais decorrentes da omissão do seu dever de controlar e fiscalizar, na medida em que contribua, direta ou indiretamente, tanto para a degradação ambiental em si mesma, como para o seu agravamento, consolidação ou perpetuação, tudo sem prejuízo da adoção, contra o agente público relapso ou desidioso, de medidas disciplinares, penais, civis e no campo da improbidade administrativa. 14. No caso de omissão de dever de controle e fiscalização, a responsabilidade ambiental solidária da Administração é de execução subsidiária (ou com ordem de preferência). 15. A responsabilidade solidária e de execução subsidiária significa que o Estado integra o título executivo sob a condição de, como devedor-reserva, só ser convocado a quitar a dívida se o degradador original, direto ou material (= devedor principal) não o fizer, seja por total ou parcial exaurimento patrimonial ou insolvência, seja por impossibilidade ou incapacidade, inclusive técnica, de cumprimento da prestação judicialmente imposta, assegurado, sempre, o direito de regresso (art. 934 do Código Civil), com a desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil). 16. Ao acautelar a plena solvabilidade financeira e técnica do crédito ambiental, não se insere entre as aspirações da responsabilidade solidária e de execução subsidiária do Estado – sob pena de onerar duplamente a sociedade, romper a equação do princípio poluidor-pagador e inviabilizar a internalização das externalidades ambientais negativas – substituir, mitigar, postergar ou dificultar o dever, a cargo do degradador material ou principal, de recuperação integral do meio ambiente afetado e de indenização pelos prejuízos causados. 17. Como conseqüência da solidariedade e por se tratar de litisconsórcio facultativo, cabe ao autor da Ação optar por incluir ou não o ente público na petição inicial. 18. Recurso Especial provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça: "A Turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a)." Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Eliana Calmon, Castro Meira e Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Brasília, 24 de março de 2009 (data do julgamento). MINISTRO HERMAN BENJAMIN Relator
Baixar