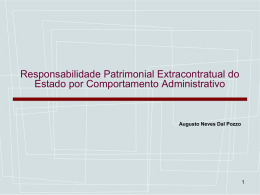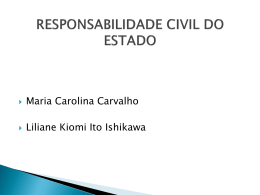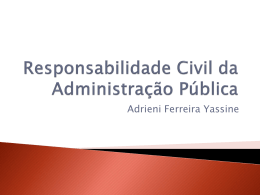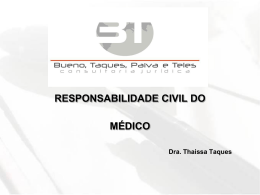UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA BRUNA AMORIM FRITZEN RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR ATO JURISDICIONAL Florianópolis 2014 BRUNA AMORIM FRITZEN RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR ATO JURISDICIONAL Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Graduação em Direito, da Universidade do Sul de Santa Catarina, como requisito parcial para obtenção do título de Bacharel. Orientador: Prof. Henrique B. Souto Maior Baião, Esp. Florianópolis 2014 Dedico esta pesquisa aos meus pais, Kátia e Pedro, que sempre apoiaram meus estudos, acreditaram em mim, e tiveram participação importante não só neste trabalho, mas em minha vida. AGRADECIMENTOS Sou grata, acima de tudo, a Deus, que me deu saúde, estímulo e forças durante toda a minha trajetória acadêmica e profissional, permitindo a conclusão desta segunda Graduação em Curso Superior. A meus pais, Kátia e Pedro, que por todos esses anos foram verdadeiro exemplo de determinação, solicitude e amor, em todos os sentidos. Sou grata por todos os incentivos que me deram, pela confiança depositada em mim e, principalmente, por não terem medido esforços para me proporcionar todas as oportunidades que tive. À minha irmã e melhor amiga, Fernanda, que acredito que ser a pessoa que mais estimo neste mundo, pela pessoa maravilhosa que é. Obrigada pela compreensão, por estar sempre ao meu lado e por fazer parte de minha vida, pois ela certamente não seria a mesma sem você. Ao meu amado noivo, André, meu exemplo de paciência, humildade e serenidade. Sou grata por me fazeres feliz, por me apoiares em todas as minhas decisões e por me estimulares no alcance dos meus objetivos. Ao professor Henrique B. Souto Maior Baião, pela orientação da pesquisa e pelo tempo que investiu para a conclusão do presente trabalho monográfico, com enorme dedicação e prestatividade. A todos vocês, minha eterna admiração, carinho e reconhecimento. “Ama-se mais o que se conquista com esforço” (Benjamin Disraeli). RESUMO Os princípios da responsabilidade civil buscam restaurar um equilíbrio patrimonial e moral violado. Um prejuízo ou dano não reparado é um fator de inquietação social. A teoria do risco administrativo, que dispensa a comprovação de culpa, foi adotada, como regra, pela atual Constituição. Nesse sentido, o artigo 37, §6º da Carta Magna de 1988 é claro ao consagrar a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público e de direito privado prestadoras de serviços públicos sempre que seus agentes, nessa qualidade, causarem danos a terceiros. Todavia, no que se refere à responsabilidade civil do Estado pelos atos jurisdicionais, grandes são as divergências doutrinárias e jurisprudenciais. Não há consenso acerca da inclusão ou não da atividade jurisdicional no aludido dispositivo constitucional. A doutrina pátria tem se mostrado cada vez mais propensa a enquadrar também a atividade jurisdicional no campo da responsabilidade objetiva do Estado. A jurisprudência majoritária, contudo, se opõe à adoção da tese da responsabilidade estatal pelos atos jurisdicionais. Tendo em vista esse embate doutrinário e jurisprudencial, a presente pesquisa possui como escopo a análise da responsabilidade civil do Estado pelos atos jurisdicionais, na esteira das disposições constitucionais que tratam do erro judiciário e do excesso de prisão (artigo 5º, inciso LXXV), bem como da garantia de duração razoável do processo (artigo 5º, inciso LXXVIII). O estudo faz um retrospecto do instituto, traçando o caminho percorrido até o entendimento atual da matéria, destacando, ao final, o posicionamento do Supremo Tribunal Federal sobre o tema. Palavras-chave: Responsabilidade Civil do Estado. Atos jurisdicionais. Erro judiciário. Excesso de prisão. Razoável duração do processo. LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS CP – Código Penal CPP – Código Processo Penal CC – Código Civil CPC – Código de Processo Civil CRFB – Constituição da República Federativa do Brasil EC – Emenda Constitucional LOMAN – Lei Orgânica da Magistratura Nacional STF – Supremo Tribunal Federal STJ – Superior Tribunal de Justiça TJRJ – Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro TJSC – Tribunal de Justiça de Santa Catarina TJRS – Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul TRF3 – Tribunal Regional Federal da 3ª Região TRF4 – Tribunal Regional Federal da 4ª Região SUMÁRIO 1 INTRODUÇÃO ................................................................................................................ 12 2 DA RESPONSABILIDADE CIVIL ................................................................................ 14 2.1 CONCEITO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA RESPONSABILIDADE CIVIL ... 14 2.2 ESPÉCIES DE RESPONSABILIDADE CIVIL ............................................................. 15 2.2.1 Quanto ao fato gerador ............................................................................................... 16 2.2.2 Quanto ao fundamento ............................................................................................... 19 2.3 PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL ................................................. 22 2.3.1 Conduta ........................................................................................................................ 22 2.3.2 Dano .............................................................................................................................. 24 2.3.3 Nexo de Causalidade ................................................................................................... 25 2.3.4 Culpa ............................................................................................................................ 27 2.4 EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL .................................................. 29 2.4.1 Legítima Defesa ........................................................................................................... 29 2.4.2 Estado de necessidade ................................................................................................. 30 2.4.3 Exercício regular do direito ........................................................................................ 31 2.4.4 Estrito cumprimento do dever legal .......................................................................... 31 2.4.5 Caso fortuito e força maior ........................................................................................ 32 2.4.6 Culpa exclusiva da vítima ........................................................................................... 33 2.4.7 Fato de terceiro ............................................................................................................ 33 2.4.8 Cláusula de não indenizar .......................................................................................... 33 3 DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO ....................................................... 35 3.1 DA EVOLUÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO .......................... 36 3.1.1 Teoria da Irresponsabilidade Estatal ........................................................................ 37 3.1.2 Teoria da Responsabilidade com Culpa Civil do Estado ........................................ 40 3.1.3 Teoria da Culpa Administrativa ................................................................................ 43 3.1.4 Teoria do Risco Administrativo ................................................................................. 45 3.1.5 Teoria do Risco Integral ............................................................................................. 47 3.2 DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR ATO OMISSIVO ................. 48 3.3 DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO NO DIREITO BRASILEIRO ....... 51 3.3.1 Responsabilidade Civil do Estado na Constituição de 1988 .................................... 51 3.3.2 Responsabilidade Civil do Estado no Código Civil de 2002 .................................... 52 3.3.3 Responsabilidade Civil do Estado no Código de Processo Civil ............................. 53 3.3.4 Responsabilidade Civil do Estado no Código de Processo Penal ............................ 53 3.3.5 Responsabilidade Civil do Estado na Lei Orgânica da Magistratura Nacional .... 54 4 DA RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL DO ESTADO PELOS ATOS JURISDICIONAIS ................................................................................................................. 55 4.1 O MAGISTRADO ENTRE OS AGENTES PÚBLICOS ............................................... 56 4.2 ATOS JUDICIAIS E ATOS JURISDICIONAIS ............................................................ 58 4.3 ATOS JURISDICIONAIS QUE PODEM ENSEJAR A RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL DO ESTADO ................................................................................................................ 60 4.3.1 Erro judiciário ............................................................................................................. 62 4.3.1.1 Erro Judiciário Penal .................................................................................................. 63 4.3.1.2 Erro Judiciário Civil ................................................................................................... 64 4.3.2 Excesso de prisão ......................................................................................................... 67 4.3.3 Demora na prestação jurisdicional ............................................................................ 69 4.4 DO POSICIONAMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DA AÇÃO DE REGRESSO .............................................................................................................................. 73 5 CONCLUSÃO................................................................................................................... 76 REFERÊNCIAS ..................................................................................................................... 78 12 1 INTRODUÇÃO Os princípios da responsabilidade civil buscam restaurar um equilíbrio patrimonial e moral violado. Um prejuízo ou dano não reparado é um fator de inquietação social. Daí decorre a tendência de ampliação do dever de indenizar operada pelos ordenamentos jurídicos contemporâneos, a fim de que cada vez menos danos restem irressarcidos. A teoria do risco administrativo, que dispensa a comprovação de culpa, foi adotada, como regra, pela atual Constituição. Nesse sentido, o artigo 37, §6º da Carta Magna de 1988 é claro ao consagrar a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público e de direito privado prestadoras de serviços públicos sempre que seus agentes, nessa qualidade, causarem danos a terceiros. Todavia, ainda que o indigitado dispositivo constitucional obrigue o Estado a reparar os danos causados por seus agentes, nessa qualidade, no exercício de suas funções públicas, o tema, conforme se verá no decorrer do trabalho, é complexo e controvertido tanto na doutrina quanto na jurisprudência no que se refere à responsabilidade civil do Estado pelos atos jurisdicionais. Não há, pois, consenso acerca da inclusão ou não da atividade jurisdicional no aludido dispositivo da Carta Magna. De um lado, parte da doutrina defende a possibilidade de que o Estado seja, em determinados casos, responsabilizado objetivamente em virtude de atos jurisdicionais. Porém, de outro lado, a jurisprudência brasileira, como regra, não aceita essa responsabilização, admitindo-a apenas nas hipóteses expressamente previstas em lei. Em outras palavras, somente as hipóteses consagradas no artigo 5º, LXXV, da Lei Maior e no artigo 630 do CPP ensejariam a responsabilidade estatal, excluindo, assim, os demais erros decorrentes da atividade jurisdicional. Tendo em vista esse embate doutrinário e jurisprudencial, o objetivo do presente estudo é analisar os principais fundamentos e os limites da responsabilidade civil do Estado pelos atos jurisdicionais, na esteira das disposições constitucionais que tratam do erro judiciário e do excesso de prisão (artigo 5º, inciso LXXV), bem como da garantia de duração razoável do processo (artigo 5º, inciso LXXVIII). Utilizar-se-á o método de abordagem dedutivo, constituindo-se uma pesquisa de natureza básica e exploratória quanto ao objetivo. As técnicas a serem utilizadas serão a pesquisa bibliográfica e documental, empregando-se, para tanto, a legislação que trata do tema, bem como o posicionamento da doutrina e da jurisprudência. 13 Para abordar o tema proposto, o trabalho será dividido em três partes. Será analisado, inicialmente, o instituto da responsabilidade civil como um todo. Abordar-se-á seu conceito, suas espécies – quanto ao fato gerador e quanto ao fundamento –, seus pressupostos, bem como as hipóteses que excluem ou atenuam a responsabilização civil. Na sequência, adentrar-se-á na responsabilidade civil do Estado, fazendo-se um retrospecto do instituto à luz das diversas teorias evolutivas, abordando-se, também, a responsabilidade civil do Estado por ato omissivo e a responsabilização civil do Estado no ordenamento jurídico brasileiro (sua previsão na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no Código Civil de 2002, no Código de Processo Civil de 1973, no Código de Processo Penal de 1941, bem como na Lei Orgânica da Magistratura Nacional). Por fim, serão apresentados principais argumentos para inadmitir a responsabilidade civil do Estado por ato jurisdicional, bem como suas refutações. Discorrerse-á a respeito do magistrado como agente público compreendido no preceito do artigo 37, §6º da Carta Magna e diferenciar-se-á o ato judicial do ato jurisdicional. Também serão analisadas as principais hipóteses de responsabilização civil do Estado por ato jurisdicional, quais sejam, erro judiciário, excesso de prisão e demora na prestação jurisdicional. Com o intuito de enriquecer o estudo, abordou-se, ao final, o posicionamento do Pretório Excelso a respeito de tema, discorrendo-se, brevemente, a respeito da ação de regresso em face do magistrado. 14 2 DA RESPONSABILIDADE CIVIL Para que se possa proceder ao estudo da responsabilidade civil, há que se realizar, preliminarmente, uma breve síntese sobre seu conceito e sua fundamentação legal, o que se fará a seguir. 2.1 CONCEITO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA RESPONSABILIDADE CIVIL O termo responsabilidade tem sua origem semântica no verbo latino respondere, significando a obrigação que alguém tem de assumir em decorrência de sua conduta. O termo contém, ainda, a raiz latina spondeo, fórmula através da qual se vinculava o devedor nos contratos verbais do Direito Romano. A responsabilidade, portanto, estaria ligada a uma obrigação derivada, a um dever jurídico sucessivo, em função da ocorrência de um fato jurídico lato sensu (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2011; GONÇALVES, 2012). Gagliano e Pamplona Filho (2011) ensinam que a responsabilidade está respaldada no princípio fundamental da proibição de ofender, ou seja, a ideia de que a ninguém se deve lesar (máxima neminem laedere, de Ulpiano). Destarte, em uma sociedade civilizada, a responsabilidade civil estaria relacionada ao limite objetivo da liberdade individual. Note-se, portanto, que o termo responsabilidade não se resume apenas na obrigação de quem causou o dano de repará-lo, de retornar a situação do lesado ao status quo ante, mas também em garantir uma relação jurídica equilibrada. Sobre o assunto, segue escólio de Gonçalves: Pode-se afirmar, portanto, que responsabilidade exprime ideia de restauração de equilíbrio, de contraprestação, de reparação de dano. Sendo múltiplas as atividades humanas, inúmeras são também as espécies de responsabilidade, que abrangem todos os ramos do direito e extravasam os limites da vida jurídica, para se ligar a todos os domínios da vida social. Coloca-se, assim, o responsável na situação de quem, por ter violado determinada norma, vê-se exposto às consequências não desejadas decorrentes de sua conduta danosa, podendo ser compelido a restaurar o status quo ante (GONÇALVES, 2012, p. 19-20, grifo do autor). Convém frisar que o dever de indenizar advém de um ato ilícito, que viola uma norma legal (responsabilidade extracontratual ou aquiliana) ou uma norma contratual (responsabilidade contratual). O artigo 927 do Código Civil consagra a regra de que todo aquele que causa dano a outrem é obrigado a repará-lo. Estabelece o aludido dispositivo legal: 15 “Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo” (BRASIL, 2002a). Para Savatier (apud Rodrigues, 2007), a responsabilidade civil consubstancia uma obrigação, que incumbe uma pessoa de reparar o prejuízo causado a outra, por fato próprio, ou por fato de pessoas ou coisas que dela dependam. Desse modo, o instituto da responsabilidade civil é parte integrante do direito das obrigações, pois a principal consequência da prática de um ato ilícito é a obrigação que acarreta, para o seu autor, de reparar o dano, obrigação esta de natureza pessoal, que se resolve em perdas e danos. Biagio Junior (2000), por seu turno, entende que a responsabilidade civil “é a perda ou a diminuição verificadas no patrimônio do lesado ou o dano moral que geram a reação legal, movida pela ilicitude da ação do autor da lesão ou pelo risco da atividade”. A responsabilidade civil presta-se, portanto, ao restabelecimento da harmonia que fora quebrada pela conduta agente causador do dano. O Código Civil de 2002, embora tenha sistematizado a matéria, dedicando um capítulo especial e autônomo à responsabilidade civil, repetiu, em grande parte, ipsis litteris, alguns dispositivos do diploma anterior, trazendo poucas inovações. Na Parte Geral, nos artigos 186, 187 e 188 consignou a regra geral da responsabilidade aquiliana e algumas excludentes (BRASIL, 2002a). Na Parte Especial estabeleceu a regra básica da responsabilidade contratual no artigo 389 e dedicou dois capítulos à “obrigação de indenizar” e à “indenização”, sob o título “Da Responsabilidade Civil”. Para Gonçalves (2012), perdeuse a oportunidade, por exemplo, de se estabelecer a extensão e os contornos do dano moral, bem como de se disciplinar a sua liquidação, prevendo alguns parâmetros básicos destinados a evitar decisões díspares, relegando novamente à jurisprudência essa tarefa. Os princípios da responsabilidade civil buscam restaurar um equilíbrio patrimonial e moral violado. Um prejuízo ou dano não reparado é um fator de inquietação social. Daí decorre, segundo Venosa (2012), a tendência de ampliação do dever de indenizar operada pelos ordenamentos jurídicos contemporâneos, a fim de que cada vez menos danos restem irressarcidos. 2.2 ESPÉCIES DE RESPONSABILIDADE CIVIL O instituto da responsabilidade civil está dividido, em sentindo amplo, em responsabilidade extracontratual e contratual, e, nesse contexto, estão inseridas, ainda, as espécies subjetiva e objetiva (GONÇALVES, 2012). 16 A seguir se fará uma breve explanação acerca de cada espécie de responsabilidade civil, ressaltando que se dará maior enfoque à responsabilidade extracontratual, dado ser esta a espécie que importará à presente pesquisa. 2.2.1 Quanto ao fato gerador No que concerne ao fato gerador, a responsabilidade civil pode ser decorrente de um contrato (responsabilidade civil contratual) ou, independentemente de qualquer avença, quando o agente infringe um dever legal que lhe incumbe (responsabilidade extracontratual ou aquiliana) (GONÇALVES, 2012). A responsabilidade contratual decorre do inadimplemento de uma obrigação convencionada entre as partes contratantes. Seu fundamento jurídico, portanto, encontra-se disposto num contrato, de forma que somente um dos contraentes é quem pode infringir tal dever jurídico. Sérgio Cavalieri Filho esclarece que “na responsabilidade contratual, portanto, a vítima e o autor do dano já se aproximaram e se vincularam juridicamente antes mesmo da sua ocorrência, sendo, ainda, certo que, sem essa vinculação, o prejuízo não se teria verificado” (CAVALIERI FILHO, 2005, p. 296). Assim, na responsabilidade contratual há um descumprimento de obrigação estabelecida contratualmente em que um dos contratantes causa um dano ao outro pelo inadimplemento de uma obrigação, ou, ainda, de um cumprimento inadequado (defeito) de uma obrigação (MONTEIRO; MALUF; SILVA, 2012). Ainda quanto a esta modalidade, vale salientar que decorre da violação de obrigação constituída a partir das vontades das partes, ou seja, para se saber se há responsabilidade contratual ou extracontratual, importa averiguar, em cada caso, se as partes previram ou o legislador enunciou os deveres que vinculam os contraentes (PAIVA, 2009). De outra banda, a responsabilidade extracontratual se esteia em uma obrigação legal. O seu fundamento jurídico está na lei e qualquer pessoa pode ser responsabilizada, quando violar o dever geral de não lesar a ninguém. A responsabilidade civil extracontratual decorre de uma lesão ao direito de alguém, sem que haja qualquer liame obrigacional anterior entre o agente causador do prejuízo e a vítima. É o que se pode depreender da lição de Rodrigues (2007, p. 10): “Na hipótese de responsabilidade aquiliana, nenhum liame jurídico existe entre o agente causador do dano e a vítima até que o ato daquele ponha em ação os princípios geradores de sua obrigação de indenizar”. 17 Conforme se depreende do excerto supratranscrito, a responsabilidade extracontratual é também chamada de responsabilidade aquiliana, pois se originou da lex aquilia de damno, que autorizava a responsabilização por danos injustamente provocados, mesmo sem relação obrigacional pré-existente (DINIZ, 2011). Em síntese, não havendo contrato e ocorrendo um ato ilícito que viole direito e cause prejuízo a outrem mediante ação ou omissão, ainda que exclusivamente moral, configura-se a responsabilidade civil extracontratual. Nesse caso, aplica-se o disposto no artigo 186 do Código Civil. Todo aquele que causa dano a outrem, por culpa em sentido estrito ou dolo, fica obrigado a repará-lo. É a responsabilidade derivada de ilícito contratual, também chamada aquiliana (BRASIL, 2002a; DINIZ, 2011). Sobre essas espécies de responsabilidade, oportuna a transcrição de Venosa: [...] nem sempre resta muito clara a existência de um contrato ou de um negócio, porque tanto a responsabilidade contratual como a extracontratual com frequência se interpenetram e ontologicamente não são distintas: quem transgride um dever de conduta, com ou sem negócio jurídico, pode ser obrigado a ressarcir o dano. O dever violado será o ponto de partida, não importando se dentro ou fora de uma relação contratual. [...] por vezes, a existência de um contrato ou negócio unilateral não aflora de forma clara. Há situações dúbias nas quais a existência de uma obrigação negocial é questionada, como, por exemplo, no transporte gratuito ou no atendimento de urgência que um médico faz a um pedestre acidentado em via pública. Essa dúvida, porém, não é óbice para o dever de indenizar. O mesmo podemos dizer da responsabilização que surge de um contrato nulo (VENOSA, 2012, p. 22). Em virtude da aproximação observada entre as duas espécies de responsabilidade, há quem critique essa dualidade de tratamento a elas dispensada. São os adeptos da tese unitária ou monista, que entendem pouco importar os aspectos sob os quais se apresente a responsabilidade civil no cenário jurídico, dado que uniformes são os seus efeitos. Gonçalves (2012) reitera que essa convicção é, hodiernamente, dominante na doutrina, embora os códigos de diversos países adotem a tese dualista ou clássica. O retromencionado autor afirma que o Código Civil disciplinou em separado as duas espécies de responsabilidade: a extracontratual nos artigos 186 a 188 e 927 a 954; e a contratual nos artigos 389 e seguintes, bem como 395 e seguintes. Não obstante, o autor faz a ressalva de que o Codex não traz propriamente referências diferenciadoras entre as espécies de responsabilidade ora em comento (BRASIL, 2002a; GONÇALVES, 2012). Há, com efeito, aspectos privativos, tanto da responsabilidade contratual como da responsabilidade extracontratual, que exigem regulamentação própria. A título exemplificativo Gonçalves (2012) menciona a exceção de contrato não cumprido (exceptio 18 non adimpleti contractus), a “condição resolutiva tácita”, nos contratos sinalagmáticos (respectivamente, artigos 476 e 475 do CC), e o que ocorre com as omissões e com os casos de responsabilidade pelo fato de outrem, no domínio da responsabilidade extracontratual. Passa-se, assim, às diferenciações geralmente apontadas entre as duas espécies de responsabilidade. Primeiramente, convém destacar o ônus da prova. Se a responsabilidade é contratual, o credor somente está obrigado a demonstrar que a prestação foi descumprida, pois o onus probandi fica a cargo do devedor. Já no âmbito da responsabilidade extracontratual, o ofendido (autor da ação) é quem fica com o ônus de provar. Conclui-se, portanto, que “a vítima tem maiores probabilidades de obter a condenação do agente ao pagamento da indenização quando a sua responsabilidade deriva do descumprimento do contrato, ou seja, quando a responsabilidade é contratual, porque não precisa provar a culpa” (GONÇALVES, 2012, p. 46). Basta provar que o contrato não foi cumprido e, consequentemente, houve o dano. Além da diferença adrede mencionada, algumas outras constatações são possíveis a partir da comparação entre as duas espécies, como, por exemplo, a diferenciação quanto às fontes de que promanam. Enquanto a contratual tem a sua origem na convenção, a extracontratual a tem na inobservância do dever genérico de não lesar, de não causar dano a ninguém (neminem laedere), conforme disposição do artigo 186 do Código Civil (BRASIL, 2002a). Não obstante, mesmo em relação a partes que possuam uma relação contratual, “se o ilícito não for decorrente propriamente do objeto do contrato ou seus acessórios, mas decorrer de outro fato gerador que não previsto no acordo, há que se falar em responsabilidade extracontratual” (PAIVA, 2009, p. 24). Outro elemento de diferenciação entre as duas espécies de responsabilidade civil diz respeito à capacidade do agente causador do dano. Para Josserand (apud Gonçalves, 2012), a capacidade sofre limitações no terreno da responsabilidade contratual, sendo mais ampla no campo da responsabilidade extracontratual. Isso porque a convenção exige agentes plenamente capazes ao tempo de sua celebração, sob pena de nulidade (incapacidade absoluta) ou anulabilidade (incapacidade relativa) e da não produção de efeitos indenizatórios. Por fim, uma última diferenciação apontada envolve a questão da gradação da culpa. Nesta esteira, pondera Gonçalves: Em regra, a responsabilidade, seja extracontratual (art. 186), seja contratual (arts. 389 a 392), funda-se na culpa. A obrigação de indenizar, em se tratando de delito, deflui da lei, que vale erga omnes. Conseqüência disso seria que, na 19 responsabilidade delitual, a falta se apuraria de maneira mais rigorosa, enquanto de na contratual ela varia de intensidade de conformidade com os diferentes casos, sem contudo alcançar aqueles extremos a que se pudesse chegar na hipótese de culpa aquiliana, em que vige o princípio do in lege Aquilia et levissima culpa venit (GONÇALVES, 2012, p. 47, grifo do autor). Assim, no terreno da responsabilidade contratual, a culpa seria graduada conforme os diferentes casos em que ela se configure. Por outro lado, na hipótese de responsabilidade extracontratual – ou, nos dizeres de Gonçalves (2012), responsabilidade delitual –, em que a indenização é mensurada pela extensão do dano, a responsabilidade iria mais longe, alcançando até mesmo os casos de culpa levíssima. Feitas essas considerações acerca das espécies de responsabilidade civil quanto ao fato gerador, passa-se, por ora, à sua classificação quanto ao fundamento. 2.2.2 Quanto ao fundamento No que concerne ao fundamento, a responsabilidade civil subdivide-se em subjetiva e objetiva. A responsabilidade subjetiva está fundada na teoria da culpa. Assim, para que possa ser pleiteada alguma reparação, a regra é que deve existir culpa no comportamento do sujeito. Em não havendo culpa, não há responsabilidade. Nesse sentido, assevera Sílvio Rodrigues (2007, p. 11) que “a responsabilidade do agente causador do dano só se configura se agiu culposa ou dolosamente”, de modo que a prova da culpa do agente causador do dano é indispensável para que surja o dever de indenizar. A responsabilidade, no caso, é subjetiva, “pois depende do comportamento do sujeito” (RODRIGUES, 2007, p. 11). Corroborando tal entendimento, Monteiro, Maluf e Silva (2012) asseveram que na responsabilidade subjetiva, fundada na culpa, é preciso demonstrar o modo de atuação do agente, sua intenção dolosa, isto é, a vontade do lesante de causar o dano ou o seu comportamento negligente, imprudente ou imperito. Também sobre o assunto, breve escólio de Gonçalves: Diz-se, pois, ser “subjetiva” a responsabilidade quando se esteia na ideia de culpa. A prova da culpa do agente passa a ser pressuposto necessário do dano indenizável. Nessa concepção, a responsabilidade do causador do dano somente se configura se agiu com dolo ou culpa (GONÇALVES, 2012, p. 48). Verifica-se, portanto, que a culpa que fundamenta a responsabilidade civil deve ser compreendida em seu sentido lato sensu, ou seja, o sujeito deve causar o dano em função 20 de ato doloso (pleno conhecimento do mal e direta intenção de o praticar) ou culposo stricto sensu (violação de um dever que o agente poderia conhecer e acatar, mas que descumpre por negligência, imprudência ou imperícia) (MONTEIRO; MALUF; SILVA, 2012). A culpa, em seu sentido restrito, configura-se quando o agente atua com negligência (omissão com falta de cautela), imprudência (ação descomedida, com ausência de cuidado) ou imperícia (negligência técnica ou profissional), ressaltando que esta última forma de culpa, embora não esteja expressamente prevista no artigo 186 do Código Civil, encontrase compreendida na expressão negligência (LISBOA, 2013). A esse respeito, esclarecem Gagliano e Pamplona Filho (2011) que a culpa ocorre quando o agente falta com o dever geral de cautela, seja de maneira omissiva (negligência e imperícia) ou comissiva (imprudência). Cumpre ainda destacar que a prova da culpa do agente é indispensável. Sempre caberá ao autor o ônus da prova da culpa do réu, porquanto se trata de fato constitutivo do direito à pretensão reparatória. Apenas na hipótese de culpa presumida (decorrente da lei ou da jurisprudência) é que se inverte o ônus da prova, como no caso da responsabilidade civil indireta, cujo dano é causado por terceiro com quem o réu mantém algum tipo de relação jurídica. Acerca do tema, asseveram Gagliano e Pamplona Filho: Por se caracterizar em fato constitutivo do direito à pretensão reparatória, caberá ao autor, sempre, o ônus da prova de tal culpa do réu. Todavia, há situações em que o ordenamento jurídico atribui a responsabilidade civil a alguém por dano que não foi causado diretamente por ele, mas sim por um terceiro com quem mantém algum tipo de relação jurídica. Nesses casos, trata-se de uma responsabilidade civil indireta, em que o elemento culpa não é desprezado, mas sim presumido, em função do dever geral de vigilância a que está obrigado o réu (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2011, p. 56). O Código Civil brasileiro, malgrado regule um grande número de dispositivos de casos especiais de responsabilidade objetiva, filiou-se, como regra, à teoria subjetiva. É o que se pode verificar no artigo 186, que erigiu o dolo e a culpa como fundamentos para a obrigação de reparar o dano (GONÇALVES, 2012). De maneira diversa da responsabilidade subjetiva, a responsabilidade objetiva está fundada na teoria do risco. Nesta, a análise do elemento culpa é de todo prescindível. Não há, pois, necessidade de prova da culpa, bastando comprovar o nexo de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e a conduta do agente (GONÇALVES, 2012; VENOSA, 2012). Sobre a responsabilidade civil objetiva, enfatiza Gonçalves: 21 A classificação corrente e tradicional, pois, denomina objetiva a responsabilidade que independe de culpa. Esta pode ou não existir, mas será sempre irrelevante para a configuração do dever de indenizar. Indispensável será a relação de causalidade entre a ação e o dano, uma vez que, mesmo no caso de responsabilidade objetiva, não se pode acusar quem não tenha dado causa ao evento. Nessa classificação, os casos de culpa presumida são considerados hipóteses de responsabilidade subjetiva, pois se fundam ainda na culpa, mesmo que presumida (GONÇALVES, 2012, p. 48). Destarte, quando se está diante da responsabilidade objetiva, a culpa é irrelevante juridicamente. Isso porque tal modalidade de responsabilidade está alicerçada na teoria do risco, ou seja, na natureza da atividade, e não no comportamento do sujeito. Aqui não importa se houve dolo, se houve negligência, ou imprudência, ou imperícia. Importa apenas a verificação dos pressupostos (ação, nexo causal e dano). Diante de ação lesiva e da relação de causalidade entre a ação e o dano, surge a responsabilidade civil. Em suma, “não se cogita da subjetividade do agente. A vítima somente precisa demonstrar a ação ligada ao dano, para que surja o dever do lesante de repará-lo” (MONTEIRO; MALUF; SILVA, 2012, p. 573). Gonçalves (2012) destaca que, para a teoria do risco, toda pessoa que exerce alguma atividade cria um risco de dano para terceiros, devendo ser obrigado a repará-lo, ainda que sua conduta seja isenta de culpa. A responsabilidade civil desloca-se da noção de culpa para a ideia de risco, ora encarada como “risco-proveito”, que se funda no princípio segundo o qual é reparável o dano causado a outrem em consequência de uma atividade realizada em benefício do responsável (ubi emolumentum, ibi onus); ora mais genericamente como “riscocriado”, a que se subordina todo aquele que expuser alguém a um risco criado pelo próprio agente. Em outras palavras, aquele que, através de sua atividade, cria um risco de dano para terceiros deve ser objetivamente responsabilizado, seja porque auferiu lucros ou vantagens da sua atividade (“risco-proveito”) ou mesmo pelo simples fato de expor alguém a um risco criado (“risco-criado”) (GONÇALVES, 2012). Consideram-se atividade de risco as hipóteses previstas no parágrafo único do artigo 927 do Código Civil, quais sejam, quando houver previsão legal, ou se a própria natureza da atividade implicar risco para os direitos de outrem: Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem (BRASIL, 2002a). 22 Convém destacar que, no dispositivo legal supratranscrito, o legislador utilizou-se de expressão genérica para definir o que vem a ser a atividade de risco. Em virtude dessa inexatidão, consubstanciada em conceito jurídico indeterminado, é que emerge a polêmica acerca da ampliação dos poderes do magistrado no caso em concreto (GAGLIANO, PAMPLONA FILHO, 2011). Caberá, portanto, ao magistrado, através da análise dos casos concretos submetidos à apreciação judicial, apurar se a atividade desenvolvida pelo autor do dano é considerada de risco, hipótese em que prescindível será a aferição de culpa. Posteriormente às considerações acima trazidas, dá-se continuidade ao assunto com a exposição dos pressupostos da responsabilidade civil. 2.3 PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL Após a abordagem de alguns aspectos gerais da responsabilidade civil, mister se faz a análise de seus pressupostos, seus elementos básicos. Primeiramente, há que se analisar o artigo 186 do Código Civil, o qual constitui a base fundamental da responsabilidade civil no ordenamento brasileiro, que assim dispõe, in verbis: “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito” (BRASIL, 2002a). A análise do retrotranscrito artigo evidencia que quatro são os elementos essenciais da responsabilidade civil, quais sejam: conduta (ação ou omissão), dano experimentado pela vítima, nexo de causalidade e a culpa ou dolo do agente. Destaque-se que a culpa há de ser considerada elemento essencial tão somente quando se estiver diante de hipótese de responsabilização subjetiva (GONÇALVES, 2012). A seguir, seguem algumas considerações a respeito de cada um dos elementos acima discriminados. 2.3.1 Conduta O primeiro elemento da responsabilidade civil a ser aqui abordado é a conduta humana, tendo em vista que somente o homem, por si próprio ou na qualidade de representante da pessoa jurídica pode ser responsabilizado civilmente (VENOSA, 2012). Convém assinalar que a conduta humana, seja ela positiva (traduzida pela prática de um comportamento ativo), ou negativa (consubstanciada em um ato omissivo do agente), é 23 que poderá provocar um dano ou um prejuízo a outrem. Contudo, não basta simplesmente a existência da conduta, pois essa conduta deverá vir acrescida da voluntariedade do agente (GONÇALVES, 2012). A respeito, esclarecem Gagliano e Pamplona Filho: [...] a ação (ou omissão) humana voluntária é pressuposto necessário para a configuração da responsabilidade civil. Trata-se, em outras palavras, da conduta humana, positiva ou negativa (omissão), guiada pela vontade do agente, que desemboca no dano ou prejuízo. [...] O núcleo fundamental, portanto, da noção de conduta humana é a voluntariedade, que resulta exatamente da liberdade de escolha do agente imutável, com discernimento necessário para ter consciência daquilo que faz (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2011, p. 69, grifo do autor). No entanto, mister deixar assente que o elemento volitivo não abarca o desejo ou a consciência de ocasionar o prejuízo, visto que, assim procedendo, estaria o agente agindo com dolo. É o que elucida Pereira: [...] cumpre, todavia, assinalar que se não insere, no contexto de “voluntariedade” o propósito ou a consciência do resultado danoso, ou seja, a deliberação ou a consciência de causar o prejuízo. Este é um elemento definidor do dolo. A voluntariedade pressuposta na culpa é a da ação em si mesma. Quando o agente precede voluntariamente, e sua conduta voluntária implica ofensa ao direito alheio, advém o que se classifica como procedimento culposo (PEREIRA apud STOCO, 2004, p. 131). Gonçalves (2012) destaca que a exigência de um fato voluntário na base do dano exclui do âmbito da responsabilidade civil os danos causados por força da natureza, bem como os praticados em estado de inconsciência, mas não os praticados por uma criança ou um demente. Essencial é que “a ação ou omissão seja, em abstrato, controlável ou dominável pela vontade do homem” (GONÇALVES, 2012, p. 58). Em outras palavras, fato voluntário equivale a fato controlável ou dominável pela vontade do homem. Nesse diapasão, Venosa (2012) destaca que a voluntariedade desaparece ou tornase ineficaz quando o agente é juridicamente irresponsável. Não obstante, modernamente a imputabilidade cede importância ao ressarcimento, o que se pode observar, inclusive, na responsabilidade mitigada dos civilmente incapazes. Além da voluntariedade do ato, discute-se a necessidade deste ser ilícito para dar ensejo à responsabilidade civil. Venosa (2012), por exemplo, defende que o ato de vontade deve revestir-se de ilicitude. Esta, pois, seria imprescindível na medida em que o ato voluntário gera o dever de indenizar quando transgredir um dever legal. 24 Há, porém, os adeptos ao posicionamento de que a ilicitude ou antijuridicidade do ato voluntário seria prescindível em casos excepcionais. Para Gagliano e Pamplona Filho (2011), defensores dessa corrente, o dever de indenizar poderá existir mesmo quando o agente atua de forma lícita. Em outras palavras, poderá haver responsabilidade civil sem antijuricidade, ainda que excepcionalmente, por força de norma legal. Por fim, cumpre mencionar que o Código Civil brasileiro prevê a possibilidade de responsabilização civil não somente por ato próprio, como também por ato de terceiro (artigo 932), fato do animal (artigo 936) ou da coisa (artigos 937 e 938) (BRASIL, 2002a). Porém, o escopo estabelecido para o presente trabalho não comporta maiores divagações sobre o assunto. Feitas essas considerações acerca da conduta humana, passa-se a discorrer sobre o segundo elemento da responsabilidade civil, a saber, o dano. 2.3.2 Dano O dano consiste no prejuízo suportado pelo agente. Não há que se falar em responsabilidade civil sem a ocorrência de dano. O prejuízo é elemento imprescindível a ensejar a responsabilização do agente (GONÇALVES, 2012; VENOSA, 2012). Nesse sentido, enfatiza Gonçalves: Sem a prova do dano, ninguém pode ser responsabilizado civilmente. O dano pode ser material ou simplesmente moral, ou seja, sem repercussão na ordem financeira do ofendido. O Código Civil consigna um capítulo sobre a liquidação do dano, ou seja, sobre o modo de se apurarem os prejuízos e a indenização cabível. A inexistência de dano é óbice à pretensão de uma reparação, aliás, sem objeto (GONÇALVES, 2012, p. 54). O atual Código Civil aperfeiçoou o conceito de ato ilícito ao dizer que o pratica quem “violar direito e causar dano a outrem” (artigo 186), substituindo o “ou” (“violar direito ou causar dano a outrem”) que constava do artigo 159 do diploma de 1916. Com o advento do novo Codex, a imprescindibilidade do dano como elemento essencial à responsabilização do agente tornou-se incontroversa (BRASIL, 2002a; GONÇALVES, 2012). Sobre o assunto, Gonçalves (2012) ainda acrescenta que o elemento subjetivo da culpa é o dever violado. A responsabilidade, por seu turno, é uma reação provocada pela infração de um dever preexistente. No entanto, mesmo que haja violação de um dever jurídico e que tenha havido culpa, e até mesmo dolo, por parte do infrator, nenhuma indenização será devida, uma vez que não se tenha verificado prejuízo. Se, por exemplo, o motorista comete 25 várias infrações de trânsito, mas não atropela nenhuma pessoa nem colide com outro veículo, nenhuma indenização será devida, malgrado a ilicitude de sua conduta. Desse modo, verificase que nem sempre a transgressão de uma norma ocasiona dano. Somente haverá possiblidade de indenização se o ato ilícito ocasionar dano. Necessário enfatizar que o dano deve ser atual e certo, não sendo indenizáveis, a princípio, danos hipotéticos. Isso porque “sem dano ou sem interesse violado, patrimonial ou moral, não se corporifica a indenização. A materialização do dano ocorre com a definição do efetivo prejuízo suportado pela vítima” (VENOSA, 2012, p. 37). Já Lisboa (2013) defende que, para que haja ressarcimento pelo prejuízo causado, é imprescindível que o dano seja certo (aquele que se funda em um acontecimento preciso), atual (aquele que exsurge do ato delituoso) e subsistente (aquele que ainda deve ser reparado). O dano também poderá ser patrimonial, nas hipóteses em que a vítima deixa de ganhar ou perde bens em virtude do evento; ou extrapatrimonial, quando a vítima tem ofendido bens não econômicos, afetos à algum direito da personalidade. O prejudicado deve provar que sofreu o dano, sem necessariamente indicar o valor, pois este poderá depender de aspectos a serem provados em sede de liquidação (LISBOA, 2013). 2.3.3 Nexo de Causalidade O nexo causal compreende a relação de causa e efeito entre a ação ou omissão do agente e o dano verificado. Vem expressa no verbo “causar” empregado no artigo 186 do Código Civil. Sem relação de causalidade não há dever de indenizar. Em outras palavras, se houver dano, mas sua causa não estiver relacionada com o comportamento do agente, inexiste a relação de causalidade e, por consequência, também inexistirá a obrigação de indenizar (GONÇALVES, 2012; VENOSA, 2012). Gagliano e Pamplona Filho (2011) enfatizam que o nexo de causalidade se trata de um elo etiológico, que une a conduta do agente (positiva ou negativa) ao dano, visto que somente poderá ser responsabilizado aquele cujo comportamento deu causa ao prejuízo. Venosa, tecendo considerações sobre a temática, leciona: O conceito de nexo causal, nexo etiológico ou relação de causalidade deriva das leis naturais. É o liame que une a conduta do agente ao dano. É por meio do exame da relação causal que se conclui quem foi o causador do dano. Trata-se de elemento indispensável. A responsabilidade objetiva dispensa a culpa, mas nunca dispensará o nexo causal. Se a vítima, que experimentou um dano, não identificar o nexo causal que leva o ato danoso ao responsável, não há como ser ressarcida. Nem sempre é 26 fácil, no caso concreto, estabelecer a relação de causa e efeito (VENOSA, 2012, p. 53). No que tange à identificação do nexo causal, Venosa (2012) destaca duas questões primordiais a serem analisadas: em primeiro lugar, a existência de dificuldade em sua prova; em segundo lugar, a problemática da identificação do fato que constitui a verdadeira causa do dano, especialmente quando este decorre de causas múltiplas. Nem sempre haverá condições de estabelecer a causa direta do fato, sua causa eficiente. Destarte, para se explicar o nexo de causalidade, quatro são as principais teorias aventadas pela doutrina: a teoria da equivalência de condições; a teoria da causalidade adequada; a teoria da causa próxima; e a teoria da causalidade direta ou imediata. No tocante à teoria da equivalência das condições, de Von Buri, não há distinção entre causa e condição, ou seja, se várias condições concorrerem para o mesmo resultado, todas terão o mesmo valor ou relevância, de modo a se equivalerem (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2011). Note-se que essa teoria é de aspecto amplo, considerando elemento causal todo antecedente que haja participado da cadeia de fatos que desembocaram no dano. Daí porque tal teoria não é comumente aplicada em se tratando de responsabilidade civil, pois, por meio dela, “poderá ser considerado causador do resultado quem quer que se tenha inserido no liame causal, permitindo-se uma regressão quase infinita” (STOCO, 2004, p. 146). A teoria da causalidade adequada, por seu turno, entende que causa será o antecedente não somente necessário, mas, ainda, adequado à produção do resultado verificado. Em outros termos, a condição somente seria considerada causa de um dano quando, segundo o curso normal dos eventos, pudesse produzi-lo; do contrário, estar-se-ia diante de circunstância não causal (PEREIRA, 2001). A teoria da causa próxima defende que, mesmo havendo uma multiplicidade de causas sucessivas, só seria considerada causa, para fins de responsabilização do dano, a última verificada. Assim, como o próprio nome diz, elege-se a condição temporalmente mais próxima ao evento, ou seja, a condição imediatamente anterior ao evento danoso será considerada sua causa. Bastante criticada, essa teoria reduz-se à questão cronológica, desconsiderando a possibilidade de que a última causa possa não ser, necessariamente, a mais apta à produção do resultado (ROCHA, 2008). Por fim, a quarta teoria, denominada teoria da causalidade direta ou imediata, estabelece que a causa seria apenas o antecedente fático que, ligado por um vínculo de necessariedade ao resultado danoso, determinasse este último como uma consequência sua, 27 direta e imediata (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2011). Assim, a causa não deve ser somente adequada – conforme estabelece a teoria da causalidade adequada –, mas também necessária à produção do dano. Convém mencionar que o ordenamento jurídico brasileiro adotou esta última teoria, que encontra amparo legal no artigo 403 do Código Civil – embora o dispositivo também trate da inexecução das obrigações –, in verbis: “ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual” (BRASIL, 2002a). Não obstante, a despeito de se reconhecer que o Código Civil optou pela teoria da causalidade direta e imediata, a jurisprudência, por vezes, adota a teoria da causalidade adequada (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2011). Enfim, independentemente da teoria que se adote, como a questão só se apresenta ao juiz, caberá a este, na análise do caso concreto, sopesar as provas, interpretá-las em seu conjunto e, por fim, estabelecer se houve violação do direito alheio, cujo resultado seja danoso, e se existe nexo causal entre esse comportamento e o dano verificado (STOCO, 2004). 2.3.4 Culpa A culpa não é definida e nem conceituada na legislação pátria. Sua compreensão decorre de construção doutrinária e jurisprudencial. Venosa (2012) assevera que, embora não haja dificuldade de compreendê-la nas relações sociais e no caso concreto, há grande dificuldade em conceituá-la. Para Monteiro, Maluf e Silva a culpa, juridicamente, pode ser conceituada como “a inexecução de uma norma de conduta, cujos efeitos danosos são desejados pelo agente (dolo) ou previsíveis, mas não evitados pelo infrator (culpa em sentido estrito)” (MONTEIRO; MALUF; SILVA, 2012, p. 582). A regra geral do Código Civil Brasileiro para caracterizar o ato ilícito, contida no artigo 186, estabelece que este somente se materializará se o comportamento for culposo. Nesse dispositivo está presente a culpa lato sensu, que abrange tanto a dolo quanto a culpa em sentido estrito (GONÇALVES, 2012; VENOSA, 2012). Por dolo entende-se, em síntese, a conduta intencional. O agente atua conscientemente, desejando que ocorra o resultado antijurídico ou assumindo o risco de produzi-lo (GONÇALVES, 2012; VENOSA, 2012). Já na culpa stricto sensu não existe a intenção de lesar. A conduta é voluntária, 28 embora não o seja o resultado. Em outras palavras, o agente não deseja o resultado, mas acaba por atingi-lo ao agir sem o dever de cuidado. A inobservância do dever de cuidado revela-se pela imprudência, negligência ou imperícia (SANTOS, 2012). Oportuna, pois, a transcrição dos conceitos trazidos por Rui Stoco: Quando existe a intenção deliberada de ofender o direito, ou de ocasionar prejuízo a outrem, há o dolo, isto é, o pleno conhecimento do mal e o direto propósito de o praticar. Se não houvesse esse intento deliberado, proposital, mas o prejuízo veio a surgir, por imprudência ou negligencia, existe a culpa (stricto sensu) (STOCO, 2004, p. 133, grifo do autor). No direito civil pátrio, mais especificamente no âmbito da responsabilidade civil, não há grande relevância na distinção entre dolo e culpa stricto sensu, já que nesta seara o objetivo é indenizar a vítima e não punir o agente culpado, medindo-se a indenização pela extensão do dano, e não pelo grau de culpa do agente. Pela mesma razão, pode-se dizer que não há utilidade prática, para fins de aferição do dever de indenizar, na distinção entre culpa grave, leve e levíssima (MONTEIRO; MALUF; SILVA, 2012). Basta à responsabilidade civil, portanto, que no momento da conduta tenha o sujeito causado prejuízo intencional a outrem (hipótese de dolo), ou agido sem o dever de cuidado (hipótese de culpa stricto sensu) (VENOSA, 2012). No que diz respeito ao valor da indenização, o legislador trouxe inovação no Código Civil de 2002, ao aduzir no parágrafo único do artigo 944: “Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização”. Desta forma, embora a gradação da culpa seja irrelevante para caracterizar o dever de indenizar, ela servirá como parâmetro para o valor da indenização a ser fixada pelo juiz, sempre que houver excessiva desproporção entre o dano causado e a gravidade da culpa (MONTEIRO; MALUF; SILVA, 2012; VENOSA, 2012). Destaque-se que há imprecisões doutrinárias quanto à culpa como elemento da responsabilidade civil. Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Mário Veiga Pamplona Filho (2011), por exemplo, entendem que a culpa (em sentido lato, abrangendo o dolo) não é pressuposto geral da responsabilidade civil, mormente ante a existência da responsabilidade objetiva que prescinde deste elemento subjetivo para a sua configuração. Na visão desses autores falta o elemento “generalidade” para a culpa ser pressuposto da responsabilidade civil. Assim, seriam elementos essenciais da responsabilidade apenas a conduta humana (positiva ou negativa), o dano e o nexo de causalidade. Por outro lado, uma parcela expressiva da doutrina entende que o contido no 29 artigo 186 do Código Civil não deixa dúvidas de que o ato ilícito só é configurado em caso de comportamento culposo lato sensu (dolo ou culpa stricto sensu), a despeito da possibilidade de responsabilização objetiva (BRASIL, 2002a). Nesse sentido, excerto de Marcel Leonardi: “Não se pode olvidar que a responsabilidade objetiva, fundamentada na teoria do risco criado, foi concebida como exceção, e não como regra. Ampliar demasiadamente seu campo de aplicação criará enorme insegurança jurídica” (LEONARDI, 2005, p. 71). Uma vez feitos os devidos apontamentos sobre os pressupostos da responsabilidade civil, passa-se, em seguida, a discorrer sobre as hipóteses que excluem a responsabilização. 2.4 EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL A responsabilidade civil poderá ser excluída em determinadas hipóteses, isentando o agente do ônus de arcar com qualquer pretensão indenizatória, decorrente de um ato danoso à vítima. O motivo dessa isenção está no rompimento do nexo causal. A esse respeito, Gagliano e Pamplona Filho (2011, p. 143) asseveram: Como causas excludentes da responsabilidade civil devem ser entendidas todas as circunstâncias que, por atacar um dos elementos ou pressupostos gerais da responsabilidade civil, rompendo o nexo de causal, terminam por fulminar qualquer pretensão indenizatória. Esse nosso conceito tem por finalidade estabelecer uma regra que sirva para a sistematização de todas as formas de responsabilidade, exigindo-se, assim, uma característica de generalidade. As excludentes de responsabilidade civil podem ser divididas em espécies, quais sejam: legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular do direito, estrito cumprimento do dever legal, caso fortuito e força maior, culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro e, ainda, cláusula de não indenizar. Aborda-se, a seguir, cada uma dessas espécies. 2.4.1 Legítima Defesa A legítima defesa consiste na “repulsa, proporcional à ofensa, no intuito de evitar que direito próprio ou de outrem seja violado” (NERY JUNIOR; NERY, 2009, p. 394). O ordenamento jurídico brasileiro autoriza a defesa da pessoa, de terceiro e também dos bens de ambos, para evitar que ataque injusto cause dano à pessoa ou a seus bens. O reconhecimento desta causa excludente existirá sempre que preenchidos seus pressupostos, isto é, quando o agente, utilizando-se dos meios necessários (suficientes dentre 30 aqueles postos à sua disposição), reage, proporcional e imediatamente, a uma injusta agressão, atual ou iminente, dirigida a si ou a terceiro. A desnecessidade ou a falta de moderação dos meios de reação configura excesso de legítima defesa, pelo qual o agente responde (NERY JUNIOR; NERY, 2009). Nesse sentido, artigo 25 do Código Penal, com a redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de Setembro de 1984: “entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem” (BRASIL, 1940). Mister ressaltar que a legítima defesa, quando putativa, interfire na culpabilidade penal, mas não exclui a ilicitude da conduta. Em outras palavras, exclui-se a culpabilidade, mas não a antijuricidade do ato, de forma que deverá o ofensor ressarcir a vítima, ainda que não se trate de terceiro inocente (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2011). Sobre o tema, Gonçalves leciona que “a legítima defesa, que exclui a responsabilidade civil do agente, é a real (a putativa, não) e desde que o lesado seja o próprio injusto agressor. Se terceiro é prejudicado [...] subsiste a obrigação de indenizar” (GONÇALVES, 2012, p. 464). 2.4.2 Estado de necessidade O estado de necessidade está regulado pelas disposições dos artigos 188, II, 929 e 930 do Código Civil e refere-se à situação em que o sujeito “viola direito alheio, com a finalidade de remover perigo iminente de um direito seu” (LISBOA, 2013, p. 600). Para que se admita a alegação dessa excludente, faz-se necessário que o estado de necessidade seja absolutamente necessário; em outras palavras, as circunstâncias de fato não podem permitir uma outra forma de atuação por parte do agente. Ademais, são também requisitos para o seu reconhecimento: a) o perigo atual; b) a inevitabilidade do sacrifício do bem de outrem; e, finalmente, c) a atuação nos estritos limites de sua necessidade (LISBOA, 2013). Ressalte-se, por oportuno, que aquele que provocou ou facilitou o perigo não pode se eximir da responsabilidade, arguindo esta causa como excludente. Isso porque o estado de necessidade pressupõe aquele que o pratica não pode ter provocado ou facilitado o seu próprio dano (AMARANTE, 2013). Não obstante, se a vítima não for a causadora da situação de perigo, deverá ser indenizada. Para melhor compreensão do instituto, segue elucidação de Gonçalves: 31 Se um motorista, por exemplo, atira o seu veículo contra um muro, derrubando-o, para não atropelar uma criança que, inesperadamente, surgiu-lhe à frente, o seu ato, embora lícito e mesmo nobilíssimo, não o exonera de pagar a reparação do muro. Com efeito, o art. 929 do Código Civil estatui que, se a pessoa lesada, ou o dono da coisa (o dono do muro) destruída ou deteriorada “não forem culpados do perigo”, terão direito de ser indenizados. No entanto, o evento ocorreu por culpa in vigilando do pai da criança, que é o responsável por sua conduta. Desse modo, embora tenha de pagar o conserto do muro, o motorista terá ação regressiva contra o pai do menor, para se ressarcir das despesas efetuadas. É o que expressamente dispõe o art. 930 do Código Civil [...]. (GONÇALVES, 2012, p. 460). Conforme já bem evidenciado no excerto acima, embora a lei declare que o ato praticado em estado de necessidade não seja ilícito, a teor do artigo 188, caput e inciso II do Codex Civil, nem por isso libera quem o pratica de reparar o prejuízo que causou. Assim, o agente que atinge terceiro inocente deve indenizá-lo, cabendo-lhe, contudo, ação regressiva contra o verdadeiro agressor, nos termos dos artigos 929 e 930 do Código Civil (RODRIGUES, 2007). 2.4.3 Exercício regular do direito O exercício regular de um direito é a “utilização do direito sem invadir a esfera do direito de outrem. É não prejudicar o direito de outrem, independente de causar dano” (NERY JUNIOR; NERY, 2009, p. 394). Lisboa, por seu turno, aduz que o “exercício regular do direito é o desenvolvimento de atividade humana em conformidade com o ordenamento jurídico” (LISBOA, 2013, p. 601). Assim, só exerce regularmente um direito aquele que não prejudica o direito de outrem. Em havendo excesso na atividade humana, o exercício do direito deixa de ser regular, passando a adentrar o campo do abuso de direito, com implicações, inclusive, na esfera criminal (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2011). Por derradeiro, cabe frisar que a intenção de prejudicar terceiro é prescindível para a caracterização do abuso de direito, conforme interpretação a contrario sensu do artigo 187 do Código Civil (LONGEN, 2013). 2.4.4 Estrito cumprimento do dever legal Esta excludente, a despeito de não estar expressamente prevista no artigo 188 do Código Civil, nele está contida, pois quem atua no exercício regular de um direito, pratica um ato em estrito cumprimento do dever legal (MARQUES apud GONÇALVES, 2012). Para 32 Lisboa, estrito cumprimento do dever legal é “a observância de um dever jurídico anteriormente estabelecido por lei” (LISBOA, 2013, p. 51). Portanto, não há que se falar em responsabilidade civil, uma vez que a conduta do agente se dá em virtude de uma obrigação legal, isto é, age em razão de um dever previsto em lei. O Código Penal, assim como o Código Civil, também não definiu o conceito de estrito cumprimento de dever legal, limitando-se a dizer, em seu artigo 23, inciso III, que não há crime quando o agente pratica o fato em estrito cumprimento de dever legal (BRASIL, 1940). Para que tal excludente seja reconhecida, necessário é que o agente faça exatamente o que a lei lhe impõe, isto é, que o cumprimento desse dever se dê nos estritos termos impostos pela lei. Se, porventura, o agente ultrapassa os limites fixados pelo ordenamento jurídico, no cumprimento do dever legal, ele poderá ser responsabilizado pelo excesso ou abuso de poder ou de autoridade (LISBOA, 2013). 2.4.5 Caso fortuito e força maior O conceito de caso fortuito e força maior é objeto de inúmeras discussões doutrinárias. Sem pretensão de por fim à divergência existente, Gagliano e Pamplona Filho (2011, p. 153) asseveram que [...] a característica básica da força maior é a sua inevitabilidade, mesmo sendo a sua causa conhecida (um terremoto, por exemplo, que pode ser previsto pelos cientistas); ao passo que o caso fortuito, por sua vez, tem a sua nota distintiva na sua imprevisibilidade, segundo os parâmetros do homem médio. Nessa última hipótese, portanto, a ocorrência repentina e até então desconhecida do evento atinge a parte incauta, impossibilitando o cumprimento de uma obrigação (um atropelamento, um roubo). Divergências conceituais à parte, mister ressaltar que ambas as figuras equivalemse, na prática, para afastar o nexo causal. Noronha (apud Venosa, 2012, p. 57) ressalta que “qualquer critério que se adote, a distinção nunca terá consequências práticas: os autores são unânimes em frisar que juridicamente os efeitos são sempre os mesmos”. Por fim, a parte final do caput do artigo 393 do Código Civil permite que o devedor se responsabilize expressamente pelo cumprimento da obrigação, mesmo em se configurando o evento fortuito, à luz do princípio da autonomia da vontade (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2011). 33 2.4.6 Culpa exclusiva da vítima A culpa exclusiva da vítima elide o dever de indenizar, pois tem o condão de romper o nexo causal. Assim, em caso de culpa exclusiva da vítima, o causador do dano “não passa de um mero instrumento do acidente” (GONÇALVES, 2012, p. 465). Não há, pois, liame de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo experimentado pela vítima. Há casos, porém, em que a culpa da vítima é apenas parcial, ou concorrente com a do agente causador do dano. Autor e vítima contribuem, ao mesmo tempo, para a produção de um mesmo fato danoso. Nessas hipóteses, existindo uma parcela de culpa também do agente, haverá a repartição de responsabilidades, de acordo com o grau de culpa (PEREIRA, 2001). 2.4.7 Fato de terceiro Entende-se por terceiro como alguém a mais, além da vítima e do causador do dano. Venosa (2012, p. 65) destaca que “não se cuida de pessoas que tenham ligação com o agente causador, tais como filhos, empregados e prepostos. Nessa hipótese, os atos desses terceiros inculpam os pais, patrões e preponentes”. Gonçalves (2012) ensina que, em matéria de responsabilidade civil, predomina o princípio da obrigatoriedade do causador direto em reparar o dano. Assim, a culpa de terceiro não exonera o autor direto do dano do dever jurídico de indenizar. No caso concreto, importa verificar se o terceiro foi o causador exclusivo do prejuízo ou se o agente indicado pela vítima também concorreu para o dano. Quando o ato de terceiro for a causa exclusiva do prejuízo, poderá o agente, depois de pagar a indenização, exercer o seu direito de regresso contra o terceiro (GONÇALVES, 2012). 2.4.8 Cláusula de não indenizar A cláusula de não indenizar envolve tão somente a responsabilidade civil contratual. Trata-se, portanto, da exoneração convencional do dever de reparar o dano. Por meio dela, “uma das partes contratantes declara que não será responsável por danos emergentes do contrato, seu inadimplemento total ou parcial” (VENOSA, 2012, p. 68). A cláusula de não indenizar altera o sistema de riscos no contrato, que são transferidos para a vítima (GONÇALVES, 2012). 34 Alguns doutrinadores distinguem a cláusula de não indenizar da cláusula de irresponsabilidade. Enquanto esta excluiria a responsabilidade, aquela afastaria apenas a indenização. Venosa critica a existência de uma cláusula de irresponsabilidade ao afirmar que “em princípio, somente a lei pode excluir a responsabilidade em determinadas situações. No campo negocial, melhor que se denomine o fenômeno de cláusula de não indenizar. Essa cláusula não suprime a responsabilidade, mas suprime a indenização” (VENOSA, 2012, p. 68). Muito se discute a respeito da validade de tal tipo de cláusula. Em que pese não ser vedada pelo Código Civil, ela só deve ser admitida quando houver bilateralidade de consentimento de sua estipulação e desde que as partes envolvidas guardem entre si uma relação de igualdade, vetando-se a sua aplicação sempre que houver uma situação de hipossuficiência entre os contratantes, especialmente nos contratos de adesão (CASTANHA, 2013). 35 3 DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO Em diversas ocasiões, os danos ou prejuízos causados aos indivíduos decorrem de ação ou omissão do Estado. Assim, enquanto sujeito de direito, o Estado também se submete à responsabilidade civil, prevendo a Constituição Federal que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos devem responder pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (MORAES, 2013). Oportuna a transcrição do artigo 37, §6º da Carta Magna, que estabelece, in verbis: Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: […] § 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (BRASIL, 1988). Nesse diapasão, a responsabilidade civil do Estado pode ser definida como o dever de indenizar as perdas e danos materiais e morais sofridos por terceiros em virtude de ação ou omissão antijurídica imputável ao Estado (JUSTEN FILHO, 2010). Tal instituto não se confunde com a responsabilidade civil contratual do Estado, que possui regras estabelecidas no âmbito dos contratos administrativos (MORAES, 2013). Assim, ao desenvolver as funções que lhe são próprias e os fins almejados, o Estado desdobra-se em órgãos, estruturando-se segundo uma aparelhagem complexa, sem prescindir, todavia, do elemento humano na execução de suas tarefas. Daí porque se utiliza de agentes, delegando-lhes atribuições ou poderes para agir, de tal modo que os atos por estes praticados, nessa qualidade, “representam atos da própria entidade estatal” (CAHALI, 2007, p. 15). Nesse mesmo sentido, imperioso destacar a lição trazida por Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, que, ao se debruçar sobre o tema, explica que [..] a atividade funcional do Estado, como ser abstrato, realidade acidental, formada de relações de seres substanciais, os seres humanos, se efetiva mediante a ação destes, pessoas físicas, seus agentes, mas no seu nome e por sua conta, como centro de atribuições e operações. A cada um desses agentes corresponde um círculo de atribuições, para ser objeto do exercício de poderes e cumprimento de deveres, que 36 exteriorizam a personalidade do Estado, como ser capaz de direitos e obrigações. Dada a complexidade e amplitude das atribuições do Estado, em razão das suas altas funções, é impossível o exercício delas por um só agente, mas se impõe seja por uma pluralidade deles. A manifestação das vontades de ditos agentes, segundo as respectivas atribuições, forma a vontade unitária da pessoa jurídica, Estadosociedade, pois são a eles imputadas como sua vontade (MELLO, 2007, p. 77). Com efeito, as pessoas investidas da função de tornar concreta a atividade do Estado poderão, eventualmente, provocar dano ao patrimônio de terceiros. No direito privado, leciona Cahali, “toda vítima de um ato ilícito tem ação judicial contra o autor do dano, ou seja, o responsável (CC, art. 186)” (CAHALI, 2007, p. 16). Resta saber, por ora, se o dano causado pelo Estado implica, na mesma proporção, maior ou menor responsabilidade pela sua reparação. Com o escopo de prover um melhor entendimento acerca do tema, far-se-á, a seguir, uma breve abordagem sobre a evolução histórica da responsabilidade civil estatal e as teorias que a sustentam. 3.1 DA EVOLUÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO Para que se chegasse à atual regra constitucionalmente estabelecida, a responsabilidade civil do Estado foi abordada à luz de diversas teorias, que foram e ainda são discutidas pela doutrina e jurisprudência pátrias. Daí porque, não obstante a expressividade das conquistas alcançadas pelo direito em matéria de responsabilidade civil do Estado, impende reconhecer que muitos aspectos permanecem controvertidos (LUVIZOTTO, 2010). Porém, a controvérsia que circunda o tema não dispensa a análise da evolução do instituto, nos limites do necessário à compreensão da responsabilidade civil do Estado em sua conformação atual. Sobre o assunto, Duez propõe uma cronologia evolutiva sintética e didática: a) numa primeira fase, a questão inexistia; a irresponsabilidade aparece como axioma, e a existência de uma responsabilidade pecuniária da Administração é considerada como entrave perigoso à execução dos seus serviços; na ordem patrimonial, os administrados tem apenas uma ação de responsabilidade civil contra o funcionário; b) numa segunda fase, a questão se põe parcialmente no plano civilístico: para a dedução da responsabilidade pecuniária do Poder Público, faz-se apelo às teorias do Código Civil, relativas aos atos dos prepostos e mandatários; c) numa terceira fase, a questão se desabrocha e se desenvolve no plano próprio do direito público; uma concepção original, desapegada do direito civil, forma-se progressivamente no quadro jurídico da faute e do risco administrativo (DUEZ apud CAHALI, 2007, p. 19-20). 37 Ao tratar do tema, Carlos Edison do Rêgo Monteiro Filho (2006) explica que, inicialmente, de um Estado irresponsável, chega-se, atualmente, à teoria da responsabilidade objetiva. Nesse contexto, tal autor fala em quatro fases evolutivas: (i) irresponsabilidade do Estado; (ii) responsabilidade civil do Estado por culpa subjetiva; (iii) responsabilidade do Estado por culpa anônima; e (iv) responsabilidade objetiva. Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2012) destaca que evolução das teorias é acompanhada de vasta divergência terminológica entre os doutrinadores, de modo que alguns chamam de culpa civil o que outros denominam culpa administrativa; outros ainda consideram hipóteses diversas a culpa administrativa e o acidente administrativo; e há aqueles que subdividem a teoria do risco em duas modalidades: risco integral e risco administrativo. Em que pesem as classificações divergentes, neste trabalho optou-se pela sistemática de evolução teórica proposta por Fachin (2001): a) irresponsabilidade estatal; b) responsabilidade com culpa civil do Estado; c) responsabilidade com culpa administrativa ou culpa anônima (também denominada pela doutrina de “acidente administrativo”); d) risco administrativo; e) risco integral. Após essa breve explanação acerca da evolução teórica do instituto da responsabilidade civil do Estado, acompanhada da multiplicidade de terminologias utilizadas pelos doutrinadores brasileiros, passa-se a abordar, nos tópicos seguintes, cada uma das teorias acima elencadas. 3.1.1 Teoria da Irresponsabilidade Estatal A chamada teoria da irresponsabilidade estatal, ou irresponsabilidade civil do Estado, corresponde à primeira fase da evolução histórica do instituto (FURTADO, 2013). Tal teoria está fundada na concepção de que o Estado jamais seria responsabilizado pelos prejuízos que causasse a terceiros. Haveria, portanto, total irresponsabilidade (FACHIN, 2001). O apogeu da irresponsabilidade estatal deu-se durante o período dos Estados absolutistas, na ideia de que 38 o Estado dispõe de autoridade incontestável perante o súdito; ele exerce a tutela do direito, não podendo, por isso, agir contra ele; daí os princípios de que o rei não pode errar (the king can do no wrong; le roi ne peut mal faire) e o de que “aquilo que agrada ao príncipe tem força de lei” (quod principi placuit habet legis vigorem). Qualquer responsabilidade atribuída ao Estado significaria colocá-lo no mesmo nível que o súdito, em desrespeito a sua soberania (DI PIETRO, 2012, p. 699, grifo do autor). A impossibilidade de responsabilização do Estado repousava, fundamentalmente, na ideia de soberania: o rei não cometia erros e, dessa maneira, não causava danos, já que era considerado o próprio representante de Deus na Terra (ARAÚJO, 2009). Em outras palavras, o Estado nunca poderia ser responsabilizado por qualquer espécie de dano, pois o soberano, sendo o próprio Estado, agindo sob desígnios divinos, nunca cometeria erros, não surgindo, desse modo, o dever de reparação pela parte estatal (FACHIN, 2001). Nesse período, muitos eram os brocardos utilizados para justificar a irresponsabilidade estatal: Le Roi ne peut malfaire (o rei não pode fazer mal), The King can do no wrong (o rei não pode errar), L’État c’est moi (o Estado sou eu) e Quod principi placuit habet legis vigorem (o que agradou ao príncipe tem força de lei) (FACHIN, 2001). Diogenes Gasparini (2012) destaca que a vigência dessas máximas, se de um lado indicava a irresponsabilidade do Estado, de outro não significava o total desamparo dos administrados. Isso porque [...] o rigor da irresponsabilidade civil do Estado era quebrado por leis que admitiam a obrigação de indenizar em casos específicos, a exemplo da lei francesa que determinava a recomposição patrimonial por danos oriundos de obras públicas e da que acolhia a responsabilidade por danos resultantes de atos de gestão do domínio privado do Estado. A par disso, admitia-se a responsabilidade do agente público, quando o ato lesivo pudesse ser atribuído diretamente a ele (GASPARINI, 2012, p. 1.125). Destarte, a irresponsabilidade estava respaldada na ideia de um Estado absoluto, soberano, que não poderia ser contestado. Nesse contexto, somente o agente público poderia ser responsabilizado pelos danos que provocasse, ocasião na qual responderia pessoalmente com seu patrimônio por tais danos (a responsabilidade existia em nome próprio, e não como prepostos do Estado) (GASPARINI, 2012). Leciona Cahali que a teoria da irresponsabilidade absoluta da Administração Pública está firmada em três postulados, quais sejam: 1) na soberania do Estado, que, por natureza irredutível, proíbe ou nega sua igualdade ao súdito, em qualquer nível de relação; a responsabilidade do soberano perante o súdito é impossível de ser reconhecida, pois envolveria uma contradição 39 nos termos da equação; 2) segue-se que, representando o Estado soberano o direito organizado, não pode aquele aparecer como violador desse mesmo direito; 3) daí, os atos contrários à lei praticados pelos funcionários jamais podem ser considerados atos do Estado, devendo ser atribuídos a pessoalmente àqueles, como praticados nomine proprio (CAHALI, 2007, p. 20-21, grifo do autor). Assim, quando os agentes públicos atuassem com dolo ou culpa, responderiam, pessoal e individualmente, por seus atos, mesmo quando no exercício de cargo público. Isso porque, em violando o direito, não agiam em nome do Estado, mas em seu próprio nome. Distinguiam-se, portanto, duas possibilidades: quando o ato praticado pelo servidor era correto, considerava-se que ele agia em nome do Estado; já quando o ato era lesivo ao direito de alguém, tinha-se que o servidor agia em nome próprio e, por consequência, somente ele poderia ser compelido a indenizar os prejuízos causados (FACHIN, 2001). Sobre o assunto, oportuna a transcrição de Diogenes Gasparini (2012, p. 1.125): O princípio da responsabilidade dos agentes públicos, em lugar da responsabilidade do Estado, restou consagrado, no direito brasileiro, na Constituição de 1824, no item 29 do art. 179, ressalvado o Imperador, que não estava submetido a qualquer espécie de responsabilidade, nos termos do art. 99 dessa Carta Magna. Mesmo após o fim do absolutismo, no chamado Estado Liberal, persistiu por algum tempo a ideia de impossibilidade de responsabilização estatal. Carvalho Filho afirma que, nesse período, o denominado Estado Liberal tinha limitada atuação e raramente intervinha nas relações entre particulares, “de modo que a doutrina de sua irresponsabilidade constituía mero corolário da figuração política de afastamento e da equivocada isenção que o Poder Público assumia àquela época” (CARVALHO FILHO, 2010, p. 594). Hodiernamente, no entanto, tal teoria está inteiramente superada (CAHALI, 2007; FACHIN, 2001; GASPARINI, 2012). Os últimos dois países que a sustentavam – Estados Unidos da América e Inglaterra – a abandonaram em meados da década de 40, respectivamente, por meio do Federal Tort Claum Act, de 1946, e do Crown Proceeding Act, de 1947. Atualmente, nos dizeres de Celso Antônio Bandeira de Mello, “todos os povos, todas as legislações, doutrina e jurisprudência universais reconhecem, em consenso pacífico, o dever estatal de ressarcir as vítimas de seus comportamentos danosos” (MELLO, 2004, p. 876). Assim, somente durante o Brasil-colônia é que se vivenciou a teoria da irresponsabilidade (GASPARINI, 2012). No entanto, tal teoria estava longe de alcançar os anseios sociais da justiça. No decorrer dos anos e com a consolidação do Estado de Direito, passou-se a se defender que o 40 Estado seria possuidor de direitos e deveres, assim como as demais pessoas jurídicas, devendo indenizar terceiros na medida em que lhes causasse danos (MONTEIRO FILHO, 2006). Destarte, a segunda fase evolutiva da responsabilidade civil do Estado vai alicerçar-se na culpa. A noção de que o Estado não poderia errar em decorrência da sua soberania é paulatinamente superada, admitindo-se a possibilidade, até então afastada, de que o Estado fosse responsabilizado pelos danos que viesse a causar (GASPARINI, 2012). Nessa segunda fase, Fachin (2001) ensina que a culpa poderia se manifestar sob duas facetas, a saber, culpa civil e culpa administrativa, as quais serão abordadas nos tópicos que seguem. 3.1.2 Teoria da Responsabilidade com Culpa Civil do Estado A teoria da responsabilidade do Estado com base na culpa surgiu como resposta à teoria da irresponsabilidade, que não mais se coadunava com a nova concepção de direito. Com o abandono da irresponsabilidade estatal, no século XIX, ganhou força a teoria civilista da culpa, que possibilitava a responsabilização estatal pelos danos que causasse ao particular (CARVALHO FILHO, 2010). Influenciada pelo direito privado, baseava-se na ideia de culpa ou dolo do agente público causador do dano, distinguindo-se, para fins de responsabilidade, os chamados “atos de império” (iure imperi) dos “atos de gestão” (iure gestionis) (FACHIN, 2001). Os atos de império seriam aqueles praticados pela Administração com todas as prerrogativas e privilégios de autoridade, impostos unilateral e coercitivamente ao particular independentemente de autorização judicial, sendo regidos por um direito especial, exorbitante do direito comum, uma vez que os particulares não podem praticar atos semelhantes (DI PIETRO, 2012). Oportuno também mencionar a definição proposta por Romeu Felipe Bacellar Filho, segundo o qual iuri imperi seriam “os atos praticados sob o manto de Potestade, no exercício da soberania do Estado, praticados por ele na qualidade de poder supremo, supraindividual, impostos unilateralmente e de forma coercitiva e, portanto, insuscetíveis de gerar direito à indenização” (BACELLAR FILHO, 2006, p. 305). Já os atos de gestão consistiram naqueles praticados pelo Estado em situação de igualdade com os particulares, para a conservação e desenvolvimento do patrimônio público e para a gestão de seus serviços. Os atos de gestão, ao contrário dos atos de império, levavam 41 ao reconhecimento da responsabilidade nas mesmas condições e proporções a que se submetem os cidadãos (DI PIETRO, 2012). Discorrendo a respeito dessas modalidades de atos, Cahali acrescenta que Tinha-se como certo que duas classes de funções desempenha o Estado: as essenciais ou necessárias, no sentido de que tendem a assegurar a existência mesma do Poder Público (manter a ordem constitucional e jurídica), e as facultativas ou contingentes, no sentido de que não são essenciais para a existência do Estado, mas este, não obstante, as realiza para satisfazer necessidades sociais, de progresso, bemestar e cultura; quando realiza as funções necessárias, age como Poder Público, soberano; quando realiza funções contingentes, age como gestor de interesses coletivos. Em condições tais, agindo o Estado no exercício de sua soberania, na qualidade de poder supremo, supra-individual, os atos praticados nessa qualidade, atos jure imperii, restariam incólumes a qualquer julgamento e, mesmo quando danosos para os súditos, seriam insuscetíveis de gerar direito à reparação. Todavia, na prática de atos jure gestionis, o Estado equipara-se ao particular, podendo ter sua responsabilidade civil reconhecida, nas mesma condições de uma empresa privada, pelos atos de seus representantes ou prepostos lesivos ao direito de terceiros; distinguia-se, então, conforme tivesse ou não culpa do funcionário: havendo culpa, a indenização seria devida; sem culpa, não haveria ressarcimento do dano (CAHALI, 2007, p. 22-23, grifo do autor). Logo, somente os atos de gestão estavam sujeitos à responsabilização e desde que se demonstrasse, juntamente com a prática do ato de gestão, a culpabilidade do agente que o praticou. O caráter culposo da conduta do servidor era um fator condicionante da responsabilidade civil do Estado, de modo a se compreender que somente com a comprovação da conduta ilícita do agente ou contrária ao Direito, hábil a ocasionar um dano a terceiro, estaria concretizado o pressuposto para a obtenção da reparação (LUVIZOTTO, 2010) Dessa forma, ao praticar atos de gestão, o Estado teria atuação equivalente a dos particulares em relação aos seus empregados ou prepostos. Já que para os particulares vigorava a regra da responsabilidade, o Estado também seria responsabilizado, desde que houvesse culpa do agente. Somente ao editar atos de império, vinculados à soberania, a Administração estaria isenta de responsabilidade (MEDAUAR apud MORAES, 2013). Essa teoria, como forma de atenuação da teoria de irresponsabilidade do Estado, provocou inconformismo entre as vítimas de atos estatais, pois, na prática, nem sempre era fácil distinguir se o ato era de império ou de gestão. Ao mesmo tempo, a jurisprudência procurava distinguir, de um lado, as faltas do agente atreladas à função pública e, de outro, aquelas dissociadas de sua atividade (CARVALHO FILHO, 2010). Nesse mesmo sentido, Marcia Andrea Bühring (2004, p. 95) pondera que “o lesado, diante do desestímulo de ter de provar a culpa do agente público e sabendo que o patrimônio do agente era geralmente insuficiente para atender à totalidade do dano, não 42 entrava com a ação de reparação”. A autora também faz menção às contribuições de Weida Zancaner Brunini, no sentido de que “a dificuldade de traçar uma linha indicadora do ponto onde terminavam os atos de Gestão e se iniciavam os atos de Império desestimulava o administrado a ingressar em juízo, pois, o que era um flagrante ato de gestão na vida prática, poderia ser tachado como ato de império pelos tribunais (BRUNINI apud BÜHRING, 2004, p. 95). Em virtude das inúmeras críticas e das dificuldades de identificar, caso a caso, os atos estatais que seriam de gestão, essa distinção foi perdendo força, mas manteve-se a ideia de culpa, assim explicada pelo Direito Civil como critério apto a gerar o dever de indenização (LUVIZOTTO, 2010). Aliás, essa teoria serviu de inspiração ao artigo 15 do Código Civil Brasileiro de 1916, que consagrou a teoria da responsabilidade subjetiva do Estado (DI PIETRO, 2012). Uma vez ultrapassada a distinção entre atos de gestão e atos de império, passou-se a entender que o Estado deveria responder por seus atos lesivos em qualquer circunstância, independentemente de sua classificação sob a ótica do Direito Administrativo. Nesse segundo momento da responsabilidade com culpa civil do Estado, consagrou-se de modo amplo a teoria da culpa. Assim, “ato do Estado, de qualquer natureza, causador de dano passou a ensejar o dever de indenizar” (FACHIN, 2001, p. 80). O Estado e o particular, no campo da responsabilidade extracontratual, estavam no mesmo plano. Acerca de tal momento histórico, pondera Diogenes Gasparini: [...] o Estado torna-se responsável e, como tal, obrigado a indenizar sempre que seus agentes houvessem agido com culpa ou dolo. O fulcro, então, da obrigação de indenizar era a culpa ou dolo do agente, que levava a culpa ou dolo ao Estado. É a teoria da culpa civil. Essa culpa ou dolo do agente público era condicionante da responsabilização [...]. Sem ela inocorria a obrigação de indenizar do Estado. O Estado e o particular eram, assim, tratados de forma igual. Ambos, em termos de responsabilidade [...], respondiam conforme o Direito Privado, isto é, se houvessem se comportado com culpa ou dolo. Caso contrário, não respondiam (GASPARINI, p. 1.126, grifo do autor). Mister deixar assente que a solução civilista, preconizada pela teoria da responsabilidade com culpa, embora representasse um progresso em relação à teoria da irresponsabilidade, não satisfazia os interesses de justiça. De fato, exigia-se muito dos administrados, pois o lesado tinha que demonstrar, além do dano, que ele fora causado pelo Estado e que haveria atuação culposa ou dolosa do agente estatal. Daí porque, em seguida, passou-se a centrar a obrigação de indenizar na culpa do serviço, conforme se verá no tópico seguinte (GASPARINI, 2012). 43 3.1.3 Teoria da Culpa Administrativa Conforme mencionado anteriormente, gradualmente passou-se a entender que o Estado deveria responder por seus atos lesivos independentemente da classificação em que estes viessem a se encaixar, ou seja, quer fossem atos de império, quer de gestão. A respeito dessa nova fase que se iniciava no campo da responsabilidade civil do Estado, Maria Sylvia Zanella Di Pietro ensina que O primeiro passo no sentido da elaboração de teorias de responsabilidade do Estado segundo princípios de direito público foi dado pela jurisprudência francesa, com o famoso caso Blanco, ocorrido em 1873: a menina Agnés Blanco, ao atravessar uma rua da cidade de Bordeaux, foi colhida por uma vagonete de Cia. Nacional de Manufatura do Fumo; seu pai promoveu ação civil de indenização, com base no princípio de que o Estado é civilmente responsável por prejuízos causados a terceiros, em decorrência de ação danosa de seus agentes (DI PIETRO, 2012, p. 700). E prossegue: Suscitado conflito de atribuições entre a jurisdição comum e o contencioso administrativo, o Tribunal de Conflito decidiu que a controvérsia deveria ser solucionada pelo tribunal administrativo, porque se tratava de apreciar a responsabilidade decorrente de funcionamento do serviço público. Entendeu-se que a responsabilidade do Estado não pode reger-se pelos princípios do Código Civil, porque se sujeita a regras especiais que variam conforme as necessidades do serviço e a imposição de conciliar os direitos do Estado com os direitos privados (DI PIETRO, 2012, p. 700). O conflito mencionado pela doutrinadora marcou um estágio evolutivo da responsabilidade do Estado, pois, ao se analisar o funcionamento do serviço público, não era mais necessária a distinção entre atos de império e de gestão, defendida pela teoria da responsabilidade com culpa comum do Estado, bastando a comprovação da falta do serviço (faute du service) (DI PIETRO, 2012). Desenvolveu-se, destarte, uma teoria sem a necessidade da figura do causador direto do dano (ZOCKUN, 2006). Daí o motivo pelo qual também era conhecida por teoria da culpa anônima, pois desnecessário era identificar o agente estatal causador do dano, bastando comprovar o mau funcionamento do serviço público. Em outras palavras, mesmo que fosse impossível apontar o agente público que provocou o dano, seria possível a responsabilização do Estado pela simples comprovação da falta do serviço (CARVALHO FILHO, 2010). A falta do serviço público ocorreria quando o serviço não funcionava (não existia, devendo existir), funcionava mal (devendo funcionar bem) ou funcionava tardiamente 44 (devendo funcionar em tempo). Em qualquer desses casos, haveria a culpa do serviço ou acidente administrativo, incidindo a responsabilidade do Estado independentemente de qualquer aferição de culpa por parte do agente (DI PIETRO, 2012). Oportuna a transcrição de excerto retirado da obra de Diogenes Gasparini para elucidar as possíveis modalidades em que se apresenta a falta do serviço: Assim, havia culpa no serviço e, portanto, a obrigação de o Estado indenizar o dano causado se: a) devesse existir um serviço de prevenção e combate a incêndio em prédios altos e não houvesse (o serviço não funcionava, não existia); b) o serviço de prevenção e combate a incêndio existisse, mas ao ser acionado ocorresse uma falha, a exemplo da falta d’água ou do emperramento de certos equipamentos (o serviço funcionava mal); c) o serviço de prevenção e combate a incêndio existisse, mas chegasse ao local do sinistro depois que o fogo consumira tudo (o serviço funcionou atrasado) (GASPARINI, 2012, p. 1.127). Em síntese, para incidir a responsabilidade do Estado “deve existir a falta do serviço, isto é, as precariedades, as imperfeições, a inexistência, o mau funcionamento, a demora na prestação, a baixa qualidade, de modo a acarretar prejuízo” (RIZZARDO, 2007, p. 356). Para Hely Lopes Meirelles (2011) essa teoria ainda exige muito da vítima, que, além de provar a lesão a que ficou sujeita, deverá comprovar a falta do serviço para obter a indenização. De fato, essa teoria foi alvo de inúmeras críticas dada a dificuldade do administrado em comprovar a falta do serviço para obter a indenização que lhe seria devida. É imperioso mencionar que a doutrina diverge para classificar a teoria da responsabilidade por culpa anônima como sendo de responsabilidade subjetiva ou objetiva. Partidário da primeira corrente, Celso Antônio Bandeira de Mello (2004) defende que tal modalidade de responsabilidade está inserida dentro da noção do direito privado, baseada na culpa (ou dolo). Para o autor, o aspecto subjetivo ainda está presente e assume um caráter especial, por ele denominado de “culpa especial”. Também partilham desse entendimento José Maria Sylvia Di Pietro (2012) e Yussef Said Cahali (2007). Contrariamente, Romeu Felipe Bacellar Filho defende a inserção da teoria da responsabilidade por culpa anônima dentro da noção da responsabilidade objetiva, em homenagem ao princípio da eficiência a que se submete o Poder Público pela Carta Magna de 1988, em seu artigo 37, a partir da Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998, não necessitando de qualquer análise sobre a culpa do agente estatal, ainda que especial (BACELLAR FILHO, 2006; BRASIL, 1988). 45 Com o decorrer dos anos, Fachin (2001) destaca que se passou a exigir cada vez menos do lesado. Anteriormente, na fase da culpa civil, exigia-se a culpa do direito comum. Mais tarde, com o advento da teoria da culpa administrativa, passou-se a exigir tão somente a comprovação da falta do serviço e, evidentemente, o dano daí decorrente. Também sobre o assunto, discorre Meirelles: A teoria da culpa administrativa representa o primeiro estágio da transição entre a doutrina subjetiva da culpa civil e a tese objetiva do risco administrativo que a sucedeu, pois leva em conta a falta do serviço para dela inferir a responsabilidade da Administração. É o estabelecimento do binômio falta do serviço/culpa da Administração. Já aqui não se indaga da culpa subjetiva do agente administrativo, mas perquire-se a falta objetiva d serviço em si mesmo, como fato gerador da obrigação de indenizar o dano causado a terceiro. Exige-se, também, uma culpa, mas uma culpa especial da Administração, a que se convencionou chamar de culpa administrativa (MEIRELLES, 2011, p. 714, grifo do autor). Assim, tal teoria consistiu em um elo de ligação entre as teorias subjetivas e a teoria do risco administrativo (responsabilidade objetiva do Estado), uma vez que não se indagava a culpa subjetiva do agente, mas sim a falta objetiva do serviço. 3.1.4 Teoria do Risco Administrativo Sob a inspiração das decisões do Conselho de Estado francês é que surge, embora sem abandonar totalmente a da culpa administrativa, a teoria do risco, compreendendo duas modalidades: a do risco administrativo e do risco integral (GASPARINI, 2012). Esta última será tratada no tópico seguinte. A teoria do risco administrativo – também chamada de teoria da responsabilidade patrimonial objetiva, teoria da responsabilidade patrimonial sem culpa, ou, simplesmente, teoria objetiva – não questiona a existência de culpa. Basta saber se há relação de causalidade entre o dano ocasionado à vítima e o ato do agente público para que se obrigue o Estado ao ressarcimento daí decorrente (GASPARINI, 2012). Fachin distingue essa teoria da teoria tratada no tópico anterior, afirmando que: “se na culpa administrativa exige-se apenas a falta do serviço, na teoria do risco administrativo exige-se o fato do serviço” (FACHIN, 2001, p. 87, grifo do autor). E prossegue o autor ao explanar que ambas as teorias têm conotação pública, porém fundamentos distintos. Nesse mesmo sentido, escólio de Hely Lopes Meirelles: 46 A teoria do risco administrativo faz surgir a obrigação de indenizar o dano do só ato lesivo e injusto causado à vítima pela Administração. Não se exige qualquer falta no serviço público, nem culpa de seus agentes. Basta a lesão, sem o concurso do lesado. Na teoria da culpa administrativa exige-se a falta do serviço; na teoria do risco administrativo exige-se , apenas o fato do serviço. Naquela, a culpa é presumida da falta administrativa; nesta, é inferida do fato lesivo da Administração (MEIRELLES, 2011, p. 714, grifo do autor). Três são, portanto, os pressupostos da responsabilidade estatal: a) fato do serviço; b) ocorrência de efetivo dano; c) nexo de causalidade entre o fato do serviço e o dano efetivamente ocorrido. (FACHIN, 2001). Note-se que não se exige a culpa do agente público nem a culpa do serviço, sendo suficiente a prova da lesão e de que esta foi causada pelo Estado. Sob tal ótica, a culpa seria inferida do fato lesivo, ou, em outras palavras, decorrente do risco que a atividade pública gera para os administrados (GASPARINI, 2012). Para Moraes (2013) o que se tem é a substituição da ideia de culpa pelo chamado “nexo de causalidade”. Ou seja, o dano sofrido pelo indivíduo deve ser visualizado como consequência do funcionamento do serviço público, pouco importando se esse funcionamento foi bom ou mau. Importa, em realidade, a relação de causalidade entre o dano e o ato do agente. Pela teoria do risco dispensa-se o cidadão de provar em juízo a culpa ou dolo do agente ou da Administração, pois não se cogita da ideia de falta, senão da existência do dano e do nexo causal entre o prejuízo e a ação do Estado. Verifica-se, assim, maior agilidade na obtenção da indenização e, do mesmo modo, maior proteção dos direitos subjetivos e interesses legítimos do particular em face da ação estatal. Com a adoção dessa teoria, é possível afirmar que a necessidade de provar a falta do serviço foi substituída pela demonstração apenas e tão somente do fato do serviço como um dos critérios aptos a gerar o direito à indenização (LUVIZOTTO, 2010) Imperioso destacar, porém, que esse rigor da teoria do risco administrativo é suavizado mediante a prova, feita pela Administração Pública, de que a vítima concorreu, parcial ou totalmente, para o evento danoso, ou de que este não se originou de um comportamento do Estado. Desse modo, quando da análise do caso concreto, poder-se-á liberar o Estado, total ou parcialmente, da responsabilidade de indenizar. É justamente nesse ponto que reside, segundo alguns autores, a principal diferença entre a teoria do risco administrativo e a teoria do risco integral (FACHIN, 2001). Discorrendo sobre as teorias em comento, Meirelles assim se manifesta: 47 Advirta-se, contudo, que a teoria do risco administrativo, embora dispense a prova da culpa da Administração, permite que o Poder Público demonstre a culpa da vítima para excluir ou atenuar a indenização. Isto porque o risco administrativo não se confunde com o risco integral. O risco administrativo não significa que a Administração deva indenizar sempre e em qualquer caso o dano suportado pelo particular; significa, apenas e tão somente, que a vítima fica dispensada da prova da culpa da Administração, mas esta poderá demonstrar a culpa total ou parcial do lesado no evento danoso, caso em que a Fazenda Pública se eximirá integral ou parcialmente da indenização (MEIRELLES, 2011, p. 715, grifo do autor). Conforme se verá adiante, a teoria do risco administrativo foi adotada, como regra, pela Constituição Federal de 1988. 3.1.5 Teoria do Risco Integral A teoria do risco integral, apesar de também decorrer da teoria do risco, difere da teoria do risco administrativo, uma vez que não requer nexo causal entre a conduta do agente público e o dano suportado pela vítima. Assim, havendo envolvimento do Estado no evento danoso, ter-se-á, consequentemente, responsabilização, dado que não há excludentes de responsabilidade, mesmo quando a culpa possa ser exclusivamente atribuída à vítima (CARVALHO FILHO, 2010). Destarte, a teoria do risco integral [...] obriga o Estado a indenizar todo e qualquer dano, desde que envolvido no respectivo evento. Não se indaga, portanto, a respeito da culpa da vítima da produção do evento danoso, nem se permite qualquer prova visando elidir essa responsabilidade. Basta, para caracterizar a obrigação de indenizar, o simples envolvimento do Estado no evento (GASPARINI, 2012, p. 1.128). E prossegue, elucidando o porquê de tal teoria ser considerada modalidade extremada da teoria do risco: Assim, ter-se-ia de indenizar a família da vítima de alguém que, desejando suicidarse, viesse a se atirar sob as rodas de um veículo, coletor de lixo, de propriedade da Administração Pública, ou se atirasse de um prédio sobre uma via pública [...] o Estado, que foi simplesmente envolvido no evento por ser proprietário do caminhão coletor de lixo e da via pública, teria de indenizar (GASPARINI, 2012, p. 1.128). Assim, a teoria do risco integral busca justificar o dever de indenizar até mesmo nos casos de inexistência do nexo causal. Mesmo na responsabilidade objetiva, embora dispensável o elemento culpa, a relação de causalidade é indispensável. Por essa teoria, o dever de indenizar se faz presente tão só em face do dano, ainda que nos casos de culpa 48 exclusiva e essencial da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior (FACHIN, 2001). Hodiernamente, o direito brasileiro somente adota tal teoria em casos excepcionais, a exemplo da responsabilidade estatal por danos ambientais, acidentes nucleares, atos terroristas, atos de guerra ou eventos correlatos contra aeronaves de empresas aéreas brasileiras, entre outros (CAVALIERI FILHO, 2005; DI PIETRO, 2012; LEITE, 2007). O Código Civil também previu algumas hipóteses de risco integral nas relações obrigacionais, conforme dispõem os artigos 246, 393 e 399 (DI PIETRO, 2012). 3.2 DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR ATO OMISSIVO No que concerne às condutas omissivas do Estado (responsabilidade por omissão), não há consenso doutrinário quanto ao regime de responsabilidade aplicável (subjetiva ou objetiva) (DI PIETRO, 2012). Celso Antônio Bandeira de Mello (2004) entende que se aplica a regra da responsabilidade subjetiva pela omissão estatal. Segundo o autor, na omissão, a rigor o Estado não causa o dano, apenas o propicia. A omissão ou a deficiência do Poder Público no exercício de determinada atividade é condição do dano e não a sua causa, pois somente esta última revela-se no fator que positivamente gera o resultado, enquanto que a condição é o evento que não ocorreu, mas que se tivesse ocorrido teria impedido o resultado. Somente se o Estado estivesse por direito obrigado a impedir os danos, mas não o fizesse ou o fizesse de forma deficiente, havendo, portanto, negligência no ato, é que se poderia falar em responsabilidade, razão pela qual imprescindível será a demonstração da culpa, ainda que essa não seja personificada (culpa anônima), de modo que a responsabilidade estatal nos casos de omissão seria subjetiva (MELLO, 2004). Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo (2012) também são partidários dessa corrente, entendendo que, no caso, incide a teoria da culpa administrativa, pela qual a pessoa que sofreu o dano deve provar que houve falta no serviço que o Estado deveria ter prestado: Essa modalidade de responsabilidade extracontratual do Estado usualmente se relaciona a situações em que há dano a um particular em decorrência de atos de terceiros (por exemplo, delinquentes ou multidões) ou de fenômenos da natureza (por exemplo, uma enchente ou um vendaval) – inclusive os que forem classificados como eventos de força maior. Caberá ao particular que sofreu o dano decorrente de ato de terceiro (não agente público), ou de evento da natureza, provar que a atuação normal, ordinária, regular da Administração Pública teria sido suficiente para evitar o dano por ele sofrido (ALEXANDRINO; PAULO, 2012, p. 783). 49 Divergindo parcialmente de tal entendimento, Yussef Said Cahali (2007) defende que não é necessário transmudar a responsabilidade de objetiva em subjetiva para que a Administração se desvincule do dever de indenizar, bastando que ela demonstre que não tinha o dever de agir e que, portanto, a sua conduta não foi, do ponto de vista jurídico, causa do evento danoso. A aferição do dever jurídico descumprido somente poderia ser identificável concretamente, isto é, diante de uma hipótese concreta, sendo que a simples conduta omissiva não é suficiente para desencadear a responsabilidade, havendo necessidade de que esta conduta tenha dado causa ou concorrido para a ocorrência do acidente. Embora extenso, oportuna é a transcrição de excerto de Maria Sylvia Di Pietro, que bem resume as divergências sobre o tema: Existe controvérsia a respeito da aplicação ou não do artigo 37, §6º, da Constituição às hipóteses de omissão do Poder Público, e a respeito da aplicabilidade, nesse caso, da teoria da responsabilidade objetiva. Segundo alguns, a norma é a mesma para a conduta e a omissão do Poder Público; segundo outros, aplica-se, em caso de omissão, a teoria da responsabilidade subjetiva, na modalidade da teoria da culpa do serviço público [...]. Alguns, provavelmente preocupados com as dificuldades, para o terceiro prejudicado, de obter ressarcimento da hipótese de se discutir o elemento subjetivo, entendem que o dispositivo constitucional abarca os atos comissivos e omissivos do agente público. Desse modo, basta demonstrar que o prejuízo sofrido teve um nexo de causa e efeito com o ato comissivo ou com a omissão. Não havia que se cogitar de culpa ou dolo, mesmo no caso de omissão. Para outros, a responsabilidade, no caso de omissão, é subjetiva, aplicando-se a teoria da culpa do serviço público ou da culpa anônima do serviço publico (porque é indiferente saber quem é o agente público responsável). Segundo essa teoria, o Estado responde desde que o serviço público (a) não funcione, quando deveria funcionar; (b) funcione atrasado; ou (c) funcione mal. Nas duas primeiras hipóteses, tem-se a omissão danosa (DI PIETRO, 2012, p. 709). A presente controvérsia também se faz presente na jurisprudência. Mesmo no Supremo Tribunal Federal existem acórdãos nos dois sentidos. Pela responsabilidade objetiva, citem-se os acórdãos da 1ª Turma, proferidos no RE-109.615/RJ, de relatoria do Ministro José Celso de Mello (votação unânime) e RE-170.014/SP, tendo como Relator o Ministro Ilmar Galvão (votação unânime) (BRASIL, 1996; BRASIL, 1997a). Já pela responsabilidade subjetiva, têm-se os acórdãos da 2ª Turma, proferidos no RE-180.602/SP, sendo Relator o Ministro Marco Aurélio (votação unânime) e RE-170-147-1-SP, de relatoria do Ministro Carlos Velloso (votação unânime) (BRASIL, 1997b; BRASIL, 1998a; DI PIETRO, 2012). Di Pietro (2012) ressalta que o Supremo Tribunal Federal vinha aplicando, para a caracterização do nexo de causalidade em caso de dano decorrente de omissão estatal, a teoria do dano direto e imediato, pela qual a causa e o dano deveriam estar ligados diretamente. 50 Como exemplo, a autora cita acórdão envolvendo indenização devida a vítimas de homicídios praticados por fugitivos de penitenciárias (BRASIL, 2008). Nesse sentido, o Pretório Excelso reconhecia a responsabilidade do Estado quando não houvesse rompimento da cadeia causal (ou seja, havendo ligação direta entre causa e dano), mas afastava tal responsabilidade quando já haviam se passado meses da fuga, por ausência de nexo causal. No entanto, tal entendimento, que vinha sendo adotado reiteradamente, parece estar se alterando, “no sentido de aceitar um alargamento da responsabilidade do Estado, independentemente da aplicação da teoria do dano direto e imediato” (DI PIETRO, 2012, p. 711). Assim, os julgados mais recentes caminham no sentido de que o Estado responderia objetivamente nos casos de conduta omissiva, citando-se, a título exemplificativo, a seguinte decisão: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Estabelecimento público de ensino. Acidente envolvendo alunos. Omissão do Poder Público. Responsabilidade objetiva. Elementos da responsabilidade civil estatal demonstrados na origem. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público. 2. O Tribunal de origem concluiu, com base nos fatos e nas provas dos autos, que restaram devidamente demonstrados os pressupostos necessários à configuração da responsabilidade extracontratual do Estado. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental não provido (BRASIL, 2013). Contudo, é de se frisar que ainda existe muita resistência para o reconhecimento da responsabilidade objetiva do Estado nos casos de conduta omissiva. Destarte, ocorrendo a conduta omissiva, somente através da análise do caso em concreto é que se concluirá a respeito de qual espécie de responsabilidade incidirá no caso (SILVA, 2013). Ainda sobre o tema, também válidas as considerações de Juan Carlos Cassagne a respeito da necessária antijuricidade da conduta omissiva: a chave para determinar a falta de serviço e, consequentemente, a procedência da responsabilidade estatal por um ato omissivo se encontra na configuração ou não de uma omissão antijurídica. Esta última se perfila só quando seja razoável esperar que o Estado atue em determinado sentido para os evitar danos às pessoas ou aos bens dos particulares. Pois bem, a configuração de dita omissão antijurídica requer que o Estado ou suas entidades descumpram uma obrigação legal expressa ou implícita (art. 1.074 do Cód. Civil) tal como são as vinculadas com o exercício da polícia administrativa, descumprimento que possa achar-se imposto também por outras fontes jurídicas (CASSAGNE apud WILLEMAN, 2005, p. 122, grifo do autor). 51 Em outras palavras, enquanto nos atos comissivos a responsabilidade incide sobre atos lícitos e ilícitos, em se tratando de atos omissivos, a falta do agente deverá ser, necessariamente, ilícita, de forma a ensejar a responsabilização do Estado (DI PIETRO, 2012). 3.3 DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO NO DIREITO BRASILEIRO Neste tópico, far-se-á uma breve análise da responsabilidade civil do Estado no Direito Brasileiro. 3.3.1 Responsabilidade Civil do Estado na Constituição de 1988 A Constituição de 1988, no artigo 37, §6º, preceitua que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (BRASIL, 1988). Não se exige, pois, o comportamento culposo do agente. Basta o dano, causado por agente do serviço público agindo nessa qualidade, para que decorra o dever do Estado de indenizar (FURTADO, 2013). Mister deixar assente que, em relação às pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos (fundações governamentais de direito privado, empresas públicas, sociedades de economia mista, empresas permissionárias e concessionárias de serviços públicos), haverá total incidência dessa regra constitucional desde que prestem serviços públicos, o que, consequentemente, excluirá a responsabilidade objetiva pelo risco administrativo nos casos das entidades da administração indireta que executem atividade econômica de natureza privada. Nesses casos, a responsabilidade será disciplinada pelas normas de direito privado (MORAES, 2013, p. 895). Assim, a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva, sendo baseada na teoria do risco administrativo, de modo que, enquanto não se evidenciar a culpabilidade da vítima, subsiste a responsabilidade objetiva da Administração. Se, porventura, for total a culpa da vítima, fica excluída a responsabilidade da Fazenda Pública; se parcial, reparte-se proporcionalmente ao grau de culpa o quantum da indenização (GONÇALVES, 2007). 52 Dessa forma, para Di Pietro (2012), a regra constitucional supramencionada exige: a) que o ato lesivo seja praticado por agente de pessoa jurídica de direito público ou pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público; b) que as entidades de direito privado prestem serviço público, excluindo, dessa maneira, as entidades da administração indireta que executem atividade econômica de natureza privada; c) que haja dano a terceiros, em decorrência da prestação de serviço público, caracterizando o nexo de causalidade; d) que o dano seja causado por agente das aludidas pessoas jurídicas; e) que o agente, ao causar o dano, aja nessa qualidade. José da Silva Pacheco (apud Gonçalves, 2007) esclarece que a expressão “serviço público”, contida no §6º do artigo 37 da Carta Magna é gênero, de que o serviço administrativo seria mera espécie, compreendendo a atividade jurisdicional e a legislativa, e não somente a administrativa do Poder Executivo. Desse modo, abordar-se-á, oportunamente, a responsabilidade civil do Estado decorrente de atos jurisdicionais, pois, embora a questão seja deveras divergente, verifica-se que tais atos estão abrangidos pela expressão “serviço público” (MARCOCHI; PANTALEÃO, 2011). 3.3.2 Responsabilidade Civil do Estado no Código Civil de 2002 A responsabilidade civil do Estado, no Código Civil de 2002, está respaldada pelo artigo 43, que assim dispõe: Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo (BRASIL, 2002a). Nota-se que o dispositivo em tela praticamente reproduziu o preceito constitucional abordado no tópico anterior, com a ressalva de que, ao invés de indicar como responsáveis “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos”, responsabilizou tão somente “as pessoas jurídicas de direito público interno” (COPOLA, 2008). 53 No entanto, embora o Codex Civil não tenha feito expressa menção às pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, a responsabilização destas é plenamente possível, em respeito ao comando constitucional (COPOLA, 2008). Gonçalves (2007), por seu turno, destaca que o atual Diploma Civil acrescentou, apenas, a palavra “interno”, não trazendo nenhuma inovação, mesmo porque, como já demonstrado, a matéria já é tratada em nível constitucional. 3.3.3 Responsabilidade Civil do Estado no Código de Processo Civil O Código de Processo Civil possui disposições específicas no que tange à responsabilidade civil do Estado e do magistrado. O artigo 133 consigna hipótese de responsabilização pessoal do juiz, nos casos em que ocasionar danos a terceiros em virtude de proceder com dolo ou fraude no exercício de suas funções ou quando se recusar, omitir ou retardar, imotivadamente, alguma providência que deveria ordenar de ofício ou, ainda, requerida pela parte (DI PIETRO, 2012). Reza o mencionado dispositivo: Art. 133. Responderá por perdas e danos o juiz, quando: I - no exercício de suas funções, proceder com dolo ou fraude; II - recusar, omitir ou retardar, sem justo motivo, providência que deva ordenar de ofício, ou a requerimento da parte. Parágrafo único. Reputar-se-ão verificadas as hipóteses previstas no nº II só depois que a parte, por intermédio do escrivão, requerer ao juiz que determine a providência e este não lhe atender o pedido dentro de 10 (dez) dias (BRASIL, 1973). Registre-se, por oportuno, que esse dispositivo do Código de Processo Civil será pormenorizadamente abordado quando da análise dos elementos subjetivos para a responsabilização do magistrado. 3.3.4 Responsabilidade Civil do Estado no Código de Processo Penal O Código de Processo Penal, em seu artigo 630, prevê a possibilidade do Estado indenizar os prejuízos suportados pela parte se esta assim o requerer, ressalvando-se os casos em que o erro ou a injusta condenação se der em virtude de ato ou fato praticado pelo próprio requerente, ou ainda, em se tratando de acusação meramente privada (MARCOCHI; PANTALEÃO, 2011). Dispõe o referido dispositivo, in verbis: Art. 630. O tribunal, se o interessado o requerer, poderá reconhecer o direito a uma justa indenização pelos prejuízos sofridos. 54 § 1º Por essa indenização, que será liquidada no juízo cível, responderá a União, se a condenação tiver sido proferida pela justiça do Distrito Federal ou de Território, ou o Estado, se o tiver sido pela respectiva justiça. § 2º A indenização não será devida: a) se o erro ou a injustiça da condenação proceder de ato ou falta imputável ao próprio impetrante, como a confissão ou a ocultação de prova em seu poder; b) se a acusação houver sido meramente privada (BRASIL, 1941). Ressalte-se, novamente, que no decorrer deste trabalho abordar-se-á o dever de indenização do Estado decorrente do excesso de prisão, o qual abrange não somente a definitiva, mas também todas as espécies de prisões provisórias (MORAES, 2004). 3.3.5 Responsabilidade Civil do Estado na Lei Orgânica da Magistratura Nacional A Lei Orgânica da Magistratura Nacional (Lei Complementar nº 35, de 14 de março de 1979), em seu artigo 49, faz menção à responsabilidade civil do magistrado, dispondo, nos seguintes termos: Art. 49. Responderá por perdas e danos o magistrado, quando: I - no exercício de suas funções, proceder com dolo ou fraude; Il - recusar, omitir ou retardar, sem justo motivo, providência que deva ordenar o ofício, ou a requerimento das partes. Parágrafo único - Reputar-se-ão verificadas as hipóteses previstas no inciso II somente depois que a parte, por intermédio do Escrivão, requerer ao magistrado que determine a providência, e este não lhe atender o pedido dentro de dez dias (BRASIL, 1979). Pela redação do dispositivo, é possível verificar que suas disposições em muito se assemelham ao estatuído no artigo 133 do Código de Processo Civil, diferenciando-se apenas em relação à nomenclatura utilizada para a designação do juiz que, no caso em tela, é tratado como magistrado. Concluídas as reflexões básicas sobre o instituto da responsabilidade civil do Estado, adiante se abordará a responsabilidade Civil do Estado decorrente da atividade jurisdicional. 55 4 DA RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL DO ESTADO PELOS ATOS JURISDICIONAIS A despeito de existirem entendimentos doutrinários e jurisprudenciais inadmitindo a responsabilidade civil do Estado por atos jurisdicionais, a doutrina vem, paulatinamente, como adiante se verá, se filiando à corrente que reconhece a responsabilidade do Poder Público em decorrência dos atos dos juízes no exercício de suas funções jurisdicionais, porém, sempre em caráter excepcional (ALEXANDRINO; PAULO, 2012). Mostra-se oportuno, no entanto, mencionar os principais argumentos favoráveis à irresponsabilidade, bem como suas refutações. O primeiro deles encontra suporte na soberania do Estado. A irresponsabilidade encontra amparo na caracterização da função jurisdicional como manifestação do poder soberano. Em decorrência disso, ao Estado não se imputaria qualquer responsabilidade, sendo certo que, nas hipóteses legais, apenas os magistrados seriam chamados à responsabilização (CLÈVE; FRANZONI, 2012). Tal argumento é veementemente rebatido por Clève e Franzoni, que esclarecem que [...] a soberania é um atributo do Estado, de forma una, indivisível, inalienável, e não de determinado Poder. E, ainda mais, se o argumento fosse aceito, conduziria à irresponsabilidade total do Estado por seus atos, mesmo os emanados no exercício da função administrativa. A responsabilidade do Estado por ato jurisdicional, portanto, longe de ser incompatível com a soberania, é a única forma de garanti-la no Estado de Direito, preservando sua legitimidade (CLÈVE; FRANZONI, 2012, p. 112). Corroborando tal entendimento, Venosa afirma que o termo “soberania” estaria equivocado, vez que o Judiciário “não pode ser considerado um superpoder, colocado sobre os outros” (VENOSA, 2012, p. 104). O segundo argumento, por seu turno, reside na necessidade que têm os juízes de agir com independência no exercício das funções, sem o temor de que suas decisões possam ensejar a responsabilidade do Estado. Di Pietro (2012), todavia, contesta tal posicionamento, alegando que a independência se trata de atributo inerente a cada um dos Poderes, não sendo, portanto, prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário. Assim, o mesmo temor de causar dano poderia pressionar o Poder Executivo e o Legislativo. O terceiro argumento aventado diz respeito ao fato de os magistrados não serem funcionários públicos. Porém, conforme se verá posteriormente, boa parte da doutrina entende 56 que tal argumento é rebatido pelo próprio texto constitucional, vez que os juízes estão abrangidos pelo termo genérico “agentes públicos” (FURTADO, 2013). Para Maria Sylvia Di Pietro (2012), o argumento mais forte é aquele fundado no risco de ofensa à coisa julgada. Ainda assim, vale dizer, no direito brasileiro a força da coisa julgada sofre restrições, na medida em que se admite a ação rescisória, a revisão criminal e, em alguns casos, a ação anulatória. Ora, as divergências doutrinárias emergem, em especial, nos casos de coisa julgada insuscetível de revisão (pelo transcurso do prazo da rescisória) ou anulação (por inocorrência de qualquer das hipóteses admitidas pela experiência jurídica), ou confirmada em sede de ação desconstitutiva (CLÈVE, FRANZONI, 2012). Oportuna a transcrição, novamente, do posicionamento adotado por Di Pietro: Com efeito, o fato de ser o Estado condenado a pagar indenização decorrente de dano ocasionado por ato judicial não implica mudança na decisão judicial. A decisão continua a valer para ambas as partes; a que ganhou e a que perdeu continuam vinculadas aos efeitos da coisa julgada, que permanece inatingível. É o Estado que terá que responder pelo prejuízo que a decisão imutável ocasionou a uma das partes, em decorrência de erro judiciário (DI PIETRO, 2012, p. 718). Nesse sentido, a atual conformação do Estado permite concluir que sua responsabilidade é possível em face de qualquer ato lesivo praticado, pouco importando sua origem, desde que praticado por agentes públicos, no exercício de sua função ou em razão dela. A responsabilidade do Estado decorre, portanto, de qualquer esfera de atuação, por emanações do Executivo, do Legislativo ou do Judiciário (VENOSA, 2012). Abordar-se-á, a seguir, o conceito de agente público trazido pela doutrina pátria, discorrendo-se a respeito da (não) inclusão do magistrado em tal conceito. 4.1 O MAGISTRADO ENTRE OS AGENTES PÚBLICOS Bühring (2004) afirma que, historicamente, o agente sempre foi tido como público, embora sob outras denominações, como empregado, funcionário, servidor, representante etc. Atualmente, porém, o vocábulo agente possui extensão mais abrangente, pois há os agentes das pessoas jurídicas de direito público e também os agentes das pessoas jurídicas de direito privado, que podem ser estatais e não-estatais, compreendendo, “além dos funcionários públicos propriamente ditos, outros indivíduos que agem em nome do Estado” (BÜHRING, 2004, p. 168). 57 No que diz respeito ao vocábulo “agentes”, José dos Santos Carvalho Filho (2010) também entende que tal termo deve ser concebido em seu sentido amplo, não se confundindo com o termo “servidor”, de forma que [...] são agentes do Estado os membros dos Poderes da República, os servidores administrativos, os agentes sem vínculo típico de trabalho, os agentes colaboradores sem remuneração, enfim, todos aqueles que, de alguma forma, estejam juridicamente vinculados ao Estado. Se, em sua atuação, causam danos a terceiros, provocam a responsabilidade civil do Estado (CARVALHO FILHO, 2010, p. 604). Para Celso Antônio Bandeira de Mello (2004) a expressão “agente público” refere-se a toda pessoa que, sob qualquer categoria ou título jurídico, desempenhe atividade que seja considerada pelo Estado como de natureza pública, enquanto a exercita. Nos seus ensinamentos, seriam dois os requisitos para a configuração do agente público: o primeiro, de ordem objetiva, estaria relacionado à natureza pública da função, o segundo, de ordem subjetiva, à investidura nesta mesma função. Hely Lopes Meirelles afirma que a Constituição atual usou acertadamente o vocábulo agente “no sentido genérico de servidor público, abrangendo, para fins de responsabilidade civil, todas as pessoas incumbidas da realização de algum serviço público” (MEIRELLES, 2011, p. 718). Segundo Maria Sylvia Zanella Di Pietro, a expressão “agente público”, à luz da Carta Magna de 1988, com as modificações feitas pela Emenda Constitucional nº 18, de 5 de fevereiro de 1998, comporta quatro categorias: agentes políticos, servidores públicos, militares e particulares em colaboração com o serviço público (BRASIL, 1988; DI PIETRO, 2012). Inúmeras são as discussões doutrinárias sobre a categoria na qual se enquadram os magistrados: se agentes políticos ou servidores públicos. Superando as divergências a esse respeito, Furtado assim se manifesta: “se dúvida existe em relação ao enquadramento dos juízes como servidores públicos, não há qualquer divergência em relação ao seu enquadramento na categoria genérica de agentes públicos” (FURTADO, 2013, p. 852). Também sobre o tema, Di Pietro assim se posiciona: Quanto a não ser o juiz funcionário público, o argumento não é aceitável no direito brasileiro, em que ele ocupa cargo público criado por lei e se enquadra no conceito legal dessa categoria funcional. Ainda que se entenda ser ele agente político, é abrangido pela norma do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, que emprega precisamente o vocábulo agente para abranger todas as categorias de pessoas que, a qualquer título, prestam serviços ao Estado (DI PIETRO, 2012, p. 718). 58 Por conseguinte, estão incluídos no vocábulo “agentes” todas aquelas pessoas cuja vontade seja imputada ao Estado, sejam elas dos mais elevados níveis hierárquicos, com amplo poder decisório, ou mesmo os trabalhadores mais humildes da Administração, no exercício das funções por ela atribuídas (PACHECO, 2000). Em relação à função exercida pelo magistrado, não poderia ser diferente. Ao realizar a atividade jurisdicional, solucionando a lide que lhe é apresentada e promovendo a pacificação social, o magistrado exerce função pública. Assim, deve o juiz ser considerado um agente público, no sentido amplo dessa expressão (ALMEIDA, 2012). 4.2 ATOS JUDICIAIS E ATOS JURISDICIONAIS Segundo Lima (2005), ato judicial é gênero do qual ato jurisdicional é espécie. Assim, nem todo ato judicial é ato jurisdicional, mas todo ato jurisdicional será, necessariamente, ato judicial. Isso porque os atos judiciais compreendem tanto atos jurisdicionais quanto não-jurisdicionais. No que diz respeito aos atos jurisdicionais, Santos (2008) destaca que seriam aqueles praticados durante o curso do processo, incluindo tanto a sentença quanto os atos de administração do processo e de decisões de inúmeras questões que devem ser superadas no curso da demanda. Em outras palavras, jurisdicionais “são todos os atos praticados pelo magistrado no curso do processo, ainda que não possuam conteúdo decisório” (SANTOS, 2008, p. 46). No atinente à jurisdição voluntária, uma expressiva parcela da doutrina rejeita a ideia desta ser portadora de natureza jurisdicional. Atesta-se, pois, que na jurisdição graciosa não estão presentes os atributos para a configuração de um ato jurisdicional, como, por exemplo, a lide e a aplicação do direito material, dado que nela apenas se constituem situações jurídicas novas (LIMA, 2005). Antônio Carlos de Araújo Cintra, Cândido Rangel Dinamarco e Ada Pellegrini Grinover (2010) também entendem de tal forma. Para eles, a jurisdição voluntária seria mera administração pública de interesses privados. Nesse mesmo sentido, Vicente Greco Filho (2013), ensina que a jurisdição voluntária não é considerada como verdadeira jurisdição, sendo uma atividade que se aproxima mais à atividade administrativa. Para o autor, a despeito do nomenclatura, a jurisdição voluntária mais se assemelha à fiscalização do interesse público nos negócios jurídicos privados. 59 Os magistrados, no entanto, não praticam somente atos jurisdicionais, pois a função jurisdicional implica um série de outras atividades por eles desenvolvidas (CINTRA; DINAMARCO; GRINOVER, 2010). Destarte, os atos administrativos concernentes ao autogoverno do Poder Judiciário, inserem-se no conceito de atos judiciais. A esse respeito, novamente escólio de Santos (2008, p. 48): “os atos administrativos e ditados pelo magistrado na condição de administrador se verificam não só na execução e na administração dos serviços do Poder Judiciário, mas também em sua estruturação”. Já para Lima, os atos não-jurisdicionais são […] aqueles de natureza materialmente administrativa, assim entendidos os atos de gestão do Poder Judiciário (nomeação de funcionários, concessão de licenças) e os atos ordinatórios do procedimento processual (despachos). São editados pelo juiz na forma de administrador do processo, equiparando-se aos atos dos outros agentes públicos, já que apenas dirige o processo e nada julga, tendo em vista que nem toda atividade desenvolvida pelo Judiciário se qualifica como jurisdicional (LIMA, 2005). Nesse sentido, o magistrado, ao emanar atos de natureza administrativa, está agindo como todos os demais agentes administrativos, de forma que o mesmo tratamento dado aos atos administrativos próprios – emanados do Poder Executivo –, deve ser dispensado aos atos judiciais (LIMA, 2005). Tanto os atos jurisdicionais quanto os não-jurisdicionais ensejam a responsabilização civil estatal. Todavia, nos atos não-jurisdicionais, questionamento não há que ser suscitado. Isso ocorre porque eles estão equiparados aos atos administrativos comuns, nos quais não paira controvérsia alguma quanto à responsabilização do Estado. Ao discorrer sobre o tema, Venosa (2012, p. 105-106) destaca que “há que se distinguir que mesmo o Poder Judiciário pratica atos administrativos materiais, da mesma forma que o Executivo e também o Legislativo. Para esses não há dúvida de que se aplica o princípio da responsabilidade objetiva constitucional”. Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo, por seu turno, afirmam que [...] em relação aos atos não jurisdicionais praticados pelo juiz e pelos demais órgãos de apoio do Poder Judiciário, não há o que se discutir: sobre eles incide normalmente a responsabilidade extracontratual objetiva da Administração, na modalidade risco administrativo (CF, art. 36, §7º), porque se trata de menos atos administrativos praticados pelo Poder Judiciário. Enquadram-se nessa categoria todos aqueles que dizem respeito à atividade de apoio administrativo do Poder Judiciário, quer tenham sido praticados pelo juiz ou por outros agentes daquele Poder (escrivães, motoristas, oficiais de justiça etc.) (ALEXANDRINO; PAULO, 2012, p. 796). 60 Maria Sylvia Zanella Di Pietro reforça tal ensinamento ao mencionar que “com relação a atos judiciais que não impliquem exercício de função jurisdicional, é cabível a responsabilidade do Estado, sem maior contestação, porque se trata de atos administrativos, quanto ao seu conteúdo” (DI PIETRO, 2012, p. 719). Por conseguinte, os atos nãojurisdicionais, nos quais se enquadram os emanados em jurisdição voluntária ou graciosa, ensejam em Responsabilidade Civil do Estado da mesma maneira que os atos administrativos originados pelo Poder Executivo, não perfazendo, portanto, objeto deste trabalho (LIMA, 2005). Quanto aos atos jurisdicionais, o próprio Poder Judiciário reluta em admitir a responsabilidade do Estado e até do próprio magistrado em ressarcir os prejuízos causados, enumerando várias justificativas, as quais serão refutadas em momento oportuno (LIMA, 2005). Para o fim deste trabalho, analisar-se-ão os atos jurisdicionais lato sensu, que correspondem não só à sentença de mérito, mas compreendem toda a atividade exercida pelo magistrado no processo, tanto antes como após a prolação da sentença, bem como toda a atividade que o magistrado deve desenvolver no curso do processo para cumprir seu dever de prestar a jurisdição (SANTOS, 2008). 4.3 ATOS JURISDICIONAIS QUE PODEM ENSEJAR A RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL DO ESTADO Inicialmente, cumpre ressaltar que, como regra geral, a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público não depende da comprovação da culpa, exigindo-se tão somente a existência de dano, a autoria e o nexo causal (VENOSA, 2012). Há casos, no entanto, que ficariam à margem da responsabilidade objetiva. São as hipóteses de atos omissivos do Estado, nas quais, conforme visto anteriormente, parte da doutrina entende que incidiria a responsabilidade civil subjetiva (ALEXANDRINO; PAULO, 2012). Valcanaia (2006) esclarece que a Constituição Federal, ao atribuir, em seu artigo 37, §6º, a responsabilidade objetiva ao Estado, não fez distinções acerca das funções estatais que seriam atingidas por aquele dispositivo. Dessa forma, independentemente de a atividade ser desenvolvida pelo Executivo, pelo Legislativo ou pelo Judiciário, sempre que essa atividade ocasionar dano a terceiro, será objetivamente responsável o Estado, ressalvado o direito de regresso contra o causador do dano. 61 No entanto, conforme se verá adiante, os Tribunais pátrios, contrariamente ao entendimento doutrinário dominante, insistem na alegação de que o Estado só poderia ser responsabilizado civilmente pela atividade danosa decorrente da prestação jurisdicional se essa estivesse expressamente prevista em texto legal, conforme ocorre com o erro judiciário penal, previsto pelo Código de Processo Penal em seu artigo 630, e amplamente aceito pelos tribunais brasileiros (BRASIL, 1941; VALCANAIA, 2006). A esse respeito, Clève e Franzoni destacam que os limites e as interpretações das hipóteses normativas aptas a ensejar a responsabilização ora tratada ainda não estão bem delineados na doutrina brasileira: [...] discute-se, por exemplo, se a previsão do artigo 37, §6º que demarca o caráter objetivo da responsabilidade estatal teria revogado a disciplina da responsabilização direta dos magistrados prevista na legislação ordinária e, também, até que ponto a qualificação de “erro judiciário” poderia abarcar situações não expressas na legislação, como as decisões cautelares de prisão preventiva e liminares cíveis em ações de medicamentos (CLÈVE; FRANZONI, 2012, p. 115). E prosseguem os supracitados autores afirmando que as atividades jurisdicionais danosas passíveis de ensejar a responsabilidade do Estado abrangeriam não apenas o ato jurisdicional típico, qual seja, a sentença de mérito, como também os atos processuais praticados antes ou depois da sentença, no processo de conhecimento, no cautelar ou de execução, por ocasião do exercício da jurisdição contenciosa ou voluntária (CLÈVE; FRANZONI, 2012). Maria Emília Mendes Alcântara (apud DI PIETRO, 2012), por seu turno, elenca várias hipóteses em que o ato jurisdicional acarretaria a responsabilização civil do Estado, a saber: [...] prisão preventiva decretada contra quem não praticou o crime, causando danos morais; não concessão de liminar nos casos em que seria cabível, em mandado de segurança, fazendo perecer o direito; retardamento injustificado de decisão ou de despacho interlocutório, causando prejuízo à parte. A própria concessão de liminar ou de medida cautelar em casos em que não seriam cabíveis pode causar danos indenizáveis pelo Estado (DI PIETRO, 2012, p. 719). A despeito dos inúmeros casos passíveis de ensejar a responsabilização civil do Estado por ato jurisdicional, este trabalho limitar-se-á a abordar as principais hipóteses aventadas pela doutrina, a saber, erro judiciário, excesso de prisão e demora na prestação jurisdicional. Posteriormente, discorrer-se-á sobre o atual posicionamento do Supremo 62 Tribunal Federal acerca do tema, bem como os requisitos subjetivos para que o Estado exerça o seu direito de regresso contra o magistrado. 4.3.1 Erro judiciário A Constituição Federal estabelece, em seu artigo 5º, inciso LXXV, que o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença (BRASIL, 1988). Ora, o Estado presta a tutela jurisdicional ao cidadão através dos magistrados. Estes, enquanto seres humano que são, estão sujeitos a cometer erros. Destarte, o erro judiciário está ligado ao equívoco na atividade jurisdicional, ainda que esteja mais relacionado à sentença judicial. Assim, tal hipótese pode estar ligada tanto ao erro in procedendo (erro verificado no curso do processo), como ao erro in judicando (erro da decisão que julgou o mérito da causa, subdividindo-se em de erro de fato e erro de direito) (LASPRO apud ALMEIDA, 2012). Moraes e Souza (2009) ensinam que o erro in judicando se relaciona a vício de natureza substancial, sendo vício de juízo. Tal modalidade de erro se dará quando o magistrado fizer má valoração dos fatos; quando aplicar, erroneamente, o direito sobre os fatos; ou interpretar, de forma equivocada, a norma abstrata. Defendem os autores que, em quaisquer dessas hipóteses, o julgador decidirá injustamente, vez que “o decidido não irá condizer com o pronunciamento que deveria ser proferido para correta regulação da relação jurídica entre as partes envolvidas” (MORAES; SOUZA, 2009). O erro in procedendo, por sua vez, diz respeito a vício de natureza formal, sendo vício de atividade, e não de conteúdo do ato, ocorrendo quando as normas que regulam a forma da prestação jurisdicional não são observadas ou são desobedecidas. Em outras palavras, o erro in procedendo dá-se pela falta ou violação de um elemento indispensável ao o julgamento da causa, ligado aos pressupostos processuais, às condições da ação ou a quaisquer outros elementos capazes de causar defeito na prestação da tutela jurisdicional (MORAES; SOUZA, 2009). Hodiernamente, uma expressiva parcela da doutrina tem admitido a responsabilização do Estado tanto pelos erros in procedendo quanto pelos erros in judicando (ALVES, 2001; FURTADO, 2013). A esse respeito, assevera Cunha: 63 A responsabilização do Estado por atividade jurisdicional não esta mais restrita às hipóteses do erro judiciário e da responsabilidade pessoal do juiz, abrangendo não apenas o ato jurisdicional típico – a sentença –, mas também os atos praticados durante o decorrer do processo. Assim, incluem-se os atos praticados em processos de conhecimento, de execução ou cautelar, pelo juiz, por seus auxiliares ou decorrentes da falha no serviço da justiça (CUNHA, 2013, p. 34). Nesse sentido, a doutrina vem ampliando o conceito de erro judiciário, para abranger, também, outros atos além da sentença e, até mesmo, os atos in procedendo. Não obstante, verifica-se que ainda persiste, entre os doutrinadores, divergência em relação ao comando constitucional, a saber, se abrangeria, de igual forma, o erro judiciário civil (VALCANAIA, 2006). Feitas essas considerações iniciais, para fins meramente didáticos, abordar-se-á, primeiramente, o erro judiciário penal, e, em seguida, o erro judiciário civil. 4.3.1.1 Erro Judiciário Penal Dispõe o artigo 630 do Código de Processo Penal: Art. 630. O tribunal, se o interessado o requerer, poderá reconhecer o direito a uma justa indenização pelos prejuízos sofridos. § 1º Por essa indenização, que será liquidada no juízo cível, responderá a União, se a condenação tiver sido proferida pela justiça do Distrito Federal ou de Território, ou o Estado, se o tiver sido pela respectiva justiça. § 2º A indenização não será devida: a) se o erro ou a injustiça da condenação proceder de ato ou falta imputável ao próprio impetrante, como a confissão ou a ocultação de prova em seu poder; b) se a acusação houver sido meramente privada (BRASIL, 1941). Observa-se que o dispositivo legal tem por indevida a indenização quando o erro resultar de ato imputável ao réu, como a confissão ou a ocultação de prova em seu poder e quando a acusação houver sido meramente privada (BRASIL, 1941). A doutrina não é pacífica quanto ao limite imposto pelo artigo 630, parágrafo 2º, alínea “a”, do CPP. Ribeiro (2004) e Cahali (2007) sustentam que tal restrição ao pleito indenizatório não se chocaria com o preceito constitucional do artigo 5º, inciso LXXV, na medida em que é o próprio autor da ação indenizatória o responsável pelo erro judicial, omitindo e, porventura, até forjando fatos e provas. Sendo assim, a culpa pela condenação equivocada não poderia ser imputada ao Estado, e sim, ao autor da revisão criminal, fazendo incidir, nessa hipótese, uma das excludentes de responsabilidade outrora tratadas, qual seja, a culpa exclusiva da vítima. 64 Por outro lado, a doutrina é deveras pacífica no que diz respeito à não recepção, pela Constituição Federal, do limite constante no artigo 630, parágrafo 2º, alínea “b”. Para Ribeiro (2004) e Almeida (2012), o referido dispositivo não teria mais razão de ser após o advento do artigo 5º, LXXV, da Carta Magna, que não excepciona, nem distingue hipóteses para a indenização. Assim, o fato de a acusação ser privada ou pública não teria o condão de interferir na possibilidade de ressarcimento pelo Estado. Ribeiro (2004) segue argumentando que a prestação jurisdicional consubstanciaria um serviço público monopolizado pelo Estado, não havendo qualquer razão em inadmitir a indenização nos casos da acusação ter sido privada. Mister deixar assente que não é necessário haver a prévia desconstituição da sentença penal condenatória para a propositura da ação de indenização. Ou seja, embora a revisão criminal – prevista nos artigos 621 a 631 do Código Processual Penal – seja, por excelência, o meio de aferição e correção do erro judiciário penal, com possibilidade de propositura a qualquer tempo (sem se revestir da coisa julgada material), ela não se configura como elemento necessário à indenização por erro judiciário penal (CAHALI, 2007; DERGINT, 1994; FACHIN, 2001). 4.3.1.2 Erro Judiciário Civil Para Cahali (2007), tradicionalmente, quando se fala em erro judiciário, sem maiores especificações, trata-se de erro judiciário no juízo criminal. E, conforme se verá adiante, a jurisprudência pátria tem diferenciado o erro penal do erro civil para fins de indenização por erro judiciário. Já Dergint, discorrendo sobre o tema, leciona: No direito brasileiro, percebe-se um dualismo de soluções em matéria de responsabilidade por erro judiciário. Enquanto a vítima de um erro judiciário penal encontra na lei a previsão da reparação, pelo Estado, do dano por ele causado, a vítima de um erro judiciário civil se depara com a irresponsabilidade estatal, que decorre de ultrapassada elaboração doutrinária e, principalmente, jurisprudencial. A situações materialmente idênticas, pois, não se oferece o mesmo remédio jurídico, com evidente contrariedade à sistemática constitucional (DERGINT, 2004, p. 165166). Um dos fundamentos para a não aceitação da responsabilidade por erro judiciário civil deve-se à natureza dispositiva do processo civil, em contrapartida à natureza inquisitória do processo penal. Isso porque a intervenção do Estado em matéria civil seria menos direta do 65 que no âmbito penal, eis que naquela a iniciativa processual é da própria parte e não da sociedade, o que ocasionaria uma atuação menos ativa do órgão jurisdicional (DERGINT, 2004). Dergint (2004) também menciona o argumento, por ele considerado insubsistente, quanto aos interesses envolvidos e a gravidade de eventual prejuízo causado pela má prestação jurisdicional. Enquanto as ações cíveis comportam, em geral, meros valores patrimoniais, os processos criminais envolvem bens de elevado valor jurídico – tais como a vida, a liberdade e a honra –, e, portanto, o erro judiciário ocorrido no âmbito civil não teria a mesma gravidade que o ocasionado na esfera penal. Para a corrente que entende que haveria diferenciação entre as espécies de erro – penal e civil –, predominante nos tribunais1, o dever de reparação do Estado não alcançaria as vítimas de erro judiciário civil, ante a ausência de previsão legal. Outro argumento, comumente mencionado pela doutrina, seria de que a falibilidade do juiz excluiria o dever de reparação do erro judiciário na esfera civil, dado que as partes que se socorrem do Poder Judiciário têm consciência de que podem sofrer erros por parte do julgador (CUNHA, 2013). Facchin também discorre acerca das divergências ora tratadas: Quanto ao erro judiciário civil, profunda é a divergência doutrinária. Parte dos juristas entende não ser ele admitido por absoluta falta de previsão legal, mas doutrinadores mais recentes entendem que o erro decorrente da atividade judiciária, seja penal ou civil, deve ser reparado. Dentre os autores que admitem a reparabilidade do erro judiciário civil, alguns sustentam que isto somente pode ocorrer após a desconstituição da sentença por meio da ação rescisória. Outros, porém, sustentam que a reparação do dano decorrente de erro judiciário civil independe de prévia desconstituição da sentença [...] (FACHIN, 2001, p. 218). Além da falta de previsão legal, um dos obstáculos comumente levantados para inadmitir a indenização por erro judiciário civil é a coisa julgada material. Os que são contrários à essa espécie de responsabilização argumentam, em síntese, que admitir tal erro seria colocar em risco a segurança jurídica trazida pela coisa julgada material (VALCANAIA, 2006). No entanto, parte considerável da doutrina vem admitindo o pleito indenizatório também na esfera cível, com fundamento na relativização da coisa julgada material, face à 1 Conforme se verá adiante, no direito brasileiro, a regra é a irresponsabilidade do Estado pelos atos jurisdicionais. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a responsabilidade objetiva do Estado por atos judiciais só é possível nas hipóteses previstas em lei. Assim, por falta de previsão legal, parte dos juristas entende não ser possível a responsabilização do Estado por erro judiciário civil. 66 possibilidade de ajuizamento de ação rescisória. Assim, “a idéia de coisa julgada material cede ao ideal de justiça” (FACHIN, 2001, p. 197). Aliás, é relevante ressaltar que, mesmo entre aqueles que admitem a indenização por erro judiciário civil, profunda divergência há acerca da necessidade de primeiro desconstituir-se, pela via rescisória, a sentença passada em julgado, para, somente após, ajuizar-se ação de responsabilização civil (VALCANAIA, 2006). A primeira corrente, defendida por Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2012), entende que não se pode ajuizar a ação de reparação de danos sem antes obter a desconstituição da sentença judicial por meio da ação rescisória. Ou seja, se a sentença não for desconstituída pela ação rescisória, não caberá a condenação do Estado por erro judiciário civil. Assim, a existência da coisa julgada material funcionaria como óbice ao exercício do direito de ação. Nesse mesmo raciocínio, quando o erro não estiver na sentença, mas em decisões interlocutórias, enquanto estas não fizerem coisa julgada material, poderão ensejar a responsabilização civil do Estado. Já para outra corrente, da qual é adepto Zulmar Fachin, desnecessária seria a prévia rescisão da sentença danosa. Isso porque se estaria diante de duas relações jurídicas distintas: enquanto que na ação rescisória a relação jurídica se dá entre os particulares, na ação de reparação de danos, a relação jurídica se dá entre o particular lesado e o Estado, enquanto causador do dano. Além disso, o referido autor argumenta que o Código de Processo Civil fixa prazo decadencial de dois anos, contados do trânsito em julgado, para o ajuizamento da ação rescisória, o que inviabilizaria o pleito ressarcitório em muitos casos (FACHIN, 2001). Para Cunha (2013), a diferenciação de tratamento dispensada aos erros judiciários civis não se justifica, diante da unicidade da jurisdição. Marcochi e Pantaleão (2011) também defendem a responsabilização pelo erro judiciário em outras esferas, para além da penal: Quando se fala em erro judiciário, logo se pensa no erro penal […]. No entanto, o erro judiciário pode ocorrer quer no âmbito não penal como, quer no processo civil, trabalhista, eleitoral ou em qualquer outra área de atuação jurisdicional, podendo ser erro in procedendo ou in judicando; pode decorrer de erro, dolo ou culpa (negligência, imprudência ou imperícia) (MARCOCHI; PANTALEÃO, 2011, p. 21, grifo do autor). Também sobre o assunto, Fachin esclarece que: O erro judiciário pode ocorrer tanto na esfera penal quanto na não penal. A atividade judiciária é manifestação estatal. Pouco importa se desempenhada nos autos do 67 processo da jurisdição penal ou não penal, pois o erro pode ocorrer em qualquer das duas esferas (FACHIN, 2001, p. 190). Assim, mister deixar assente que o texto constitucional, assegurando a reparação da vítima do erro judiciário, não condiciona o exercício da pretensão indenizatória ao prévio acolhimento de revisão da sentença condenatória. Por conseguinte, a despeito das divergências em comento, deve o erro judiciário ser visto como um risco à própria atividade jurisdicional que, uma vez prestada pelo Estado, faz presumir que este indenizará aquele que, injustamente, sofrer prejuízos em virtude do mau funcionamento do aparelho judiciário (CAHALI, 2007). 4.3.2 Excesso de prisão Conforme já dito, a Constituição Federal dispõe, em seu artigo 5º, inciso LXXV, que o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença (BRASIL, 1988). Para Moraes (2013, p. 449), “a indenização por excesso de prisão abrange todas as espécies de prisão, sejam processuais, penais, administrativas, civis ou disciplinares”. Yussef Cahali (2007) afirma que, a Carta Magna, ao impor ao Estado a obrigação de indenizar aquele que “ficar preso além do tempo fixado na sentença”, implicitamente assegura ao sentenciado o direito de ser indenizado em virtude de prisão “sem sentença condenatória”: [...] com efeito, não se compreende que, sendo injusta a prisão que exceder o prazo fixado na sentença condenatória, seja, em tese, menos injusta a prisão do réu que nela é mantido se ao final vem a ser eventualmente julgada improcedente a denúncia pela sentença absolutória (CAHALI, 2007, p. 477). Assim, conclui Cahali (2007) que, se é assegurada a reparação ao indivíduo que cumpriu pena por tempo superior ao que deveria, com muito mais razão deve-se admitir a reparação pelo Estado àquele que foi submetido a uma prisão cautelar sendo, posteriormente, inocentado. Corroborando o posicionamento de Cahali, Dergint reforça que Não há por que tratar diferentemente o erro judiciário (condenação injusta) e a prisão preventiva injustificada, quer quanto aos fundamentos, quer quanto às conseqüências. Afinal, se se indeniza o prejudicado por condenação injusta, precedida de processo penal em que lhe foi assegurada ampla defesa, seria paradoxal não admitir a responsabilidade por danos advindos de prisão preventiva, em que, por 68 vezes, o réu não tem defesa alguma. Se assim fosse, seria melhor ser condenado à prisão do que absolvido, após uma detenção preventiva (DERGINT, 1994, p. 179). As prisões cautelares consistem em privações de liberdade, sem que o juiz tenha proferido a sentença definitiva, com a finalidade de tornar possível ou útil a prestação jurisdicional. No entanto, faz-se necessário que os pressupostos de cada espécie de prisão cautelar estejam presentes, quando decretadas pelo magistrado, pois só excepcionalmente o legislador constituinte admite restrições à liberdade antes da condenação (RIBEIRO, 2004). Acerca do assunto, Chaves assim se manifesta: Não creio que pelo só fato de ter advindo sentença absolutória, a prisão preventiva renda ensejo à indenização. Todos os cidadãos, desde que presentes indícios de materialidade, estão sujeitos à detenção preventiva. Nesses casos, a prisão não passa de exercício regular de direito do Estado, com vistas a assegurar não só a ordem pública e a paz social, como também garantir a regular instrução processual. [...] Com relação aos eventuais danos decorrentes de prisão preventiva ou provisória, compartilho o entendimento de que só se poderá falar em indenização quando dela tiver decorrido dano e, como requisito cumulativo, tenha sido injusta ou ilegal; isto é, quando determinada por perseguição ou por motivos não expressamente consagrados na legislação (CHAVES apud RIBEIRO, 2004, p. 14). Desse modo, Chaves (apud RIBEIRO, 2004) entende que a prisão cautelar só gera para o Estado o dever de reparar quando dela tiver decorrido dano e, cumulativamente, na hipótese de ser injusta ou ilegal2. Em outras palavras, a simples prisão cautelar seguida de sentença absolutória, por si só, não teria o condão de obrigar o Estado a indenizar o preso. De qualquer forma, sempre que não forem respeitados os pressupostos das prisões cautelares, surgirá, para o Estado, o dever de indenizar o preso, vez que se estará diante de restrições indevidas à liberdade dos cidadãos. Além do dano patrimonial, é possível a reparação pelo dano moral sofrido com a detenção cautelar injusta ou ilegal, sempre que este ficar demonstrado (MORAES, 2013; RIBEIRO, 2004). 2 E assim tem decidido o Supremo Tribunal Federal, a exemplo do ARE 770931/SC, de relatoria do Ministro Dias Toffoli: [...] Ocorre, entretanto, que a caracterização do erro judiciário pressupõe, neste caso, a ilegalidade ou abusividade no decreto da prisão ou no ato de sua manutenção, frente aos requisitos a serem observados pelo Magistrado. [...] Na espécie, não vislumbro qualquer abusividade nos atos judiciais consistentes nos decretos de prisão temporária e de prisão preventiva, tampouco na manutenção do recorrente em estabelecimento prisional enquanto aguardava o seu julgamento pelo Tribunal do Júri [...]. (BRASIL, 2014b). 69 4.3.3 Demora na prestação jurisdicional Dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXXV, que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” (BRASIL, 1988). Nesse sentido, o direito à jurisdição é direito subjetivo fundamental do cidadão, de forma que qualquer pessoa que que julgue ter algum direito violado poderá ingressar no Judiciário, apresentando, a este, sua demanda (CINTRA; DINAMARCO; GRINOVER, 2010). Se, por um lado, a jurisdição é direito subjetivo dos indivíduos, por outro, ela consubstancia dever do Estado, cabendo ao ente estatal prestá-la com efetividade e eficiência, sob pena de ser responsabilizado pela sua desídia na entrega da função pela qual ficou incumbido (SILVA, 2013). Acerca do princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional, ora abordado, oportunas as considerações de Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini: [...] mas não se trata de apenas assegurar o acesso, o ingresso, no Judiciário – e sim também uma resposta jurisdicional útil, efetiva e tempestiva. Por isso, a norma do inciso XXXV do art. 5º também impõe os princípios da efetividade e da razoável duração do processo [...] (WAMBIER; TALAMINI, 2011, p. 67). A Emenda Constitucional nº 45, de 2004, por seu turno, incluiu como direito fundamental de todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo, ao estabelecer que “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação” (BRASIL, 1988). A referida emenda constitucional, intitulada de “reforma do Poder Judiciário” trouxe modificações em diversos dispositivos constitucionais com o fito de tornar o judiciário mais célere, mais eficiente (SILVA, 2013). Não obstante, essa garantia já estava prevista no artigo 8º, inciso I3, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), do qual o Brasil tornou-se signatário com a edição do Decreto nº 678, de 06 de novembro de 1992 (BRASIL, 1992). 3 Dispõe o aludido dispositivo, in verbis: “Toda pessoa tem o direito a ser ouvida com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou para que se determinem seus direitos ou obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza” (BRASIL, 1969). 70 Ademais, o parágrafo 2º do artigo 5º estabelece que “os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte” (BRASIL, 1988). Assim sendo, a obrigatoriedade do Estado propiciar uma duração razoável do processo já permeava o sistema jurídico pátrio antes mesmo da vigência da EC nº 45/2004. Esta, porém, elevou tal garantia ao status constitucional. A morosidade na prestação jurisdicional é, inquestionavelmente, um dos grandes problemas que norteiam o Poder Judiciário brasileiro na atualidade. Não basta ao jurisdicionado o amplo acesso à justiça, sendo necessário, também, que a jurisdição seja ágil, que a justiça se concretize no menor espaço de tempo possível, sob pena de restar frustrada a tutela jurisdicional tão almejada pelos jurisdicionados. A lentidão da prestação jurisdicional acarreta, por vezes, descrédito da população perante a instituição judiciária, por não ver concretizada em tempo hábil a resolução dos conflitos (VALCANAIA, 2006). Contudo, é preciso parcimônia ao se atribuir ao Estado a responsabilidade por danos decorrentes da tardia prestação jurisdicional. Isso porque não é só por desídia do magistrado ou mal aparelhamento do Judiciário que o processo demora para chegar ao fim. A procrastinação do feito pelo advogado de uma das partes e a realização de uma perícia complexa, por exemplo, não poderão gerar, para o Estado, o dever de indenizar (STOCO, 2004). Assim, a simples demora na solução do processo não implica, necessariamente, a obrigação de indenizar. Para que incida a responsabilidade civil do Estado pela demora na prestação jurisdicional, faz-se necessária a presença dos três pressupostos básicos da responsabilidade, quais sejam, conduta, dano e nexo causal. Dado que a morosidade constitui omissão – e não ação – atribuível ao Estado, novamente estaremos diante do impasse da doutrina a respeito da espécie de responsabilidade (objetiva ou subjetiva) aplicável nos casos de conduta omissiva. Se, no caso em concreto, entender-se que a responsabilidade é subjetiva, deverá haver, também, a comprovação da culpa estatal (SILVA, 2013). Ao tratar do tema, José Augusto Delgado (1985) assevera que a demora na prestação jurisdicional está relacionada ao conceito de serviço público imperfeito, tanto por indolência do juiz, como pelo fato do Estado não prover adequadamente o bom funcionamento da justiça. Embora haja certa controvérsia sobre o assunto, Silva entende que a atividade jurisdicional deve ser visualizada como um serviço público, prestado pelo Estado, vez que a 71 prestação jurisdicional é prerrogativa exclusiva do Poder Público, não havendo motivos para não enquadrar tal atividade no conceito de “serviço público”. Para o referido autor [...] o serviço público não se atém à atividade administrativa prestada pelo Estado, englobando-se as atividades desempenhadas pelo Poder Legislativo e pelo Poder Judiciário. Nesse sentido, a prestação jurisdicional deve ser considerada um serviço público já que é uma atividade emanada do ente estatal em benefício da sociedade (SILVA, 2013). De fato, não é razoável admitir que sobre a sociedade recaia o ônus decorrente do mau funcionamento da máquina judiciária. Ao assumir o monopólio jurisdicional, o Estado tem o dever de prestar essa modalidade de serviço público com certo grau de qualidade. A esse respeito, novamente traz-se a lume as considerações de Delgado: A realidade mostra que não é mais possível a sociedade suportar a morosidade da justiça, quer pela ineficiência dos serviços forenses, quer pela indolência dos seus juízes. É tempo de se exigir uma tomada de posição do Estado para solucionar a negação da justiça por retardamento da entrega da prestação jurisdicional. Outro caminho não tem o administrado, senão o de voltar-se contra o próprio Estado que lhe retardou a justiça, e exigir-lhe reparação civil pelo dano, pouco importando que por tal via também enfrente idêntica dificuldade. Só o acionar já represente uma forma de pressão legítima e publicização do seu inconformismo contra a justiça emperrada, desvirtuada e burocrática (DELGADO, 1985, p. 155). Mas não tem sido esse o entendimento dos tribunais, nos quais são encontradas muitas resistências ao acolhimento da tese. Fachin (2001) assevera o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual, em face da ausência de previsão legal específica, o Estado não pode ser compelido a indenizar pela demora na prestação da tutela jurisdicional. Apesar desse posicionamento, relevante é a menção dos votos vencidos dos Ministros Aliomar Baleeiro4 e Adalício Nogueira, no RE nº 32518/RS, que admitiram a 4 “Dou provimento ao recurso porque me parece subsistir, no caso, responsabilidade do Estado em não prover adequadamente o bom funcionamento da justiça, ocasionando, por sua omissão de recursos materiais e pessoais adequados, os esforços ao pontual cumprimento dos deveres dos juízes. Nem poderia ignorar essas dificuldades, porque, como consta das duas decisões contrárias ao recorrente, estando uma das comarcas acéfala, o que abrigou o juiz a atendê-la, sem prejuízo da sua própria – ambas congestionadas de serviço – a Comissão de disciplina declarou-se em regime de exceção, ampliando os prazos. Ele se eximiria – penso – se provasse que o prejuízo ocorreu, ou ocorreria, ainda que tivesse empregado todas os meios adequados para evitá-lo. Aí, sim, poder-se-ia falar em força maior. Responde, pois pela omissão, causa eficiente de prejuízo, como responderia pela ação, se ela fosse a origem da lesão. Se não foi desidioso o juiz, desidiosa foram as autoridades superiores, inclusive os órgãos dos três poderes do Estado, pela situação calamitosa de desordem em que submergiu o direito do autor, usuário legítimo do serviço público judiciário, para o que pagou a taxa judiciária e os selos dos autos, além de impostos” (BRASIL, 1966). Conforme Muñoz (apud CATARINO), o voto vencido do Ministro Relator, Aliomar Baleeiro, está em consonância com as decisões dos tribunais espanhóis, para os quais o volume de trabalho pode afastar a responsabilidade pessoal dos juízes, mas não a responsabilidade do Estado, que deve dotar sua Administração dos meios necessários à prossecução de seus fins. 72 responsabilidade do Estado por não promover o bom funcionamento da Justiça (BRASIL, 1966). O posicionamento dos Ministros indigitados vai ao encontro da doutrina mais moderna, que entende haver a responsabilização civil do Estado por não promover adequadamente o bom funcionamento da justiça. Aliás, mesmo alguns juízes decidem de forma diversa do STF, entendendo possível a reparação pelo Poder Público (RIBEIRO, 2004)5. No entanto, observa-se que a jurisprudência pátria ainda é tímida em reconhecer o dever da Administração Pública de reparar os prejuízos advindos da morosidade em comento, concentrando-se os precedentes existentes na exclusão do nexo de causalidade, em virtude de ter a parte contribuído de alguma forma para a decisão tardia6. Nesse sentido, imperioso é que se reformulem os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais no sentido de permitir, embora com cautela, a responsabilização do Estado pela demora na prestação jurisdicional. Incumbe ao magistrado a adoção de uma postura mais atuante e célere, acompanhada de adequado aparelhamento estatal, de modo que se alcance, dentro de um prazo razoável, a solução justa do conflito. Do contrário, poderá ser civilmente responsabilizado, nos casos em que, como consequência de uma prestação jurisdicional morosa, causar danos ao jurisdicionado (SILVA, 2013). 5 Oportuna a menção da decisão proferida no acórdão da Primeira Câmara de Direito Público do TJSC, de relatoria do Desembargador Newton Trisotto: RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO PELA DEFICIENTE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SIGNIFICATIVO ATRASO NA PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO. PRETENSÃO À INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA IMPROCEDENTE. ELEMENTOS CARACTERIZADORES DO DANO MORAL DEMONSTRADOS. RECURSO PROVIDO. [...] É presumível a angústia, a aflição e o abalo psicológico daquele que por anos aguarda o encerramento de processo no qual se disputa o domínio e a posse de imóvel que lhe serve de residência. O litígio não se encerra com a publicação da sentença ou com o julgamento do recurso; cessa com o trânsito em julgado da decisão. Cumpre ao Estado indenizar o dano moral decorrente do injustificado atraso na prestação jurisdicional, pois a Constituição da República assegura a todos a "razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação" (art. 5º, inciso LXXVIII). A responsabilidade é objetiva (CR, art. 37, § 6º) (SANTA CATARINA, 2011). 6 Nesse sentido, citem-se os seguintes julgados: TRF4, AC 95.0443075-9, 4a Turma, Rel. Des. Federal José Luiz Borges Germano da Silva (BRASIL, 1998b); TJRJ, AC 1998.001.09874, 16ª Câmara Cível, Rel. Des. Jayro S. Ferreira (BRASIL, 1999); TRF3, AC 96.03049804-1, 3a Turma, Rel. Des. Federal Baptista Pereira (BRASIL, 2001). 73 4.4 DO POSICIONAMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DA AÇÃO DE REGRESSO No julgamento do RE 505.393/PE, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, discutiu-se o alcance do artigo 5º, LXXV, da Constituição, e a espécie de responsabilidade do Estado que dele decorre. No aresto prolatado, manifestou o Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a indenização de que trata esse dispositivo constitucional decorre de responsabilidade civil objetiva, conforme excerto da ementa abaixo transcrito: A regra constitucional [art. 5º, LXXV, da Constituição] não veio para aditar pressupostos subjetivos à regra geral da responsabilidade fundada no risco administrativo, conforme o art. 37, § 6º, da Lei Fundamental: a partir do entendimento consolidado de que a regra geral é a irresponsabilidade civil do Estado por atos de jurisdição, estabelece que, naqueles casos [do condenado por erro judiciário e daquele que ficar preso além do tempo fixado na sentença], a indenização é uma garantia individual e, manifestamente, não a submete à exigência de dolo ou culpa do magistrado (BRASIL, 2007). Assim, para o Supremo Tribunal Federal, a regra é a inexistência de responsabilidade civil por atos jurisdicionais. Especificamente em relação ao erro judiciário e à prisão além do tempo fixado na sentença, previstos no artigo 5º, LXXV, da Lei Maior, excepciona-se essa regra, incidindo a responsabilidade extracontratual objetiva, isto é, independente do dolo ou culpa do magistrado (ALEXANDRINO; PAULO, 2012). Vale dizer, somente nas hipóteses expressamente previstas em lei poderá o Estado ser responsabilizado pelos atos praticados no exercício da jurisdição. Nesse sentido, assevera Furtado: Em conclusão, não obstante os clamores em sentido contrário, entre nós a tese dominante é a de que o Estado somente pode ser responsabilizado pelo ato judicial nas hipóteses expressamente previstas em lei. É exemplo dessa responsabilidade a hipótese contida no artigo 5º, LXXV, da Constituição Federal: “O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença” (FURTADO, 2013, p. 855). E assim tem decidido o STF, tomando-se, a título meramente exemplificativo, a decisão proferida nos Embargos de Declaração no RE nº 553.637, invocada reiteradas vezes em decisões mais recentes: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. ABSOLVIÇÃO POR 74 FALTA DE PROVAS. ART. 5º, LXXV, 2ª PARTE. ATOS JURISDICIONAIS. FATOS E PROVAS. SÚMULA STF 279. […] O Supremo Tribunal já assentou que, salvo os casos expressamente previstos em lei, a responsabilidade objetiva do Estado não se aplica aos atos de juízes (BRASIL, 2009). Conforme visto anteriormente, os artigos 133 do CPC e 49 da LOMAN consignam hipóteses de responsabilização pessoal do magistrado, nos casos em este que ocasionar danos a terceiros em virtude de proceder com dolo ou fraude no exercício de suas funções (DI PIETRO, 2012). Porém, num primeiro momento, o juiz não é responsável. Responsável é tão somente o Estado, vez que o magistrado exerce a função jurisdicional em nome daquele. Se o magistrado causa dano ao particular, o Estado o indeniza, exercendo depois o direito de regresso contra o causador do dano (CRETELLA JÚNIOR apud PORTO, 1989). Embora alguns doutrinadores, tal como Celso Antônio Bandeira de Mello (2004), defendam que o jurisdicionado prejudicado teria faculdade de escolher quem figuraria no polo passivo da demanda, o STF firmou entendimento no RE nº 228.977, julgado sob a relatoria do Ministro Néri da Silveira, de que a legitimidade passiva é reservada ao Estado, não podendo a vítima demandar diretamente contra o magistrado: Recurso extraordinário. Responsabilidade objetiva. Ação reparatória de dano por ato ilícito. Ilegitimidade de parte passiva. 2. Responsabilidade exclusiva do Estado. A autoridade judiciária não tem responsabilidade civil pelos atos jurisdicionais praticados. Os magistrados enquadram-se na espécie agente político, investidos para o exercício de atribuições constitucionais, sendo dotados de plena liberdade funcional no desempenho de suas funções, com prerrogativas próprias e legislação específica. 3. Ação que deveria ter sido ajuizada contra a Fazenda Estadual responsável eventual pelos alegados danos causados pela autoridade judicial, ao exercer suas atribuições -, a qual, posteriormente, terá assegurado o direito de regresso contra o magistrado responsável, nas hipóteses de dolo ou culpa. 4. Legitimidade passiva reservada ao Estado. Ausência de responsabilidade concorrente em face dos eventuais prejuízos causados a terceiros pela autoridade julgadora no exercício de suas funções, a teor do art. 37, § 6º, da CF/88. 5. Recurso extraordinário conhecido e provido (BRASIL, 2002b). Assim, segundo o STF, o texto constitucional não legitima a vítima do dano a propor ação de indenização diretamente contra o agente público, cuja responsabilidade é apenas regressiva. Afinal, o texto constitucional é claro ao estabelecer que o Estado é quem deve responder objetivamente pelos prejuízos causados pelos seus agentes que, nessa qualidade, causem danos a terceiros (ALEXANDRINO; PAULO, 2012). Destarte, os magistrados só poderão responder civilmente pelos prejuízos sofridos por terceiros em virtude de atos jurisdicionais por via de ação regressiva, ajuizada pelo Estado, devendo ser comprovado o dolo ou fraude em sua conduta (FURTADO, 2013). 75 Ressalte-se que o conceito de dolo já abarca os atos fraudulentos, vez que não se cogita hipótese de fraude culposa. Ademais, segundo posicionamento do Tribunal Superior, a culpa grave está equiparada ao dolo, de modo que restaria caracterizada a responsabilidade do magistrado em relação à negligência, imprudência e imperícia em casos de extrema culpa (COTRIM NETO apud LIMA; MORAIS, 2011). Nesse sentido, excerto da ementa de recente decisão do Pretório Excelso: RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO JUDICIÁRIO NÃO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR ATO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. DECRETO DE PRISÃO PROVISÓRIA. ALIMENTOS. Segundo entendimento majoritário, somente é possível a responsabilização [...] quando agir o julgador com dolo, fraude ou culpa grave, o que não se verifica no caso em apreço (BRASIL, 2014a). Percebe-se, por conseguinte, que os princípios que norteiam a responsabilidade pessoal do magistrado não são os mesmos da responsabilidade objetiva do Estado, pois, para a responsabilização daquele, é necessário que se constate sua atuação dolosa, gravemente culposa ou que tenha agido mediante a utilização de meios fraudulentos (ALVES, 2001). Sintetizando todo o exposto até aqui, cumpre mencionar que, para o STF, salvo nos casos expressamente previstos em lei, vige a regra da irresponsabilidade civil do Estado por ato jurisdicional. Não obstante, verificada hipótese ensejadora da responsabilização estatal, poderá o Poder Público exercer o direito de regresso, desde que comprove dolo, culpa grave ou fraude na atuação do magistrado. 76 5 CONCLUSÃO O presente estudo abordou os principais fundamentos e os limites da responsabilidade civil do Estado pelos atos jurisdicionais, na esteira das disposições constitucionais que tratam do erro judiciário e do excesso de prisão (artigo 5º, inciso LXXV), bem como da garantia de duração razoável do processo (artigo 5º, inciso LXXVIII). Para que se chegasse ao objetivo final da pesquisa, a questão da responsabilidade civil do Estado foi abordada à luz das diversas teorias evolutivas, desde a teoria da irresponsabilidade estatal, em sua concepção absolutista, até atingir o estágio em que ora se encontra. Conforme já afirmado nesse trabalho, a Constituição Federal, ao atribuir, em seu artigo 37, §6º, a responsabilidade objetiva ao Estado, na modalidade risco administrativo, não fez distinções acerca das funções estatais que seriam atingidas por aquele dispositivo. Dessa forma, independentemente de a atividade ser desenvolvida pelo Executivo, pelo Legislativo ou pelo Judiciário, sempre que essa atividade ocasionar dano a terceiro, será objetivamente responsável o Estado, ressalvado o direito de regresso contra o causador do dano. No entanto, o aludido dispositivo constitucional ocasionou uma série de debates, ainda não superados, acerca da inclusão ou não da atividade jurisdicional na norma constitucional em comento. A jurisprudência pátria, contrariamente ao entendimento doutrinário dominante, apresenta forte resistência à responsabilização estatal pelos atos jurisdicionais, entendendo, em regra, pela irresponsabilidade do Estado. Diversos são os argumentos que visam justificar tal posicionamento, tais como a soberania do Poder Judiciário, a independência do magistrado, a falibilidade humana, a autoridade da coisa julgada, bem como o fato de os magistrados não serem servidores públicos. Assim, a jurisprudência majoritária é deveras insistente na alegação de que o Estado apenas possui o dever de indenizar os prejuízos causados pela prestação jurisdicional em hipóteses excepcionais, expressamente previstas em lei (artigo 5º, LXXV, CRFB/88 e artigo 630 CPP). Ocorre que os doutrinadores modernos refutam o entendimento da jurisprudência dominante e da doutrina mais tradicional, estendendo a responsabilidade do Estado pela atividade jurisdicional para além dos limites impostos pela Carta Política e pelo artigo 630 do Código de Processo Penal. Defendem que atividade jurisdicional deve ser visualizada como um serviço público monopolizado pelo Estado, vez que a prestação jurisdicional é prerrogativa exclusiva do Poder Público. Destarte, não seria razoável admitir-se a sociedade 77 arcasse com o ônus decorrente do mau funcionamento da justiça. Ao assumir o monopólio jurisdicional, o Estado teria o dever de prestar essa modalidade de serviço público com certo grau de qualidade. Outrossim, as atividades jurisdicionais passíveis de ensejar a responsabilidade do Estado abrangeriam não apenas o ato jurisdicional típico, qual seja, a sentença de mérito, como também os atos processuais praticados antes ou depois da sentença, no processo de conhecimento, no cautelar ou de execução, por ocasião do exercício da jurisdição contenciosa ou voluntária. Desta feita, a responsabilidade estatal é possível em face de qualquer ato lesivo praticado, pouco importando sua origem, desde que praticado por agentes públicos, no exercício de sua função ou em razão dela. O dever de reparação deve ser considerado como um risco inerente ao próprio exercício da função jurisdicional, e o Estado precisa assumir a responsabilidade por ele, reconhecendo-se devedor sempre que um ato jurisdicional provocar um dano injusto. A despeito dos inúmeros casos passíveis de ensejar a responsabilização civil do Estado por ato jurisdicional, este trabalho limitou-se à abordagem das principais hipóteses aventadas pela doutrina, a saber, o erro judiciário, o excesso de prisão e a demora na prestação jurisdicional, que são apenas alguns exemplos de falhas nos serviços judiciários que, não raro, tornam a pretensão buscada inoperante. Por vezes, o dano causado ao jurisdicionado vai muito além da questão material, atingindo a sociedade como um todo e ocasionando grave descrédito na justiça. Assim, sustenta-se aqui que o Estado tem o dever de indenizar o particular pelos prejuízos advindos da atividade jurisdicional danosa, com a ressalva do direito de regresso, desde que comprove dolo, culpa grave ou fraude na atuação do magistrado. 78 REFERÊNCIAS ALEXANDRINO, Marcelo; PAULO, Vicente. Direito Administrativo Descomplicado. 20. ed. rev. e atual. São Paulo: Método, 2012. ALMEIDA, Guilherme Zasevski. Responsabilidade civil do Estado por atos jurisdicionais. 2012. 83 f. Monografia (Graduação em Direito). Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2012. Disponível em: <http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/bitstream/handle/1884/31375/ GUILHERME%20ZASEVSKI%20ALMEIDA.pdf?sequence=1>. Acesso em: 20 set. 2014. ALVES, Rodrigues Vilson. Responsabilidade civil do Estado por atos dos agentes dos poderes legislativo, executivo e judiciário. Campinas: Bookseller, 2001. AMARANTE, Aparecida I.. Excludentes de ilicitude civil: legítima defesa, exercício e abuso do direito, estado de necessidade. Jus Navigandi, Teresina, ano 18, n. 3814, 10 dez. 2013. Disponível em: <http://jus.com.br/artigos/25864>. Acesso em: 19 set. 2014. ARAÚJO, Edmir Netto. Direito Administrativo. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. BACELLAR FILHO, Romeu Felipe. Responsabilidade civil da administração pública: aspectos relevantes. A Constituição Federal de 1988. A questão da omissão. Uma visão a partir da doutrina e da jurisprudência brasileira. In: FREITAS, Juarez (Org.). Responsabilidade civil do Estado. São Paulo: Malheiros, 2006. BIAGIO JUNIOR, Nelson. A responsabilidade civil e o direito ambiental. Jus Navigandi, Teresina, ano 5, n. 47, 1 nov. 2000. Disponível em: <http://jus.com.br/artigos/1693>. Acesso em: 1 out. 2014. BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm>. Acesso em: 15 ago. 2014. ______. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Código Civil. Disponível em: <http://www. planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. Acesso em: 12 set. 2014. ______. Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973. Código de Processo Civil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5869compilada.htm>. Acesso em: 17 set. 2014. ______. Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm>. Acesso em: 23 set. 2014. ______. Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941. Código de Processo Penal. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689compilado.htm>. Acesso em: 23 set. 2014. ______. Decreto nº 678, de 6 de novembro de 1992. Promulga a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), de 22 de novembro de 1969. 79 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D0678.htm>. Acesso em: 19 set. 2014. ______. Lei Complementar nº 35, de 14 de marco de 1979. Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp35.htm>. Acesso em: 22 set. 2014. ______. Convenção Americana sobre Direitos Humanos - Pacto de São José da Costa Rica. 1969. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994 /anexo/and678-92.pdf>. Acesso em: 15 ago. 2014. ______. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm>. Acesso em: 15 ago. 2014. ______. Decreto nº 678, de 6 de novembro de 1992. Promulga a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), de 22 de novembro de 1969. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D0678.htm>. Acesso em: 19 set. 2014. ______. Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941. Código de Processo Penal. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689compilado.htm>. Acesso em: 23 set. 2014. ______. Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm>. Acesso em: 23 set. 2014. ______. Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973. Código de Processo Civil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5869compilada.htm>. Acesso em: 17 set. 2014. ______. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002a. Código Civil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. Acesso em: 12 set. 2014. ______. Lei Complementar nº 35, de 14 de marco de 1979. Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp35.htm>. Acesso em: 22 set. 2014. ______. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 32518, Estado do Rio Grande do Sul. Relator: Min. Aliomar Baleeiro. Brasília, DF, 21 de junho de 1966. Disponível em: <http://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/671916/recurso-extraordinario-re-32518-rs>. Acesso em: 20. set. 2014. ______. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 109.615, Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. Relator: Min. José Celso de Mello. Brasília, DF, 28 de maio de 1996. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID =200815>. Acesso em: 20. set. 2014. ______. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 170.014, Estado de São Paulo. Relator: Min. Ilmar Galvão. Brasília, DF, 31 de outubro de 1997a. Disponível em: 80 <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=218334>. Acesso em: 20. set. 2014. ______. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 170.147, Estado de São Paulo. Relator: Min. Carlos Velloso. Brasília, DF, 12 de dezembro de 1997b. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=218393>. Acesso em: 20. set. 2014. ______. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 180.602/SP, Estado de São Paulo. Relator: Min. Marco Aurélio. Brasília, DF, 15 de dezembro de 1998a. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=218384>. Acesso em: 20. set. 2014. ______. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 228.977, Estado de São Paulo. Relatora: Min. Néri Da Silveira. Brasília, DF, 05 de março de 2002b. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=1709986>. Acesso em: 08 set. 2014. ______. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 505.393, Estado de Pernambuco. Relator: Min. Sepúlveda Pertence. Brasília, DF, 26 de junho de 2007. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID =4473303>. Acesso em: 20. set. 2014. ______. Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 573.595, Estado do Rio Grande do Sul. Relator: Min. Eros Grau. Brasília, DF, 24 de junho de 2008. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID =541897>. Acesso em: 20. set. 2014. ______. Supremo Tribunal Federal. Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 553.637, Estado de São Paulo. Relatora: Min. Ellen Gracie. Brasília, DF, 25 de setembro de 2009. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento. asp?incidente=2532054>. Acesso em: 25. set. 2014. ______. Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental nº 754.778, Estado do Rio Grande do Sul. Relator: Min. Dias Toffoli, Brasília, DF, 26 de novembro de 2013. Disponível em: <http://jurisprudencia.s3.amazonaws.com/STF/IT/ARE_754778_RS_1387618597640.pdf?Sig nature=ll%2BEI2nB3SC6UjrCNsOHOGkXDng%3D&Expires=1413659065&AWSAccessK eyId=AKIAIPM2XEMZACAXCMBA&response-content-type=application/pdf&x-amzmeta-md5-hash=2c5794c72ccf6fb65c44635d1c04df29>. Acesso em: 08 set. 2014. ______. Supremo Tribunal Federal. Agravo de Instrumento nº 759.880, Estado do Rio Grande do Sul. Relator: Min. Roberto Barroso. Brasília, DF, 26 de março de 2014a. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=2687018>. Acesso em: 10 out. 2014. ______. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário com Agravo nº 770.931, Estado de Santa Catarina. Relator: Min. Dias Toffoli. Brasília, DF, 18 de junho de 2014b. Disponível em: <http://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/25215478/recurso-extraordinario-com-agravoare-770931-sc-stf >. Acesso em: 20 set. 2014. 81 ______. Tribunal Regional Federal (3. Região). Apelação Cível nº 96.03.049804-1. Relator: Des. Federal Baptista Ferreira. São Paulo, SP, 28 de março de 2001. Disponível em: <http://web.trf3.jus.br/consultas/Internet/ConsultaProcessual/Processo?NumeroProcesso=960 30498041>. Acesso em: 20. set. 2014. ______. Tribunal Regional Federal (4. Região). Apelação Cível nº 95.0443075-9. Relator: Des. Federal José Luiz Borges Germano da Silva. Porto Alegre, RS, 10 de novembro de 1998b. Disponível em: <http://www2.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=consulta_ processual_resultado_pesquisa&selForma=NU&txtValor=9504430759&chkMostrarBaixados =S&selOrigem=TRF&hdnRefId=761fd9a0d56dab1605d743cdd8aec116&txtPalavraGerada= SPeJ>. Acesso em: 20. set. 2014. BÜHRING, Marcia Andrea. Responsabilidade civil extracontratual do Estado. São Paulo: Thompson-IOB, 2004. CASTANHA, Priscilla Folgosi. A validade das cláusulas excludentes e limitativas de responsabilidade. Jus Navigandi, Teresina, ano 18, n. 3640, 19 jun. 2013. Disponível em: <http://jus.com.br/artigos/24744>. Acesso em: 19 set. 2014. CATARINO, Luís Guilherme Carvalho de Pina. Contributo para uma reforma do sistema geral de responsabilidade civil extracontratual do Estado: o problema da imputação por fato jurisdicional”. In Revista do Ministério Público, Janeiro-Março, 2002. CAHALI, Yussef Said. Responsabilidade civil do Estado. 3. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 23. ed. rev., ampl. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 6. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2005. CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; DINAMARCO, Cândido Rangel; GRINOVER, Ada Pellegrini. Teoria Geral do Processo. 26. ed. São Paulo: Malheiros, 2010. CLÉVE, Clémerson Merlin; FRANZONI, Júlia Ávila. A Responsabilidade civil do Estado por atos jurisdicionais. In: A&C – Revista de Direito Administrativo e Constitucional. Belo Horizonte, jan./mar. 2012, ano 12, n. 47, p. 107-125. COPOLA, Gina. A responsabilidade do Estado por atos jurisdicionais. Boletim de Direito Administrativo. São Paulo, v. 24, n. 6, p. 689-700, jun. 2008. Disponivel em: <http://www. tce.sc.gov.br/files/file/biblioteca/a_responsabilidade_do_estado_por_atos_jurisdicionais.doc>. Acesso em: 20 set. 2014. CUNHA, Cintia de Quadros. Responsabilidade civil do Estado: atos jurisdicionais danosos. 2013. 61 f. Monografia (Graduação em Direito). Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2013. Disponível em: <http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/bitstream/handle/1884/35598/17.pdf ?sequence=1>. Acesso em: 10 out. 2014. DELGADO, José Augusto. Responsabilidade civil do Estado pela demora na prestação jurisdicional. In: Revista de Processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, out/dez 1985, ano 82 10, n. 40, p. 147-156. DERGINT, Augusto do Amaral. Responsabilidade do Estado por atos judiciais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1994. DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012. DINIZ, Maria Helena. Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil. 25. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. FACHIN, Zulmar. Responsabilidade Patrimonial do Estado por Ato Jurisdicional. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. FURTADO, Lucas Rocha. Curso de Direito Administrativo. 4. ed. rev. e atual. Belo Horizonte: Fórum, 2013. GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo Mário Veiga. Novo curso de direito civil: responsabilidade civil. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. v. 3. GASPARINI, Diogenes. Direito Administrativo. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: responsabilidade civil. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. ______. Responsabilidade Civil. 10. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2007. GRECO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro. 22. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. v. 1. JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. 5. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2010. LEITE, Gisele Pereira Jorge. Algumas linhas sobre a responsabilidade civil do Estado. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, X, n. 47, nov 2007. Disponível em: <http://www.ambitojuridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=2356>. Acesso em set 2014. LEONARDI, Marcel. Responsabilidade Civil dos provedores de serviços de internet. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2005. LIMA, Adriano Aparecido Arrias de. Responsabilidade civil do Estado por ato jurisdicional. Jus Navigandi, Teresina, ano 10, n. 823, 4 out. 2005. Disponível em: <http://jus.com.br/ artigos/7381>. Acesso em: 2 out. 2014. LIMA, Jhéssica Luara Alves de; MORAIS, Ingrid Nóbrega Vilar Nascimento de. Responsabilidade civil do Estado e do magistrado por erro judicial: análise da culpa grave. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XIV, n. 93, out 2011. Disponível em: <http://www.ambitojuridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=10559>. Acesso em out 2014. LISBOA, Roberto Senise. Manual de Direito Civil: obrigações e responsabilidade civil. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 83 LONGEN, Manoela Catarina Bramorski. Consequências jurídicas do exercício abusivo do direito. 2013. 89 f. Monografia (Graduação em Direito). Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2013. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/ 123456789/114999/CONSEQU%C3%8ANCIAS%20JUR%C3%8DDICAS%20DO%20EXE RC%C3%8DCIO%20ABUSIVO%20DO%20DIREITO1.doc?sequence=1> Acesso em: 14 set. 2014. LUVIZOTTO, Juliana Cristina. Responsabilidade civil do Estado legislador: atos legislativos inconstitucionais e constitucionais. 2010. 249 f. Dissertação (Mestrado em Direito). Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. Disponível em: < http://www.teses. usp.br/teses/disponiveis/2/2134/tde-02082011-121952/pt-br.php>. Acesso em: 27 ago. 2014. MARCOCHI, Marcelo Amaral Colpaert; PANTALEÃO, Juliana Fogaça. Responsabilidade Civil do Estado pelo Erro Judiciário. 2011. Disponível em: <http://www.acmradvogados. com.br/pdfartigos/erro_judici.pdf>. Acesso em: 10 out. 2014. MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 38. ed. São Paulo: Malheiros, 2011. MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 17. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2004. MELLO, Oswaldo Aranha Bandeira de. Princípios Gerais do Direito Administrativo. 3.ed. São Paulo: Malheiros, 2007. v. 1. MONTEIRO, Washington de Barros; MALUF, Carlos Alberto Dabus; SILVA, Regina Beatriz Tavares da. Curso de Direito Civil: Direito das Obrigações - 2ª parte. 39. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. MONTEIRO FILHO, Carlos Edison do Rêgo. Problemas da responsabilidade civil do Estado. In: FREITAS, Juarez (Org.). Responsabilidade civil do Estado. São Paulo: Malheiros, 2006. MORAES, Alexandre de. Constituição do Brasil interpretada e legislação constitucional. 9 ed. São Paulo: Atlas, 2013. MORAIS, Ana Paula de Avellar; SOUZA, Virginia Massariol de. Juízo de mérito dos recursos no direito processual civil brasileiro. Jus Navigandi, Teresina, ano 14, n. 2171, 11 jun. 2009. Disponível em: <http://jus.com.br/artigos/12967>. Acesso em: 10 out. 2014. NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código Civil comentado. 7. ed. rev., ampl. e atual. até 25.8.2009. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. PACHECO, José da Silva. O direito administrativo na futura Constituição. Revista de Direito Administrativo, 168:5, n. 4, 2000. PAIVA, Marina Silva. Os limites do risco na atividade de promoção de espetáculos populares, artísticos e esportios de grande porte. 2009. 89 f. Monografia (Graduação em Direito). Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2009. Disponível em: <http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/33772-44085-1-PB.pdf>. Acesso em: 27 ago. 2014. 84 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Responsabilidade Civil. 9. ed. Rio de Janeiro, Forense, 2001. PORTO, Mário Moacyr. Temas de Responsabilidade Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1989. RIBEIRO, Ana Cecília Rosário. Direito à indenização por erro judiciário. 2004. Disponível em: <http://www.unifacs.br/revistajuridica/arquivo/edicao_agosto2004/discente/disc02.doc>. Acesso em: 7 out. 2014. RIO DE JANEIRO. Tribunal de Justiça. Apelação Cível nº 1998.001.0987-4. Relator: Des. Jayro S. Ferreira. São Paulo, SP, 10 de janeiro de 1999. Disponível em: <http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaProc.do?v=2&FLAGNOME=&bac k=1&tipoConsulta=publica&numProcesso=1998.001.000987-4>. Acesso em: 20. set. 2014. RIZZARDO, Arnaldo. Responsabilidade civil: lei nº 10.406 de 10.01.2002. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007. ROCHA, Marco Aurélio Martins. O problema do nexo causal na responsabilidade civil subjetiva. 2008. Disponível em: <http://jus.com.br/artigos/11969/o-problema-do-nexocausal-na-responsabilidade-civil-subjetiva#ixzz3BPVK8Sj2>. Acesso em 25. ago. 2014. RODRIGUES, Silvio. Direito Civil: responsabilidade Civil. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2007. SANTA CATARINA. Tribunal de Justiça. Apelação Cível nº 2010.020304-7. Relator Des. Newton Trisotto. Capital, 13 de dezembro de 2011. Disponível em: <http://app6.tjsc.jus.br/cposg/servlet/ServletArquivo?cdProcesso=01000G1CP0000&nuSeqPr ocessoMv=null&tipoDocumento=D&cdAcordaoDoc=null&nuDocumento=4166623&pdf=tru e>. Acesso em: 05 out. 2014. SANTOS, Pablo de Paula Saul. Responsabilidade civil: origem e pressupostos gerais. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XV, n. 101, jun 2012. Disponível em: <http://www.ambitojuridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=11875>. Acesso em 25 ago. 2014. SANTOS, Regina Maria Piazi dos. Responsabilidade do Estado por demora na prestação jurisdicional. Rio de Janeiro, 2008. Disponível em: <http://www.avm.edu.br/docpdf/ monografias_publicadas/K206745.pdf. Acesso em: 25 set. 2014. SILVA, Bruno Lemos. Responsabilidade Civil do Estado pela Morosidade na Prestação Jurisdicional. Conteúdo Juridico, Brasilia-DF: 22 abr. 2013. Disponivel em: <http://www. conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.43111&seo=1>. Acesso em: 27 set. 2014. STOCO, Rui. Tratado de responsabilidade civil. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. VALCANAIA, Osvaldo Giovani. A responsabilidade civil do Estado pela atividade jurisdicional danosa. 2006. 69 f. Monografia (Graduação em Direito). Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2006. Disponível em: < http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/handle/1884 /30934>. Acesso em: 27 set. 2014. 85 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: responsabilidade civil. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2012. WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo. Curso avançado de processo civil: teoria geral do processo e processo de conhecimento. 12. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais: 2011. v. 1. WILLEMAN, Flávio de Araújo. Responsabilidade civil das agências reguladoras. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. ZOCKUN, Carolina Zancaner. Da responsabilidade do Estado na omissão da fiscalização ambiental. In: FREITAS, Juarez (org.). Responsabilidade Civil do Estado. São Paulo: Malheiros, 2006.
Download