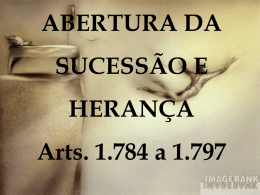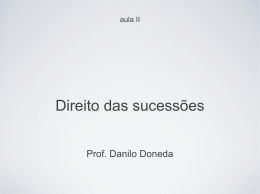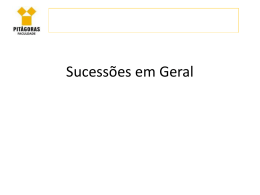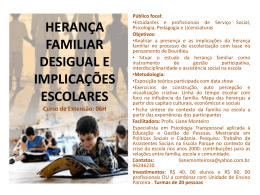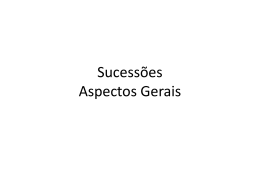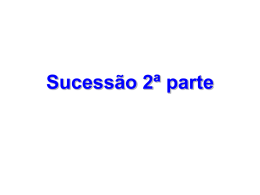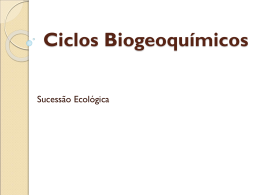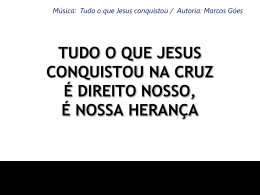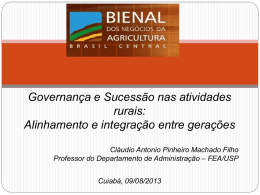Pró-Reitoria de Graduação Curso de Direito Trabalho de Conclusão de Curso A TRANSMISSIBILIDADE DOS ALIMENTOS E SUAS PERSPECTIVAS DIANTE DO CÓDIGO CIVIL Autora: Nadja Regina Estrela Alcântara Ferreira Orientadora: Profª Esp. Karla Neves Faiad de Moura Brasília - DF 2010 NADJA REGINA ESTRELA ALCÂNTARA FERREIRA A TRANSMISSIBILIDADE DOS ALIMENTOS E SUAS PERSPECTIVAS DIANTE DO CÓDIGO CIVIL Monografia apresentada ao curso de graduação em Direito da Universidade Católica de Brasília, como requisito parcial para obtenção do Título de Bacharel em Direito. Orientadora: Profª. Esp. Karla Neves Faiad de Moura. Brasília 2010 Monografia de autoria de Nadja Regina Estrela Alcântara Ferreira, intitulada “A TRANSMISSIBILIDADE DOS ALIMENTOS E SUAS PERSPECTIVAS DIANTE DO CÓDIGO CIVIL”, apresentada como requisito parcial para a obtenção do grau de Bacharel em Direito da Universidade Católica de Brasília, em __________________________, defendida e aprovada com menção _____ pela banca examinadora abaixo assinada: _________________________________________ Profª. Esp. Karla Neves Faiad de Moura Orientadora _________________________________________ Professor Curso de Direito – UCB _________________________________________ Professor Curso de Direito – UCB Brasília 2010 Aos meus queridos pais, Raimundo e Miraci, por tudo que fizeram e continuam a fazer por mim. Ao meu marido, Alexandre, pelo exemplo de persistência, pelo incentivo e por todo amor... Às minhas irmãs e sobrinha (Anne, Deusa e Maitê), à minha tia (Ângela) e aos meus primos (Luiz e Anderson): parte de minha família mais próxima. AGRADECIMENTO Ao Alexandre, por ter empreendido esforços no intuito de que hoje pudéssemos ver, juntos, esse dia chegar. Pela paciência em ouvir minhas dúvidas, saná-las e, quando não era possível, ajudar-me a encontrar as soluções. Obrigada por, além de toda ajuda, estar ao meu lado em mais esse capítulo que já faz parte da nossa linda história. Amo você! Aos queridos Leda e Júnior, por toda colaboração, carinho e por serem pessoas inspiradoras. Aos amigos, pelos momentos de descontração e por terem feito os momentos difíceis se tornarem mais floridos. Vocês sempre estarão no meu coração. À professora Karla Faiad, cujas aulas ministradas foram responsáveis pela escolha do tema, além do gosto pelo Direito de Família. Obrigada por todo o auxílio e orientação nessa etapa. Obrigada, meu Deus, por tudo. É preciso ir mais longe. Navegar outros mares e captar o „direito vivente‟, evitando construir o futuro com a sombra do que passou. Luiz Edson Fachin RESUMO FERREIRA, Nadja Regina Estrela Alcântara. A transmissibilidade dos alimentos e suas perspectivas diante do Código Civil. 2010. 77 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Direito) - Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2010. Pesquisa acerca das perspectivas concernentes à transmissibilidade dos alimentos, envolvendo regulamentos diversos. Verifica a importância da característica, oriunda da própria natureza alimentar e seus requisitos, que envolve o tema intransmissibilidade dos alimentos. Para isso, com a intenção de melhor clarear a trajetória referente à disciplina do Direito de Família, mais especificamente relacionada aos alimentos, esboça uma análise evolutiva do Direito Civil chegando à concepção de sua constitucionalização. Constata a necessidade de ilustrar a relevância dos princípios constitucionais relativos ao Direito de Família. Demonstra, também, a elucidação das características gerais da obrigação alimentar, com seu conceito e pessoas legitimadas a requerê-la. Valoriza ainda institutos correspondentes ao fenômeno sucessório, como por exemplo, a delimitação exata do momento em que ocorre a sucessão e, por conseguinte, a transmissão do patrimônio, atentando para o Princípio da Saisine. Ademais, apresenta as maneiras pelas quais a obrigação alimentar pode ser extinta e procura esclarecer a existência de controvérsias a respeito da possibilidade ou não da transmissibilidade alimentar, enfocando o caráter personalíssimo inerente aos alimentos. Palavras-chave: Alimentos. Intransmissibilidade. Família. Constitucionalização. Princípios constitucionais. Sucessão. Caráter personalíssimo. ABSTRACT FERREIRA, Nadja Regina Estrela Alcantara. The food transmissibility and its perspectives on the Civil Code. 2010. 77 f. Completion of course work (Law Degree) - Catholic University of Brasilia, Brasilia, 2010. Research about the circumstances concerning the food transmissibility, involving various regulations. It verifies the importance of the feature, coming from the food‟s nature and its requirements, involving the issue of food untransmissibility. To do so, with the intent to clarify the trajectory on the discipline of family law, more specifically related to food, it outlines an evolutionary analysis of civil law until the conception of its constitution. It demonstrates the need to illustrate the relevance of constitutional principles relating family law. It also shows the elucidation of the general characteristics of maintenance, with its concept and legitimized people to require it. It also values institutes corresponding to the phenomenon of succession, for example, the exact delimitation of the time when the succession takes place and therefore the transfer of the property, observing the Saisine principle. Moreover, it presents the ways in which maintenance may be terminated and seeks to clarify the disputes existence about whether or not the food transmissibility, focusing on the very personal nature inherent to foods. Keywords: Food. Untransmissibility. Constitutionalization. principles. Succession. A strictly personal feature. Constitutional SUMÁRIO INTRODUÇÃO .......................................................................................................... 10 1 CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO DIREITO CIVIL.................................................. 12 1.1 HISTÓRICO ........................................................................................................ 12 1.2 PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS APLICÁVEIS AO DIREITO DE FAMÍLIA ..... 18 1.2.1 Princípio da dignidade humana .................................................................... 21 1.2.2 Princípio da solidariedade ............................................................................. 22 1.2.3 Princípio da igualdade ................................................................................... 23 1.2.4 Princípio da afetividade ................................................................................. 24 1.2.5 Princípio da liberdade às relações de família .............................................. 26 1.2.6 Princípio do melhor interesse da criança .................................................... 27 1.2.7 Princípio da convivência familiar .................................................................. 28 1.2.8 Princípio da paternidade responsável .......................................................... 29 1.2.9 Princípio do retrocesso social ...................................................................... 30 1.3 REPERSONALIZAÇÃO DO DIREITO CIVIL ...................................................... 30 1.3.1 Repersonalização do Direito de Família ....................................................... 32 2 ALIMENTOS .......................................................................................................... 36 2.1 CONCEITO ......................................................................................................... 36 2.2 LEGITIMADOS PARA REQUERER ALIMENTOS .............................................. 37 2.3 CARACTERÍSTICAS DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR ......................................... 44 2.3.1 Caráter personalíssimo.................................................................................. 44 2.3.2 Irrenunciabilidade .......................................................................................... 45 2.3.3 Incedibilidade ................................................................................................. 46 2.3.4 Impenhorabilidade ......................................................................................... 47 2.3.5 Incompensabilidade ....................................................................................... 47 2.3.6 Impassível de transação ................................................................................ 48 2.3.7 Imprescritibilidade ......................................................................................... 48 2.3.8 Preferenciabilidade e indeclinabilidade ....................................................... 49 2.3.9 Irrepetibilidade ................................................................................................ 49 2.3.10 Condicionabilidade e variabilidade............................................................. 51 2.3.11 Reciprocidade ............................................................................................... 51 2.3.12 Intransmissibilidade ..................................................................................... 52 3 OS ALIMENTOS SOB A ÓTICA DO DIREITO SUCESSÓRIO ............................. 53 3.1 CONCEITOS ....................................................................................................... 54 3.2 MOMENTOS DO FENÔMENO SUCESSÓRIO E O PRINCÍPIO DA SAISINE .................................................................................................................... 56 3.2.1 Abertura da sucessão .................................................................................... 57 3.2.2 Delação ou devolução sucessória ................................................................ 58 3.2.3 Adição ou aquisição da herança ................................................................... 59 4 A TRANSMISSIBILIDADE DOS ALIMENTOS ...................................................... 61 4.1 MODOS DE EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR.................................... 61 4.2 A INTRANSMISSIBILIDADE FRENTE AO CARÁTER PERSONALÍSSIMO DOS ALIMENTOS ..................................................................................................... 63 4.3 A DIVERGÊNCIA ACERCA DA INSTRANSMISSIBILIDADE ADVINDA COM A LEI DO DIVÓRCIO ....................................................................................... 64 CONCLUSÃO ........................................................................................................... 70 REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 72 10 INTRODUÇÃO O presente estudo trata de uma monografia cujo intuito é abordar o tema da transmissibilidade dos alimentos, além da suposta divergência existente relativa à possibilidade de haver ou não a transmissão do encargo alimentar de uma pessoa para outra, em razão da morte do alimentante. Os alimentos possuem como caráter primordial o fato de serem personalíssimos, daí a incapacidade de se transmitir a outrem o dever de prestá-los, bem como o direito de recebê-los. O trabalho compreende intróito, abordagem do tema em quatro capítulos a serem desenvolvidos de forma sistemática, como também dedução do exposto e apreendido. Por fim, referências. No primeiro capítulo, aborda a trajetória do Direito Civil, com enfoque na nova conceituação que todo ramo do direito deve compreender, qual seja, a constitucionalização; no caso do trabalho em tela, a constitucionalização do Direito Civil. Enfoca, ainda, os princípios concernentes ao Direito de Família, amparados pela Constituição Federal, além de delinear o conceito de repersonalização assumido pelo Direito Civil. Num segundo momento, dedica-se a explicitar os alimentos expondo seu conceito, os legitimados a requerê-los e suas principais características. Noutro momento, os alimentos são tratados pela ótica do direito sucessório, a qual engloba conceitos e noções a respeito do fenômeno sucessório. Por fim, o derradeiro capítulo trata da transmissibilidade dos alimentos analisando as formas que extinguem a obrigação alimentar. Cita, também, a característica intransmissível dos alimentos, diretamente relacionada ao seu caráter personalíssimo e, finalmente, o confronto existente entre regulamentos diversos com relação a essa transmissibilidade. Busca uma exposição do entendimento das correntes doutrinárias e jurisprudenciais dominantes onde são objeto de discussão as hipóteses supracitadas. 11 O presente empreendimento utilizará os métodos indutivo e documental, como também contará com a utilização de técnicas de levantamento, seleção da bibliografia, pesquisas adquiridas por meio da internet, leitura analítica, fichamento, análise comparativa e interpretação dos ordenamentos jurídicos. Com esse estudo, não pretende exaurir o assunto acerca da transmissibilidade dos alimentos. 12 1 CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO DIREITO CIVIL 1.1 HISTÓRICO A lei civil vem experimentando uma contínua inserção dos fundamentos da Carta Maior em seus regulamentos; para melhor compreender tal quadro de mudanças, faz-se necessário um breve exame geral da evolução doutrinária a respeito das relações entre direito público e direito privado. A necessidade de estipular linhas distintivas entre esses dois ramos do Direito deve-se à complexidade do tema e à importância de se vislumbrar um panorama histórico que leve a entender a sua evolução. Em meados do século XIX era possível observar uma evidente separação entre o direito público e o direito privado, o que conduzia a uma distinção nítida em relação aos seus regulamentos, pois ao passo que o direito privado se encarregava de cuidar dos interesses individuais e inatos do ser humano, o direito público exercia a função de regular os interesses da sociedade em geral por meio do Estado. Sílvio de Salvo Venosa manifesta-se sobre o tema da seguinte forma: O ius civile dos romanos distinguia direito público de direito privado com objetivo de traçar fronteiras entre o Estado e o indivíduo. O ius publicum procurava as relações políticas e os fins do Estado a serem atingidos. O ius privatum dizia respeito às relações entre os cidadãos 1 e os limites do indivíduo em seu próprio interesse. Conforme analisa Romeu Felipe Bacellar Filho, “no Estado Liberal, percebe-se um esforço concentrado em divisar as fronteiras entre Direito Público e Privado.” 2 Ao Estado era proibida a interferência nos aspectos privados dos indivíduos; sua ingerência não poderia alcançar a intimidade da pessoa humana e, sim, deveria apenas preocupar-se com os interesses gerais. 1 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: parte geral. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2006, p. 62. BACELLAR FILHO, Romeu Felipe. Direito público X Direito privado. Disponível em:<http://www.oab.org.br/oabeditora/users/revista/1205503372174218181901.pdf>. Acesso em: 10 mar. 2010. 2 13 [...] Como uma decorrência natural da luta contra o Absolutismo – e também para uma justificação operativa acerca da posição de certas camadas superiores da sociedade –, o público, inteiramente associado ao Estado [...] é visto com desconfiança, ou mesmo reserva. [...] É nessa quadra histórica que se inicia o interesse – ainda presente – 3 de delimitar a divisão entre direito público e direito privado. [...] Os códigos, pela sua importância, assumiam o papel de Constituição dos indivíduos, norteando várias áreas do sistema jurídico. Ao direito público era reservado, no máximo, a missão de tornar possível uma existência pacífica entre esses dois pólos a fim de que os particulares pudessem se desenvolver de acordo com suas regras. Com o passar dos tempos, e dentro dessa realidade de total separação entre Sociedade e Estado, surge o Direito Constitucional já tratando dos direitos fundamentais dos indivíduos, tendo como objetivo o atendimento aos anseios da sociedade. O que se observa, porém, é que os regulamentos não se expandem tanto e o Direito Constitucional acaba cuidando, quase que exclusivamente, da estrutura e funções básicas do Estado. O fato de tratar dos direitos fundamentais representava tão somente uma proteção aos indivíduos contra a atuação do poder público. Já na seara privada, como grande conquista desse momento social, nasce a codificação do Direito Civil. Assim, explica Júlio Cesar Finger: O direito civil codificado, em sua construção conceitualista e formaldedutiva, pretensamente completa, cumpria com excelência as funções para as quais fora concebida. Normativamente, as conseqüências foram da ordem de promover uma divisão entre os interesses que são acolhidos e os que são mantidos fora do sistema 4 jurídico. [...] 3 PINTO, Cristiano Paixão Araújo. Arqueologia de uma distinção: o público e o privado na experiência histórica do direito. In: PEREIRA, Cláudia Fernanda de Oliveira [org.]. O novo Direito Administrativo brasileiro: o Estado, as Agências e o Terceiro Setor. Belo Horizonte: Fórum, 2003, p. 37. 4 FINGER, Julio Cesar. Constituição e direito privado: algumas notas sobre a chamada constitucionalização do direito civil. In: SARLET, Ingo Wolfgang (org.). A Constituição concretizada: construindo pontes com o público e o privado. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000, p. 88. 14 Por conseguinte, na elaboração do Código Civil, foram eleitas algumas categorias que se enquadraram na codificação, sendo permitida a entrada das situações reais que correspondessem a tais categorias. Aquelas situações também reais, cuja correspondência aos blocos tratados pelo código, foi julgada inexistente, deixaram de ensejar norma disciplinada. Amparado por Washington de Barros Monteiro, Sílvio Venosa pondera que: [...] Apesar de ter o Código regulado institutos em franca decadência, como a “hipoteca judicial” e o “pacto de melhor comprador”, e ter deixado de regular institutos nascentes à época, como o condomínio em apartamentos, suas inúmeras qualidades superam e compensam, com vantagem, o reduzido número de defeitos. [...] O fato é que nosso Código representava em seu tempo o que de mais completo se conhecia no campo do Direito. Suas idéias eram, 5 de fato, piegas e burguesas como fruto da cultura da época. Dessa maneira, o Código Civil alcançava os objetivos para os quais fora concebido à época, pois cuidava de conceituar e disciplinar áreas do direito privado que deveriam ter tratamento específico em detrimento de outras situações do cotidiano, as quais não deveriam ser abarcadas pelo mundo jurídico e, portanto, sem interesse para o Direito Civil. Dentro desse contexto, é possível notar a ocorrência de falhas na codificação, pois, tendo surgido com o estigma de ser completo dentro do campo do direito privado, o Código Civil trazia o entendimento de que não estando uma questão nele inserta, esta questão não pertenceria ao mundo do direito. Infelizmente o que verdadeiramente ocorria era a ausência do trato de questões relacionadas aos anseios das minorias da época. As classes menos favorecidas financeiramente, a mulher, a família não foram temas merecedores da atenção necessária para ter regulamentos alcançados pelo Código. Tentando acabar com os desníveis advindos das diferenças sociais existentes, o Estado passa a atuar de maneira mais presente deixando o „modelo‟ da não interferência para passar à tônica da intervenção. A partir daí, a situação começa a mudar, chegando a se inverter a dimensão até então existente do poder privado em detrimento do poder 5 VENOSA, 2006, p. 108. 15 público. O Estado passa a interferir de maneira significativa na sociedade, com o intuito de amenizar os reflexos de injustiças e diferenças sociais existentes à época, transformando-se, desse modo, em ator principal responsável por direcionar e consolidar políticas públicas que deverão fomentar um desenvolvimento social mais amplo e justo, garantindo uma igualdade realmente concreta. Todas essas transformações de atitudes e posturas contribuíram para um crescimento e uma interferência estatais totalmente desregulados, gerando como resultado crises no modelo social existente à época. A ampliação das funções estatais gerou grandes endividamentos para os cofres públicos; o uso do direito como instrumento regulador de muitos campos da vida social acarretou a perda da eficácia do ordenamento jurídico, fazendo com que tal intervenção estatal na sociedade se mostrasse incoerente com seus propósitos. As crises acabaram por contribuir com o surgimento do Estado Democrático de Direito, direcionado para as questões da cidadania. Esse modelo social deixa de tratar como opostas as esferas do poder público e privado fazendo com que sejam encaradas como complementares. No Estado Democrático de Direito há uma nova relação entre público e privado. É assim que no Brasil começa-se a observar questões referentes à constitucionalização do direito público e do direito privado. As relações privadas deixam de ter seu foco principal baseado no Código Civil e passam a enxergar os valores da Constituição da República. Conforme acrescenta Perlingieri, O Código Civil certamente perdeu a centralidade de outrora. O papel unificador do sistema, tanto nos seus aspectos mais tradicionalmente civilísticos quanto naqueles de relevância publicista, é desempenhado 6 de maneira cada vez mais incisiva pelo Texto Constitucional. Ainda, temos a lição de Gustavo Tepedino: Assim, torna-se obsoleta a summa divisio que estremava, no passado, direito público e direito privado bem como ociosa a partição 6 PERLINGIERI, Pietro. Perfis de Direito Civil: introdução ao direito civil constitucional. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 6. 16 entre direitos reais e direitos obrigacionais, ou entre direito comercial e direito civil, ambas fundadas nos aspectos estruturais das situações 7 jurídicas subjetivas, não já nos seus aspectos funcionais. De certo modo, as preocupações nesse momento social estão voltadas à dimensão alcançada pelo Estado e sua política intervencionista. No Brasil, essa constatação é verificada após a Constituição de 1988, ensejando uma inversão na atuação dominante do Estado, além da volta da iniciativa privada a locais ocupados pela atuação estatal. É nesse quadro de diminuição da atuação do Estado que a questão da privatização das empresas públicas começa a crescer, com a suposta ideia de melhoramento do modelo estatal, o que foi alvo de diferentes opiniões. Havia os que acreditavam que a alienação do patrimônio do Estado ensejaria uma visão mais clara acerca dos conceitos do que seria público e do que seria privado; outros entendiam que o Estado deveria mostrar-se cada vez mais forte, ao Estado não poderia valer o conceito de „fraco‟, correndo-se o risco de não se conseguir garantir direitos dentro de um contexto de globalização. É interessante lembrar que o Direito Civil, por ter sido o primeiro a ter suas normas codificadas, não esquecendo, por óbvio, sua mais recente reformulação, é aquele que mais reflexos patriarcais e patrimonialistas traz em seus dispositivos. O Código Civil de 1916 ainda se mostra dentro do Código Civil de 2002. Apesar de apresentar diversos avanços, este, porém, não deixa de demonstrar outros diversos aspectos remanescentes ao de 1916, o qual continha um perfil totalmente patrimonialista. Em âmbito mundial, é possível verificar a origem e a razão desse patrimonialismo acentuado como característica dos códigos civis, pois reproduziam um momento em que o patrimônio era a marca identificadora de um indivíduo possuidor de liberdades e no qual o Estado não interferiria. Paulo Lôbo ensina que Os códigos civis tiveram como paradigma o cidadão dotado de patrimônio, vale dizer, o burguês livre do controle ou impedimento públicos. Nesse sentido é que entenderam o homem comum, deixando a grande maioria fora de seu alcance. Para os iluministas, a 7 TEPEDINO, Gustavo. Temas de direito civil – Tomo III. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p. 13. 17 plenitude da pessoa dava-se com o domínio sobre as coisas, com o ser proprietário. A liberdade dos modernos, ao contrário dos antigos, é concebida como não-impedimento. Livre é quem pode deter, gozar e dispor de sua propriedade, sem impedimentos, salvo os ditados pela ordem pública e os bons costumes, sem interferência do 8 Estado. Na verdade, importa constatar que o Direito Civil e o direito público sobressaíram-se, respectivamente, em relação ao absolutismo e aos excessos do individualismo, restando atualmente uma posição equilibrada que deixa para trás o método público ou privado, correspondente à summa divisio romanista. Por consequência, verificaram-se a partir da década de 80 as revoluções industrial, tecnológica e das telecomunicações cujas transformações foram sentidas na realidade social cotidiana e afetaram a estrutura do direito em geral. Assim, Gilberto Dupas destaca uma das diferenças entre modernidade e pós-modernidade: na modernidade, a “separação entre sociedade civil e Estado (direito civil e direito público)” e na pós-modernidade, a “interpenetração e tendência à confusão”.9 Nesse ínterim, é notória a influência das normas de direito público com relação às normas de direito privado. A anterior separação existente entre os dois ramos do direito não cabe mais na sociedade atual, ainda, hoje é possível observar a necessidade de ligação entre tais ramos. Conforme ensina Pietro Perlingieri: “a unidade do ordenamento não exclui a pluralidade e a heterogeneidade das fontes. [...]” 10 A unidade de que trata Perlingieri refere-se à ligação entre normas, porém, tal união deve ter a condução de uma norma maior a ser seguida. A Constituição Federal deve nortear a legislação civil, visto que o Código Civil precisa ser interpretado conforme a Constituição. Logo, de acordo com esse mesmo pensamento, manifesta-se Gustavo Tepedino: 8 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Constitucionalização do direito civil. Disponível em:<http://www.senado.gov.br/web/cegraf/ril/Pdf/pdf_141/r141-08.pdf>. Acesso em: 15 mar. 2010. 9 DUPAS, Gilberto. Tensões contemporâneas entre o público e o privado. São Paulo: Paz e Terra, 2003, p. 43. 10 PERLINGIERI, 2002, p. 7-8. 18 [...] as relações jurídicas de direito privado devem ser interpretadas à luz da Constituição, seja em obediência às escolhas político-jurídicas do constituinte, seja em favor da proteção da dignidade, princípio capaz de conformar um novo conceito de ordem pública, fundado na 11 solidariedade social e na plena realização da pessoa humana. Consequentemente, a sociedade contemporânea, com seus avanços, seus problemas e necessidades exige uma aplicação atualizada das leis e entendimentos jurídicos a fim de que alcance a evolução social e não estacione, ficando à margem dos constantes progressos verificados atualmente. Os ramos do Direito, mais especificamente os do direito privado, buscam a consonância em relação à posição hierárquica da Constituição Federal. Os valores e princípios constitucionais devem ser seguidos pelos ramos do direito privado para que não estejam aquém dos anseios da sociedade moderna. Na atualidade, apesar da constatação de que as diferenças sociais ainda se sobressaem, é possível notar progressos produzidos pelo novo código: O Código Civil de 1916 não contemplava os direitos das minorias e das classes menos favorecidas. Eram deixados de lado vários blocos da sociedade. Questões como os direitos das mulheres, dos filhos adotivos, a valorização da família, já inseridas em artigos do Código Civil de 2002, não ocupavam seu lugar no antigo código e apesar de restarem, como já foi dito, reflexos patrimoniais vindos dessa primeira codificação, é imperioso destacar os avanços trazidos pelo Código atual. Em síntese, é extremamente importante buscar os princípios constitucionais dentro do Direito Civil. Questões como dignidade da pessoa humana, solidariedade, igualdade, liberdade, entre outras devem nortear a aplicação dos regulamentos nas relações civis. Assim, vale, por ora, buscá-los na seara do Direito de Família. 1.2 PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS APLICÁVEIS AO DIREITO DE FAMÍLIA 11 TEPEDINO, 2009, p. 19. 19 Somente as leis não se bastam para regular todo o universo da experiência humana, e isso se deve ao infinito número de possibilidades de acontecimentos e situações diferentes, merecedoras da cobertura de regramentos. Haverá sempre alguma situação cotidiana não vislumbrada pelo legislador e, portanto, não inserida no ordenamento jurídico. Nesses casos, será necessário recorrer a algum sistema que deixe a situação amparada a fim de que se encontre a solução adequada à lide. Os princípios gerais do direito, além de se fazerem presentes na elaboração das normas e na aplicação prática do direito vigente, ainda têm a função de preencher as lacunas em que a lei não pôde dar seu devido amparo jurídico. Para Miguel Reale: “[...] sendo elementos condicionadores ou fundantes da experiência jurídica, podem ter as mais diversas origens consubstanciando exigências de ordem ética, sociológica, política ou de caráter técnico.” 12 Importante salientar a visão ultrapassada de subsidiariedade nas funções dos princípios que, em verdade, possuem caráter normativo, sendo fonte imediata de direito e impondo sua aplicação obrigatória. Assim, Portanova infere que “[...] os princípios não são meros acessórios interpretativos. São enunciados que consagram conquistas éticas da civilização e, por isso, estejam ou não previstos na lei, aplicam-se cogentemente a todos os casos concretos.” 13 O parágrafo 2º do art. 5º da nossa Constituição Federal ilustra bem a relevância contida nos princípios, ao afirmar que “os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados [...]” 14. Tal assertiva nos mostra a importância dada pelo legislador aos princípios, pois assevera que os direitos decorrem deles e não o contrário, ou seja, os princípios não decorrem do direito. Na mesma trilha, ensina Paulo Bonavides: 12 REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. 24. ed. São Paulo: Saraiva, 1998, p. 307. PORTANOVA, Rui. Princípios do Processo Civil. 4. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001, p. 14. 14 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. São Paulo: Saraiva, 2010. 13 20 De antiga fonte subsidiária em terceiro grau nos Códigos, os princípios gerais, desde as derradeiras Constituições da segunda metade deste século, se tornaram fonte primária de normatividade, corporificando do mesmo passo na ordem jurídica os valores supremos ao redor dos quais gravitam os direitos, as garantias e as 15 competências de uma sociedade constitucional. É de suma importância que os princípios gerais do Direito Civil sejam interpretados à luz da Constituição, como asseveram Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald: [...] a compreensão constitucionalizada do Direito Civil impõe que todo e qualquer princípio de Direito Civil esteja antenado, conectado diretamente, com a legalidade constitucional, seguindo as linhasmestras traçadas pelo sistema. [...] É mister, por isso, perceber a necessidade de revisitar, reler, os princípios gerais do Direito Civil, a partir das prescrições valorativas 16 constitucionais, evitando incompatibilidades no sistema jurídico. Desse modo, é necessário perceber a enorme importância dos princípios constitucionais, justamente por vivermos um momento tão dinâmico, envolto por tanta tecnologia e modernidade. A procura por alternativas correspondentes a essa dinamicidade deve ser constante, cabendo ao julgador, por exemplo, nortear suas decisões pelos princípios constitucionais, na tentativa de adaptação do direito às mais novas situações jurídicas que aparecerão; como ensina Paulo Lôbo, [...] os princípios não oferecem solução única (tudo ou nada), segundo o modelo das regras. Sua força radica nessa aparente fragilidade, pois, sem mudança ou revogação de normas jurídicas, permitem adaptação do direito à evolução dos valores da sociedade. Com efeito, o mesmo princípio, observando-se o catálogo das decisões nos casos concretos, em cada momento histórico, vai tendo seu conteúdo amoldado, em permanente processo de adaptação e transformação. A estabilidade jurídica não sai comprometida, uma vez que esse processo de adaptação contínua evita a obsolescência tão freqüente das regras jurídicas, ante o advento de novos valores 17 sociais. 15 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 9. ed. São Paulo: Malheiros, 1998, p. 254. 16 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direito Civil: teoria geral. 5. ed. Rio de Janeiro: Lumen juris, 2006, p. 33. 17 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Famílias. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 36. 21 É com base nesses apontamentos que se seguirá o assunto, abordando os princípios constitucionais aplicáveis ao direito de família. Com o advento da Constituição Federal de 1988, os princípios constitucionais deixaram de ser simples teorias contidas na doutrina tradicional e passaram a ter força normativa. Inseridos na Constituição, encontram-se dois princípios fundamentais que são, também para o Direito de Família, muito importantes: os princípios da dignidade da pessoa humana e o da solidariedade. 1.2.1 Princípio da dignidade humana Concerne àquilo que é comum a qualquer ser humano. A condição de pessoa humana gera, nas palavras de Paulo Lôbo, “[...] um dever geral de respeito, proteção e intocabilidade”18 entre todas as pessoas. Maria Celina Bodin de Moraes destaca a característica de proteção consagrada pelo princípio da dignidade humana: O princípio constitucional visa garantir o respeito e a proteção da dignidade humana não apenas no sentido de assegurar um tratamento humano e não degradante, e tampouco conduz ao mero oferecimento de garantias à integridade física do ser humano. Dado o caráter normativo dos princípios constitucionais, princípios que contêm os valores ético-jurídicos fornecidos pela democracia, isto vem a significar a completa transformação do direito civil, de um direito que não mais encontra nos valores individualistas de outrora o 19 seu fundamento axiológico. O caráter do princípio da dignidade humana está focado no respeito mútuo entre os indivíduos. Tal característica encontra correspondência com os atuais valores da família. Antigamente, o conceito familiar mostrava-se diferente, conforme explica Paulo Lôbo, 18 LÔBO, 2009, p. 37. MORAES, Maria Celina Bodin de. O Princípio da Dignidade Humana. In: MORAES, Maria Celina Bodin de [org.]. Princípios do direito civil contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 15. 19 22 Na família patriarcal, a cidadania plena concentrava-se na pessoa do chefe, dotado de direitos que eram negados aos demais membros, a mulher e os filhos, cuja dignidade humana não podia ser a mesma. O espaço privado familiar estava vedado à intervenção pública, 20 tolerando-se a subjugação e os abusos contra os mais fracos. A família brasileira traz ainda hoje aspectos remanescentes à colonização e seu perfil de submissão, porém as mudanças ocorreram e com o advento, dentre outras leis, da Constituição de 1988, da Lei do Divórcio, atualmente é possível destacar a importância da família como o espaço em que seus membros se sentem aptos a traçar seus objetivos de realização pessoal e no qual podem afirmar suas dignidades, além de ser um espaço de proteção dos indivíduos. 1.2.2 Princípio da solidariedade É importante observar o tratamento dado ao tema na Constituição Federal em seu artigo 3º, cujo conteúdo, dentro do inciso I, estabelece a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. No inciso III do mesmo artigo, pode-se constatar como uma finalidade da Carta Maior a erradicação da pobreza e da marginalização social e a redução das desigualdades sociais e regionais. O texto inserido nos incisos mencionados repercute nas relações familiares, visto a solidariedade ser o sentimento que faz os indivíduos se unirem com o objetivo de se ajudarem. Ainda, na Constituição, nos termos do art. 229, “os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade”.21 É possível notar a constatação da responsabilidade que toda a sociedade tem e não somente o poder público, de tentar cultivar uma coletividade mais justa. 20 21 LÔBO, 2009, p. 38. BRASIL. Constituição (1988), 2010. 23 É imprescindível ao cidadão enxergar o outro e não somente a si mesmo, de acordo com Paulo Lôbo, O princípio jurídico da solidariedade resulta da superação do individualismo jurídico, que por sua vez é a superação do modo de pensar e viver a sociedade a partir do predomínio dos interesses individuais, que marcou os primeiros séculos da modernidade, com 22 reflexos até a atualidade. O direito inerente a todo ser humano de ser tratado como um igual tendo, ao mesmo tempo, suas diferenças sempre respeitadas é um dos lemas do princípio da solidariedade. Segundo Maria Celina Bodin de Moraes, [...] O princípio constitucional da solidariedade identifica-se, desse modo, com o conjunto de instrumentos voltados para garantir uma existência digna, comum a todos, em uma sociedade que se 23 desenvolva como livre e justa, sem excluídos ou marginalizados. 1.2.3 Princípio da igualdade Dentro dessa mesma linha de raciocínio em relação à equidade entre as pessoas, temos o princípio da igualdade que busca coibir as discriminações, trazendo a ideia de tratamento igual aos iguais. Nas palavras de Alexandre de Moraes, O princípio da igualdade consagrado pela constituição opera em dois planos distintos. De uma parte, frente ao legislador ou ao próprio executivo, na edição, respectivamente, de leis, atos normativos e medidas provisórias, impedindo que possam criar tratamentos abusivamente diferenciados a pessoas que encontram-se em situações idênticas. Em outro plano, na obrigatoriedade ao intérprete, basicamente, a autoridade pública, de aplicar a lei e atos normativos de maneira igualitária, sem estabelecimento de diferenciações em razão de sexo, religião, convicções filosóficas ou políticas, raça e 24 classe social. 22 LÔBO, 2009, p. 40. MORAES, 2006, p. 48. 24 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2004, p. 67. 23 24 Para o Direito de Família, o princípio da igualdade deve estar presente entre todos os seus membros. O homem, a mulher, os filhos são seres humanos iguais. Assim, o parágrafo 5º do art. 226 da Constituição Federal estabelece que “os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher”. 25 A igualdade na filiação também mereceu destaque na Carta Política, no parágrafo 6º do art. 227, ao mencionar que “os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação”.26 Constata-se, então, que o casal cuja união não foi oficializada é igual ao casal que realizou o casamento civil, o filho adotivo é igual aos filhos nascidos do ventre da mulher que os cria, a mulher divorciada do marido é igual àquela casada. Em todos esses exemplos existem características diferentes, porém essas diferenças não podem levar a um tratamento jurídico diferenciado por qualquer pessoa ou entidade. Os indivíduos são iguais por possuírem direitos e deveres. Conforme Paulo Lôbo, Após a Constituição de 1988, que igualou de modo total os cônjuges entre si, os companheiros entre si, os companheiros aos cônjuges, os filhos de qualquer origem familiar, além dos não biológicos aos biológicos, a legitimidade familiar desapareceu como categoria jurídica, pois apenas fazia sentido como critério de distinção e discriminação. Neste âmbito, o direito brasileiro alcançou muito mais 27 o ideal de igualdade do que qualquer outro. Em suma, não pode haver discriminação em relação às diferenças existentes entre as pessoas, principalmente no âmbito familiar. 1.2.4 Princípio da afetividade 25 BRASIL. Constituição (1988), 2010. Ibidem. 27 LÔBO, 2009, p. 43. 26 25 Está relacionado à característica mais marcante do conceito de família que são os laços de afetividade. A natureza da família como grupo social é mantida por esses laços. Existem alguns fundamentos constitucionais que embasam o princípio da afetividade, como a igualdade entre os filhos, independentemente da origem de cada um deles, a igualdade de direitos em relação à adoção 28 e a não distinção entre as famílias protegidas pela Constituição Federal e aquelas formadas por qualquer dos pais e seus descendentes, incluindo-se os adotivos29. O fato da Constituição não deixar expressa a palavra afeto em seu texto não significa que não aborda a importância da afetividade nas relações familiares. Um exemplo da consagração pela Constituição Federal às questões de afetividade é o reconhecimento que dá à união estável como entidade familiar merecedora da proteção constitucional, demonstrando a desobrigação da existência do casamento para que ocorra tal reconhecimento, pois o afeto existente entre dois indivíduos é suficiente para que sua união tenha valor e seja reconhecida como família. Assim, no parágrafo 3º do art. 226, temos que “para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento”.30 O princípio da afetividade está ligado a outros princípios constitucionais relacionados ao direito de família. É o que explica Paulo Lôbo: 28 “Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. [...] § 5º - A adoção será assistida pelo Poder Público, na forma da lei, que estabelecerá casos e condições de sua efetivação por parte de estrangeiros. § 6º - Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação.” BRASIL. Constituição (1988) 2010. 29 “Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. [...] § 4º - Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes.” BRASIL. Constituição (1988), 2010. 30 BRASIL. Constituição (1988), 2010. 26 O princípio da afetividade especializa, no âmbito familiar, os princípios constitucionais fundamentais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III) e da solidariedade (art. 3º, I) e entrelaça-se com os princípios da convivência familiar e da igualdade entre os cônjuges, companheiros e filhos, que ressaltam a natureza cultural e 31 não exclusivamente biológica da família. Além do exposto, é importante salientar que as uniões em comunhão de afeto daquelas pessoas que não podem ou até não querem ter filhos, é família protegida pela Constituição. 1.2.5 Princípio da liberdade às relações de família Diz respeito à autonomia exercida pelos membros de uma família ao poderem decidir as questões referentes aos interesses familiares. O Código Civil de 2002 prevê em seu art. 1.513 o seguinte: “É defeso a qualquer pessoa de direito público ou direito privado interferir na comunhão de vida instituída pela família”. 32 Tal referência reforça a aplicação do princípio da liberdade no tocante ao Direito de Família. A Constituição Federal, destacando outros princípios constitucionais no texto do parágrafo 7º de seu art. 226, trata, também, da liberdade entre os membros da família, estabelecendo que: Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. [...] § 7º - Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma 33 coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas. Ainda sobre a liberdade é imprescindível destacar os ensinamentos de Maria Berenice Dias ao expor que 31 LÔBO, 2009, p. 47-48. BRASIL. Código Civil Brasileiro (2002). São Paulo: Saraiva, 2008. 33 BRASIL. Constituição (1988), 2010. 32 27 [...] Todos têm a liberdade de escolher o seu par, seja do sexo que for, bem como o tipo de entidade que quiser para construir sua família. [...] Em face do primado da liberdade, é assegurado o direito de constituir uma relação conjugal, uma união estável hétero ou homossexual. Há a liberdade de extinguir ou dissolver o casamento e a união estável, bem como o direito de recompor novas estruturas de convívio. A possibilidade de alteração do regime de bens na vigência do casamento (CC 1.638 § 2º) sinala que a liberdade, cada vez mais, 34 vem marcando as relações familiares. 1.2.6 Princípio do melhor interesse da criança O Estado, a sociedade em geral e a família devem respeitar os interesses da criança e tratá-los como prioridade. Nisso se baseia o princípio do melhor interesse da criança. Todas as crianças possuem direitos que devem ser respeitados, principalmente na esfera da relação familiar, lugar onde a proteção à criança deve ser encarada como prioridade. Nesse sentido, merece destaque o caput do art. 227 da Constituição Federal: Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 35 opressão. Os processos judiciais a envolver interesses relacionados a crianças devem respeitá-los acima de outros interesses que possam existir no processo, conforme afirma Suzana Oliveira Marques, Nos processos judiciais que têm por objeto a guarda dos filhos, seja esta oriunda da dissolução da sociedade conjugal ou da colocação em família substituta, seja na hipótese de tutela ou adoção, as decisões judiciais neles lavradas deverão sempre observar o melhor 34 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito de famílias. 4. ed. São Paulo: Revista dos tribunais, 2007, p. 61. 35 BRASIL. Constituição (1988), 2010. 28 interesse do menor, o que significa dizer que os interesses pessoais 36 dos pais são sempre colocados em plano secundário. Com o mesmo pensamento, o art. 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente destaca que: Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, 37 em condições de liberdade e de dignidade. Assim, o princípio do melhor interesse da criança deve ser assegurado, de forma prioritária, pelo Estado e por toda a sociedade, vedando-se qualquer desrespeito aos direitos e garantias dos menores. Maria Berenice Dias conclui que Em face da garantia à convivência familiar, há toda uma tendência de buscar o fortalecimento dos vínculos familiares e a manutenção de crianças no seio da família natural. Porém, às vezes, melhor atende aos interesses do infante a destituição do poder familiar e sua entrega à adoção. O que deve prevalecer é o direito à dignidade e ao desenvolvimento integral, e, infelizmente, tais valores nem sempre são preservados pela família. Daí a necessidade de intervenção do Estado, afastando crianças e adolescentes do contato com os 38 genitores, colocando-os a salvo junto a famílias substitutas. 1.2.7 Princípio da convivência familiar Refere-se à manutenção da integridade nas relações afetivas envolvendo os membros de uma família dentro de um mesmo espaço físico. A Constituição Federal ao estabelecer em seu art. 5º, inciso XI, que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador” declarou, implicitamente, o caráter constitucional 36 OLIVEIRA. Suzana Marques. Princípios do direito de família e guarda dos filhos. Belo Horizonte: Del Rey, 2009, p. 40. 37 BRASIL. Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8069.htm>. Acesso em: 28 abr. 2010. 38 DIAS, 2007, p. 65-66. 29 dado ao princípio da convivência familiar. Com o mesmo entendimento, Paulo Lôbo explica que, A casa é o espaço privado que não pode ser submetido ao espaço público. Essa aura de intocabilidade é imprescindível para que a convivência familiar se construa de modo estável e, acima de tudo, com identidade coletiva própria, o que faz que nenhuma família se 39 confunda com outra. De forma explícita, porém, a Constituição trata da convivência familiar em seu art. 227. Também, o Código Civil em seu art. 1.513, ao proibir a interferência externa no meio familiar, expressando que “é defeso a qualquer pessoa, de direito público ou privado, interferir na comunhão de vida instituída pela família” 40, cuida do mesmo princípio. 1.2.8 Princípio da paternidade responsável A Constituição da República em seu art. 226, parágrafo 7º menciona o princípio da paternidade responsável ao estabelecer que o planejamento familiar, fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável é livre decisão do casal. A respeito do tema, Lourival Serejo comenta que Quanto à paternidade responsável, esta abrange uma idéia mais ampla de responsabilidade “que vai muito além do conceito fechado de cuidar e prover a sua prole.” Nesse ponto, talvez fosse melhor adotar-se a expressão “procriação responsável”, que se coaduna, inclusive, com a isonomia entre o homem e a mulher. A influência dos pais na formação do filho é primordial para seu desenvolvimento psicossocial, inclusive com conseqüências no próprio conceito de cidadania, que começa a se desenvolver dentro 41 do lar, com as noções preliminares de direitos e obrigações. 39 LÔBO, 2009, p. 52 BRASIL. Código Civil (2002), 2008. 41 SEREJO, Lourival. Direito constitucional da família. 2. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2004, p. 70. 40 30 Dessa forma, Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald asseveram que “[...] o propósito do planejamento familiar é, sem dúvida, evitar a formação de núcleos familiares sem condições de sustento e de manutenção”. 42 1.2.9 Princípio do retrocesso social A fim de resumir o enfoque dado aos princípios constitucionais aplicáveis ao Direito de Família, vale destacar a bela nota de Maria Berenice Dias acerca de mais um princípio, qual seja o da proibição de retrocesso social: A Constituição Federal, ao garantir especial proteção à família, estabeleceu as diretrizes do direito das famílias em grandes eixos, a saber: (a) a igualdade entre homens e mulheres na convivência familiar; (b) o pluralismo das entidades familiares merecedoras de proteção; e (c) o tratamento igualitário entre todos os filhos. Essas normas, por serem direito subjetivo com garantia constitucional, servem de obstáculo a que se operem retrocessos sociais, o que 43 configuraria verdadeiro desrespeito às regras constitucionais. 1.3 REPERSONALIZAÇÃO DO DIREITO CIVIL Como já exposto, a propriedade, o patrimônio, os bens em geral era o valor que mais fortemente se encontrava inserido no Código Civil de 1916. A valorização da pessoa humana não ocupava o mesmo espaço destinado ao patrimônio e suas relações civis, que, apesar de possuírem um forte cunho patrimonializante e perdurarem até os dias de hoje, não podem ser o foco principal do legislador. Sílvio de Salvo Venosa explica o perfil ultrapassado do Código Civil de 1916: 42 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direito das famílias. 2.ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 47. 43 DIAS, 2007, p. 66. 31 Como foi elaborado no anoitecer do século XIX, para vigorar em um novo século, não tinha condições de prever as mudanças que viriam a ocorrer. Seguiram-se duas grandes guerras. A sociedade sofreu grande impacto e modificou-se. A mulher galgou seus justos direitos e passou a participar do mercado de trabalho. A família brasileira perdeu em poucas décadas o ranço medieval e paternalista do período colonial e monárquico. Por isso, em alguns aspectos, essa monumental obra legislativa de há muito já não representava os 44 anseios de nossa época. Valores tais como a dignidade da pessoa humana, já insertos na Constituição Federal Brasileira, por exemplo, não devem ser deixados em segundo plano, priorizando-se questões individualistas, correspondentes à propriedade e aos bens, como acontecia com o antigo Código Civil. Urge o direito proteger o ser humano, já que, em outras épocas, vinha protegendo, quase exclusivamente a propriedade. A respeito desse tema, salientam Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald: Não se pode negar [...] o importante avanço tecnológico e científico pelo qual passam todas as sociedades modernas e que impõe, natural e conseqüentemente, alterações nas concepções jurídicas vigentes no sistema. Novos tempos, mais do que logicamente, exigem uma nova concepção jusfilosófica sobre a Ciência do Direito, 45 especialmente o Direito Civil. Com a Constituição Federal de 1988, todo o arcabouço jurídico pátrio precisava se orientar na proteção plena da pessoa humana. Baseando-se no fundamento de que a dignidade da pessoa humana constituía valor constitucional, o perfil patrimonialista trazido desde o século XIX merecia ser abandonado. É dessa forma que os bens particulares deixam de ser o objeto primordial da tutela jurídica com a finalidade de dar lugar à valorização da pessoa humana. Julio Cesar Finger, respaldado pelas palavras de Orlando de Carvalho considera que [...] Poder-se-ia falar, com Orlando de Carvalho, em uma repersonalização do direito civil, no sentido que se projeta “repor „o indivíduo e seus direitos no topo da regulamentação jure civile’, não apenas como o actor que aí privilegiadamente intervém mas, 44 45 VENOSA, 2006, p. 108-109. FARIAS; ROSENVALD, 2006, p. 19. 32 sobretudo, como o móbil que privilegiadamente explica a característica técnica dessa regulamentação”. [...] O direito civil constitucionalizado parece estar em busca de um fundamento ético, que não exclua o homem e seus interesses não46 patrimoniais, na regulação patrimonial que sempre pretendeu ser. Nesse sentido, a repersonalização do Direito Civil busca posicionar a pessoa humana em um patamar cujo valor esteja acima das questões relacionadas ao patrimônio. Nessa trilha, Paulo Lôbo afirma que A repersonalização reencontra a trajetória da longa história da emancipação humana, no sentido de repor a pessoa humana como centro do direito civil, passando o patrimônio ao papel de 47 coadjuvante, nem sempre necessário. A repersonalização resgata o conceito da pessoa humana como sujeito informador de todo o Direito. O ser humano deve ser visto em toda a sua dimensão e o resgate da sua supremacia é o primeiro passo para se ajustar aos fundamentos constitucionais. Dentro desse mesmo entendimento, é necessário reconhecer a família como uma das mais importantes instituições da sociedade moderna. As mudanças sofridas pela família a partir do século XX transformaram seus conceitos, sua função e sua natureza, levando à crise o antigo modelo patriarcal consolidado desde a época do Império. 1.3.1 Repersonalização do Direito de Família A família deixou de ser compreendida como mero núcleo econômico ou com a exclusiva função de pólo reprodutivo e passou a se posicionar dentro de uma concepção afetiva, ou seja, as relações familiares existem em função dos sentimentos dos membros que a compõem. A afetividade, o auxílio e a cooperação entre seus membros irão determinar a existência daquela família 46 47 FINGER, 2000, p. 95. LÔBO, 2009, p. 5. 33 que poderá ser constituída de diferentes maneiras, com novas disposições familiares. Ainda segundo Paulo Lôbo, a família deve ter sua função primordial ligada ao conceito de afetividade: [...] a família atual está matrizada em paradigma que explica sua função atual: a afetividade. Assim, enquanto houver affectio haverá família, unida por laços de liberdade e responsabilidade, e desde que 48 consolidada na simetria, na colaboração, na comunhão de vida. Os fundamentos introduzidos pela Constituição de 1988 foram, entre outros, responsáveis por esse quadro de mudanças dentro do instituto da família. A antiga concepção familiar como sendo o grupo caracterizado pelo pai, como chefe da família e provedor financeiro, a mãe, exercente das atividades domésticas e responsável pela educação dos filhos e estes, pessoas que deveriam zelar pela obediência e respeito aos pais, não está mais estagnada, nem se limita a esse rol de funções de seus membros. [...] a titularidade do direito compete aos membros da família e não à família como tal. Esta não é uma pessoa jurídica, nem pode ser concebida como um sujeito com direitos autônomos: ela é formação social, lugar-comunidade tendente à formação e ao desenvolvimento da personalidade de seus participantes; de maneira que exprime uma função instrumental para a melhor realização dos interesses afetivos e existenciais de seus componentes. As “razões da família‟ não têm 49 autonomia em relação às razões individuais. [...] O conceito de família perdeu sua principal característica, como elucida Lourival Serejo, ao expor que: “Percebe-se, assim, nítido rompimento com duas ideias básicas que sustentavam a família e que ainda formavam o espírito do Código Civil de 1916: a patrimonialização e a matrimonialização das relações familiares”.50 Consequentemente, os vários conceitos atuais de família advindos com o caráter tão dinâmico da sociedade estão amparados pela Constituição. Assim, explica Pietro Perlingieri: 48 LÔBO, 2009, p. 1. PERLINGIERI, 2002, p. 178-179. 50 SEREJO, 2004, p. 3-4. 49 34 [...] O merecimento de tutela da família não diz respeito exclusivamente às relações de sangue, mas, sobretudo, àquelas afetivas que se traduzem em uma comunhão espiritual e de vida. [...] Cada forma familiar tem uma própria relevância jurídica, dentro da comum função de serviço ao desenvolvimento da pessoa; não se pode portanto afirmar uma abstrata superioridade do modelo da 51 família nuclear em relação às outras. [...] A Constituição de 1988 absorveu novas formas de famílias em seu art. 226, aplicando os princípios constitucionais e dando valor e garantias a todos os seus membros. Além disso, desfez a Carta Maior alguns conceitos contidos no Código Civil de 1916 como, por exemplo, a situação da mulher que antes era subjugada à vontade do pai e do marido, e, atualmente, está em posição de equilíbrio perante seu companheiro, de acordo com o mencionado art. 226, em seu parágrafo 5º, ao declarar que “os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher”.52 Em resumo, é possível afirmar que a família contemporânea não possui como forma de expressão apenas um modelo descritivo, pois, vem adquirindo e incorporando as inúmeras mudanças ocorridas na sociedade, tornando-se ampla e plural, além dos avanços alcançados, segundo explana Maria Berenice Dias: A evolução pela qual passou a família acabou forçando sucessivas alterações legislativas. A mais expressiva foi o Estatuto da Mulher Casada (L 4.121/1962), que devolveu a plena capacidade à mulher casada e deferiu-lhe bens reservados que asseguravam a ela a propriedade exclusiva dos bens adquiridos com o fruto de seu trabalho. A instituição do divórcio (EC 9/1977 e L 6.515/1977) acabou com a indissolubilidade do casamento, eliminando a idéia da família como instituição sacralizada. O surgimento de novos paradigmas – quer pela emancipação da mulher, quer pela descoberta dos métodos contraceptivos e pela evolução da engenharia genética – dissociaram os conceitos de casamento, sexo e reprodução. O moderno enfoque dado à família pelo direito volta-se muito mais à identificação do 53 vínculo afetivo que enlaça seus integrantes. Assim, a conformação da família não suporta mais um significado singular, pois a evolução dos costumes, as transformações ocorridas na 51 PERLINGIERI, 2002, p. 244. BRASIL. Constituição (1988), 2010. 53 DIAS, 2007, p. 30. 52 35 sociedade apontam para uma verdadeira reconfiguração do conceito de família, cuja função terá sempre um suporte emocional. 36 2 ALIMENTOS 2.1 CONCEITO Obrigação alimentar são as prestações devidas pelo alimentante a fim de satisfazer os reclamos da vida54, tanto física como moral e social do alimentando, em virtude de este, por si só, não conseguir prover, por meio de seu labor ou rendimentos, a própria subsistência (moradia, vestuário, alimentação, etc.). Estabelece relação não apenas ao direito à vida e à integridade física da pessoa, mas, principalmente, à realização da dignidade humana – mais precioso valor da ordem jurídica brasileira, erigido como fundamental pela Magna Charta55. Nessa trilha, Silmara Juny Chinelato assevera os alimentos possuírem a natureza de direitos de personalidade, por assegurarem a inviolabilidade do direito à vida, da integridade física56. É oportuno precedente jurisprudencial, admitindo o princípio da dignidade humana como o alicerce para a fixação dos alimentos: O pai não pode ser insensível à voz de seu sangue em prestar alimentos ao filho menor que, em plena adolescência, não só necessita sobreviver, mas viver com dignidade, não sendo prejudicado em sua educação, nem em seu lazer, pois tudo faz parte da vida de um jovem, que antes da separação desfrutava do conforto que a família lhe proporcionava, em razão do bom nível social de seus pais. Não se justifica a diminuição dos alimentos prestados, se o ex-marido socorre a mulher com importância muito superior à obrigação alimentar que lhe foi imposta em benefício do filho, ainda mais se aposentada como professora. A mãe já faz a sua parte tendo a guarda do filho menor e cumpre um ônus que não tem preço. O pai não está em insolvência, somente enfrenta as dificuldades decorrentes da crise que assola o país, que se reflete na pessoa de seu filho, que, igualmente, sofre com a política econômica do governo 57 federal. 54 GOMES, Orlando Gomes, Direito de família. 14. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 427. FARIAS; ROSENVALD, 2006, p. 92. 56 CHINELATO, Silmara Juny. Comentários ao Código Civil: parte especial: do direito de família. In: AZEVEDO, Antônio Junqueira de (coord.). São Paulo: Saraiva, 2004, v. 18, p. 437. 57 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Civil. Apelação Cível nº 597151489, Oitava Câmara Cível. Apelante: C.F.J. Apelado: C.F.J.F. Relator: Desembargador 55 37 Nas situações em que o convívio familiar ainda existe não se fala em obrigação alimentar, pois, nesses casos, o filho tem o direito ao sustento e, os pais, o dever de prestá-lo. Na mesma trilha de pensamento, nos casos referentes ao casal, há o direito à assistência material ligado aos deveres dos cônjuges e companheiros da união estável. Há, ainda, a possibilidade dos alimentos decorrerem da exigibilidade do dever de amparo, sendo titular desse direito o idoso. Paulo Lôbo explica tal conceituação: [...] A expressão corrente “direito a alimentos” deve ser recebida como metonímia, pois os alimentos configuram obrigação derivada de deveres inadimplidos correlativos a direitos emergentes da situações familiares, de parentesco e de qualificação jurídica (idoso).58 Entendido o arcabouço que cerca o conceito do instituto dos alimentos, faz-se oportuna a exposição dos legitimados para demandar a pensão alimentícia. 2.2 LEGITIMADOS PARA REQUERER ALIMENTOS O dever de alimentar requer a existência de um vínculo jurídico. Isto é, a obrigação alimentar pode decorrer do casamento, da união estável, ou ainda, em decorrência dos laços parentais, entre ascendentes e descendentes, bem como entre colaterais no segundo grau.59 Se provenientes das relações parentais proporcionadas, os alimentos decorrem do princípio constitucional da solidariedade. Antônio Carlos Stangler Pereira, Rio Grande do Sul, RS, 12 de agosto de 1999. Disponível em:<http://www3.tjrs.jus.br/site_php/jprud2/resultado.php>. Acesso em: 27 abr. 2010. 58 LÔBO, 2009, p. 347-348. 59 Enunciado 341 da IV Jornada de Direito Civil, 2006, do Conselho da Justiça Federal: “Para os fins do art. 1.696, a relação socioafetiva pode ser elemento gerador de obrigação alimentar”. Disponível em: <http://daleth.cjf.jus.br/revista/enunciados/IVJornada.pdf>. Acesso em: 01 maio 2010. 38 Constituem objetivos fundamentais da República construir uma sociedade livre, justa e solidária, como também promover o bem de todos, sem quaisquer formas de discriminação60, coadunando-se com o princípio maior, constitucionalmente afirmado: a dignidade da pessoa humana61. Dessas premissas, os alimentos têm viés colaborativo, solidário-social e familiar arraigado em diretrizes humanitárias constitucionalmente impostas em nossa ordem jurídica. Credores de alimentos são as pessoas físicas na seara das relações de parentesco, de casamento e de união estável, bem como os idosos 62 que não possuem meios de proporcionarem sua própria subsistência. A pendência alimentar mais comum é o vínculo de parentesco entre pais e filhos ou vice-versa, prescindível a convivência familiar entre eles. As obrigações de alimentos em favor do filho a serem prestadas pelos pais podem decorrer do poder familiar, que perdura até atingir a maioridade ou até o filho, ainda estudante, atingir 24 anos. Tal necessidade alimentar é presumida; todavia, há possibilidade de os pais comprovarem que a obrigação pleiteada não se faz necessária, pois o requerente, ou tem bens suficientes, ou possui trabalho capaz de manter sua própria subsistência. Também, o dever alimentício procede do parentesco, de vínculo vitalício, durante a maioridade do filho. Neste caso, caberá demonstrar a necessidade pleiteada, decorrente de eventual incapacidade física ou mental. Se assim não fosse, haveria o indevido estímulo à inação, ao enriquecimento sem causa, sobrepesando injustamente os pais, que a rigor não mais lhe caberiam o dever de alimentos. Nesses ditames, se o filho for capaz física ou mentalmente e atingir a maioridade pressupõe não mais precisar dos alimentos provenientes dos pais. Noutro giro, numa conseqüência natural, a senilidade terá alcançado os pais e 60 BRASIL. Constituição (1988), 2010. Artigo 3º, incisos I e III. “O respeito à dignidade da pessoa humana, fundamento do imperativo categórico Kantiano, de ordem moral, tornou-se um comando jurídico no Brasil com o advento da Constituição Federal de 1988 [...]”. MORAES, 2006, p. 13. 62 BRASIL. Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003. Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências. Planalto, Brasília, DF, 2010. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/2003/L10.741.htm>. Acesso em: 1 maio 2010. Delineia em seu art. 3º: É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. 61 39 se debilitados física e mental, sem bens ou meios para manter sua subsistência, surgirá para o filho a obrigação de ajudar e ampará-los. Eis o caráter ético-social da prestação alimentar, o qual se assenta no princípio da solidariedade entre os membros componentes do mesmo grupo familiar. Nessa trilha, Marco Aurélio Viana assevera que A solidariedade deveria nortear a vida dos seres humanos. Incompletos por natureza, somente quando agrupados podem alcançar objetivos maiores. A vida em regime de interdependência é um fato. É por isso que se localizam no núcleo familiar os alimentos, sob a forma de obrigação ou dever, onde o vínculo de solidariedade é mais intenso e a comunidade de interesse mais significativa, o que leva os que pertencem ao mesmo grupo ao dever de recíproca 63 assistência. A titularidade dos alimentos também cabe aos ex-cônjuges e aos excompanheiros de união estável não em decorrência da relação parental, mas sim, do dever de assistência mútua entre cônjuges e companheiros. É oportuno esclarecer as distinções entre união estável e concubinato 64. O Código Civil reza que as relações não eventuais entre o homem e a mulher impedidos de casar constituem concubinato65, já a união estável fundada em disposições constitucionais66, é tratada em nível de entidade familiar. A união estável será caracterizada pela convivência já estabilizada pelo decurso do tempo, contínua e conhecida de todos, a objetivar a constituição de uma família. Os companheiros agem como se casados fossem, sem, no entanto, formalizar tal união, de maneira a originar direitos e deveres de respeito e 63 VIANA, Marco Aurélio S. Alimentos. Belo Horizonte: Del Rey, 1998, p. 300. Da importância do tema, CAMPOS, Adelina Bitelli. Distinção entre companheira e concubina: efeitos patrimoniais. Justitia, São Paulo, v. 53, n. 156, p. 93-95, out./dez. 1991. Disponível em: <http://bdjur.stj.gov.br/dspace/handle/2011/23495>. Acesso em: 08 maio 2010, afirma: “Na linguagem comum, e mesmo naquela empregada nas lides forenses, inclusive entre os que militam junto às Varas da Família e Sucessões, é bastante freqüente a utilização dos termos, companheira e concubina, como sinônimos. No entanto, as denominações não se confundem, cada uma tendo seu sentido próprio, podendo levar em determinados casos a julgamentos prejudiciais àquela que, realmente, deve ser amparada pela Lei e pelo Poder Judiciário ao dirimir conflitos, quer de ordem social, quer de ordem patrimonial.” 65 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Planalto, Brasília, DF, 2010. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406compilada.htm>. Acesso em: 10 maio 2010. “Art. 1.727. As relações não eventuais entre o homem e a mulher, impedidos de casar, constituem concubinato”. 66 BRASIL. Constituição (1988), 2010. Art. 226, § 3º: “Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento”. 64 40 consideração mútuos, bem como obrigação de assistência moral e material, guarda, sustento e educação dos filhos comuns. A dissolução dar-se-á pela morte de um dos companheiros ou pela dissolução. Nesses termos, a jurisprudência consigna: DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PRÊMIO. ARTIGOS 1.177 E 1.474 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. VEDAÇÃO. Há distinção doutrinária entre "companheira" e "concubina". Companheira é a mulher que vive, em união estável, com homem desimpedido para o casamento ou, pelo menos, separado judicialmente, ou de fato, há mais de dois anos, apresentando-se à sociedade como se com ele casada fosse. Concubina é a mulher que se une, clandestinamente ou não, a homem comprometido, legalmente impedido de se casar. Na condição de concubina, não pode a mulher ser designada como segurada pelo cônjuge adúltero, na inteligência dos artigos 1.177 e 1.474 do Cód. Civil de 1916. 67 Precedentes. Recurso especial provido por unanimidade. Do mesmo modo, a jurisprudência abaixo: RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. DEMANDA IMPROCEDENTE. Para a caracterização da união estável é imprescindível a existência de convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com objetivo de constituir família. No caso dos autos, ausente prova do affectio maritalis, a improcedência da demanda é medida que se 68 impõe. RECURSO IMPROVIDO. Ainda, sobre o mesmo tema: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. A união estável é relação fática, de forma que somente pode produzir efeitos jurídicos com a comprovação, em juízo, dos requisitos necessários para a sua caracterização. Comprovada a affectio maritalis, decorrente da existência de convivência pública, contínua, duradoura, e estabelecida com objetivo de constituir família, é de ser reconhecida a união estável. Mesmo que o imóvel tenha sido adquirido antes do início da união estável, se as prestações foram 67 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Civil. Recurso Especial nº 532549/RS. Recorrente: Esther Justina Ferronato Laude. Recorrido: Novo Hamburgo Companhia de Seguros Gerais. Relator: Ministro Castro Filho, Brasília, DF, 02 de junho de 2005. Disponível em: <http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/84466/recurso-especial-resp-532549-rs-20030034164-2-stj>. Acesso em: 11 maio 2010. 68 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Civil. Apelação Cível nº 70014438352, Oitava Câmara Cível. Apelante: J.N.S. Apelado: S.J.A.P. Relator: Desembargador Claudir Fidélis Faccenda, Rio Grande do Sul, RS, 08 de junho de 2006. Disponível em:<http://www3.tjrs.jus.br/site_php/jprud2/resultado.php>. Acesso em: 11 maio 2010. 41 pagas durante o período da convivência, tais valores devem ser partilhados, já que representam um significativo acréscimo 69 patrimonial. RECURSO IMPROVIDO. Superadas tais distinções, em regra, os alimentos entre ex-cônjuges e ex-companheiros apenas procedem em razão de separação amigável ou contestada, do consequente divórcio por conversão, bem como de ações de alimentos provisórios e ações cautelares de alimentos provisionais. A fixação de alimentos integrais tem como requisito ser o cônjuge que os pleiteia inocente; caso contrário, fará jus ao considerado essencial à sua sobrevivência, dependendo provar não possuir bens, meios de trabalho ou parentes até o segundo grau colateral capazes de proporcionar sua subsistência. O idoso70 também fundamenta sua legitimidade na relação de parentesco, isso porque os alimentos serão prestados a ele na forma discriminada na lei civil71. Dessa feita, os prestadores de alimentos nos ditames desta norma são os parentes na linha ascendente (pais) e descendente (filhos e netos) e os irmãos. Se, por um lado, aos descendentes cabe o direito de reclamar alimentos de seus ascendentes, estes, ao contrário, terão o direito de cobrar alimentos de seus descendentes capazes: é o dever constitucional de amparar os pais, voltado aos filhos quando eles se encontrarem em idade avançada, na carência ou na enfermidade72. Como bem lembra Cristiano Chaves: [...] não somente os filhos maiores possuem o dever de prestar alimentos aos ascendentes necessitados, tocando a obrigação 69 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Civil. Apelação Cível nº 70014358931, Oitava Câmara Cível. Apelante: A.A.R. Apelado: M.N. Relator: Desembargador Claudir Fidélis Faccenda, Rio Grande do Sul, RS, 08 de junho de 2006. Disponível em: <http://www3.tjrs.jus.br/site_php/jprud2/resultado.php>. Acesso em: 11 maio 2010. 70 BRASIL. Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003. Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências. Planalto, Brasília, DF, 2010. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/2003/L10.741.htm>. Acesso em: 12 maio 2010. “Art. 1º É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos”. g.n. 71 BRASIL. Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003. Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências. Planalto, Brasília, DF, 2010. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/2003/L10.741.htm>. Acesso em: 12 maio 2010. “Art. 11. Os alimentos serão prestados ao idoso na forma da lei civil”. 72 BRASIL. Constituição (1988), 2010. “Artigo 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade”. 42 também ao menor, desde que, por óbvio, tenha condições de se 73 manter e colaborar para o sustento de seu ascendente que precise. Ainda, não se deve olvidar a obrigação alimentar destinada à proteção do nascituro74. Tais alimentos são percebidos pela gestante, no decorrer da gestação no intento de cobrir despesas adicionais em conseqüência ao momento peculiar vivido, isto é, da concepção ao parto, haverá obrigação de alimento visando unicamente por a salvo o direito à vida daquele que ainda vai nascer. Oportunos são os ensinamentos de Paulo Lôbo: “Esses alimentos são, portanto, de natureza distinta, [...] pois, não se destinam a sustento, vestuário, moradia, educação e outros encargos próprios dos alimentos em geral” 75. Tais alimentos são voltados para despesas referentes à necessária alimentação especial, acompanhamento pré-natal, assistência psicológica, exames complementares, internações, o próprio parto, medicamentos e demais prescrições preventivas e terapêuticas indispensáveis, etc. Recentemente regulada pela Lei nº 11.804/08, a necessidade dos alimentos gravídicos já era reconhecida pelo arcabouço doutrinário- jurisprudencial pátrio, assegurando, assim, os direitos do nascituro e da gestante, consagrando a teoria concepcionista76 do Código Civil e o princípio da dignidade da pessoa humana. Na seara doutrinária, Tânia da Silva Pereira, respaldada pelos ideais de Limongi França assevera: As obrigações dos progenitores no que concerne ao desenvolvimento dos filhos abrange [sic] também o nascituro, a quem Limongi França reconhece a condição de pessoa “porque traz em si o germe de todas as características do ser racional. Sua maturidade não é essencialmente diversa da dos recém-nascidos, que nada sabem da vida e, também, não são capazes de se conduzir. O embrião está para a criança como a criança está para o adulto. Pertencem aos 73 FARIAS, Cristiano Chaves de. Alimentos decorrentes do parentesco. In: CAHALI, Francisco José; PEREIRA, Rodrigo da Cunha (Coords.) Alimentos no código civil. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 50. 74 VENOSA, 2006, p. 126. Ensina: “O nascituro é um ente já concebido que se distingue de todo aquele que não foi ainda concebido e que poderá ser sujeito de direito no futuro, dependendo do nascimento, tratando-se de uma prole eventual”. 75 LÔBO, 2009, p. 358-359. 76 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Planalto, Brasília, DF, 2010. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406compilada.htm>. Acesso em: 16 maio 2010. “Art. 2º A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro”. 43 vários estágios de desenvolvimento de um mesmo e único ser : o 77 homem, a pessoa.” Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona contemplam que o nascituro tem o direito aos alimentos, “por não ser justo que a genitora suporte todos os encargos da gestação sem a colaboração econômica do seu companheiro reconhecido”. 78 Nesses termos, a jurisprudência consigna: FAMÍLIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. CUMULADA COM ALIMENTOS. CONDENAÇÃO EM ALIMENTOS. TERMO INICIAL DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. 1.Com a prova do parentesco surge a procedência da ação investigatória, mas ocorre que seus efeitos devem retroagir à data da concepção para proteger os direitos do nascituro. 2.A obrigação de prestar alimentos decorre do parentesco e do nascimento com vida e desde aquela data, a rigor, o réu deve alimentos ao filho menor. Apenas por uma questão processual de constituição em mora é que a lei 5478/68 determinou que a obrigação deveria ser considerada a partir da citação, e não do nascimento. Trata-se de matéria pacífica, inclusive sumulada (súmula 277 do STJ). 79 3.Recurso conhecido e provido. (G. n.) No mesmo entendimento, a jurisprudência abaixo: INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DO NASCITURO. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO DO QUANTUM. 1. Não pairando dúvida acerca do envolvimento sexual entretido pela gestante com o investigado, nem sobre exclusividade desse relacionamento, e havendo necessidade da gestante, justifica-se a concessão de alimentos em favor do nascituro. 2. Sendo o investigado casado e estando também sua esposa grávida, a pensão alimentícia deve ser fixada tendo em vista as necessidades do alimentando, mas dentro da capacidade econômica do alimentante, isto é, focalizando tanto os seus ganhos como também os encargos 80 que possui. Recurso provido em parte. 77 PEREIRA, Tânia da Silva. Dos alimentos: direito do nascituro e os alimentos no Estatuto da Criança e do Adolescente. In: CAHALI, Francisco José e PEREIRA, Rodrigo da Cunha (Coords.) Alimentos no código civil. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 148. 78 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 93. 79 BRASIL. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Civil. Apelação cível nº 002499-7. Apelante: MPDFT. Apelado: H.G.S. e outros. Relatora: Desembargadora Ana Cantarino, Brasília, DF, 25 de outubro de 2006. Disponível em: <http://tjdf19.tjdft.jus.br/cgibin/tjcgi1?NXTPGM=jrhtm03&ORIGEM=INTER&PGATU=271667&l=&ID=1068761861&OPT=& DOCNUM=1>. Acesso em: 17 maio 2010. 80 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Civil. Agravo de Instrumento nº 70006429096, Sétima Câmara Cível. Agravante: C.A.C.P. Agravado: G.S.R.A.N. Relator: 44 Disso, é plena a convicção quanto ao reconhecimento à mãe gestante da legitimidade para a propositura de ações em benefício do nascituro, agora normatizado por meio da lei em tela. Fato jurídico que foi socorrido e se fez consagrado pela nova legislação alimentícia através da Lei 11.804/08. Então, credores de alimentos podem ser os parentes, ex-cônjuges ou ex-companheiros, que numa perspectiva solidária, guiada pela isonomia e pela justiça social, solicitam uns aos outros os alimentos necessários para uma sobrevivência digna, a garantir, inclusive, às necessidades voltadas para educação. Há de considerar, também, o direito à vida do nascituro, não se limitando à viabilidade de existir e permanecer vivo, apenas; mas, o direito de continuar a viver com o mínimo de dignidade, respeito e liberdade. 2.3 CARACTERÍSTICAS DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR Inúmeros são os critérios existentes para classificar as obrigações alimentares e todos eles, cuidando de uma especificidade relacionada aos alimentos, pretendem que seja mantida a característica mais importante e de maior relevância que é o direito à vida. Os tópicos abaixo abordados serão dedicados ao estudo dessa e de outras características dos alimentos. 2.3.1 Caráter personalíssimo O fato de serem personalíssimos torna os alimentos impossíveis de serem transferidos a outrem, ou seja, o alimentando, após adquirir a maioridade ou a partir do momento em que possa, por si só, sustentar-se Desembargador Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Rio Grande do Sul, RS, 08 de junho de 2006. Disponível em:<http://www3.tjrs.jus.br/site_php/jprud2/resultado.php>. Acesso em: 17 maio 2010. 45 financeiramente, perde o direito de receber os alimentos daquele que os fornecia, cessando, assim, a obrigação, que não poderá ser transmitida, por exemplo, à mãe do antes alimentando. Tal característica é matéria consolidada na doutrina, conforme salienta Yussef Said Cahali: “A doutrina é uniforme sob esse aspecto, na medida em que o vincula a um direito da personalidade [...]” 81 e Paulo Lôbo: “A pretensão aos alimentos é de natureza personalíssima, ou seja, não pode ser objeto de cessão entre vivos ou de sucessão hereditária. [...]” 82 O caráter personalíssimo dos alimentos é sua principal característica; trata-se de um direito inerente ao próprio necessitado; pertence exclusivamente a ele, não podendo ser transferido a outrem em pagamento de dívidas, ou penhorado, ou mesmo transferido a seus herdeiros. Havendo, portanto, a morte do alimentado, cessa a prestação alimentícia. 2.3.2 Irrenunciabilidade A característica da irrenunciabilidade dos alimentos já não guarda tal uniformidade na doutrina qual a característica personalíssima. As controvérsias sempre existiram e traziam cada uma certas razoabilidades. Anteriormente ao Código Civil de 2002 os tribunais entendiam a renúncia como admissível; com o advento do novo código, o art. 1.707 inovou o entendimento jurisprudencial declarando: “Pode o credor não exercer, porém lhe é vedado renunciar o direito a alimentos, sendo o respectivo crédito insuscetível de cessão, compensação ou penhora.” 83 É importante frisar que a renúncia a que faz jus o Código Civil diz respeito à faculdade de exercício e não a de gozo, como salienta Washington de Barros Monteiro: “[...] não é válida declaração segundo a qual um filho vem 81 CAHALI, Yussef Said. Dos alimentos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 48. LÔBO, 2009, p. 350. 83 BRASIL. Código Civil (2002), 2008. 82 46 a desistir de pleitear alimentos contra o pai; embora necessitado, pode o filho deixar de pedir alimentos, mas não se admite renuncie ele tal direito.” 84 Assim, de acordo com Paulo Lôbo: [...] Qualquer cláusula de renúncia, apesar da autonomia dos que a celebraram, considera-se nula, podendo o juiz declará-la de ofício. Enquanto não se configurar qualquer das hipóteses de extinção da pretensão aos alimentos, o ex-cônjuge ou o ex-companheiro pode 85 pleiteá-los. [...] 2.3.3 Incedibilidade Por ser um direito dado àquele que necessita de condições para subsistir, sua cessão a outrem é inadmissível, ou seja, o recebimento dos alimentos configura fator essencial à sobrevivência do alimentando, não podendo ser cedido a qualquer outra pessoa. Cahali enfatiza tal entendimento ao declarar que “[...] o direito de alimentos participa das obrigações que não podem ser cedidas [...].” 86 O fato da proibição de serem cedidos está ligado à própria natureza dos alimentos, conforme ilustra o art. 286 do Código Civil: Art. 286. O credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor; a cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário 87 de boa-fé, se não constar do instrumento da obrigação. Do mesmo modo, o art. 1.707 do mesmo diploma legal esclarece que “pode o credor não exercer, porém lhe é vedado renunciar o direito a alimentos, sendo o respectivo crédito insuscetível de cessão, compensação ou penhora”. 88 (G. n.) 84 MONTEIRO, Washington de Barros. Direito de Família. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 1980, p. 302. 85 LÔBO, 2009, p. 351. 86 CAHALI, 2009, p. 81. 87 BRASIL. Código Civil (2002), 2008. 88 Ibidem. 47 2.3.4 Impenhorabilidade Conforme já mencionado, o direito a alimentos deve garantir a subsistência do alimentando, o que torna, assim, inaceitável a sua privação por parte de credores. Importante frisar, porém, nas palavras de Murilo Neves, a exceção a essa regra: “O crédito decorrente de prestações alimentícias vencidas, e que tenham perdido o caráter alimentar, podem ser penhorados como os créditos em geral”.89 2.3.5 Incompensabilidade Quando duas pessoas forem, ao mesmo tempo credora e devedora uma da outra, poderão compensar entre si suas dívidas, que serão extintas até onde forem compensadas. Há, porém, a ressalva de que tais dívidas devem ter o mesmo objeto. Dessarte, não é possível ao alimentando fazer a compensação de uma suposta dívida que tenha com o seu alimentante, visto que a finalidade dos alimentos é assistencial. Paulo Lôbo resume o assunto afirmando que A tutela da inviolabilidade dos alimentos dirige-se até mesmo contra o alimentando, que está impedido de efetuar compensação das dívidas e obrigações com o alimentante. A compensação é o modo de extinguir a obrigação quando uma pessoa for devedora e, ao mesmo tempo, credora de outra, até o limite do que esta lhe dever. [...] Assim, se o neto, que devia determinada importância ao avô, exigir deste alimentos necessários para viver, não pode o avô descontar 90 destes o valor da dívida. [...] 89 NEVES, Murilo Sechieri Costa. Capítulo III: Do direito patrimonial. In: BONFIM, Edilson Mougenot (coord.). Direito civil 5: Direito de família. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 124. 90 LÔBO, 2009, p. 351-352. 48 2.3.6 Impassível de transação Devido ao caráter personalíssimo dos alimentos, o que se conclui serem indisponíveis, não há a possibilidade de transação em relação ao seu objeto. Importante destacar, contudo, que as transações entre as partes com o fito de estipular a maneira como as prestações alimentícias e sua fixação serão definidas são válidas. Essa é a regra, havendo, todavia, uma exceção no tocante aos alimentos pretéritos, esclarecendo Cahali que “em relação aos alimentos pretéritos, é lícita a transação, porque teriam por fim sustentar o necessitado em época que já passou, cessada a razão da lei, a necessidade indeclinável”. 91 2.3.7 Imprescritibilidade Por estar intimamente ligado à natureza humana, o direito a alimentos é imprescritível, até porque a necessidade do futuro alimentando pode ocorrer em qualquer fase de sua existência. Assim, concluem Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald: Destinando-se a manter aquele que deles necessita no presente e no futuro, não há, logicamente, prazo extintivo para os alimentos. O direito de obter, em juízo a fixação de uma pensão alimentícia pode ser exercido a qualquer prazo prescricional. Contudo, uma vez fixados os alimentos, por decisão judicial, fluirá, dali em diante, um prazo prescricional para a execução dos valores correspondentes. A prescrição, portanto, é da pretensão executória dos alimentos e ocorrerá no prazo de dois anos, como reconhece o 92 art. 206, § 2º, do Estatuto do Cidadão. Importante salientar que o prazo prescricional citado não valerá para os casos de alimentos em prol dos filhos menores ao longo da constância do poder familiar e dos absolutamente incapazes, nos termos do Código Civil: 91 92 CAHALI, 2009, p. 92. FARIAS; ROSENVALD, 2010, p. 674. 49 Art. 197. Não corre a prescrição: I - entre os cônjuges, na constância da sociedade conjugal; [...] Art. 198. Também não corre a prescrição: º 93 I - contra os incapazes de que trata o art. 3 . 2.3.8 Preferenciabilidade e indeclinabilidade O direito à vida está acima de qualquer outro direito, ensejando dessa maneira, a preferência do crédito alimentar sobre todos os outros créditos. Por pretender criar condições possíveis à sobrevivência, a satisfação dos créditos alimentícios não pode ser protelada. Analisando tal característica, Cahali tece alguns comentários, destacando palavras de Sílvio Rodrigues: Conforme bem lembra Sílvio Rodrigues, a prestação alimentícia é exigível no presente e não no futuro, o que implica a idéia de sua atualidade, pois a necessidade que a justifica é, por sua vez, ordinariamente inadiável; por esse razão, entre outras, a lei confere ao credor meios coativos de grande eficácia, destinados a facilitar-lhe 94 o pronto recebimento das prestações alimentícias. 2.3.9 Irrepetibilidade O caráter irrepetível dos alimentos fundamenta-se no sentido de que não são restituíveis, ou seja, vindo o alimentando a adquirir condições suficientes para sua própria mantença, não deverá restituir os alimentos recebidos de seu alimentante. O entendimento é reforçado por Maria Berenice Dias ao alegar que: 93 94 BRASIL, Código Civil (2002), 2008. CAHALI, 2009, p. 97. 50 [...] Como se trata de verba que serve para garantir a vida, destina-se à aquisição de bens de consumo para assegurar a sobrevivência. Assim, inimaginável pretender que sejam devolvidos. Esta verdade é tão evidente que até é difícil sustentá-la. Não há como argumentar o óbvio. Provavelmente por esta lógica ser inquestionável é que o legislador não se preocupou sequer em inseri-la na lei. Daí que o princípio da irrepetibilidade é por todos aceito mesmo não constando 95 do ordenamento jurídico. Em consonância com o tema, a jurisprudência abaixo: Recurso especial. Processual civil. Revisional de alimentos. Redução da prestação alimentícia. Efeitos da apelação. - Deve ser recebido apenas no efeito devolutivo o recurso de apelação interposto contra sentença que decida pedido de revisão de alimentos, seja para majorar ou diminuir o encargo. - Valoriza-se, dessa forma, a convicção do juiz que, mais próximo das provas produzidas, pode avaliar com maior precisão as necessidades do alimentando conjugadas às possibilidades do alimentante, para uma adequada fixação ou até mesmo exoneração do encargo. - Com a atribuição do duplo efeito, há potencial probabilidade de duplo dano ao alimentante quando a sentença diminuir o encargo alimentar: (i) dano patrimonial, por continuar pagando a pensão alimentícia que a sentença reconhece indevida e por não ter direito à devolução da quantia despendida, caso a sentença de redução do valor do pensionamento seja mantida, em razão do postulado da irrepetibilidade dos alimentos; (ii) dano pessoal, pois o provável inadimplemento ditado pela ausência de condições financeiras poderá levar o alimentante à prisão. - Por outro lado, o alimentando não sofre prejuízo, porque eventual reforma da sentença é para ele garantia do recebimento das diferenças que lhe forem devidas. Se for mantida a sentença, contudo, não subjaz daí prejuízo porque suficiente e adequadamente avaliadas as circunstâncias fáticas do processo para diminuição do encargo, com especial atenção ao binômio necessidade/possibilidade a nortear a controvérsia acerca de alimentos. Recurso especial 96 parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido. (G.n.) Assim, oportuno afirmar que os valores pagos a título de alimentos não serão ressarcidos pelo alimentando, justamente por terem servido à sua sobrevivência. Até mesmo nos casos em que ocorra a desconstituição da obrigação alimentar, como por exemplo, em um futuro reconhecimento da negativa de paternidade, será descabida a restituição dos alimentos já pagos. 95 DIAS, 2007, p. 455. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Civil. Recurso Especial nº 623676/SP. Recorrente: Bruna Eduarda Maximiano e outro. Recorrido: João Carlos Maximiano. Relatora: Ministra Nancy Andrigui, Brasília, DF, 06 de fevereiro de 2004. Disponível em: <http://www.stj.jus.br/webstj/Processo/justica/frameimprimir.asp?numreg=200400017580>. Acesso em: 23 maio 2010. 96 51 2.3.10 Condicionabilidade e variabilidade O Código Civil estabelece, a respeito do tema, em seu art. 1.694 o seguinte: Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às 97 necessidades de sua educação. Ainda acerca do mesmo tópico, o art. 1.699 do Código Civil cita que: Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, 98 exoneração, redução ou majoração do encargo. Infere-se, então, que a obrigação alimentar deve ser fixada em níveis que podem ser suportados pelo prestador e suficientes para suprir as necessidades do beneficiário. Como devem ser sopesados os dois pólos da obrigação, caso ocorra mudança nas condições financeiras do alimentante ou do alimentando, sua exoneração, redução ou majoração são possíveis. 2.3.11 Reciprocidade Tal característica faz os alimentos serem recíprocos entre os parentes, cônjuges ou companheiros. Firmando tal entendimento, Maria Berenice Dias explica que 97 98 BRASIL, Código Civil (2002), 2008. Ibidem. 52 [...] é mútuo o dever de assistência, a depender do poder familiar. Os cônjuges são obrigados a concorrer na proporção de seus bens e dos rendimentos do seu trabalho para o sustento e educação dos filhos (CC 1.568). Portanto, mesmo sendo concorrente a obrigação dos pais, a quantificação de tal dever está condicionada ao princípio da 99 proporcionalidade. 2.3.12 Intransmissibilidade Por terem caráter personalíssimo, os alimentos não podem ser transmissíveis já que está vinculado exatamente à natureza humana, ou seja, ao próprio alimentando, não podendo ser transferido a outrem. A questão a respeito dos alimentos serem ou não transmissíveis é considerada no Código Civil de 2002, na Lei do Divórcio (Lei nº 6.515/77), além de ter sido consagrada pelo Código Civil de 1916. As contradições a envolver o tema, suas considerações e conclusões serão tratadas em capítulo específico deste trabalho, o qual tem como objetivo maior a elucidação dessas premissas. 99 DIAS, 2007, p. 454. 53 3 OS ALIMENTOS SOB A ÓTICA DO DIREITO SUCESSÓRIO O termo “sucessão” provém da expressão sub cedere, cujo significado é “vir depois”. Francisco Cahali explica que Sucessão, na acepção da palavra, em sentido amplo significa a passagem, a transferência de um direito de uma pessoa (física ou jurídica) para outra. A relação jurídica inicialmente formada por 100 determinados titulares passa, pela sucessão, a outros. O assunto é tratado pelo Código Civil de 2002, em seu Livro V, nos arts. 1.784 a 2.027, sendo conveniente, destacar alguns deles: Art. 1.786. A sucessão dá-se por lei ou por disposição de última vontade. [...] Art. 1.791. A herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros. Art. 1.792. O herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança; incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que a escuse, demostrando o valor dos bens 101 herdados. Especificamente nesse trabalho, a abordagem a respeito do fenômeno sucessório tratará da sucessão de propriedade privada nos casos em que esta derivar da morte de um dos sujeitos da relação jurídica. Sílvio Venosa ressalta a importância do efeito da morte nas relações jurídicas: A existência da pessoa natural termina com a morte [...]. Como com a morte termina a personalidade jurídica (mors omnia solvit, a morte tudo resolve), é importante estabelecer o momento da morte ou fazer sua prova para que ocorram os efeitos inerentes ao desaparecimento jurídico da pessoa humana, como a dissolução do vínculo matrimonial, o término das relações de parentesco, a transmissão da 102 herança etc. 100 CAHALI, Francisco José; HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Direito das sucessões. 3. ed. São Paulo: Revista dos tribunais, 2007, p. 19. 101 BRASIL, Código Civil (2002), 2008. 102 VENOSA, 2006, p. 155. 54 A respeito desses efeitos, produzidos pela ocorrência da morte, é imperioso destacar que: É preciso salientar, [...] que, mesmo após a extinção da pessoa e, por conseguinte, de sua personalidade, subsistirá a sua vontade para os fins do que, eventualmente, tiver o falecido disposto em testamento (art. 1.857, CC) [...], bem como no que concerne ao destino do cadáver, se, em vida, ocorreu expressa manifestação de vontade 103 própria [...]. 3.1 CONCEITOS O Código Civil, didaticamente, além de tratar do inventário e partilha, separou o direito sucessório em mais três partes, quais sejam, a sucessão em geral, a sucessão legítima e a sucessão testamentária. Com referência às sucessões legítima e testamentária, ensina Francisco Cahali A sucessão legítima, por vezes também designada como sucessão legal, é a que se dá em virtude de lei. O legislador traz a ordem de vocação hereditária, através da qual designa aqueles que serão chamados para suceder, uns na falta dos outros, ou em concorrência, vale dizer, a lei indica os herdeiros da pessoa falecida. Por este meio, a transmissão se dá sem a manifestação de última vontade do de cujus, indicando o direito positivo as pessoas que, pelo grau de parentesco ou pelo casamento e união estável, serão consideradas titulares da herança, afirmando alguns autores que este meio de transmissão representa o testamento tácito ou presumido da pessoa. A sucessão testamentária, por seu turno, deriva de ato de última vontade, representado por testamento promovido pelo autor da herança, na forma e condições estabelecidas na lei. Nesta hipótese, 104 não é a lei, mas a pessoa que elege seus sucessores. A sucessão legítima, então, se relacionará aos casos em que o autor da herança falece sem deixar disposição de última vontade ou tendo o testamento caducado ou sido julgado nulo. 103 104 FARIAS; ROSENVALD, 2006, p. 203. CAHALI; HIRONAKA, 2007, p. 41. 55 Outra possibilidade em que se dará a sucessão legítima, será nas situações em que mesmo existindo testamento, suas disposições não contemplarem a destinação de toda a herança. Já nos casos de sucessão testamentária existem certas restrições ao testador, como por exemplo, a indicação dos seus herdeiros necessários (descendentes, ascendentes e cônjuge), que não podem ser excluídos da herança, conforme consigna o art. 1.845 do Código Civil ao mencionar que “pertence aos herdeiros necessários, de pleno direito, a metade dos bens da herança, constituindo a legítima”.105 A esse montante reservado aos herdeiros necessários, dá-se o nome de legítima do herdeiro necessário. Por outro lado, a sucessão simultânea refere-se às duas formas de sucessão, quando ocorrerem juntas, ou seja, ao mesmo tempo. Alguns conceitos são usados, privativamente, no direito sucessório para designar as pessoas envolvidas nessa relação jurídica. Faz-se necessário conhecê-los: “A pessoa falecida, e por cuja morte se abre a sucessão, é qualificada como autor da herança, inventariado, [...] de cujus, sem prejuízo das designações vulgares, como falecido, defunto, morto, finado”.106 Já a pessoa, adquirente dos bens deixados pelo de cujus, leva a denominação de herdeiro ou sucessor. Outras denominações e conceitos na seara do direito sucessório são importantes e merecem ser delimitados. Assim, a sucessão pode compreender sua abrangência a título singular ou universal. Há a figura do legatário na sucessão a título singular, cuja denominação corresponde àquele sucessor que recebe um determinado bem móvel dentro do acervo do patrimônio do falecido. Tal bem determinado chama-se legado. A título universal há os herdeiros legítimos e testamentários que são, respectivamente, aquele sucessor que recebe todos os bens móveis e imóveis, além de valores em dinheiro por ter, em relação ao falecido, certo grau de parentesco estabelecido na lei. Os bens, nesse caso, se chamarão herança. 105 106 BRASIL, Código Civil (2002), 2008. CAHALI; HIRONAKA, 2007, p. 23. 56 Há ainda a denominação de herdeiros testamentários que são aquelas pessoas que recebem bem, em sua totalidade ou em cota parte, por meio de um testamento. Restando conhecidos alguns dos institutos e figuras próprios do direito sucessório, será possível avançar em seu estudo, a fim de serem esclarecidos outros tópicos referentes ao tema. 3.2 MOMENTOS DO FENÔMENO SUCESSÓRIO E O PRINCÍPIO DA SAISINE O patrimônio da pessoa falecida transmite-se aos herdeiros a partir do momento de sua morte. A essa transmissão dá-se o nome de fenômeno sucessório. O Código Civil traz em seu art. 6º a origem desse fato: “A existência da pessoa natural termina com a morte; presume-se esta, quanto aos ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura de sucessão definitiva”.107 O evento da morte juntamente com o evento da transmissão do patrimônio ocorrem automaticamente, ensejando o fenômeno sucessório, que é um evento único. Corroborando o entendimento acima, Maria Helena Diniz afirma que: A morte do de cujus deve ser rigorosamente provada, a fim de que não haja quaisquer dúvidas quanto à sua ocorrência, dada a sua relevância, uma vez que determina o exato momento da abertura da sucessão dos bens que constituem a herança, pois o sucessor vivo é chamado a tomar o lugar do defunto em todas as suas relações 108 jurídicas transmissíveis. Assim, é conveniente destacar que a abertura da sucessão ocorre com a morte, não se confundindo com a abertura do inventário, que só é instaurado com a provocação judicial comunicando o falecimento. 107 108 BRASIL. Código Civil (2002), 2008. DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2008. 57 Para melhor entendimento do assunto, tal fenômeno é compreendido por três fases abaixo delimitadas. 3.2.1 Abertura da sucessão Ao mesmo tempo em que ocorre a morte, ocorre também o fenômeno sucessório. Dessa maneira, abre-se a sucessão no momento do falecimento. Francisco Cahali esclarece que Sem solução de continuidade, pois as relações jurídicas não podem ficar privadas de um titular, opera-se ipso jure, com o falecimento, a transmissão da herança; e esta substituição, do de cujus aos seus herdeiros, se faz automaticamente, no plano jurídico, sem qualquer outra formalidade, ainda que, no plano fático, os sucessores ignorem o falecimento. Para o direito, o próprio falecido transmite aos 109 sucessores o seu acervo patrimonial. Com base nas palavras de Francisco Cahali, o art. 1.784 do Código Civil enfatiza o entendimento citando que “aberta a sucessão, a herança transmitese, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários110. O código Civil, no artigo mencionado consagra o Princípio da Saisine. Tal princípio informa que o patrimônio se transmite diretamente aos herdeiros a partir da morte. Francisco Cahali assevera acerca do Princípio da Saisine: E como analisar este droit de saisine, com o fato de, por exemplo, não terem os sucessores, no exato instante do óbito, conhecimento do falecimento, até por estarem eventualmente em lugar distante, ou não terem ainda conhecimento de seu direito hereditário? Ou, ainda, como conciliar a regra de imediata transmissão da posse e domínio dos bens com a circunstância de que existe um momento provisório em que a herança, patrimônio único (universitas juris) e indivisível, é gerenciada pelo inventariante, ou mesmo pelo administrador provisório, para só com a partilha serem destinados os quinhões aos herdeiros? O que ocorre, em verdade, é uma ficção jurídica: a transmissão da herança se faz ipso jure, para preservar a necessária continuidade na titularidade das relações jurídicas deixadas pelo falecido, que não 109 110 CAHALI; HIRONAKA, 2006, p. 34. BRASIL. Código Civil (2002), 2008. 58 podem ser acéfalas. Com a definitiva partilha ou adjudicação da herança aos herdeiros, quando se desfaz a comunhão forçada, consolidando em seu patrimônio o quinhão herdado, a titularidade do 111 acervo se opera retroativamente, desde a data do falecimento. Assim, do Princípio da Saisine decorrem alguns efeitos como a identificação da lei a ser aplicada à data da sucessão, conforme elucida o art. 1.787 do Código Civil, ao declarar que: “Regula a sucessão e a legitimação para suceder a lei vigente ao tempo da abertura daquela”.112 Outro efeito concernente ao princípio mencionado é a delimitação dos herdeiros no exato momento do fenômeno sucessório. Assim, cita novamente o Código Civil em seu art. 1.799, inciso I: Art. 1.799. Na sucessão testamentária podem ainda ser chamados a suceder: I - os filhos, ainda não concebidos, de pessoas indicadas pelo 113 testador, desde que vivas estas ao abrir-se a sucessão. Tal efeito mostra-se importantíssimo com referência ao fato de que, caso um herdeiro venha a falecer imediatamente após a morte do autor da herança terá o direito de receber seu quinhão hereditário e transmiti-lo aos seus sucessores, mesmo não tendo tido conhecimento dessa morte. 3.2.2 Delação ou devolução sucessória De acordo com o art. 5º, inciso XXX da Constituição Federal114, a delação é direito do herdeiro. Trata-se da indicação da natureza da herança, pois é um direito e não um dever. Sendo assim, é atribuída ao suposto herdeiro a possibilidade de aceitar ou renunciar à herança. Gomes declara que: 111 CAHALI; HIRONAKA, op. cit., p. 35. BRASIL. Código Civil (2002), 2008. 113 Ibidem. 114 BRASIL. Constituição (1988), 2010: “Art. 5º, inc. XXX: É garantido o direito de herança”. 112 59 Renúncia é negócio jurídico unilateral pelo qual o herdeiro declara não aceitar a herança. A renúncia não depende do assentimento de quem quer que seja. Não se presume. Há de resultar de expressa declaração. Tal como aceitação, é negócio puro, não prevalecendo se feita sob condição ou a termo. Inadmissível, também, a renúncia parcial. A renúncia é negócio formal. Deve constar, necessariamente, de escritura pública ou termo judicial. A forma, sendo da substância do ato, sua inobservância importa nulidade. O termo lavra-se nos próprios autos do inventário.115 Ainda, acerca dos efeitos advindos com a renúncia, assevera Maria Helena Diniz: Renunciante é tratado como se nunca tivesse sido chamado à sucessão (CC, art. 1.804); CC, art. 1.810; descendente do renunciante não herdam por representação (CC, art. 1.811); na sucessão testamentária a renúncia do herdeiro torna caduca a disposição que o beneficia, a não ser que o testamento tenha indicado substituto (CC, art. 1,947) ou haja direito de acrescer entre os herdeiros (CC, art. 1.943); o que repudia herança não está impedido de aceitar legado (CC, art. 1.808, § 1º) e o resultante não perde o direito à administração e ao usufruto dos bens, que, pelo seu 116 repúdio, foram transmitidos aos seus filhos menores. 3.2.3 Adição ou aquisição da herança A adição corresponde ao terceiro momento do fenômeno sucessório e só ocorrerá caso a herança seja aceita, devendo ser retroagidos os seus efeitos até a data da abertura da sucessão. Importante salientar que os atos de aceitação ou renúncia são irrevogáveis. Esse momento referente ao fenômeno sucessório é citado pelo Código Civil em seu art. 1.804 que diz que “aceita a herança, torna-se definitiva a sua transmissão ao herdeiro, desde a abertura da sucessão” e, no art. 1.812, ao afirmar que “são irrevogáveis os atos de aceitação ou de renúncia da herança”117. 115 GOMES, 2001, p. 25. DINIZ, 2008, p. 81. 117 BRASIL. Código Civil (2002), 2008. 116 60 Para aceitar a herança, exige-se que os sucessores deliberem por meio da manifestação de sua vontade, a qual revelará seu desejo em recolhê-la. A aceitação representa ato jurídico unilateral e necessário, onde o herdeiro irá confirmar sua real intenção em receber a herança que lhe será transmitida. Francisco Cahali explica o sentido de se exigir tal aceitação: Veja-se, pois, que se trata de confirmação de herdeiro, pois já com a abertura da sucessão lhe é deferida a herança. Bastará a anuência com a transmissão incontinenti do acervo hereditário, que se opera, por força de lei (ex vi legis), com o falecimento em favor do sucessor legítimo ou testamentário. Daí por que se fala em consolidação dos direitos hereditários, produzindo efeito retrooperante. E nesse sentido o art. 1.804, ao consignar: “Aceita a herança, torna-se definitiva a sua 118 transmissão ao herdeiro, desde a abertura da sucessão”. Dessa forma, manifestando-se pela aceitação da herança, o herdeiro terá tornado definitiva a sua transmissão, desde a abertura da sucessão. 118 CAHALI; HIRONAKA, 2007, p. 71 61 4 A TRANSMISSIBILIDADE DOS ALIMENTOS A questão acerca da transmissibilidade da obrigação alimentar está intimamente ligada ao conflito de normas119 existente entre o Código Civil de 2002 e a Lei nº 6.515/77, mais especificamente entre os artigos 1.700 do Código e o 23 da Lei do Divórcio, como é comumente conhecida a referida lei. Dentro desse contexto de divergências legislativas, serão abordados os principais aspectos relacionados à existência da polêmica entre a transmissibilidade e a intransmissibilidade dos alimentos. 4.1 MODOS DE EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR A obrigação alimentar pode estar embasada nos critérios de possibilidade de quem os provém (alimentante ou devedor) e necessidade de quem os recebe (alimentando ou credor).120 A ausência de pelo menos um desses critérios leva à cessação da obrigação alimentar. O Código Civil trata do tema em seu art. 1.695: São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do 121 necessário ao seu sustento. Assim, exemplificando, há a possibilidade de extinção dos alimentos quando o alimentando não possui mais a necessidade de recebê-los, ou seja, quando sua situação financeira sofre mudanças a ponto de não mais merecer o recebimento do auxílio vindo de outrem. Sobre o tema, assevera Orlando Gomes: 119 OLIVEIRA, Euclides de. Alimentos: Transmissão da obrigação aos herdeiros. In: CAHALI, Francisco José; PEREIRA, Rodrigo da Cunha (coords.). Alimentos no Código Civil: aspectos civil, constitucional, processual e penal. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 281. 120 NEVES, 2005, p.124. 121 BRASIL. Código Civil (2002), 2008. 62 [...] Se o direito à prestação de alimentos é condicionado à necessidade do alimentando, é óbvio que, cessando esse estado, se extingue, ipso facto, a obrigação da outra parte. Extingue-se tal obrigação, do mesmo modo, se falta o outro pressuposto. Se, com efeito, o alimentante vem a se encontrar numa situação em que não pode continuar a prestar os alimentos, a obrigação não subsiste, justo porque uma das condições de sua exigibilidade é a capacidade 122 econômica do devedor. [...] A obrigação alimentar bem como o direito a alimentos também tem sua extinção marcada pela morte daquele que presta alimentos ou daquele que os recebe. Não deve, porém, deixar de ser mencionado o dever de sustento que também se relaciona aos alimentos, contudo, tal situação ocorre nos casos em que a convivência familiar existe. Assim, há o dever de sustento dos pais para com seus filhos, dos cônjuges entre si, além do dever de amparo relacionado aos idosos. O Código Civil acrescenta, em seu art. 1708, outras razões para a cessação da obrigação alimentar, ao afirmar que “com o casamento, a união estável ou o concubinato do credor, cessa o dever de prestar alimentos”. 123 O que ocorre nessa situação é a presunção de que o credor dos alimentos não possua mais a necessidade em recebê-los, já que a união com o cônjuge, companheiro ou concubino transfere a ele a obrigação de assistência. Salienta-se que a extinção nunca será definitiva, já que da mesma maneira como ocorre com a decisão que fixa os alimentos, cuja decretação não faz coisa julgada, sua cessação pode ser interrompida caso a necessidade a alimentos ressurja.124 Além das condições acima expostas, há que se falar no fator idade, também condicionante da extinção da obrigação alimentar. Assim, o alimentando, ao completar 18 anos de idade pode deixar de adquirir os alimentos anteriormente recebidos. Nesse caso, o alimentante do filho que completou 18 anos de idade tem o seu dever de sustento extinto. À luz do pensamento de Paulo Lôbo: 122 GOMES, 2001, p. 447. BRASIL. Código Civil (2002), 2008. 124 LÔBO, 2009, p. 368. 123 63 Controverte a doutrina acerca da limitação temporal do dever de alimentos, em razão da idade do filho. A Constituição (art. 229) estabelece que os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores. A menoridade cessa aos 18 anos e o alimentante tem o dever de prestar o necessário à educação do alimentando, “quando menor” (arts. 5º e 1.701 do Código Civil). A interpretação estrita dessas normas conduz à extinção do direito aos alimentos quando o 125 filho completar 18 anos, concomitante à extinção do poder familiar. 4.2 A INTRANSMISSIBILIDADE FRENTE AO CARÁTER PERSONALÍSSIMO DOS ALIMENTOS O Direito de Família traz inserto em seus ensinamentos doutrinários algumas características referentes aos alimentos, já lembradas nesse trabalho. O caráter personalíssimo é aquele que mais fortemente consegue demonstrar o perfil da obrigação alimentar, enfatizando serem os alimentos vinculados ao próprio direito da personalidade, não podendo ser objeto de cessão entre vivos. Dessarte, as esclarecedoras palavras de Paulo Lôbo: A pretensão aos alimentos é de natureza personalíssima, ou seja, não pode ser objeto de cessão entre vivos ou de sucessão hereditária. A lei admite, todavia, que o débito de alimentos seja objeto de sucessão, assumindo os herdeiros do devedor o encargo de pagá-los, no limite das forças da herança, proporcionalmente às quotas hereditárias. Se o defunto tiver deixado patrimônio ativo, o pagamento dos alimentos deve ser feito enquanto houver bens e 126 valores que integraram o espólio. Em consonância ao entendimento de Paulo Lôbo, assevera Cahali: “Decorrência lógica do caráter personalíssimo dos alimentos, tem-se a sua intransmissibilidade, ativa e passivamente”.127 Assim, é importante frisar a relevância atribuída a essa característica dos alimentos, ou seja, seu caráter personalíssimo, uma vez que não podem 125 LÔBO, 2009, p. 368. LÔBO, op. cit., p. 350. 127 CAHALI, 2009, p. 50. 126 64 ser compensados nem cedidos a outrem. Ademais, visam à subsistência do alimentando, sendo assim um direito pessoal. Por complemento, o direito a alimentos é intransmissível, ativa ou passivamente, ocorrendo intransmissibilidade ativa no caso da morte do alimentando e passiva no caso da morte do alimentante. Em suma, o direito a alimentos não pode ser cedido justamente em razão da sua natureza, pois o crédito é inseparável do credor. 4.3 A DIVERGÊNCIA ACERCA DA INSTRANSMISSIBILIDADE ADVINDA COM A LEI DO DIVÓRCIO O Código Civil de 1916, em seu art. 402, previa que “a obrigação de prestar alimentos não se transmite aos herdeiros do devedor” 128 . O entendimento do revogado diploma legal estipulava, assim, a regra da intransmissibilidade da obrigação alimentar aos herdeiros do devedor. Desse modo, tendo falecido o alimentante, sua obrigação em prestar alimentos não seria transferida aos seus herdeiros, extinguindo-se, portanto, tal encargo. Por outro lado, a Lei nº 6.515 de 1977, conhecida como Lei do Divórcio, em seu art. 23, cita que “a obrigação de prestar alimentos transmite-se aos herdeiros do devedor, na forma do art. 1.796 do Código Civil”.129 A Lei do Divórcio, então, ao tratar dos alimentos, optou pela regra da transmissibilidade, contrariando o entendimento do Código Civil vigente à época. É imprescindível alertar para o fato de os regulamentos acima cogitados pertencerem a diferentes naturezas, pois, ao passo que o Código Civil 128 BRASIL. Lei n. 3.071, de 01 de janeiro de 1916. Revogada pela Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/L3071.htm>. Acesso em: 16 maio 2010. 129 BRASIL. Lei n. 6.515, de 26 de dezembro de 1977. Regula os casos de dissolução da sociedade conjugal e do casamento, seus efeitos e respectivos processos, e dá outras providências. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6515.htm>. Acesso em: 16 maio 2010. 65 revogado tratava da obrigação alimentar referente ao parentesco, a Lei do Divórcio cuidava da obrigação entre cônjuges, conforme esclarece Cahali: [...] A aparente contradição legislativa era solvida pela jurisprudência, atentando ao fato de serem encargos diferenciados: a lei civil regulava os alimentos entre parentes, e a Lei do Divórcio tratava da 130 obrigação entre cônjuges. A comprovação de fazerem referência a objeto de naturezas diversas, não foi suficiente para silenciar os debates a respeito da matéria, que só se tornaram ainda mais polêmicos com o advento do Código Civil de 2002, quando trouxe em seu art. 1.700, o seguinte texto: “A obrigação de prestar alimentos transmite-se aos herdeiros do devedor, na forma do art. 1.694” 131. O art. 1.694, disciplina que: Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às 132 necessidades de sua educação. O fato de possuírem, como característica principal, o perfil personalíssimo deveria bastar para que se reconhecesse a intransmissibilidade dos alimentos e fossem afastadas as controvérsias e polêmicas a respeito do tema, pois a morte daquele que presta ou recebe alimentos implica a extinção do encargo ou direito. Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald tratam do tema ao expor que [...] Somente as prestações vencidas e não pagas é que se transmitiriam aos herdeiros, dentro das forças do espólio, por se tratar de dívida do falecido, transmitida juntamente com o seu patrimônio, em conformidade com a transmissão operada por saisine (CC, art. 133 1.784). [...] Reforçando a tese, destacam-se as palavras de Yussef Said Cahali: 130 CAHALI, 2009, p. 456. BRASIL. Código Civil (2002), 2008. 132 Ibidem. 133 FARIAS; ROSENVALD, 2010, p. 675. 131 66 [...] Sempre se entendera, tranquilamente, que havendo atrasados, respondem por eles os sucessores, porque não constituem mais pensão; a obrigação de alimentos, verificadas as condições de sua exigibilidade ainda em vida do devedor, entra na classe das dívidas que oneram a herança e, como tal, é transmissível aos herdeiros; aqui, não se violaria o princípio da intransmissibilidade do direito de alimentos, pois neste caso responderia pela dívida apenas o patrimônio do devedor falecido; o que se transmitia (art. 1.796 do CC/1916; art. 1.997 do CC/ 2002) aos herdeiros não era a obrigação de prestar alimentos propriamente dita mas a de pagar as prestações atrasadas; esvaídas estas do caráter de prestação de alimentos, transfigurados em dívida comum, que deixou de ser paga no devido tempo, o crédito do alimentário entraria no passivo da herança como obrigação do espólio, devendo ser satisfeito pelos herdeiros, exigível 134 como qualquer outro. [...] Importante enfatizar que não se deve desconsiderar a principal característica da obrigação alimentar, qual seja o seu perfil personalíssimo, intimamente ligado ao princípio da intransmissibilidade dos alimentos. O débito alimentar é evento de caráter pessoal, existente por haver entre o alimentando e o alimentante um vínculo que os une e que, juntamente com outros requisitos, enseja a obrigação alimentar. A morte de um dos dois pólos desse vínculo simplesmente encerra tal encargo. Em sentido contrário ao exposto, apresenta-se o seguinte julgado: ALIMENTOS. RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO. TRANSMISSIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. Configurados os pressupostos necessidade-possibilidade, cabível a estipulação dos alimentos. Isso nos remete ao tema da transmissibilidade da obrigação alimentar, agora tornada inquestionável pelo artigo 1.700 do Código Civil. E não se diga que a transmissão se restringe apenas às parcelas eventualmente vencidas, deixando de abranger as vincendas. É que, em primeiro lugar, esse dispositivo legal refere-se à obrigação e não a dívidas, o que, por si só, deve bastar. Há mais, porém. É que interpretá-lo como abrangendo apenas eventuais parcelas inadimplidas até o ensejo da morte do devedor de alimentos é tornar a regra inteiramente vazia, pelo simples fato de que o artigo 1.997 do CC já torna o Espólio responsável pelo pagamento das dívidas do falecido, não havendo, portanto, necessidade de que a mesma disposição constasse em local diverso. Por isso, e não podendo entender-se que a lei contém palavras inúteis, é evidente que o art. 1.700 determina a transmissão da obrigação, abrangendo parcelas que se vençam inclusive após o óbito do devedor, como no caso. Limite da obrigação. É certo que o apelante, como filho que é do autor da herança, é também seu herdeiro, em igualdade de condições com os demais descendentes. Logo, mais cedo ou mais tarde lhe serão atribuídos bens na partilha que se realizará no inventário recém iniciado. Nesse contexto, os alimentos subsistirão apenas enquanto não se consumar a partilha, pois, a partir desse 134 CAHALI, 2009, p. 53. 67 momento desaparecerá, sem dúvida, a necessidade do alimentado. 135 PROVERAM. UNÂNIME. Apesar de existirem confrontos de entendimentos, resta claro que pela sua própria natureza os alimentos não possuem a característica de serem transmissíveis. A morte do prestador de alimentos finda a sua personalidade e, consequentemente, cessa, também, a obrigação alimentar antes existente. A natureza personalíssima da obrigação alimentar, porém, nunca desaparecerá, posto que é característica inerente ao próprio instituto. De maneira elucidativa, merecem destaque as palavras de Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald, ao comentarem acerca dos efeitos advindos com a morte: [...] O efeito jurídico principal da morte é a cessação da personalidade e, naturalmente, dos direitos da personalidade. Todavia, outros importantes efeitos no âmbito da ciência jurídica também são produzidos pela morte. São também consequências jurídicas da morte: [...] d) fazer cessar a obrigação alimentar, para ambas as partes (CC, 1.697), transmitindo-se aos herdeiros do alimentante as parcelas vencidas e não pagas; 136 [...] Assim, é possível esclarecer que a obrigação em pagar as dívidas vencidas provenientes de pensões alimentícias pode ser transmitida aos herdeiros do sucessor, porém, a hipótese de se transmitir aos sucessores do alimentando o direito aos alimentos é incabível. Tal regra consagrada pelo antigo código apoiava-se no caráter personalíssimo dos alimentos, os quais não podem ser transferidos da pessoa do alimentante ou da pessoa do alimentando. Nesses termos, elucida Euclides de Oliveira: Não se pode quebrantar o caráter personalíssimo da obrigação alimentar entre as pessoas legalmente vinculadas pelo dever da mútua assistência, sob pena de chegar a resultados absurdos em que 135 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Civil. Apelação Cível nº 70007905524, Sétima Câmara Cível. Apelante: G.N.M. Apelado: E.T.V.O. P.S.I.Y.M.O. Relator: Desembargador Luiz Felipe Brasil Santos, Rio Grande do Sul, RS, 22 de dezembro de 2004. Disponível em: < http://www1.tjrs.jus.br/busca/?tb=juris>. Acesso em: 16 maio. 2010. 136 FARIAS; ROSENVALD, 2006, p. 203. 68 o primitivo credor passe a receber alimentos de um estranho, por decorrência do falecimento do devedor que a tanto se achava 137 obrigado. Gomes cita que: A obrigação de prestar alimentos foi considerada dívida do falecido para o efeito de tornar a herança responsável por seu pagamento e, feita a partilha, os herdeiros, cada qual em proporção à sua quota hereditária. Prescreveu com efeito a lei do divórcio (art. 23) que a obrigação de prestar alimentos transmite-se aos herdeiros do devedor. Em se tratando de lei especial, que, na parte dos alimentos, regula um dos efeitos da separação judicial, a estes se limita, continuando em vigor o artigo do Código Civil (art. 402) segundo o qual a obrigação de prestar alimentos não se transmite aos herdeiros do devedor. Claro é que prestações vencidas são dívidas pelas quais 138 responde o espólio. De todo o exposto, levando-se à conclusão pela não transmissibilidade dos alimentos, assevera Pedro Pontes de Azevêdo: No tocante à transmissibilidade da prestação alimentar, apesar de divergências doutrinárias, o entendimento dos nossos Tribunais é no sentido de que não se transmite aos sucessores do alimentante a obrigação de prestar alimentos. Transmite-se, sim, aos herdeiros do devedor a obrigação de pagar as dívidas vencidas e não pagas, sempre respeitando-se os limites da herança. Desta forma, a obrigação alimentar extingue-se com o evento morte do alimentante, ao passo que extingue-se o direito aos alimentos sobrevindo a morte 139 do alimentando. Em resumo, não deve prosperar a ideia de que os alimentos possam ser transferidos, tanto pelo fato de possuírem caráter personalíssimo, que os vincula às pessoas envoltas na relação jurídica, como também por ensejar um desequilíbrio nos casos de divisão da herança, já que, tendo falecido o alimentante e, transmitido aos filhos maiores a obrigação de alimentar o irmão menor, este perceberá herança em valor superior aos demais. Tal exemplo geraria o descumprimento ao princípio da divisão igualitária dos quinhões. Importante destacar que o menor, após a morte de seu alimentante, não ficaria 137 OLIVEIRA, 2005, p. 284. GOMES, 2001, p. 448. 139 AZEVÊDO, Pedro Pontes de et al. Transmissibilidade dos alimentos no ordenamento jurídico brasileiro. Disponível em: <http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=4409>. Acesso em 13 nov. 2009. 138 69 desamparado, pois como herdeiro que é, ao receber sua quota parte, poderá passar a prover sua subsistência. Conclui-se, pois, que por se tratar de uma obrigação personalíssima, os alimentos não admitem transmissão, devendo-se reconhecer a automática extinção pelo falecimento do alimentante ou do alimentando. Devem ser transmitidas aos herdeiros, dentro das forças do espólio, somente aquelas prestações vencidas e não pagas, pois correspondem à dívida do falecido, a qual deve ser transmitida juntamente com seu patrimônio, consagrando, assim, o princípio da Saisine. 70 CONCLUSÃO Depois de exposto, de maneira singela, aspectos referentes à constitucionalização do Direito, com ênfase nos princípios constitucionais aplicáveis ao Direito de Família, aos alimentos em geral, abordando suas principais características, bem como dando enfoque no direito sucessório e, por último, à controvertida questão atinente à transmissibilidade dos alimentos, não se pretendeu sepultar o tema – polêmico por natureza –, mas deduzir que se deve levar em consideração a natureza jurídica inerente aos alimentos, além de seus princípios norteadores. O Direito de Família é o ramo do Direito Civil que nos últimos tempos mais mudanças sofreu em seus regulamentos. Os avanços pelos quais experimenta a sociedade, dinâmica por natureza, refletiram e ainda refletem diretamente nos aspectos atinentes aos conceitos ligados à família, por consequência, as leis precisam acompanhar tais transformações. A produção legislativa não é tão dinâmica a ponto de acompanhar a sociedade pari passu. O Código Civil anterior, cuja vigência permaneceu até o fim do ano 2002, somente regulava a família formada pelo matrimônio, proibindo sua dissolução, além de fazer distinções entre os seus membros, espelhando um perfil totalmente discriminatório. Dessa arritmia, fez-se necessário a premissa de que uma nova visão referente aos diversos contornos adquiridos pela família deva ser sempre levada em consideração, com o intuito de se respeitar a individualidade e importância de seus membros, valorizando o sentimento de igualdade e afetividade nos seus conceitos. A repersonalização do Direito de Família é uma realidade, pois tal ramo sofreu incríveis transformações com o advento da Constituição de 1988, a ponto de ser compreendido como o Direito das Famílias. Demonstrados ao longo deste trabalho os novos perfis adquiridos por institutos do Direito Civil e, mais especificamente, do Direito de Família, foram abordados pontos relevantes a respeito dos alimentos, objeto principal de discussão do tema em comento. 71 Os conceitos e características do Direito das Sucessões, além de sua relação com a obrigação alimentar, foram delimitados a fim de se traçar uma linha de entendimento necessária à elucidação do problema levantado pelo tema da transmissibilidade. Assim, de maneira a tornar clara a compreensão a respeito das divergências ocorridas com relação à questão da transmissibilidade dos alimentos, foi realizado um exame geral da disciplina na tentativa de se chegar a uma conclusão. Para isso, foram abordados os modos de extinção da obrigação alimentar, o caráter personalíssimo dado aos alimentos e, enfim, a divergência encontrada na doutrina e jurisprudência. Apesar de não se pretender exaurir a discussão levantada concernente ao tema, foi imprescindível estipular uma posição, ao reconhecer que, o entendimento pela transmissibilidade dos alimentos adotado por alguns, não levou em consideração importantes questões como o já mencionado caráter personalíssimo dos alimentos. Desse modo, no trabalho houve o posicionamento pela não possibilidade de se transmitirem os alimentos, visto possuírem característica tão peculiar que, por efeito, os vincula àquele que os presta, como também àquele que os recebe, até porque estão intimamente ligados. Logo, com base nos aspectos aludidos, vislumbra-se a intransmissibilidade da obrigação alimentar, pois, do contrário, estaria a confrontar o aspecto caracterizador mais importante dos alimentos, qual seja, seu caráter personalíssimo. 72 REFERÊNCIAS AZEVÊDO, Pedro Pontes de, et al. Transmissibilidade dos alimentos no ordenamento jurídico brasileiro. Disponível em: <http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=4409>. Acesso em: 13 nov. 2009. BACELLAR FILHO, Romeu Felipe. Direito público X Direito privado. Disponível em:<http://www.oab.org.br/oabeditora/users/revista/1205503372174218181901 .pdf>. Acesso em: 10 mar. 2010. BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 9. ed. São Paulo: Malheiros, 1998. BRASIL. Código Civil (2002). São Paulo: Saraiva, 2008. BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. São Paulo: Saraiva, 2010. BRASIL. Lei n. 3.071, de 01 de janeiro de 1916. Revogada pela Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/L3071.htm>. Acesso em: 16 maio 2010. BRASIL. Lei n. 6.515, de 26 de dezembro de 1977. Regula os casos de dissolução da sociedade conjugal e do casamento, seus efeitos e respectivos processos, e dá outras providências. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6515.htm>. Acesso em: 16 maio 2010. BRASIL. Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8069.htm>. Acesso em: 28 abr. 2010. BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Planalto, Brasília, DF, 2010. Disponível em 73 <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406compilada.htm>. Acesso em: 10 maio 2010. BRASIL. Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003. Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências. Planalto, Brasília, DF, 2010. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/2003/L10.741.htm>. Acesso em: 1 maio 2010. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Civil. Recurso Especial nº 532549/RS. Recorrente: Esther Justina Ferronato Laude. Recorrido: Novo Hamburgo Companhia de Seguros Gerais. Relator: Ministro Castro Filho, Brasília, DF, 02 de junho de 2005. Disponível em: <http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/84466/recurso-especial-resp532549-rs-2003-0034164-2-stj>. Acesso em: 11 maio 2010. BRASIL. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Civil. Apelação cível nº 002499-7. Apelante: MPDFT. Apelado: H.G.S. e outros. Relatora: Desembargadora Ana Cantarino, Brasília, DF, 25 de outubro de 2006. Disponível em: <http://tjdf19.tjdft.jus.br/cgibin/tjcgi1?NXTPGM=jrhtm03&ORIGEM=INTER&PGATU=271667&l=&ID=1068 761861&OPT=&DOCNUM=1>. Acesso em: 17 maio 2010. BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Civil. Apelação Cível nº 597151489, Oitava Câmara Cível. Apelante: C.F.J. Apelado: C.F.J.F. Relator: Desembargador Antônio Carlos Stangler Pereira, Rio Grande do Sul, RS, 12 de agosto de 1999. Disponível em:<http://www3.tjrs.jus.br/site_php/jprud2/resultado.php>. Acesso em: 27 abr. 2010. BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Civil. Apelação Cível nº 70014438352, Oitava Câmara Cível. Apelante: J.N.S. Apelado: S.J.A.P. Relator: Desembargador Claudir Fidélis Faccenda, Rio Grande do Sul, RS, 08 de junho de 2006. Disponível em:<http://www3.tjrs.jus.br/site_php/jprud2/resultado.php>. Acesso em: 11 maio 2010. BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Civil. Apelação Cível nº 70014358931, Oitava Câmara Cível. Apelante: A.A.R. Apelado: M.N. Relator: Desembargador Claudir Fidélis Faccenda, Rio Grande do Sul, RS, 08 de junho de 2006. Disponível em: <http://www3.tjrs.jus.br/site_php/jprud2/resultado.php>. Acesso em: 11 maio 2010. 74 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Civil. Agravo de Instrumento nº 70006429096, Sétima Câmara Cível. Agravante: C.A.C.P. Agravado: G.S.R.A.N. Relator: Desembargador Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Rio Grande do Sul, RS, 08 de junho de 2006. Disponível em:<http://www3.tjrs.jus.br/site_php/jprud2/resultado.php>. Acesso em: 17 maio 2010. BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Civil. Apelação Cível nº 70007905524, Sétima Câmara Cível. Apelante: G.N.M. Apelado: E.T.V.O. P.S.I.Y.M.O. Relator: Desembargador Luiz Felipe Brasil Santos, Rio Grande do Sul, RS, 22 de dezembro de 2004. Disponível em: < http://www1.tjrs.jus.br/busca/?tb=juris>. Acesso em: 16 maio. 2010. CAHALI, Francisco José; HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Direito das sucessões. 3. ed. São Paulo: Revista dos tribunais, 2007. CAHALI, Yussef Said. Dos alimentos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. CAMPOS, Adelina Bitelli. Distinção entre companheira e concubina: efeitos patrimoniais. Justitia, São Paulo, v. 53, n. 156, p. 93-95, out./dez. 1991. Disponível em: <http://bdjur.stj.gov.br/dspace/handle/2011/23495>. Acesso em: 08 maio 2010. CHINELATO, Silmara Juny. Comentários ao Código Civil: parte especial: do direito de família. In: AZEVEDO, Antônio Junqueira de (coord.). São Paulo: Saraiva, 2004, v. 18. DIAS, Maria Berenice. Manual de direito de famílias. 4. ed. São Paulo: Revista dos tribunais, 2007. DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2008. DUPAS, Gilberto. Tensões contemporâneas entre o público e o privado. São Paulo: Paz e Terra, 2003. Enunciado 341 da IV Jornada de Direito Civil, 2006, do Conselho da Justiça Federal. Disponível em: 75 <http://daleth.cjf.jus.br/revista/enunciados/IVJornada.pdf>. Acesso em: 01 maio 2010. FARIAS, Cristiano Chaves de. Alimentos decorrentes do parentesco. In: CAHALI, Francisco José; PEREIRA, Rodrigo da Cunha (Coords.) Alimentos no código civil. São Paulo: Saraiva, 2005. FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direito Civil: teoria geral. 5. ed. Rio de Janeiro: Lumen juris, 2006. ______. Direito das famílias. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. FINGER, Julio Cesar. Constituição e direito privado: algumas notas sobre a chamada constitucionalização do direito civil. In: SARLET, Ingo Wolfgang (org.). A Constituição concretizada: construindo pontes com o público e o privado. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000. GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil. São Paulo: Saraiva, 2002. GOMES, Orlando Gomes, Direito de família. 14. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001. LÔBO, Paulo Luiz Netto. Constitucionalização do direito civil. Disponível em:<http://www.senado.gov.br/web/cegraf/ril/Pdf/pdf_141/r141-08.pdf>. Acesso em: 15 mar. 2010. ______. Famílias. São Paulo: Saraiva, 2009. MONTEIRO, Washington de Barros. Direito de Família. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 1980. MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2004. MORAES, Maria Celina Bodin de. O Princípio da Dignidade Humana. In: MORAES, Maria Celina Bodin de [org.]. Princípios do direito civil contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. 76 NEVES, Murilo Sechieri Costa. Capítulo III: Do direito patrimonial. In: BONFIM, Edilson Mougenot (coord.). Direito civil 5: Direito de família. São Paulo: Saraiva, 2005. OLIVEIRA, Euclides de. Alimentos: Transmissão da obrigação aos herdeiros. In: CAHALI, Francisco José; PEREIRA, Rodrigo da Cunha (coords.). Alimentos no Código Civil: aspectos civil, constitucional, processual e penal. São Paulo: Saraiva, 2005. OLIVEIRA. Suzana Marques. Princípios do direito de família e guarda dos filhos. Belo Horizonte: Del Rey, 2009. PEREIRA, Tânia da Silva. Dos alimentos: direito do nascituro e os alimentos no Estatuto da Criança e do Adolescente. In: CAHALI, Francisco José e PEREIRA, Rodrigo da Cunha (coords.) Alimentos no código civil. São Paulo: Saraiva, 2005. PERLINGIERI, Pietro. Perfis de Direito Civil: introdução ao direito civil constitucional. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. PINTO, Cristiano Paixão Araújo. Arqueologia de uma distinção: o público e o privado na experiência histórica do direito. In: PEREIRA, Cláudia Fernanda de Oliveira [org.]. O novo Direito Administrativo brasileiro: o Estado, as Agências e o Terceiro Setor. Belo Horizonte: Fórum, 2003. PORTANOVA, Rui. Princípios do Processo Civil. 4. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001. REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. 24. ed. São Paulo: Saraiva, 1998. SEREJO, Lourival. Direito constitucional da família. 2. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2004. TEPEDINO, Gustavo. Temas de direito civil – Tomo III. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. 77 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: parte geral. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2006. VIANA, Marco Aurélio S. Alimentos. Belo Horizonte: Del Rey, 1998.
Download