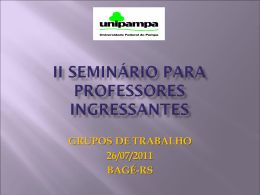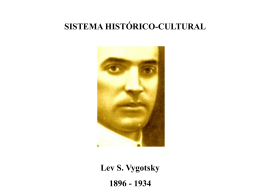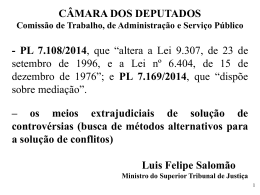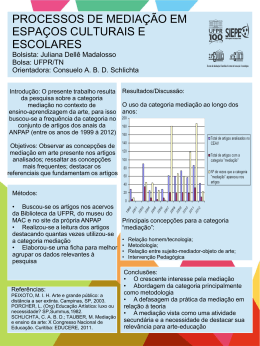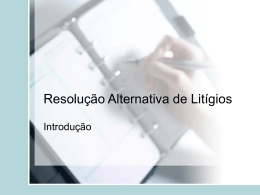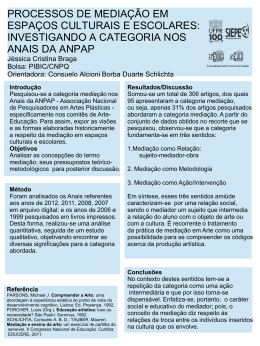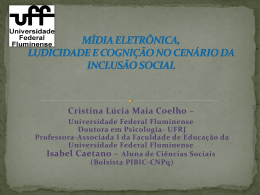1 PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO MESTRADO EM DIREITO ÁREA DE CONCENTRAÇÃO EM DEMANDAS SOCIAIS E POLÍTICAS PÚBLICAS LINHA DE PESQUISA EM POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCLUSÃO SOCIAL Ana Carolina Ghisleni O DESCRÉDITO NA JURISDIÇÃO E A MEDIAÇÃO ENQUANTO POLÍTICA PÚBLICA EFICAZ NO TRATAMENTO DOS CONFLITOS CONFORME A RESOLUÇÃO Nº 125 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ Santa Cruz do Sul 2011 2 Ana Carolina Ghisleni O DESCRÉDITO NA JURISDIÇÃO E A MEDIAÇÃO ENQUANTO POLÍTICA PÚBLICA EFICAZ NO TRATAMENTO DOS CONFLITOS CONFORME A RESOLUÇÃO Nº 125 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ Dissertação apresentada ao Programa de PósGraduação em Direito – Mestrado e Doutorado – Área de Concentração em Demandas Sociais e Políticas Públicas da Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC, como requisito parcial para obtenção do título de Mestre em Direito. Orientadora: Profª Pós-Doutora Fabiana Marion Spengler Santa Cruz do Sul 2011 3 Ana Carolina Ghisleni O DESCRÉDITO NA JURISDIÇÃO E A MEDIAÇÃO ENQUANTO POLÍTICA PÚBLICA EFICAZ NO TRATAMENTO DOS CONFLITOS CONFORME A RESOLUÇÃO Nº 125 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ Esta dissertação foi submetida ao Programa de Pós-Graduação em Direito – Mestrado e Doutorado – Área de Concentração em Demandas Sociais e Políticas Públicas da Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC, como requisito parcial para obtenção do título de Mestre em Direito. _________________________________________________ Profª. Pós-Doutora Fabiana Marion Spengler Professora Orientadora ___________________________________________________ ____________________________________________________ 4 Aos meus pais, por tudo que sempre fizeram por mim! 5 AGRADECIMENTOS Agradecer a todos que contribuíram para a construção da minha dissertação não é tarefa fácil. A dificuldade reside não só em quem incluir, mas principalmente em quem não mencionar. Meu maior agradecimento com certeza é aos meus pais, Elemar Ghisleni e Maria Inês Werlang Ghisleni, pelo apoio incondicional recebido ao longo de tantos anos, sem o qual não teria sido possível realizar este período de estudos. Sou muito grata a eles por seus ensinamentos diários, pelo auxílio na construção de meus próprios valores, por terem me proporcionado estudo de qualidade ao longo da vida e por terem demonstrado na prática a importância de estudar e ter disciplina, pelo exemplo de vida, pela paciência e por todas as vezes que abdicaram de seu tempo em favor do meu. Agradeço também a confiança depositada em mim, muito importante para a elaboração da presente dissertação, a qual foi cuidadosamente corrigida por eles. Meu agradecimento se estende também ao meu irmão Alfredo pela compreensão e todo auxílio recebido. Agradeço de forma especial ao restante da minha família, em especial à minha avó Maria Herden Werlang, que durante a realização deste trabalho sempre me incentivou e tentou entender minhas ausências. No âmbito acadêmico, quero registrar de forma muito carinhosa meu sincero e eterno agradecimento à minha professora orientadora, Profª PósDoutora Fabiana Marion Spengler, por todo o crédito depositado no meu trabalho, pelos ensinamentos e experiências compartilhadas, pelas dúvidas dirimidas e suscitadas. Agradeço tudo que foi feito por mim neste período, especialmente o verdadeiro vínculo de amicizia criado. Agradeço ainda as correções atentas, sugestões, livros emprestados, todo apoio recebido, paciência despendida e oportunidades oferecidas, de forma muito especial o intercâmbio de estudos realizado na Università degli Studi di Roma Tre, em Roma, na Itália; agradeço também por poder fazer parte do projeto de extensão que tanto contribuiu para minha formação e meu crescimento não só profissional. 6 Quero agradecer os valiosos ensinamentos do professor Eligio Resta, os quais contribuíram de forma pontual na elaboração desta dissertação. Agradeço aos demais professores do Programa de Pós-Graduação, Mestrado em Direito da UNISC, pelas considerações que foram certamente muito importantes para minha formação acadêmica, a partir dos ensinamentos repassados. Agradeço à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES pela bolsa concedida durante os anos do curso. Aos colegas– agora amigos – pelos momentos partilhados, de forma especial à Aline Swarovsky! Agradeço, ainda, a todos os meus amigos que me deram força e apoio durante este período, em especial minhas amigas Camila Assmann, Daniela Jandrey, Debora R. Franken, Pâmela Zacharias, Tatiana Straatmann e Tatiane F. Soares por tudo que representam na minha vida. Por fim, porém não menos importante, agradeço ao meu namorado Thiago André Werner por toda a ajuda recebida, todo estímulo e compreensão durante esta fase. Muito obrigada! 7 “O ser humano deve desenvolver, para todos os seus conflitos, um método que rejeite a vingança, a agressão e a retaliação. A base para esse tipo de método é o amor.” Martin Luther King 8 RESUMO O debate proposto objetiva apontar o momento de descrença vivido pelo cidadão brasileiro, o qual não mais acredita em seu semelhante e nas instituições públicas, especialmente aquelas vinculadas às atividades jurídicas, investigando se a mediação de conflitos é instrumento capaz de restaurar a confiança. Vinculase, portanto, diretamente com a linha de pesquisa Políticas Públicas de inclusão social do Mestrado em Direito da UNISC, já que estuda a possibilidade de se construir políticas de inclusão social e ampliação da participação política e da cidadania a partir da mediação. Nesse sentido, a dúvida que embasou o desenvolvimento da pesquisa foi se a mediação de conflitos, enquanto política pública instituída pela Resolução nº 125, do CNJ, seria capaz de restabelecer a confiança do cidadão, já que compreende um mecanismo autônomo e democrático. Para tanto, empregou-se o método de abordagem hipotéticodedutivo e a técnica de pesquisa bibliográfica. As crises que a função jurisdicional do Estado vem enfrentando contribuem para o aumento da desconfiança do cidadão e são comprovadas pelo Relatório Justiça em Números, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça, que expõe de forma detalhada a situação complexa em que se encontra o Judiciário brasileiro. Para modificar esta situação, é necessária uma quebra de paradigma por meio da modificação da cultura do litígio que se vive atualmente. Nesse sentido, a pesquisa direciona-se para um entendimento positivo do conflito social e para a utilização dos mecanismos alternativos de resolução de conflitos, os quais oferecem uma nova forma de tratá-los, desvinculando-se do Judiciário e modificando a postura dos litigantes. Tais métodos são utilizados há muito tempo em vários países e dentre eles a mediação de conflitos se destaca dos demais em face de seu caráter consensuado e promotor de autonomia, já que são as próprias partes que constroem um acordo, comprometendo-se a cumpri-lo e responsabilizando-se por ele. No Brasil, através da Resolução 125, do CNJ, a mediação de conflitos, juntamente com a conciliação, foi instituída como política pública de tratamento adequado dos litígios e já vem sendo utilizada na resolução de demandas. O exemplo prático do projeto existente na cidade de Santa Cruz do Sul pode oferecer uma resposta concreta sobre a utilização da mediação enquanto política pública de tratamento de litígios. Palavras-chave: Crise do Judiciário. Falta de confiança. Mediação de conflitos. Políticas públicas. 9 RIASSUNTO Il dibattito proposto obiettiva appuntare il momento di incredulità vissuto da cittadino brasiliano, che non crede più nei suoi simili e nelle istituzioni pubbliche, soprattutto quelli legati ad attività legali, indagando se la mediazione dei conflitti è strumento capace di ripristinare la fiducia. È vincolato con la linea di ricerca Politiche Pubbliche di inclusione sociale, del Master of Diritto dell’UNISC, perchè studia le possibilità di costruzione di politiche di inclusione sociale e espansione della partecipazione politica e della cittadinanza. In questo senso, l’indagine che ha imbasato lo sviluppo della ricerca fu se la mediazione dei conflitti, come una politica pubblica stabilita dalla Risoluzione 125 del Consiglio Nazionale della Giustizia, sarebbe in grado di ristabilire la fiducia dei cittadini, che è un meccanismo autonomo e democratico. Per questo, abbiamo usato il metodo di approccio ipotetico-deduttivo e la tecnica di ricerca letteratura. Le crisi che il giudiziario passa attualmente aggrava la crisi di fiducia del cittadino e vengono comprovate dal Rapporto Giustizia in Numeri, promossa del Consiglio Nazionale della Giustizia, che espone in dettaglio la situazione complessa in cui si trova il giudiziario brasiliano. Per cambiare questa situzione, necessaria una rottura di paradigma attraverso la modificazione della cultura della controversia che se vive attualmente. In questo senso, la ricerca va in direzione di una comprensione positiva del conflitto sociale e per l’utilizzo di meccanismi alternativi di risoluzione dei conflitti, che offrono un nuovo modo di trattarle, disobbligando dei giudiziario e cambiando la postura dei litiganti. Tali metodi sono utilizzati per longo periodo in diverse paesi e tra di loro la mediazione dei conflitti si stacca perchè suo carattere consensuale e promotore di autonomia, perche sono le parti che costruiscono un accordo, impegnandosi per esso e assumendo la responsabilità per lui. In Brasile, attraverso la Risoluzione 125 del Consiglio Nazionale della Giustizia, la mediazione dei conflitti, insieme con alla conciliazione, è stata fondata come una politica pubblica di trattamento adeguato alle controversie ed è già utilizzato nel trattamento dei conflitti. L’esempio pratico del progetto esistente a Santa Cruz do Sul è la prova che la mediazione É un meccanismo capace di ristabilire l’autonomia individuale e la fiducia nei cittadini. Parole-chiave: Crisi del sistema giudiziario. Mancanza di fiducia. Mediazione dei conflitti. Politiche pubbliche. 10 SUMÁRIO INTRODUÇÃO ..................................................................................................... 12 1 A CRISE DO PODER JUDICIÁRIO BRASILEIRO E A (DES)CONFIANÇA DO CIDADÃO REFLETIDA NOS NÚMEROS DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA .............................................................................................................. 17 1.1 Considerações sobre a (des)confiança do cidadão em face das crises enfrentadas pelo Poder Judiciário ........................................................................ 18 1.2 As crises da função jurisdicional, suas causas, consequências e dificuldades enfrentadas em face da complexidade social....................................................... 31 1.3 O Relatório Justiça em Números do Conselho Nacional de Justiça e a comprovação prática da cultura de litigiosidade ................................................... 47 2 A IMPORTÂNCIA DO CONFLITO SOCIAL, OS MÉTODOS ALTERNATIVOS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS E A MEDIAÇÃO: A NECESSÁRIA BUSCA PELA CULTURA DA PAZ ................................................................................... 56 2.1 A relevância do conflito social e sua interação com as relações de poder ..... 57 2.2 O papel dos métodos consensuais de tratamento de litígios na busca pela cultura da paz ....................................................................................................... 71 2.3 Aspectos históricos da prática da mediação no mundo: da origem à disseminação ....................................................................................................... 84 3 A MEDIAÇÃO COMO POLÍTICA PÚBLICA DE TRATAMENTO DE CONFLITOS COM BASE NA RESOLUÇÃO Nº 125 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ: A TEORIA E A PRÁTICA .................................................. 94 3.1 A mediação como instrumento consensual, democrático e autônomo de tratar os conflitos sociais, capaz de restabelecer a confiança do cidadão ..................... 95 3.1.1 Reflexões sobre a importância do papel do mediador e as características práticas da mediação ......................................................................................... 104 3.2 A importância das políticas públicas para o desenvolvimento social e para a concretização de uma nova cultura .................................................................... 112 3.3 A Resolução nº 125 do Conselho Nacional de Justiça e a instituição de uma política nacional no tratamento dos conflitos ...................................................... 118 11 3.4 A comprovação prática das vantagens da mediação enquanto política pública em face do projeto existente em Santa Cruz do Sul .......................................... 131 CONCLUSÃO .................................................................................................... 138 REFERÊNCIAS .................................................................................................. 144 ANEXO A - Relatório Justiça em Números 2010 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ......................................................................................................151 ANEXO B – Resolução nº 125 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ......................................................................................................................341 ANEXO C – Gráficos do projeto de extensão .................................................370 12 INTRODUÇÃO As dificuldades pelas quais a função jurisdicional do Estado passa são aparentes e estão ocasionando problemas para a sociedade brasileira. As principais deficiências enfrentadas se referem à crise de identidade, que consiste na perda ou diminuição do poder decisório, e à crise de eficiência, a qual se traduz na dificuldade de oferecer retorno eficiente à conflituosidade social e aos litígios processuais, entre outras. Paralelamente, o cidadão, que já não confia mais em seu semelhante e acaba levando ao Judiciário todo tipo de situação, está desiludido com a resposta estatal, na medida em que ela não resolve efetivamente a demanda. Partindo destas considerações, a finalidade do debate proposto envolve o estudo da mediação enquanto política pública de tratamento de conflitos, instituída no país pela Resolução nº 125, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ como uma nova forma de tratamento de conflitos. Trata-se de uma proposta inovadora que pretende modificar a cultura do litígio, por meio da instituição da prática do consenso. Nesse sentido, a escolha do tema ocorreu justamente em razão da necessidade de se apresentar outro modelo de resolução de demandas, desvinculando-se das decisões impostas pelo Estado – inadequadas e sem resultado prático efetivo – e trazendo uma nova postura cultural para toda a sociedade. Assim, sabendo-se da situação atual do Poder Judiciário e da cultura da judicialização de conflitos, a indagação central que norteou o desenvolvimento do presente trabalho foi a possibilidade e viabilidade de substituir a forma atual de tratamento de litígios por um instrumento voltado para a autonomização do sujeito, ao mesmo tempo restaurando sua confiança. A jurisdição moderna encontra limites que impossibilitam o desempenho de suas tarefas de forma satisfatória, de modo que uma nova configuração no tratamento de conflitos – consensuado e autônomo – é necessário para a obtenção de uma resposta democrática e satisfatória. Para tanto, o método de abordagem utilizado na investigação foi o hipotético-dedutivo, que parte de um problema ao qual se oferece uma solução provisória por meio de hipótese, passando-se posteriormente a analisar a viabilidade da solução. Já os métodos de procedimento empregados na execução 13 do presente trabalho compreendem o método histórico, que busca a investigação de situações ocorridas no passado para verificar sua influência na sociedade atual, bem como o monográfico, o qual consiste no estudo de grupos, indivíduos, comunidades, instituições, entre outros, a fim de obter generalizações e conceituações. A técnica de pesquisa utilizada, por sua vez, foi a documentação indireta, a qual compreende o levantamento de dados através de pesquisa bibliográfica. Deste modo, a partir de consultas em livros e artigos relativos ao tema, bem ainda por meio de leituras e sínteses de ensinamentos dos aplicadores do Direito sobre o assunto, utilizou-se os seguintes autores como fundamentação de base: Eligio Resta, Luis Alberto Warat e Fabiana Marion Spengler. De outro lado, destaca-se a importância científica e social desta pesquisa, não somente pelo reduzido número de publicações e exploração acerca do tema, mas pela amplitude da estratégia proposta. A análise se dirige para um novo paradigma de tratamento de conflitos fundamentado na cultura do consenso; é o caráter democrático e autônomo da mediação, baseado na alteridade, cooperação mútua e solidariedade, que promove o entendimento através da comunicação e do diálogo. Neste mesmo contexto, a relevância do trabalho também encontra respaldo nas considerações trazidas ao ambiente acadêmico, enriquecendo o debate até o momento apresentado. O presente trabalho vincula-se diretamente com a linha de pesquisa “Políticas públicas de inclusão social”, já que esta busca delimitar as condições e possibilidades de gestão dos interesses públicos a partir da construção de políticas de inclusão social e participação política da cidadania, enquanto que aquele se trata da análise da mediação como política pública no tratamento de conflitos em face das crises do Poder Judiciário para restabelecer a confiança do cidadão. Logo, fica clara a conexão existente, vez que a mediação também é instrumento de inclusão social e acesso à justiça, porquanto permite a resolução de forma individualizada de litígios, ao mesmo tempo em que promove a participação intensa dos cidadãos, gerando responsabilização e autonomia política. Nesse sentido, para desenvolver o tema proposto, o presente estudo está dividido em três capítulos. O primeiro deles debate de forma ampla a descrença 14 do cidadão brasileiro na jurisdição, em face dos problemas enfrentados por ela, e a importância tanto da confiança interpessoal quanto nas instituições para o fortalecimento social e existência de cultura política. Quanto mais confiança existir, mais associativa será a sociedade, mais politicamente envolvido o cidadão e mais estável a democracia. No entanto, não é de hoje que o Poder Judiciário enfrenta dificuldades; suas crises envolvem desde as dificuldades materiais, subjetivas, paradigmáticas, até a lentidão dos procedimentos, burocracias, o excesso de ritos, formalismos e simbolismos, a mitificação do papel do juiz, entre outros. O problema da cultura do litígio também faz parte deste quadro de deficiências, a qual já vem inserida nas universidades; os operadores jurídicos são ensinados a litigar, ao mesmo tempo em que os docentes – muitas vezes despreparados para a função – apenas transmitem o conhecimento jurídico oficial e não exigem a produção de conhecimento científico. De outro lado, muitas são as causas dessas crises e muitas também são suas consequências, refletidas diretamente na sociedade brasileira, cujos índices de participação política estão cada vez mais baixos. Diversas pesquisas revelam a falta de credibilidade social no Judiciário brasileiro. Ainda no primeiro capítulo, apresentam-se de forma prática os problemas enfrentados pela função jurisdicional do Estado a partir das informações contidas no Relatório Justiça em Números, do Conselho Nacional de Justiça, referente ao ano de 2010. O documento busca quantificar os dados referentes à justiça brasileira neste período e os números são alarmantes: tramitaram no ano de 2010, por exemplo, cerca de 83,3 milhões de processos nas três esferas da Justiça (Federal, Estadual e Trabalhista). Assim, com o intuito de propor um novo modelo e uma nova cultura, o segundo capítulo debate o conflito social e sua relevância sociológica, analisandoo através de uma visão positiva. Ele não pode ser visto e entendido como uma patologia social, mas sim, como um fenômeno humano, complexo e derivado de uma multiplicidade de fatores, capaz de gerar transformações e evoluções sociais. Por isso a necessidade de desvincular o tratamento de todo conflito pelo Judiciário, já que este, preocupado em garantir segurança e certeza em espaço e procedimentos previamente delineados, bem como restabelecer a ordem jurídica 15 mediante expedientes legais, apenas decide os conflitos sem valorizar seu conteúdo, tão somente reinterpretando-os. Logo, a necessidade de buscar outras formas de tratar as controvérsias em face das falibilidades encontradas nos atuais métodos de resolução de litígios é latente. Para auxiliar nesta problemática, os métodos alternativos de resolução de disputas surgem como uma alternativa eficaz, pois trabalham o conflito adequadamente desde sua origem, pressupõem seu reconhecimento subjetivo, bem como a responsabilização e a auto-definição do problema. Além disso, a utilização de tais métodos reflete e influencia cada comunidade, tornando-se importantes instrumentos na concretização de outra cultura. Estas estratégias, por sua vez, requerem a participação pessoal das partes; de todas elas, no entanto, a mediação de conflitos possui maior destaque em face de seu caráter autônomo e consensuado, capaz de restabelecer a relação social entre os litigantes. Sua utilização é bastante longínqua e remonta à Antiguidade, época em que os chineses, influenciados pelas ideias do filósofo Confúcio, já praticavam a mediação como principal meio de solucionar seus problemas. A história da evolução da mediação pelo mundo é, portanto, antiga e nos primórdios da história ela era exercida por pessoas dotadas de uma habilidade natural, sem qualquer capacitação específica. Desta forma, o terceiro capítulo aborda a mediação de conflitos de forma extensa, debatendo suas principais características, seu embasamento teórico, passando pela figura importante do mediador, bem como as técnicas utilizadas e seus procedimentos. Propõe também a discussão da importância das políticas públicas para o desenvolvimento social e suas contribuições para uma mudança de cultura, vez que consistem em ações voltadas ao atendimento das demandas sociais, focadas nos resultados das decisões tomadas pelo governo, em uma perspectiva que vai além dos aspectos de políticas governamentais. Aborda-se no último capítulo, ainda, a Resolução nº 125, do Conselho Nacional de Justiça, a qual instituiu no Brasil a política nacional de tratamento adequado aos conflitos, determinando a utilização da mediação e conciliação nas lides processuais. Certamente o documento traz importantes contribuições para a necessária quebra de paradigmas, contudo, possui algumas fragilidades que merecem atenção e destaque. A publicação da Resolução justifica-se também 16 pela realização do princípio constitucional do acesso à Justiça, já que a Constituição Federal não assegura um acesso meramente formal à Justiça, mas sim qualificado, o que atualmente não está sendo alcançado somente com o Judiciário. Por fim, apresenta-se um projeto de extensão existente na cidade de Santa Cruz do Sul-RS, vinculado ao Mestrado e Doutorado em Direito da Universidade de Santa Cruz do Sul-UNISC e ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, intitulado “A crise da jurisdição e a cultura da paz: a mediação como meio democrático, autônomo e consensuado de tratar dos conflitos”. Suas atividades consistem na realização de mediações em processos judiciais em andamento e seus resultados – quantificados e devidamente apurados – indicam vantagens na utilização do instrumento e já demonstram a inserção lenta de uma postura diferente na comunidade local. Deste modo, a discussão está centrada em uma proposta nova no tratamento de conflitos, a partir da construção do consenso pelas partes e não mais induzido, ultrapassando a via da jurisdição tradicional. Esta nova alternativa proporcionada pela mediação pressupõe uma convivência baseada na cidadania, participação social e autonomia individual, tornando-se uma possibilidade adequada à complexidade conflitiva atual. 17 1 A CRISE DO PODER JUDICIÁRIO BRASILEIRO E A (DES)CONFIANÇA DO CIDADÃO REFLETIDA NOS NÚMEROS DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA O presente capítulo estuda as crises que o Judiciário atravessa atualmente e que fazem parte de um quadro cada vez mais intrincado de problemas, tendo-se como paradigma a continuidade da ideia de Estado de Direito como instrumento apto, eficaz e indispensável para o tratamento de litígios. Muitas são as causas destas deficiências que provocam na sociedade resultados avassaladores; inicia na formação dos bacharéis em Direito com as falhas do ensino jurídico, desde a estrutura do Poder Judiciário, passando pelo excesso de ritualização e a ideia de que os juízes devem julgar todo e qualquer conflito. As deficiências que o Estado enfrenta provocam inicialmente uma crise de identidade, que consiste na perda ou diminuição de seu poder decisório, aliada a crise de eficiência, que se traduz na dificuldade de oferecer retorno eficiente à conflituosidade social e aos litígios processuais. A discussão proposta no presente capítulo também objetiva pontuar paralelamente outras dificuldades geradas por tais deficiências, como a crise política – que compreende a gradativa extinção de princípios que nortearam a organização política – e da democracia. Todos esses problemas acontecem sob diversas perspectivas e desembocam na falta de confiança do cidadão em relação ao Estado, gerando um círculo vicioso, pois essa perda de confiança do sujeito promove de outro lado a crise do próprio direito. Paradoxalmente diminui-se a participação do cidadão e a vontade política de se adotar um novo modelo cultural, baseado na pacificação social. Deste modo, a pesquisa relativa à confiança será pautada, em um primeiro momento, na explosão de litigiosidade existente a partir da falta de confiança do cidadão nos outros indivíduos, o que gera a judicialização dos conflitos, na medida em que os sujeitos se tornam dependentes de uma instituição para buscar a resolução de seus problemas. Posteriormente, será analisada a falta de confiança do cidadão no próprio Poder Judiciário, instância a qual ele recorre para tratar o litígio à espera de segurança e certeza, porém só recebe frustração e desconfiança, sem resolver de fato o problema. 18 Para demonstrar de forma prática esta situação, apresenta-se o Relatório Justiça em Números, produzido pelo Conselho Nacional de Justiça – órgão responsável pelo controle e transparência do Poder Judiciário – no ano de 2009 contendo números impressionantes, corroborando o fato de que se vive a judicialização dos conflitos. Este declínio institucional necessita de ajustes entre sociedade e Estado, pois as controvérsias continuam a existir e seguem precisando de uma resolução. 1.1 Considerações sobre a (des)confiança do cidadão em face das crises enfrentadas pelo Poder Judiciário O cidadão atual está descrente. A confiança enquanto valor cultural associado ao comportamento humano está cada vez menos presente não só nas relações entre os homens, na medida em que deixaram de acreditar uns nos outros, mas também entre o cidadão e as instituições. Nesta linha, será analisada de forma ampla a confiança – suas características e percepções que a acompanham – bem como a falta dela em relação aos indivíduos entre si e a descrença existente no Poder Judiciário, o qual enfrenta problemas que acabam afastando-o da sociedade e não permitindo um tratamento satisfatório às demandas que a ele recorrem. Deste modo, a confiança é um bem comum central, derivado da racionalidade, também compreendida como um reflexo, o espelho de uma reciprocidade. O fato é que a palavra confiança possui ampla percepção: antes de tudo, é um reclamo a estar atento, a não baixar a guarda 1, e é parte nuclear da orientação e finalização do agir. Intervém nos processos de valoração coletiva, individual e institucional, fazendo parte de qualquer sistema de relações: é um sentimento de segurança que deriva do confiar em qualquer um ou em qualquer coisa, uma convenção pessoal de certeza e verdade que não pode ser forçada 2. 1 DONOLO, Carlo. Fiducia: un bene comune. Parolechiave, Roma, n. 42, dez. 2009, p. 2. Prima di tutto è un richiamo a stare attenti, a non abblasare la guardia. 2 BIASE, Paola Gaiotti de. Fede e fiducia. Parolechiave, Roma, n. 42, p. 10, dez. 2009. È un sentimento di sicurezza che deriva dal confidare in qualcuno o in qualcosa, una convinzione personale di correttezza e verità, che non può essere forzata. 19 Quando se fala em confiança e reciprocidade, não se pode perder de vista que a primeira é essencialmente um conceito relacionado com a interação entre atores. Em sociedades onde os atores acreditam que o comportamento confiante será recompensado e que a interação contínua em um período de tempo cria um padrão duradouro de reciprocidade, a cooperação é muito mais viável. Por esta razão, cria dependência de sentido, estimulando a cooperação de forma que a ação coletiva tende a durar tanto quanto os ciclos viciosos de desconfiança e alternativas hierárquicas, hobbesianas. A confiança é construída durante um longo período de tempo e, uma vez estabelecida, tende a continuar no tempo, ainda que exija constante exercício3. Além disso, é entendida como um nível particular de probabilidade subjetiva com o qual um sujeito estima que outro agente ou grupo de agentes fará determinada ação, antes ainda de poder monitorar esta ação, e em um contexto em que esta ação do outro terá efeito sobre o curso da sua 4. Quando alguém consegue obtê-la, estabelece-se uma relação interpessoal baseada na comunicação5 e no compartilhamento de valores e experiências, construindo-se uma ponte entre a confiança dos sujeitos. Por isso, a confiança é fortemente ligada à reciprocidade6e responsável pela estrutura e coesão social como um todo. Ao mesmo tempo em que constrói relações, movimenta recursos, dimensiona identidades, coloca crenças em jogo, alimenta convenções morais, endereça atitudes, legitima escolhas7. De outro lado, sentimentos negativos podem acompanhar a confiança – que é também uma emoção e pode ser racional quando deliberada, tornando-se senso de um legado social vigente e vital – quando concedida e posteriormente 3 RENNÓ, Lucio R. Confiança interpessoal e comportamento político: microfundamentos da teoria do capital social na América Latina.Opinião Pública, vol.7, nº 1. Campinas: 2001. 4 DONOLO, Carlo. Fiducia: un bene comune. Parolechiave, Roma, n. 42, dez. 2009, p. 14. Diego Gambetta definisce la fiducia come “il particolare livello di probabilità soggettiva con il quale un agente valuta che un altro agente o gruppo di agenti farà una certa azione, prima di poter monitorare quest’azione e in un contesto in cui l’azione dell’altro ha un effeto sul corso delle sue azioni”. 5 DONOLO, Carlo. Fiducia: un bene comune. Parolechiave, Roma, n. 42, dez. 2009, p. 13. Una piccola lezione potrebbe essere: non abbiamo fiducia se non ne parliamo. Con l’avvertenza che la fiducia è uno stato sottopodotto, per cui stiamo comunque commentando qualcosa che in qualche misura c’è già o di cui abbiamo memoria, che abbiamo coprodotto in discorsi e interazioni precedenti. 6 BIASE, Paola Gaiotti de. Fede e fiducia. Parolechiave, Roma, n. 42, dez. 2009. La fiducia è fortemente legata allá reciprocità. 7 RESTA, Eligio. Le regole della fiducia. Roma: Laterza, 2009, p. 7. 20 infundada, gerando ressentimentos, inveja e rancor; quando isso acontece, o vocábulo acaba se utilizando de autoengano, malícia e frustração. Ou seja, de crença traída se morre, mas daquela presenteada se vive8. Além disso, a experiência subjetiva entre o dar e ter confiança é a base também de seus outros sensos enquanto bem social: crença em regras, na sua racionalidade ou ao menos necessidade, nas instituições, no próprio ser humano, entre outros. É bem verdade que se pode ter confiança e também dá-la, conservá-la por qualquer coisa ou qualquer pessoa, bem ainda cultivá-la como se pode cultivar, já dizia Max Weber, a confiança na legitimidade de um poder9. Os sujeitos têm a necessidade de reforçar a confiança – que nem sempre está sólida – em face da pessoa do confessor, solicitando o juramento: “dammila tua parola d’onore, che non lodirai a nessuno” (ou seja, dá-me sua palavra de honra que não contarás a ninguém). Esse pedido gera a obrigação de guardar o segredo, vinculando o sujeito a uma sanção em caso de eventual transgressão, de modo que dentro deste discurso estratégico o risco da confissão já vem institucionalmente calculado10. Quando existe este cálculo do risco diz-se que há um movimento oscilatório entre confiança e desconfiança, termos que se tornam cúmplices e rivais. De outro lado, quando traduzida na linguagem jurídica, que é aquela do cálculo e previsibilidade dos riscos, ela deixa de ser confiança. Isso ocorre pois, quando o direito intervém, é porque a confiança já se tornou um risco insuportável, e assim não se pode mais confiar na confiança. Isso significa que possuir confiança não corresponde exatamente a ser confiante; este trajeto de pedir e obter confiança, na verdade, é duplo. Há grande diferença na dimensão da relação de troca entre quem investe confiança e em quem é investido11. O traço do caráter performativo da confiança, muito antes dos especialistas fornecerem uma teoria, era bem presente no pensamento jurídico e filosófico do 8 RESTA, Eligio. Le regole della fiducia. Roma: Laterza, 2009. La fiducia è un bene virtuale, simbolico in alto grado, che segnala se è fino a quanto siamo esseri sociali e perchè. È anche un’emozione, razionale quando deliberata, il senso di un legame sociale vigente e vitale. La bella parola si accoppia volentieri ad autoinganno, malevolenza e frustrazione. 9 RESTA, Eligio. Le regole della fiducia. Roma: Laterza, 2009, p. 7.Come si può coltivare, diceva Max Weber, la fiducia nella legittimità di un potere. 10 RESTA, Eligio. Le regole della fiducia. Roma: Laterza, 2009, p. 6. 11 RESTA, Eligio. Le regole della fiducia. Roma: Laterza, 2009, p. 8. Quello della calcolabilità e della prevedibilità dei rischi. 21 mundo antigo. Por isso, aqui se torna importante resgatar seu significado semântico. Nem único nem linear o percurso semântico da confiança, mas sempre rico: destinado a depauperar-se e outras vezes a arriscar-se, a mudar formas ou a ver transformações e conteúdos. Nesse sentido, a semântica desliza através dos jogos de comunicação, regras e expectativas, prática e símbolo, gratuidade e obrigatoriedade, passa de uma esfera de ação a outra, trocando de sinal e cor12. De outro lado, a confiança interpessoal e a confiança nas instituições são variáveis centrais no estudo da cultura política de uma sociedade. Quanto mais confiança existe, mais associativa a sociedade, mais politicamente envolvido o cidadão e mais estável a democracia. Aliados à confiança, fatores como solidariedade e tolerância são outros atributos do comportamento cívico, o que significa que uma cultura política permite a coexistência de pontos de vista divergentes. Contudo, é a confiança que reforça a ação coletiva, pois minimiza os comportamentos oportunistas, que podem ser entendidos como uma preferência por atos isolados e imediatistas, em vez de envolvimento em empenhos coletivos13. Partindo deste pressuposto, constata-se que atualmente a sociedade brasileira possui baixo índice de participação política. A falta de confiança do povo na classe política é a expressão desse sentimento de alienação do poder de participar da gestão da coisa pública, que não é mais vista como questão da cidadania, mas dos próprios titulares da gestão, os quais se apropriam dela e de seus fins, numa ruptura com a legitimidade do exercício político. O povo precisa sentir-se como o verdadeiro titular do poder e acreditar que seus interesses 12 RESTA, Eligio. Le regole della fiducia. Roma: Laterza, 2009, p. 7. Há correlação entre as famílias linguísticas de fides (fé) e o verbo grego pèithomai – que indicava obediência, vínculo e que mais tarde derivou peithò (persuasão) e pìstis(fé), o qual na forma verbal pistoùnindicava o empenho em uma promessa, a obrigação à fidelidade e haver fé. Por isso é que há diferença entre ter fé e persuadir através de promessas. Deste modo, não é correto confundir a palavra fé imediatamente com confiança. Ao fazer isso, misturam-se expressões como fides est mihi (a fé é para mim) ou fidemhabere (ter fé), que invertem o senso de investimento da confiança. Ora, quando uma pessoa confia em outra significa que esta possui um poder de confiança que foi concedido a mãos plenas pela outra. Aquela que possui a confiança detém um título que é depositado, ao passo que a fé consiste no crédito desfrutado pela parte. A natureza da confiança é, portanto, fideísta. A fé diz respeito ao crer (e seus créditos): indica a qualidade própria de um ser que atrai a confiança e que se exercita sob a forma de autoridade protetiva sobre quem deposita confiança nele; mas o respeito suplementar a “crença” acrescenta qualquer coisa. 13 RENNÓ, Lucio R. Confiança interpessoal e comportamento político: microfundamentos da teoria do capital social na América Latina.Opinião Pública, vol.7, nº 1. Campinas: 2001. 22 deverão ser os únicos objetivos dos governantes, como professa o ideal democrático. Sem a confiança no outro cidadão e nas instituições, difícil a existência de cultura política14. Sua prática possui uma estrutura de poder – este, conferido gratuitamente e condicionante: quando se confia um segredo a alguém se estabelece uma total subordinação do sujeito a quem a confiança é conferida. A dissimetria entre quem confia e aquele a quem é confiado o segredo é equilibrada exclusivamente no “dar a confiança”, porque ela se tem15. A confiança, assim, é gerada diretamente por meio daquilo que vem dito, ligando-se de forma direta com a comunicação. Portanto, ela nasce a partir e nas palavras pronunciadas, o que significa muita coisa. Significa, por exemplo, que a expressão “dar a palavra” é uma aposta séria, como indicam tanto a distribuição dos poderes e a participação política moderna, quanto à locação dos direitos e deveres que são de origem e de obrigação jurídicas. O vínculo de confiança se cria graças à possibilidade de se comunicar e gerar dependência por meio das palavras e de sua força interna16. A desconfiança, por sua vez, se liga ao juramento feito a quem se confidencia o segredo de “não dizê-lo a ninguém!”; ela é exatamente equivalente, simétrica e contrária ao jogo da confiança que se encontra na origem de seu balanço semântico. O juramento na confissão do segredo funciona como reforço da garantia e como justificativa antecipada da confiança não depositada17. Logo, a confiança interpessoal e nas instituições é elemento decisivo na constituição da cultura política, tornando-se um pré-requisito da participação política, do comportamento de obediência às leis, da cooperação horizontal e da tolerância pela diversidade de opiniões. Uma pessoa confia em outra porque tem certas expectativas sobre o modo como essa outra pessoa vai reagir. Nesse sentido, a confiança reforça a ação coletiva e a cooperação, porque se baseia em 14 SANTIN, Janaína Rigo. O tratamento histórico do poder local no brasil e a gestão democrática municipal. Anais do II Seminário Nacional Movimentos Sociais, Participação e Democracia. Florianópolis: UFSC, 2007. 15 RESTA, Eligio. Le regole della fiducia. Roma: Laterza, 2009, p. 28-29. 16 RESTA, Eligio. Le regole della fiducia. Roma: Laterza, 2009, p. 61. 17 RESTA, Eligio. Le regole della fiducia. Roma: Laterza, 2009, p. 28-29. 23 expectativas da continuidade de padrões de comportamento estabelecidos e repetitivos18. Deste modo, a confiança possui dimensão ambivalente de prática e objeto que representa a força de investimento emotivo e de regra de troca, de unilateralidade e de reciprocidade; envolve sempre estruturalmente a dimensão da expectativa futura e é conjugada estreitamente com o poder. Poder prometer quer dizer ser soberano e, então, obrigar-se. A diferença toda está entre a capacidade de prometer e de ser destinatário da confiança e, ao contrário, de prometer sem ter o poder, como um mentiroso vulgar que não cumpre sua palavra. Ao menos assim, então, se pode conservar o privilégio da responsabilidade19. Confiar uns nos outros quer dizer substancialmente duas coisas: reconhecer a assimetria das relações pessoais, que nem também a amizade consegue dissimular no fundo e relevar a objetividade da verdadeira vida que alguns encaram melhor que outros. Ligando-se com a gratidão, a confiança necessita interromper o circuito da reciprocidade: neutralizar a ambivalência significa viver de dessimetrias. A verdadeira gratidão se pode provar nos confrontos de quem não será ulteriormente obrigado20. Pesquisa recente – efetivada no ano de 2010 – realizada pela revista britânica The Economist analisou o índice de democracia dos países, demonstrando que o desempenho do Brasil no quesito participação política é bastante baixo, comparável a países como Malauí e Uganda21. Tais dados são reflexos da desconfiança em que vive o cidadão brasileiro, o qual não se sente partícipe do poder e não acredita mais na justiça como fonte de resolução de conflitos. Em outras palavras, a confiança do brasileiro tanto interpessoal quanto nas instituições, a qual se relaciona com a participação em associações cívicas, o envolvimento em questões públicas e a confiança nas instituições como aparato de solução de conflitos, está diminuindo. Desta forma, as crises enfrentadas pelo 18 RENNÓ, Lucio R. Confiança interpessoal e comportamento político: microfundamentos da teoria do capital social na América Latina.Opinião Pública, vol.7, nº 1. Campinas: 2001. 19 RESTA, Eligio. Le regole della fiducia. Roma: Laterza, 2009, p. 38-39. 20 RESTA, Eligio. Le regole della fiducia. Roma: Laterza, 2009, p. 47. 21 Todos os dados da pesquisa referida foram retirados do documento disponível em http://graphics.eiu.com/PDF/Democracy_Index_2010_web.pdf. 24 Estado e pela jurisdição acabam criando uma barreira que afasta o cidadão comum22. O cidadão não crê na justiça porque a considera uma coisa impossível, um engano, uma grande ilusão, através do raciocínio linear em que tribunais, magistrados e advogados aplicam o direito e esta operação vem convencionalmente definida como justiça. Mas o direito (leis, códigos) realmente não faz outra coisa a não ser descrever e tutelar a existência, pois não consegue resolver o verdadeiro problema das partes23. Os dados da justiça brasileira, demonstrados mais adiante pelo Relatório Justiça em Números, são claros: os processos judiciais estão não só tramitando em tempos inaceitáveis, mas também trazendo decisões às partes que não resolvem efetivamente seu problema; tudo isso contribuiu para a redução da confiança do cidadão. Nesse contexto, quando a confiança se enfraquece o direito oferece um remédio, mas este mesmo remédio propõe o direito e trai o senso da confiança. Entre a força do dizer e a capacidade de vincular há todo o espaço de um longo jogo de metamorfoses que contam suas igualdades e diferenças, do senso originário e daquele que traiu. Representar a boa/má-fé como o senso originário de uma virtude guardada de direito vai ao encontro a todos os riscos da representação, que como na escritura platônica oscila vertiginosamente entre a presença e a ausência, entre a presença de uma ausência e a ausência de uma presença24. Assim, o processo judiciário não é estranho a essa situação com sua gama de confissões, reencontros, desconfianças e jogos duplos: o processo nada mais é do que a confiança regulada. O caráter relacional da confiança – de uma pessoa para outra – reproduz um esquema jurídico, pois a própria linguagem se apresenta como tipicamente contratual e isto ocorre em face da facilidade de se cair no inconsciente jurídico – já que linguagem jurídica é influente e dotada de alta formalização25. 22 RENNÓ, Lucio R. Confiança interpessoal e comportamento político: microfundamentos da teoria do capital social na América Latina.Opinião Pública, vol.7, nº 1. Campinas: 2001. 23 CASELLI, Giancarlo; PEPINO, Livio. A um citadino che non crede nella giustizia. Bari-Roma: Laterza, 2005, p. 3. 24 RESTA, Eligio. Le regole della fiducia. Roma: Laterza, 2009, p. 63. 25 RESTA, Eligio. Le regole della fiducia. Roma: Laterza, 2009, p. 7. Além disso, quando a jurisdição da confiança incorpora no direito o conteúdo do investimento, apenas repropõe um 25 Deste modo, as dificuldades enfrentadas pelo Estado e pelo seu Poder Judiciário é o principal motivo gerador desta falta de confiança do sujeito nas instituições públicas, especialmente aquelas ligadas ao Direito. Os empecilhos quotidianos de render justiça como se gostaria (ou deveria), aliado à excessiva duração dos procedimentos que passou a não ser uma novidade, mas uma situação – infelizmente – particularmente aguda, bem ainda em face do tratamento inadequado propiciado aos conflitos sociais têm tradicionalmente produzido desconfiança e desmotivação26. A aposta da diferença do Direito passa sobretudo por aquela autonomia relativa de sua linguagem que, tanto linguisticamente quanto semanticamente, traduzirá constantemente o vocabulário da vida quotidiana em seus códigos 27. Isto explica porque Hobbes28 fala do direito como de uma meta-regra gramatical que faz justiça das controvérsias significativas por meio do conteúdo das palavras utilizadas; mas explica tantas outras coisas, como o fato de que o jurista, mais do que os outros, é o intelectual que utiliza as palavras a seu favor e os juízes são possuidores da virtude de “dizer a última palavra”29. Certamente, há também um excesso de jurisdição: a justiça invade cada vez mais outros terrenos, até para determinar uma torção do sistema institucional em uma espécie de democracia judiciária. Sua expansão é maciça, tudo (ou quase tudo) é ministrado nas aulas de direito. As causas da expansão do poder judiciário são exógenas e não endógenas, ou seja, não ocorrem em face de mecanismos particulares das instituições judiciárias, ou muito menos em razão da vontade de alguns magistrados, mas sim em razão da formação de condições esquema indiferente de práticas e relações sociais que o direito traduz em seus códigos. Deste modo a confiança continuará a ser confiança, ao mesmo tempo em que deixa de ser confiança também.“Il processo è, allora, sfida regolata”. 26 CASELLI, Giancarlo; PEPINO, Livio. A um citadino che non crede nella giustizia. Bari-Roma: Laterza, 2005, p. 11.15. 27 RESTA, Eligio. Le regole della fiducia. Roma: Laterza, 2009, p. 65-66. Na verdade, a semântica da confiança e do crédito é talvez o exemplo mais transparente para evidenciar que não é por acaso que tais conceitos se entrelaçam profundamente. Credor é simplesmente o sujeito que investe sua expectativa sobre a base da confiança acordada a qualquer um. Vem do crer e, antes de ser termo de código binário que identifica o modelo de relação obrigatória (devedor e credor), se remete totalmente às atividades e condições designadas do verbo. Crer, então, individua um universo de expectativas conexas à confiança. Não é por casualidade, portanto, que crédito se chama crédito: carrega um mundo de expectativas da confiança que se investe e, por isto, traduz uma troca entre poder e garantia 28 HOBBES, Thomas. Leviatã ou a matéria, forma e poder de um estado eclesiástico e civil. São Paulo: Ícone, 2000. 29 RESTA, Eligio. Le regole della fiducia. Roma: Laterza, 2009, p. 65. 26 novas seja na sociedade, nas instituições políticas de regime representativo. A expansão do judiciário encontra suas raízes nos fenômenos tradicionais de fraquezas de controle administrativo e incapacidade de prevenção de problemas30. Efeito de uma transformação, a confiança incorporada no direito se tornará dispositivo, critério de orientação interpretativo, princípio geral de relação obrigatória, mas deixará de ser confiança. Suportada normativamente, jogará com a sanção e sua coercibilidade, mas deixará de ser confiança. Constituirá a pedra angular da relação obrigatória, do contrato e da dimensão jurídica intersubjetiva e, não somente isso, mas justamente por isso na sua normatividade jurídica, deixará de ser confiança31. No processo judicial o confiar e seu universo de expectativas se tornam totalmente normatizados. Na verdade, a boa-fé foi determinante para justificar a tutela jurisdicional: aquela confiança que em outro lugar era risco não controlado, no processo não permanece sem tutela, tornando-se regra de conformidade a um comportamento que assegura a quem confiou a outro alguma coisa de poder reobtê-la. Porém, quando se torna norma coercitiva a boa-fé deixa de ser confiança e torna-se mero critério de interpretação ou de orientação da ação. A mesma binariedade de boa e má-fé replicará sempre o referimento recíproco da confiança e diferença32. Mas aqui o problema não é mais aquele da confiança ou da boa-fé33, é o problema do direito, que precisa prescrever a dignidade e sancionar a solidariedade. A confiança então fica uma sonda potente para a observação do direito, não pela sedimentação da virtude que sempre gostaria atribuir, mas exatamente por seu contrário. O direito não é um grande conto da virtude moral, mas um importante mecanismo de contenção do desapontamento, capaz de neutralizar deslealdades, seja de devedores ou de credores, ou tantos outros34. 30 CASELLI, Giancarlo; PEPINO, Livio. A um citadino che non crede nella giustizia. Bari-Roma: Laterza, 2005, p. 53-55. 31 RESTA, Eligio. Le regole della fiducia. Roma: Laterza, 2009, p. 67. 32 RESTA, Eligio. Le regole della fiducia. Roma: Laterza, 2009, p. 68-70. 33 RESTA, Eligio. Le regole della fiducia. Roma: Laterza, 2009. Então se recorda a boa-fé através da lei, porque ela foi esquecida; a recordamos enquanto a esquecemos e a esquecemos porque, ao mesmo tempo, a recordamos. 34 RESTA, Eligio. Le regole della fiducia. Roma: Laterza, 2009, p. 71. 27 Por isso, o direito generaliza e move, dizendo que se deve confiar porque não se deve confiar e desloca a incerteza cognitiva sobre certeza normativa. E o que é a judicialização da confiança se não a regra da desilusão? O jogo normatividade e cognição é um dos mais constitutivos do direito enquanto sistema autônomo, unitário e dotado de identidade35. Deve-se ter confiança porque não se sabe o momento em que ela porta a desilusão. Assim, se escolhe o contrato para evitar a confiança e se reintroduz a incerteza conexa ao risco da confiança regulada normativamente. Desta forma, a confiança incorpora seu risco, ao mesmo tempo em que sua gratificação incorpora a desilusão36. Logo, a situação vivenciada atualmente pela sociedade brasileira reflete estas questões e provoca uma maior utilização do Judiciário ao mesmo tempo em que gera a perda da confiança dos indivíduos entre si e nas instituições públicas. Fatores como egoísmo, frustrações, depravação relativa, ignorância deliberada de políticos, irresponsabilidade, entre outros, também estimula desconfiança por parte do cidadão. A confiança, nascida nos mundos da vida e nas relações interpessoais expostas ao risco, pode ficar bem longe dos sujeitos, tornando-os abstratos e virtuais, distintos e em último caso irreconhecíveis, com a passagem primeiro da comunidade à sociedade e depois da sociedade à sociedade artificial37. Na democracia o poder político passa para as mãos da sociedade, mas o povo não é mais o mesmo, abandona a potência de suas multiplicidades e fabrica um homem abstrato: o cidadão é agora disponível à representação política e à identificação com esta representação; o cidadão que pode decidir por todos em nome de todos, operando de outro ponto de vista, pertence a um universo abstrato. Para este homem abstrato, a fé pertence à esfera privada de sua existência e não exprime nada de decisivo quanto a sua vida pública. Sua 35 RESTA, Eligio. Le regole della fiducia. Roma: Laterza, 2009, p. 90. Observado de fora, o sistema jurídico aparece como uma cadeia interminável de conexões entre leis e casos, normas e eventos, normatividades e cognições. O código utilizado é sempre binário e opera sobre a base de uma seletividade interna aos critérios de compatibilidade do direito (licitude/ilicitude, gratificação/desilusão, possibilidade e impossibilidade, certeza e incerteza, determinação e indeterminação, exigibilidade e inexigibilidade etc) 36 RESTA, Eligio. Le regole della fiducia. Roma: Laterza, 2009, p. 95. 37 RESTA, Eligio. Le regole della fiducia. Roma: Laterza, 2009. Nesse sentido, dois são os tipos de confiança existentes: aquela horizontal nas relações sociais e a vertical entre cidadãos e instituições. 28 individual vontade – se também está em jogo, neste nível – não possui mais uma conotação precisamente política. É somente este o êxito do processo que Marx define como ‘despolitização da vida social’38. Nesse sentido, a desconfiança é um componente processual fundamental próprio da reprodução alargada da confiança, em processos democráticos e deliberativos. A questão da confiança é exposta assim grandemente sobre o terreno da validade do conhecimento ao passo que a sua judicialização pode ser considerada como uma ameaça para a liberdade individual e para a autorregulação social39. Por isso, em uma sociedade construída e concretamente vivida sobre confiança e solidariedade não há necessidade do direito; a representação é o lugar de uma evanescente identificação em que o confiar na representação – jurídica, neste caso – significa também perder a própria identidade. A confiança está desaparecida na sociedade, não exclusivamente das relações pessoais e entre o indivíduo e instituições, mas também das relações impessoais, nas quais tudo é fungível e somente um fechamento organizacional pode assegurar uma abertura cognitiva40. De outro lado, a relação de confiança entre cidadãos e instituições não exclui a existência de conflitos, ao contrário, através deles se constroem condições de legitimação democrática das instituições, alimentando a cultura da confiança. Desta perspectiva, a confiança recíproca se configura como produto de situações práticas de prova, verificação e aprendizagem em um regime político de envolvimento em torno da construção de uma comunidade política – onde se desdobram discursos públicos41. Por este motivo, o ceticismo e o afastamento dos cidadãos da esfera da política comprometem atitudes favoráveis à democracia e organização política. A confiança nas instituições, além de refletir o pertencimento dos cidadãos à comunidade política, favorece uma avaliação positiva do desempenho dessas instituições democráticas e dos seus gestores públicos. Contudo, pesquisas 38 BENASAYAG, Miguel; DEL REY, Angélique. Elogio del conflito. Milano: Feltrinelli, 2008. DONOLO, Carlo. Fiducia: un bene comune. Parolechiave, Roma, n. 42, dez. 2009, p. 16. 40 RESTA, Eligio. Le regole della fiducia. Roma: Laterza, 2009, p. 99. 41 LEONARDIS, Ota de. Appunti su fiducia e diritto. Tra giuridificazione e diritto informale. Parolechiave, Roma, n. 42, dez. 2009, p. 127. 39 29 indicam que a desconfiança generalizada na América Latina pode ser explicada a partir de três fatores: fraco desempenho econômico, o que diminui o apoio aos governantes, aumento da corrupção, que retira a legitimidade dos políticos em geral e uso instrumental das instituições políticas e arranjos constitucionais para servir a interesses particulares42. De fato, o que tem colocado em risco a estabilidade do regime democrático é a crescente insatisfação da população com o desempenho das instituições políticas diante dos altos níveis de desigualdade, pobreza e exclusão social. Uma das explicações para a falta de credibilidade dos cidadãos na política está relacionada com as constantes denúncias de corrupção no governo e à insatisfação com a qualidade dos serviços públicos e com o desempenho governamental43. Conforme pesquisa44 realizada na cidade de Porto Alegre-RS no ano de 2005, cujo objetivo era analisar a relação entre desenvolvimento sustentável, qualidade de vida e cidadania, revelaram-se baixos índices de confiança nas instituições por parte da população. Nesse sentido, 56% dos entrevistados entendeu que o Estado está sendo ineficiente na aplicação dos recursos públicos; da mesma forma, os políticos foram avaliados negativamente pelos cidadãos, que apontaram a corrupção e o não cumprimento de promessas como fatores dessa ineficiência. Este entendimento negativo por parte dos cidadãos sobre o desempenho dos políticos tem um impacto direto nos indicadores de confiança e de participação política. Em relação à confiança nos partidos políticos, percebe-se um predominante descrédito desta instituição tradicional da democracia representativa moderna, já que 52% dos entrevistados afirmaram não confiar nos 42 AMORIM, Maria Salete Souza de. Cidadania e participação democrática. Anais do II Seminário Nacional Movimentos Sociais, Participação e democracia. Florianópolis: 2007, p. 370. 43 AMORIM, Maria Salete Souza de. Cidadania e participação democrática. Anais do II Seminário Nacional Movimentos Sociais, Participação e democracia. Florianópolis: 2007, p. 372. 44 De acordo com AMORIM, Maria Salete Souza de. Cidadania e participação democrática. Anais do II Seminário Nacional Movimentos Sociais, Participação e democracia. Florianópolis: 2007, p. 372, o plano amostral obedeceu diferentes etapas afim de ser obtida uma amostra representativa de 510 entrevistas distribuídas em 24 bairros da cidade de Porto Alegre por cotas de idade, sexo e anos de estudo. Fonte: Pesquisa Desenvolvimento Sustentável e Capital Social na promoção da Cidadania e Qualidade de vida na América Latina - NIEM/ NUPESAL/ UFRGS/ CNPq – 2005. 30 partidos. O legislativo, especialmente o Congresso Nacional, também recebe um alto percentual de desconfiança (42%) juntamente com os Deputados Estaduais (37%). Além desta pesquisa, uma outra realizada desta vez pelo Ibope analisa o Índice de Confiança Social (ICS); este índice é estudado pela instituição desde o ano de 2009 por meio do Ibope Inteligência. Seu objetivo é acompanhar a relação de confiança da população com as instituições e também com as pessoas de seu convívio social, avaliando 18 instituições e quatro grupos sociais. Além do Brasil, o ICS é medido em Porto Rico e na Argentina desde 2009 e a partir de 2011 também no Chile45. Conforme esta pesquisa, o Congresso Nacional e os partidos políticos são as instituições em que o brasileiro mais desconfia, ao passo que os Bombeiros, Forças Armadas e polícia foram as únicas instituições que apresentaram crescimento nos índices. Em três anos de pesquisa, meios de comunicação e o Judiciário seguem uma tendência de baixa credibilidade entre os brasileiros: numa escala de zero a 100, os partidos políticos obtiveram a pior nota, 28, enquanto os bombeiros tiveram a melhor avaliação, 86. O Congresso Nacional e os partidos políticos, que já apresentavam os menores índices desde que a pesquisa começou a ser feita no Brasil, em 2009, caíram para 35 e 28 pontos, respectivamente. O Judiciário, por sua vez, regrediu 4%, atingindo a nota 4946. Portanto, atualmente a democracia brasileira vive uma cultura de desconfiança que se sustenta em face à insatisfação com a qualidade dos serviços públicos e com o desempenho das atividades estatais, especialmente as judiciais. Nesse caso, a jurisdição se distancia do cidadão comum em face das crises que serão analisadas no próximo item, verificando-se uma discrepância cada vez maior com o trabalho efetuado pelo Judiciário e a demanda social que a ele recorre. 45 Informações disponíveis em http://www.ibope.com.br/calandraWeb/servlet/CalandraRedirec ?temp6&proj=PortalIBOPE&pub=T&nome=home_materia&db=caldb&docid=10BCD9362159152B 8325791E003F379E. Acessado em 15.09.2011. 46 No Brasil, foram realizadas 2.002 entrevistas. A composição do índice é feita utilizando-se uma escala de quatro pontos, em que é possível medir muita confiança, alguma, quase nenhuma ou nenhuma confiança. 31 1.2 As crises da função jurisdicional, suas causas, consequências e dificuldades enfrentadas em face da complexidade social A jurisdição é a função exclusiva do ente estatal e visa à neutralização dos conflitos de interesses existentes em face da aplicação forçada de um direito positivo. Diz-se forçada pois o Estado, ao deter a forma de poder legal, detém também o monopólio legítimo da decisão vinculante47, na medida em que os conflitos levados ao Judiciário são direcionados ao juiz48, terceiro que decide a lide e diz a última palavra com base na lei. Nesse sentido, a Constituição Federal de 1988 reserva um capítulo próprio49 para o Poder Judiciário, que por sua vez é encarregado de administrar a justiça. A Emenda Constitucional nº 45/2004, além disso, incluiu o Conselho Nacional de Justiça dentre seus órgãos, o que demonstra a crença na solução judicial dos conflitos. Entretanto, com o nítido aumento da esfera de abrangência das intervenções judiciais no destino dos indivíduos, grupos e do próprio Estado, o Judiciário não soube assumir este perfil e, “pior do que tudo, nada se faz para modificar a cultura judiciária, calcada em ranços medievais”50. Na busca pela solução do conflito surge a lide processual; “todavia, tratar o conflito judicialmente significa recorrer ao magistrado e atribuir a ele o poder de dizer quem ganha e quem perde a demanda”. O maior problema da magistratura é que ela decide litígios que lhe são alheios, não levando em consideração, salvo raras exceções, o que as partes sentem e suas expectativas. “Decidem sem 47 De acordo com WARAT, Luis Alberto. Pensemos algo diferente em matéria de mediação. In: Justiça restaurativa e mediação no tratamento adequado dos conflitos sociais (no prelo), o “Estado é uma ficção perfumada que encobre, com boas esperanças e ficções que alentam esperanças, um conjunto de organizações de poder e decisão sobre a convivência. Em nome do Estado apelamos, de modo grandiloqüente, a várias situações que nos afastam das possibilidades de encontrar e decidir sobre os sentidos da própria existência”. 48 RESTA, Eligio. O Direito Fraterno. Tradução de Sandra Regina Martini Vial – Santa Cruz do Sul: Edunisc, 2004, p. 96-97: O lugar do juiz entre os conflitantes é uma questão complicada, uma vez que ele não se deixa encerrar na fácil fórmula da lei que assegura ‘distância de segurança’ das razões de um de outro. Ele vive no conflito e do conflito que ele decide, pronunciando a última palavra. 49 Título IV, Capítulo III, artigos 92 a 126 da CF/88. 50 NALINI, José Renato. A rebelião da toga. Campinas: Millennium, 2008, p. 32-46. Isso ocorre porque se confere à função pública uma relevância mítica sem vinculá-la à eficácia e efetividade. Insiste-se em reforçar a ideia de soberania e descuida-se do aspecto do serviço público essencial. 32 responsabilidade, porque projetam a responsabilidade na norma. Decidem conflitos sem relacionar-se com os outros”51. Diante disso, o âmbito de crescimento da discricionariedade do juiz é muito amplo e o grau de poder conferido pela discricionariedade é variável e específico em relação ao contexto52. Deste modo, há forte conexão entre a ideia de conflito e de jurisdição, visto que os conflitantes se mantêm atrelados ao processo pelo litígio que foi originado em face de um conflito: unidos por ele, “os litigantes esperam por um terceiro que o ‘solucione’”53. De fato, tarefa nada pequena aquela confiada ao processo e ao seu juiz: “accertare responsabilità grazie a um gioco dialogante dove domandare e rispondere acquistano um senso”. Esta é a história do processo, continuamente problemática a construir a gramática comum de uma linguagem na qual se responde a alguém porque e enquanto se responde de alguma coisa. Mas aqui é o confim a considerar entre direito e processo54. No entanto, a ideia de que o juiz deve decidir todos os conflitos não passa de um mito derivado do excessivo ritualismo do Judiciário e relaciona-se com os símbolos e rituais muito antigos que se perpetuam no tempo. O simbolismo que criou o rito judiciário foi buscar seus elementos na mitologia, Bíblia, história, entre outros domínios. O primeiro registro é de ordem cosmológica, traduzida na busca por uma forma de comunicação com a natureza 55. O segundo grande registro é 51 RESTA, Eligio. O Direito Fraterno. Tradução de Sandra Regina Martini Vial – Santa Cruz do Sul: Edunisc, 2004, p. 74. 52 CHASE, Oscar G. Gestire i conflitti: diritto, cultura e rituali. Roma: Laterza, 2009, p. 87: l’aumento in verità impressionante del potere discrezionale del giudice in materia di procedura è cominciato all’inizio del XX secolo e sembra continuare anche nel XXI. Il concetto di discrezionalità del giudice, che classicamente si distingue dal concetto di diritto, costituisce una costruzione retorica, piuttosto che un processo decisionale di un genere particolare. Il grado di potere conferito dalla discrezionalità è variabile e specifico con riferimento al contesto. 53 CHASE, Oscar G. Gestire i conflitti: diritto, cultura e rituali. Roma: Laterza, 2009, p. 69. 54 RESTA, Eligio. Diritto vivente. Roma: Laterza, 2008, p. 154. 55 Este simbolismo manifesta-se primeiramente nas escolhas dos locais da justiça. O local onde será feita justiça não é uma escolha dos homens, mas antes um desígnio dos deuses. A audiência ocorre ao lado de um poço ou sob uma árvore. Na colina, em redor da árvore ou da pedra, erguiase, no começo de cada processo, uma paliçada de rama. Esta cintura vegetal cumpria uma função jurídica, pois demarcava caramente do mundo exterior, no qual os conflitos podiam eclodir e desenvolver-se, o lugar privilegiado para a sua resolução. No interior deste cercado, reinava uma ordem especial e obrigatória isenta de qualquer forma de violência, estando as deslocações, discursos e comportamentos sujeitos à vigilância da audiência. Daí deriva a origem do parquet, que não designa <<o erro do carpinteiro>>, a saber, o soalho por oposição ao estrado onde tem assento os juízes, mas sim o pequeno parque, o recinto delimitado por barreiras e gradeamentos, no seio do qual se sentavam tanto as gentes do rei como os oficiais de diligências ou os 33 de ordem religiosa. Tal concepção não crê que a justiça é divina, mas sim que juízes são homens aos quais incumbe uma tarefa sobre-humana para a qual devem tornar-se dignos. Estes diversos registros – cosmológico, mitológico, religiosos, histórico – podem ser encontrados até hoje em vários âmbitos do judiciário56. O ritual judiciário, nesse sentido, é considerado um espetáculo e como tal é repleto de simbolismos; tudo conta: desde os trajes de juízes e advogados 57, até os gestos58, posturas59, expressões60, audiências61. Os próprios tribunais e fóruns advogados (GARAPON, Antoine. Bem julgar. Ensaio sobre o ritual do Judiciário. Tradução de Pedro Filipe Henriques. Lisboa: Instituto Piaget, 1997, p. 28-29). 56 GARAPON, Antoine. Bem julgar. Ensaio sobre o ritual do Judiciário. Tradução de Pedro Filipe Henriques. Lisboa: Instituto Piaget, 1997. 57 A história do traje judiciário confunde-se com a história da própria profissão judiciária. Ela é testemunha do desejo de igualar em dignidade, por meio da magnificência dos símbolos, a nobreza guerreira. O traje judiciário tem a sua origem na realização da sagração, o que atenua a oposição entre a origem real e a origem clerical do traje judiciário, já que a veste que o rei recebia no dia da sagração – a mesma que depois concedia aos presidentes dos parlamentos – era um traje religioso (GARAPON, Antoine. Bem julgar. Ensaio sobre o ritual do Judiciário. Tradução de Pedro Filipe Henriques. Lisboa: Instituto Piaget, 1997, p. 80-82). 58 A mão levantada do juramento, o efeito da manga, a designação acusadora, a posição em sentido dos agentes ou do acusado que ouve o veredicto, a entrada solene do tribunal ou o retinir das algemas, correspondem a outros tantos gestos que constituem a base corporal do ritual. Têm a gravidade e a insignificância de um jogo. O gesto ritual realiza a estética do processo. No fascínio exercido pelo gesto no processo, esta a procura de uma linguagem e a afirmação do primado da forma (GARAPON, Antoine. Bem julgar. Ensaio sobre o ritual do Judiciário. Tradução de Pedro Filipe Henriques. Lisboa: Instituto Piaget, 1997, p. 119). 59 O corpo é o ponto de referência primordial de qualquer experiência. O ritual judiciário organizase em redor de três posturas fundamentais: o homem a andar, de pé e sentado. O simbolismo do corpo associado à função judiciária é muito antigo, tendo permanecido quase imutável desde os tempos bíblicos (GARAPON, Antoine. Bem julgar. Ensaio sobre o ritual do Judiciário. Tradução de Pedro Filipe Henriques. Lisboa: Instituto Piaget, 1997, p. 119-120). 60 Existem tantas expressões como pessoas e, logo, como processos. E, no entanto, uma freqüência assídua das salas de audiências mostra até que ponto é que certas expressões são estereotipadas. Os presidentes podem adoptar várias atitudes. Maureen Mileski identificou quatro tipos de expressões nas jurisdições americanas: afável (3%), dura (5%), firme e muitas vezes moralizadora (14%), impessoal e burocrática (78%). Certas mímicas, como descreve R. Grenier, são específicas dos advogados. Aliás, certos advogados, ao ouvirem um depoimento, têm as atitudes mais surpreendentes. Continuam a exprimir-se mimetizando da forma mais teatral as reacções que é necessário ter perante as palavras de uma testemunha. Inicialmente, é uma expressão de atenção contida, com o corpo projectado para a frente, a cabeça ligeiramente inclinada para o lado e o olhar fixo, como que a afirmar a importância daquilo que se está a ouvir. Posteriormente, a satisfação, o triunfo, a incredulidade, a ironia ou o desprezo surgem na face desse comediante que monopoliza em si todas as atenções, procurando com isso sobrepor-se ao resto do elenco (GARAPON, Antoine. Bem julgar. Ensaio sobre o ritual do Judiciário. Tradução de Pedro Filipe Henriques. Lisboa: Instituto Piaget, 1997, p. 122). 61 A audiência desperta uma multiplicidade de identificações particulares. (...) O espetáculo judiciário faz com que a sala exista, e vice-versa. O magistrado é serio porque é levado a sério. A sociedade necessita da sua função, da mesma forma que o magistrado necessita da sociedade para a cumprir. O juiz só pode presidir ao ritual se o público reconhecer na toga as insígnias da sua função (GARAPON, Antoine. Bem julgar. Ensaio sobre o ritual do Judiciário. Tradução de Pedro Filipe Henriques. Lisboa: Instituto Piaget, 1997, p. 116). 34 são projetados com base em valores tradicionais: tudo começa no majestoso portão de entrada, imponente. O simbolismo da porta demonstra a “separação entre o espaço judiciário e o espaço profano da cidade. A porta é um local imbuído de um certo poder, o que explica que tenha sido escolhida muitas vezes por essa qualidade para nela se fazer justiça”. Além disso, a entrada de um palácio de justiça nunca se encontra ao mesmo nível da rua: está sempre acima deste; para acessar um palácio da justiça é necessário subir sempre um grande número de degraus. As escadarias majestosas evocam a ideia de uma ascensão espiritual62. A partir disto entende-se porque a figura do juiz é mitigada: desde o início ele representa a divindade, o sagrado. É considerado o único capaz de julgar os problemas alheios por ser a representação da figura divina. Recebe a legitimidade da sociedade – e do Estado – como representante dessa soberania jurisdicional, no qual recaem inúmeras proclamações e mitos culturais, sendo “transfigurado como ser diferenciado, autoridade incontrastável provida de todos os poderes, poupado ao risco de errar e revestido de tonalidade demiúrgicas”63. No procedimento judiciário, não é sem significado que tudo seja conexo e finalizado a uma decisão que diga a última palavra sobre a lide. O juiz é, de fato, somente aquele ator que deve dizer a última palavra sobre a lide: pontualmente deve ius dicere para que, em nome de uma comunidade, não haja propagação da violência. Desenganchado pela retórica da virtude ou por improváveis profissões de sabedoria, o trabalho importante do juiz é aquele de dizer a última palavra sobre os conflitos e, graças a esta, interrompê-los64. Ocorre que esse monopólio do poder jurisdicional que dita o direito para o caso concreto de forma impositiva não é uma forma democrática de resolução de litígios; a sociedade espera que o Judiciário resolva seus problemas, dizendo quem tem mais direito ou mais razão, ou ainda, quem é o vencedor da demanda. “Trata-se de uma transferência de prerrogativas” que cria muros normativos, 62 Neste caso, o fato de subir esses degraus pode também sugerir um sentimento de desonra, especialmente se o indivíduo está obrigado a subi-los (GARAPON, Antoine. Bem julgar. Ensaio sobre o ritual do Judiciário. Tradução de Pedro Filipe Henriques. Lisboa: Instituto Piaget, 1997, p. 35-36). 63 GARAPON, Antoine. Bem julgar. Ensaio sobre o ritual do Judiciário. Tradução de Pedro Filipe Henriques. Lisboa: Instituto Piaget, 1997, p. 97-100. 64 RESTA, Eligio. Diritto vivente. Roma: Laterza, 2008, p. 158. 35 engessa a solução da lide em prol da segurança e acaba por ignorar a reinvenção cotidiana ou um tratamento adequado aos litígios65. Nessa linha, a dificuldade da dogmática jurídica em lidar com fenômenos sociais é histórica em face de vários fatores que influenciaram esta problemática. Ocorre que atualmente há uma tendência em identificar a ciência jurídica como “um tipo de produção técnica, destinada apenas a atender às necessidades do profissional (o juiz, o promotor, o advogado) no desempenho imediato de suas funções”. Por isso criou-se uma cultura jurídica por meio da qual o operador do direito trabalha no seu dia-a-dia com soluções e conceitos lexicográficos, utilizando-se de ementas jurisprudenciais – por exemplo – completamente descontextualizadas66. Seguindo as minuciosas regras do rito, o resultado final será o veredicto do complexo dizer e proceder: outra bela história, aquela de um dito que esteja ali como verdadeiro, a decretar a verdade ou a assumir-lhe a gestação. A partir desse momento, as palavras afetarão destinos, que terão, inevitavelmente outras histórias, outras linguagens, outros vocabulários. A normatividade das palavras do juiz estabelecerá alguma possibilidade de que em outra parte da totalidade da máquina se possam tomar outras decisões acerca da possibilidade de outras decisões. A normatividade da decisão considerará sempre uma outra normatividade, até que uma cognição não feche o círculo67. Mais do que isso, do ponto de vista do procedimento decisional, o sistema jurídico aparece como uma cadeia infinita de decisões (strange loops na linguagem dos paradoxos) que tem a ver não com rude facts, mas com construções jurídicas, ou, melhor, com construções jurídicas da realidade que aparecem no sistema do direito como eventos68. Com este procedimento, ignora-se o contexto histórico e social no qual estão inseridos os atores jurídicos, na medida em que há uma relação direta com um fator normativo de poder: o poder de violência simbólica69. “Trata-se do poder 65 CHASE, Oscar G. Gestire i conflitti: diritto, cultura e rituali. Roma: Laterza, 2009, p. 70-71. STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica jurídica e(m) crise: uma exploração hermenêutica da construção do Direito. 3. ed. rev. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001, p. 83. 67 RESTA, Eligio. Diritto vivente. Roma: Laterza, 2008, p. 160. 68 RESTA, Eligio. Diritto vivente. Roma: Laterza, 2008, p. 162. 69 STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica jurídica e(m) crise: uma exploração hermenêutica da construção do Direito. 3. ed. rev. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001, p. 85: este poder não 66 36 capaz de impor significações como legítimas, dissimulando as relações de força que estão no fundamento da própria força”; o resultado é o aparecimento do arbitrário juridicamente prevalecente, cujo objetivo é alcançar o correto e fiel sentido da lei70. Assim, o Poder Judiciário apenas decide os conflitos sociais, não os eliminando, pois eles representam “um antagonismo estrutural entre elementos de uma relação social que, embora antagônicos, são estruturalmente vinculados”, enquanto que as competências jurisdicionais fixam-se nos limites de sua capacidade de absorvê-los e decidi-los, ultrapassando os próprios limites estruturais das relações sociais71. Além disso, “os fenômenos sociais que chegam ao Judiciário passam a ser analisados como meras abstrações jurídicas, e as pessoas, protagonistas do processo, são transformadas em autor e réu”. Logo, os conflitos sociais não entram nos fóruns e tribunais em face das barreiras criadas pelo discurso produzido pela dogmática jurídica dominante: “nesse sentido, pode-se dizer que ocorre uma espécie de ‘coisificação’ (objetificação) das relações jurídicas”72. Com efeito, não compete ao Sistema Judiciário eliminar vínculos existentes entre as unidades da relação social, mas sim, a ele caberá, “mediante suas decisões, interpretar diversificadamente este vínculo”, podendo inclusive dar-lhe uma nova dimensão jurídica, mas não dissolvê-lo. A eliminação do conflito pelo Judiciário não ocorre porque ele estaria suprimindo a sua própria fonte ou impedindo o seu meio ambiente de fornecer-lhe determinadas demandas73. significa coação, pois pelo poder de violência simbólica o emissor não co-age, isto é, não se substitui ao outro. Poder é controle. Para que haja controle, é preciso que o receptor conserve as suas possibilidades de ação, mas aja conforme o sentido, isto é, o esquema de ação do emissor. Por isso, ao controlar, o emissor não elimina as alternativas de ação do receptor, mas as neutraliza. 70 STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica jurídica e(m) crise: uma exploração hermenêutica da construção do Direito. 3. ed. rev. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001, p. 85: deste modo, toda vez que surge uma nova lei, os operadores do Direito, inseridos nesse habitus tão bem definido por Bourdieu – se tornam órfãos científicos, esperando que o processo hermenêuticodogmático lhes aponte o (correto) caminho, dizendo para eles o que é que a lei diz (ou “quis dizer”). 71 BOLZAN DE MORAIS, José Luis; SPENGLER, Fabiana Marion. Mediação e arbitragem: alternativas à jurisdição! 2 ed. rev. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008, p. 70-71. 72 STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica jurídica e(m) crise: uma exploração hermenêutica da construção do Direito. 3. ed. rev. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001, p. 74. 73 BOLZAN DE MORAIS, José Luis; SPENGLER, Fabiana Marion. Mediação e arbitragem: alternativas à jurisdição! 2 ed. rev. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008, p. 71. 37 De outro lado, essas deficiências existentes na jurisdição são consequências das crises estatais, que nascem de um deliberado processo de enfraquecimento e se transferem para todas suas instituições. Por isso que se deve debater a crise da jurisdição a partir da crise do Estado, analisando sua gradativa perda de soberania, bem ainda “sua incapacidade de dar respostas céleres aos litígios atuais, de tomar as rédeas de seu destino, sua fragilidade nas esferas Legislativa, Executiva e Judiciária, enfim, sua quase total perda na exclusividade de dizer e aplicar o direito”74. A prática judicial atual, portanto, vê sua atividade comprometida em face de um novo e incerto cenário em que o Estado perde sua autonomia decisória e dá margem à operação de justiças não profissionais baseadas em critérios de racionalidade material. Esta situação provoca uma crise de identidade funcional da jurisdição, que compreende um embaçamento do papel judicial como mediador central de conflitos, perdendo espaço para outros centros de poder, talvez até mais adequados para lidar com a complexidade conflitiva atual75. A crise de identidade das instituições judiciais se expressa, ainda, pela falta de modernização de suas leis básicas, de modo que magistrados aplicam normas ultrapassadas a uma sociedade que – em curto espaço de tempo – modificou sua natureza e a intensidade e alcance de seus conflitos. “Um setor significativo do ordenamento jurídico nacional se encontra em total desconexão com a realidade social, econômica e cultural”, pois muitos textos legais foram produzidos a partir de valores, motivações e interesses que se modificaram com o veloz processo de transformação social76. De outro lado, as legislações atuais editadas em uma concepção mais contemporânea do direito, capazes de lidar com conflitos coletivos e envolvendo questões de natureza social, esbarram em uma concepção profissional ainda individualista77 e formalista: “este individualismo se traduz pela convicção de que 74 BOLZAN DE MORAIS, José Luis; SPENGLER, Fabiana Marion. Mediação e arbitragem: alternativas à jurisdição! 2 ed. rev. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008, p. 76-77. 75 SPENGLER, Fabiana Marion. Da jurisdição à mediação: por uma outra cultura no tratamento dos conflitos. Ijuí: Unijuí, 2010, p. 109. 76 FARIA, José Eduardo. O Poder Judiciário no Brasil: paradoxos, desafios e alternativas. Brasília: Conselho da Justiça Federal, 1995, p. 13. Exemplos de legislações defasadas são o Código Comercial de 1850, a parte especial do Código Penal, datada de 1940, entre outros. 77 STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica jurídica e(m) crise: uma exploração hermenêutica da construção do Direito. 3. ed. rev. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001, p. 36: A crise do modo 38 a parte precede o todo, ou seja, de que os direitos do indivíduo estão acima dos direitos da comunidade”. Os magistrados são treinados para trabalharem com diferentes formas de ação, porém, não conseguem uma compreensão precisa das estruturas socioeconômicas em que são travadas78. Nesse sentido, as demais crises que atingem o Estado e refletem, por sua vez, na jurisdição, podem ser entendidas sob diversas perspectivas. A primeira delas é a chamada crise estrutural e diz respeito ao financiamento, como infraestrutura das instalações, de pessoal, equipamentos, custos – estes últimos não somente relativos a valores efetivamente gastos, mas também ao custo diferido que se reflete em razão do alongamento temporal das demandas79. Ressalvada a excepcional situação de alguns tribunais, o arcaísmo predomina na justiça nacional. Isso significa que não há planejamento estrutural, mas sim despreparo administrativo, lamentação contínua por mais cargos e melhores salários e projetos interrompidos. “O funcionalismo ainda ostenta as denominações medievais. A regra é a inexistência de plano de carreira. A ascensão funcional é quase sempre empírica”. O funcionalismo que outrora era elite, hoje se vê empobrecido. Desmotivados, os operadores do direito lutam por sobrevivência; não há preocupação nem em deixar o servidor satisfeito80. Outra crise, chamada objetiva ou pragmática, engloba a questão da linguagem técnico-formal utilizada nos rituais processuais, bem como a burocratização, lentidão de procedimentos e acúmulo de demandas 81.O número excessivo de processos é a regra atualmente no Judiciário. Todos recorrem e ele: ricos, pobres, pessoas físicas, jurídicas, empresas, sindicatos, bancos, de produção do Direito se instala justamente porque a dogmática jurídica, em plena sociedade transmoderna e repleta de conflitos transindividuais, continua trabalhando com a perspectiva de um Direito cunhado para enfrentar conflitos interindividuais, bem nítidos em nos Códigos (civil, comercial, penal, processual pena, processual civil, etc.). 78 FARIA, José Eduardo. O Poder Judiciário no Brasil: paradoxos, desafios e alternativas. Brasília: Conselho da Justiça Federal, 1995, p. 15: a magistratura não está preparada técnica e doutrinariamente para lidar com aspectos substantivos dos pleitos a ela submetidos, enfrentando dificuldades para interpretar novos conceitos em face da insuficiente sensibilidade sociológica. 79 SPENGLER, Fabiana Marion. Da jurisdição à mediação: por uma outra cultura no tratamento dos conflitos. Ijuí: Unijuí, 2010. 80 NALINI, José Renato. A rebelião da toga. Campinas: Millennium, 2008, p. 120. A Justiça ficou muito tempo desprovida de um setor de Recursos Humanos e consequentemente sem conhecer bem seus servidores. 81 SPENGLER, Fabiana Marion. Da jurisdição à mediação: por uma outra cultura no tratamento dos conflitos. Ijuí: Unijuí, 2010, p. 78. 39 associações, organizações, etc. “Invoca-se o juiz quando se tem razão e, principalmente, quando não se tem nenhum direito”82. Nesse contexto, a complexidade do processo gera uma lentidão insuportável e assim a injustiça consegue uma sobrevida, prolongada até vencer as quatro instâncias recursais. Desta forma os devedores são clientes muito gratos à justiça; apelar a ela parece ser a única alternativa para quem falha o cumprimento espontâneo de alguma obrigação e a quebra de compromisso em todas as esferas83. A questão da duração de um procedimento reporta-se ao nó do convencionalismo; a relação mais geral entre direito e tempo é uma reserva ilimitada. “Certo, non sapremo mai cosa perdiamo quando perdiamo tempo”; por outro lado, o tempo é um recurso não igualmente distribuído e isto significa que em um conflito o tempo que alguém perde é ganho pelo outro; e enfim, do ponto de vista não da ética pública, mas simplesmente da racionalidade social, é um empobrecimento coletivo o fato de que se desperdicem recursos, mesmo temporalidades, por bases rituais, simbolicamente significativas, grandiosas, mas inúteis e que não se pode efetuar84. Além disso, o problema da comunicação não ocorre somente entre os operadores de direito e a sociedade, em face do desconhecimento da linguagem técnico-formal pelos cidadãos. Ocorre que o próprio Judiciário não está sabendo dialogar com os demais poderes estatais, nem com a mídia. O cultivo de uma linguagem apenas compreensível por iniciados e a interposição de um agente provido de capacidade postulatória como forma de acesso à justiça acaba tornando a prestação do justo um equipamento hermético85. Lamentavelmente, por meio de um conjunto de crenças e práticas os juristas passam a conhecer de modo confortável e acrítico o significado das palavras, das categorias e das próprias atividades jurídicas, banalizando sua profissão. Logo, seu saber profissional se converte em “’capital simbólico’, isto é, 82 NALINI, José Renato. A rebelião da toga. Campinas: Millennium, 2008, p. 106-108. NALINI, José Renato. A rebelião da toga. Campinas: Millennium, 2008, p. 108-110. 84 RESTA, Eligio. Diritto vivente. Roma: Laterza, 2008, p. 165. 85 NALINI, José Renato. A rebelião da toga. Campinas: Millennium, 2008, p. 178: o hermetismo do Judiciário é a causa principal da sua inoperância ao reagir às críticas. Por hermetismo, aliado a certa prepotência institucional, tem dificuldade em se relacionar com as demais instâncias do poder. Hermetismo também explica a deficiência em se curvar ao dever institucional de oferecer contínua prestação de contas de sua atuação. 83 40 numa ‘riqueza’ reprodutiva a partir de uma intrincada combinatória entre conhecimento, prestígio, reputação, autoridade e graus acadêmicos”86. Deste modo surge o hiato entre a singeleza da concepção de justiça pelo cidadão comum e a extrema complexidade dos ritos processuais que ele não consegue entender por carecer da devida formação jurídica. Além de reforçar um sentimento de descrença por parte da população, afastando-a da justiça, gera até mesmo desprezo da sociedade em face dela87. A morosidade, por sua vez, é o mais universal de todos os problemas do Judiciário e as respostas postuladas surgem quando os interessados já se desalentaram, quando o conflito já se dirimiu, ou quando a discussão do problema já perdeu importância. O processo e seus ritos estão em descompasso com o ritmo da sociedade moderna; prova disso são os atos de comunicação que não se modernizaram, confiados a um tratamento artesanal, a coleta de provas que continua atendendo a cânones superados, entre outros, – idêntico à produzida no medievo88. Após superadas essas vicissitudes em primeiro grau, a outorga da prestação jurisdicional distancia-se de seu ideal. Mas não termina aí: instaura-se, posteriormente, a reapreciação por instâncias superiores. O reexame justifica-se pela tradição no Direito do duplo grau de jurisdição e a tentativa de reverter o resultado obtido no grau inferior em face de um patamar mais experiente. “O que não se legitima, porém, é a existência de verdadeiros quatro graus de jurisdição” – sem esquecer que no processo cível, após a solução definitiva, ainda há o processo de execução89. A crise subjetiva ou tecnológica, a seu tempo, se vincula à incapacidade de os operadores do direito lidarem com novas realidades fáticas que exigem não somente a construção de novos instrumentos legais, mas também a reformulação 86 STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica jurídica e(m) crise: uma exploração hermenêutica da construção do Direito. 3. ed. rev. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001, p. 84. 87 FARIA, José Eduardo. O Poder Judiciário no Brasil: paradoxos, desafios e alternativas. Brasília: Conselho da Justiça Federal, 1995, p. 13. 88 NALINI, José Renato. A rebelião da toga. Campinas: Millennium, 2008, p. 176. Opções que tanto se acreditou, como por exemplo os Juizados Especiais, aos poucos também vão se contaminando com os vícios do Judiciário convencional: pautas longas, excesso de formalismo, de burocracia, entre outros. 89 NALINI, José Renato. A rebelião da toga. Campinas: Millennium, 2008, p. 175-176. 41 de mentalidades, mudanças de perspectivas, pois tais mecanismos lógico-formais não atendem às soluções buscadas aos conflitos contemporâneos90. Não se pode perder de vista que a sociedade brasileira está cada vez mais heterogênea e complexa, ostentando situações econômicas, sociais e culturais díspares, fator que interfere na administração da justiça. No ato de julgar prestigiam-se valores; e, nesse sentido, não existe homogeneidade valorativa. “Em Direito, a polarização é mais do que provável. É a própria dialética do processo”, por isso a importância de se chegar em um ponto de equilíbrio entre os dois lados91. A crise paradigmática, por fim, repercute nos métodos e conteúdos utilizados pelo direito para a busca de um tratamento pacífico para os conflitos a partir da atuação prática do direito aplicado a cada caso, vez que o modelo jurisdicional não atende às necessidades sociais dos sujeitos envolvidos e do conteúdo das lides92. O problema é o excessivo ritualismo do judiciário, que já deixou de ser uma questão cultural para ser tema de interesse ético, tornando o processo uma ferramenta inadequada na busca pelo resultado apropriado a uma controvérsia. Nesse sentido, o processo passou a ser uma finalidade em si e caracteriza-se por ser intrincado, obsoleto e ideologicamente voltado à preservação de injustiças93. Logo, “a dimensão dada pelo ritual judiciário a qualquer decisão judicial vai muito além das particularidades do processo”, refazendo o caminho que vai da violência ao direito, transformando o delito numa ocasião de socialização. Ocorre que desta forma o espetáculo do processo judicial dá ao mal um rosto – do réu –, à violência um quadro – o do confronto entre as partes – e à unidade um símbolo – a sentença. “Ao reconstituir estes três movimentos – o caos, o confronto e a resolução – leva à cena o próprio drama da vida política à ordem social e jurídica, 90 BOLZAN DE MORAIS, José Luis; SPENGLER, Fabiana Marion. Mediação e arbitragem: alternativas à jurisdição! 2 ed. rev. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008, p. 80. 91 NALINI, José Renato. A rebelião da toga. Campinas: Millennium, 2008, p. 165-168. 92 BOLZAN DE MORAIS, José Luis; SPENGLER, Fabiana Marion. Mediação e arbitragem: alternativas à jurisdição! 2 ed. rev. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008, p. 79. 93 NALINI, José Renato. A rebelião da toga. Campinas: Millennium, 2008, p. 182. 42 representando-a”: o ritual judiciário, conferindo-lhe consistência, torna-a 94 desejável . No bem e no mal, portanto, a história do processo é a história da legalidade moderna definida pelo recorde da lei, por mais convencional que essa seja, e daquela gramática das palavras que deve distanciar de si a violência. Alhures reconstruímos este acontecimento do ponto de vista de phàrmakon, daquela estranha combinação de veneno e antídoto, tratamento e doença, que ambiguamente atravessa a violência, a lei, a escritura95. O direito e o processo se justificam como antídotos, mas, para não ser por sua vez veneno, devem reduzir o arbítrio da punição através da minimização da violência e o respeito de um princípio de exceção do meio. A aposta moderna é aquela de colocar junto garantias e eficiência, procedimento e resultado, respeito dos direitos e investigação da verdade96. Ademais, a crise jurisdicional também afeta a qualidade e quantidade das lides, através da interferência de variáveis endógenas – formalização de novos direitos, normatizações nem sempre universalistas, categorias profissionais orientadas ao direito como cultura do conflito – e exógenas, as quais consistem em economias expansivas e conflituosas, ausência de uma cultura solidária, entre outros. Deste modo, em face de tal hipertrofia, a direção política do direito deve mover-se no sentido de uma jurisdição mínima contra uma jurisdição onívora e ineficaz. Porém, para que isso ocorra, ou seja, para que se possa recomeçar, “é preciso uma reconsideração ecológica da relação entre justiça e sociedade, que leve em conta o problema dentro da sociedade, onde se criam, juntos, os problemas e os remédios”97. Todos esses problemas desembocam na crise de eficiência da jurisdição, a qual consiste na impossibilidade de responder de um modo eficiente à complexidade social e litigiosa, evidenciando morosidade e ineficiência na 94 GARAPON, Antoine. Bem julgar. Ensaio sobre o r, p. 67-71.itual do Judiciário. Tradução de Pedro Filipe Henriques. Lisboa: Instituto Piaget, 1997 95 RESTA, Eligio. La certezza e la speranza. Saggio su diritto e violenza. 3 ed. Roma-Bari: Laterza, 2007. 96 RESTA, Eligio. Diritto vivente. Roma: Laterza, 2008, p. 164. 97 RESTA, Eligio. O Direito Fraterno. Tradução de Sandra Regina Martini Vial – Santa Cruz do Sul: Edunisc, 2004, p. 100. 43 prestação do serviço judicial. A junção de todas essas deficiências provoca o descrédito do cidadão pela justiça e seu consequente afastamento da mesma. A decisão judicial frequentemente é insuficiente para satisfazer à pretensão formulada, não somente pela mora na prestação jurisdicional ou pelo insensato regime de recursos, mas por ser meramente processual e não atingir o cerne da controvérsia. “O fenômeno é abrangente e complexo” e assim ordens judiciais são descumpridas e nada acontece98. Deste modo, os aspectos óbvios desta crise de ineficiência dizem respeito à inefetividade do Poder Judiciário em face do descompasso entre procura e oferta de serviços judiciais, tanto em termos qualitativos quanto quantitativos. Em outras palavras, a produção judicial ocorre em ritmo inferior à entrada de novos processos. Este fato iniciou na década de 80 com a abertura política e democratização progressiva que despertaram na população a consciência de seus direitos, mas “esbarraram num Judiciário despreparado para responder ao desafio da ampliação do acesso à Justiça no âmbito de um país 99 ‘reconstitucionalizado’” . Vive-se, portanto, uma crise de organização política da sociedade em face do desmoronamento dos princípios que nortearam a organização política por vários séculos; “a população tem a maior parte de suas expectativas frustradas pela inoperância dos órgãos públicos, que não conseguem realizar suas funções e pelo agravamento das condições econômicas”, criando assim um clima de insegurança e impedindo a visão de um futuro promissor. Há uma total desconexão entre o aparelho judicial e o sistema político e social em face dos problemas referidos, da complexidade dos litígios e do aumento da desigualdade social100. Muitas são as causas101 destas crises. As causas estruturais ou organizacionais referem-se ao problema da estrutura do Judiciário, a qual contém mais de cem tribunais autônomos sem coordenação e planejamento. Somente 98 NALINI, José Renato. A rebelião da toga. Campinas: Millennium, 2008, p. 183. FARIA, José Eduardo. O Poder Judiciário no Brasil: paradoxos, desafios e alternativas. Brasília: Conselho da Justiça Federal, 1995. 100 AGRA, Walber de Moura. Republicanismo. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005, p. 11-15. 101 Observa-se que na obra NALINI, José Renato. A rebelião da toga. Campinas: Millennium, 2008, o autor refere as causas da crise de identidade do juiz, especificamente. Porém, no presente estudo, entende-se que tais causas são também responsáveis por todas as deficiências apresentadas, vez que estão interligadas e dependentes. 99 44 com a Emenda Constitucional 45/2004 o Conselho Nacional de Justiça assumiu esta tarefa, tornando-se responsável por fiscalizar os juízes, prever condições para enfrentar os desafios e assegurar sua subsistência digna, tudo com o intuito de fortalecer a democracia. Além disso, pode-se afirmar que a estrutura jurisdicional atual transformou os tribunais intermediários tão somente em casas de passagem; isso ocorre porque são quatro as instâncias a serem vencidas por quem pretenda ver seu problema apreciado pela justiça: o primeiro grau, com o juiz local, o segundo grau, com o tribunal local, o Superior Tribunal de Justiça e finalmente o Supremo Tribunal Federal. É isto que ocorre com aqueles que precisam recorrer ao Judiciário para reconhecer seus direitos. A estrutura “permite a qualquer bom operador do direito fazer chegar à Corte Suprema todas as demandas judiciais”, tornando-se comum ouvir de advogados que a sentença de primeiro grau e os acórdãos de órgãos colegiados são irrelevantes. Assim, afastou-se do Brasil a ideia de um segundo julgamento como último e definitivo – ressalvadas as poucas hipóteses de competência originária102. Outra das causas é a conjuntural e alude à falta de planejamentos; ou seja, não há projetos e os poucos existentes se limitam à necessidade de criação de novos cargos, contratação de novos funcionários e instalação de novas unidades judiciais. Ademais, muitas vezes o comando do Judiciário foi assumido por magistrados com pouco talento para administração, em face da regra da antiguidade. O líder, ao contrário, deve ser escolhido pela capacidade de gestão, pois são essas as atribuições deste trabalho. As causas processuais envolvem o desequilíbrio entre a segurança jurídica e a cultura do litígio. Assim, o processo – que deveria ser instrumento de busca pela justiça – tornou-se uma finalidade em si: “a forma foi privilegiada em detrimento da substância”. O país das quatro instâncias e infinidade de recursos assegura uma duração interminável dos feitos e por isso as demandas se eternizam no Judiciário. Mas, ainda pior que isso é o fato dos processos não receberem soluções, apenas respostas processuais. “Grande percentual de lides 102 NALINI, José Renato. A rebelião da toga. Campinas: Millennium, 2008, p. 12. É suficiente apenas um pouco de talento para inserir dispositivos constitucionais nas petições iniciais e propiciar que toda causa chegue ao Supremo Tribunal Federal. Prova disso é o número de embargos de declaração opostos a quase todos os acórdãos, com o objetivo do prequestionamento. 45 é resolvido mediante análise de questões procedimentais, sem que se alcance o cerne do conflito que a elas deu origem”103. Por fim, as causas culturais compreendem o modelo operacional formal e conservador do Judiciário, dotado de um direito onipotente quanto à regulação das facetas da vida e de uma justiça que age apenas quando provocada. Este padrão vem de muito tempo e projeta-se desde a formação do bacharel em direito, nas faculdades. O Brasil possui mais faculdades de direito do que todo o mundo: atualmente são cerca mil, duzentos e quarenta cursos em plena atividade enquanto no resto do planeta a soma chega a mil e cem cursos 104; multiplica-se o número de faculdades enquanto sua qualidade decresce. Quase duzentos mil bacharéis em direito se formam por ano no país, enquanto atualmente são mais de 4 milhões inscritos nas faculdades de direito105. Os operadores do direito refletem as deficiências existentes no ensino jurídico.Ainda não se conseguiu superar a visão de auto-suficiência e normativismo para adotar modelos educacionais mais abertos, críticos, interativos e inovadores. A propagação das faculdades de direito traz consigo salas de aulas numerosas e heterogêneas, analfabetismo funcional, aprovação praticamente garantida e reavaliações constantemente concedidas. O docente, por sua vez, é um profissional da área jurídica e não um professor provido de didática com formação em pedagogia, muitas vezes despreparado para obter êxito na formação do aluno e/ou orientar o aprendizado de forma adequada, favorecendo a ideia da litigiosidade106. As faculdades de Direito “funcionam como meros centros de transmissão do conhecimento jurídico oficial, e não propriamente como centros de produção de conhecimento científico”. Ao mesmo tempo em que o professor fala de 103 NALINI, José Renato. A rebelião da toga. Campinas: Millennium, 2008, p. 18-20. Dados retirados da reportagem produzida pelo Conselho Nacional de Justiça: http://colunistas.ig.com.br/leisenegocios/2010/10/13/brasil-e-campeao-em-faculdades-de-direito/ 105 NALINI, José Renato. A rebelião da toga. Campinas: Millennium, 2008, p. 20-22. 106 NALINI, José Renato. A rebelião da toga. Campinas: Millennium, 2008, p. 234-236. É claro que existem exceções a esta regra. Mas sabe-se que é reduzido o número de pensadores que se propõem a ajustar o ensino do direito às necessidades emergentes. É tão abrangente o elenco de conhecimentos propiciados no curso de direito que a sabedoria popular já forneceu uma vocação peculiar ao curso de Direito no Brasil. A ele acorrem, na maioria, jovens que não sabem exatamente o que pretendem. Sabem apenas que precisam de uma formação superior, sem discutir a possibilidade de serem mais felizes com outra profissão, até mesmo desvinculada ao bacharelismo. 104 46 códigos, o aluno aprende – quando aprende – em códigos, motivo pelo qual a pesquisa jurídica é exclusivamente bibliográfica107. Por óbvio, é evidente que todas essas deficiências exercem impacto negativo na economia e política nacional de forma geral. Há, de fato, uma interação de crises, de forma que um problema leva a outro, cujo resultado é a manutenção de desigualdades sociais, do círculo vicioso da pobreza, distribuição desigual de direitos, ampliação da concentração de renda, bem ainda expansão irracional de matérias submetidas ao controle jurídico108. Mais do que isso, esta situação evidencia um problema muito mais profundo que atinge por consequência a produção cultural, ambiental, entre outros. Na verdade, está ocorrendo uma profunda “crise do regime democrático, uma crise do conceito de soberania, uma crise do Estado Democrático de Direito, uma crise do esquema funcional de separação dos três poderes”. Isto significa dizer que a pós-modernidade esta colocando em dúvida antigos valores que estruturavam a sociedade gerando, assim, uma intensificação dos conflitos sociais e o pior: uma crise de confiança entre os próprios indivíduos e entre a sociedade e o Estado109. Desta forma, a própria lei – e sua consequente criação, interpretação e aplicação – distancia-se da sociedade em que está inserida, não correspondendo à expectativa dos indivíduos, o que só agrava a crise de confiança do cidadão no Judiciário. Tal descrédito no regime democrático em geral é comprovado pelo completo afastamento do cidadão da vida política, como a apatia generalizada da sociedade pelas eleições, desinteresse pela política em geral, oposição total aos representantes e falta de confiança na classe política de modo abrangente110. 107 STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica jurídica e(m) crise: uma exploração hermenêutica da construção do Direito. 3. ed. rev. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001, p. 80. 108 FARIA, José Eduardo. O Poder Judiciário no Brasil: paradoxos, desafios e alternativas. Brasília: Conselho da Justiça Federal, 1995, p. 16. 109 AGRA, Walber de Moura. Republicanismo. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005. 110 Sobre a crise da cidadania vivenciada atualmente importante a leitura de VIEIRA, Liszt. Os argonautas da cidadania: a sociedade civil na globalização. Rio de Janeiro: Record, 2001, p. 236237: o momento é de perda gradativa dos direitos de cidadania, em face do enfraquecimento da nacionalidade. A cidadania nacional vem sendo abalada pela formação de instituições supranacionais; além disso, a importância crescente da dimensão econômica e social na vida moderna vem enfraquecendo os laços políticos da cidadania, pois os interesses econômicos e materiais passam a prevalecer sobre os direitos e deveres cívicos do cidadão. Logo, o Estado não possui o monopólio das regras, já que há regras internacionais que deve partilhar. Por isso, o Estado-nação não é mais o lar da cidadania. 47 Uma instituição como o Poder Judiciário não pode permanecer desconectada da sociedade. “O povo enxerga a Justiça com uma percepção de que ela é parcial, imprevisível, lenta e excludente dos desvalidos”. Não se confia mais na lei, a relação da humanidade com a lei mudou, pois no passado a regra do direito traduzia fielmente a ética dominante: “já foi o tempo em que o Judiciário estava acima de todas as críticas, dúvidas ou suspeitas e no qual o respeito era o primeiro sentimento a se devotar à Justiça. A Humanidade vive uma crise de fé”111. Esta falta de confiança do cidadão no sistema estatal, portanto, é uma preocupante consequência da conflitualidade existente atualmente, do aumento das desigualdades sociais e das diversas crises vivenciadas pelo Estado e seu poder jurisdicional. Este círculo vicioso (crises da jurisdição que promove a crise de confiança do cidadão no Estado, gerando por sua vez a crise do direito) deve ser quebrado e isso depende da difícil tarefa de restabelecer a confiança da sociedade nos instrumentos jurídicos, tema que será abordado no próximo item. Para evidenciar esta situação problemática, apresentam-se os números do Relatório produzido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ no item a seguir. 1.3 O Relatório Justiça em Números do Conselho Nacional de Justiça e a comprovação prática da cultura de litigiosidade O Conselho Nacional de Justiça é um órgão fiscalizador do Poder Judiciário que foi criado a partir da Emenda Constitucional nº 45/2004. Seu trabalho consiste no planejamento, coordenação, controle administrativo e aperfeiçoamento do serviço público na prestação da justiça, mediante reformulação de quadros e meios do Judiciário, sobretudo no que diz respeito ao controle e à transparência administrativa e processual. Dentre suas tarefas, o Conselho elabora – desde o ano de 2004 – uma pesquisa voltada para a atividade judicial desempenhada no país, com foco na apresentação de dados globais. O Relatório Justiça em Números é produto do Sistema Nacional de Estatísticas do Poder Judiciário e a coleta das informações objetiva possibilitar o 111 NALINI, José Renato. A rebelião da toga. Campinas: Millennium, 2008, p. 10-50. 48 entendimento e discussão de questões administrativas e da litigiosidade da justiça brasileira nas esferas Estadual, Federal e Trabalhista. A obtenção destes dados permite a realização de diversos diagnósticos sobre a justiça brasileira, bem como a elaboração de planejamento de políticas públicas para aprimoramento da prestação jurisdicional. Nesse sentido, o documento possui indicadores que permitem traçar o perfil do Judiciário como um todo e divulga informações como despesas, receitas, recursos humanos, quantidade de magistrados e servidores, de processos em tramitação, entre muitos outros. Todos os dados que compõem o estudo são fornecidos ao Conselho Nacional de Justiça semestralmente pelos Tribunais de Justiça, Tribunais Regionais Federais e Tribunais Regionais do Trabalho. Conforme o relatório112, no ano de 2010 as despesas totais da Justiça Brasileira (Estadual, Federal e Trabalhista) somaram o montante de R$ 41,4 bilhões, equivalente a 1,12% do PIB Nacional, e a R$ 212 ao ano por habitante. Além disso, a média de gasto nos três ramos da Justiça alcançou R$ 1,6 mil por caso novo, variando de R$ 1,3 mil na Justiça Estadual até R$ 3,4 mil na Justiça do Trabalho. Na média, a Justiça gastou R$127,4 mil por servidor e R$ 2,4 milhões por magistrado. Para se chegar nestes valores foram incluídas todas as despesas dos tribunais, além dos gastos com recursos humanos. Os gastos com recursos humanos, por sua vez, atingiram o total de R$ 36,7 bilhões, o que representou redução em relação ao ano de 2009. O percentual da despesa com recursos humanos atingiu, em média, 89,6% (variando de 86,5% na Justiça Estadual até 95,5% na Justiça do Trabalho). Já em relação aos valores arrecadados nas três esferas, calculam-se as receitas provenientes de custas, assim como outras decorrentes de recolhimentos de execuções fiscais e previdenciárias. O valor total de receitas para 2010 foi de R$ 17,5 bilhões. No cálculo do indicador “receitas em relação à despesa total da Justiça”, o percentual da Justiça Federal chega a 95,4%, bastante superior ao verificado para Justiça Estadual (34,6%) e para a Justiça do Trabalho (31,6%). Em relação à força de trabalho do Judiciário, consistia, ao final do ano de 2010, de 338 mil funcionários, dos quais 16.804 magistrados e 321.963 112 Todos os dados apresentados referentes ao Relatório Justiça em Números 2010 foram retirados do Portal CNJ: http://www.cnj.jus.br/. Pesquisa efetuada em 24.07.2011. 49 servidores, sendo que o total de servidores é composto pelo pessoal do quadro efetivo (exceto cedidos), requisitados, terceirizados, estagiários e comissionados sem vínculo. O número de magistrados aumentou apenas 3% em relação a 2009, ao passo que o total de servidores sofreu incremento na ordem de 2%. Também foi analisado o total de servidores da área judiciária referente ao quantitativo total de servidores, obtendo-se, em média, 78,5% dos servidores da Justiça lotados nessa área. Ainda, o relatório apurou que o Poder Judiciário conta em média com oito magistrados para cada grupo de cem mil habitantes. O índice mais elevado está na Justiça Estadual (6 magistrados por 100.000 habitantes) e o menor na Justiça do Federal (com menos de 1 magistrado por 100.000 habitantes). No que tange à força de trabalho por 100.000 habitantes, havia, ao final de 2010, 167 servidores do Judiciário (variando de 122 na Justiça Estadual até 20 na Justiça Federal) para cada grupo de 100 mil habitantes. Objetivando analisar a litigiosidade existente na justiça brasileira, o estudo apresentou dados gerais sobre a movimentação processual durante o ano de 2010, o número de casos novos, carga de trabalho dos servidores e congestionamento de processos, o número de sentenças e decisões proferidas e de processos baixados, trazendo valores absurdos. Constatou-se, assim, que no ano de 2010 ingressaram 24,2 milhões de processos nas três esferas da Justiça (17,7 milhões na Justiça Estadual, 3,1 milhões na Justiça Federal e 3,1 milhões na Justiça Trabalhista). Ao final de 2010, também existiam 59,1 milhões de processos pendentes. Neste item, o critério adotado para apuração dos dados compreende o total dos processos pendentes de julgamento juntamente com os processos pendentes de baixa (remessa para outros órgãos judiciais competentes ou outra instância, assim como arquivamento definitivo). Tramitaram nos três ramos da Justiça, portanto, cerca de 83,3 milhões de processos em 2010, com a soma dos casos novos e dos processos pendentes de baixa. Nesse sentido, foram proferidas 22,1 milhões de sentenças com base na seguinte subdivisão: 15,8 milhões na Justiça Estadual (representando 71% do total), 2,8 milhões na Justiça Federal e 3,4 milhões na Justiça do Trabalho. Na Justiça Estadual houve redução do total de sentenças, comparando-se com o ano 50 anterior; este fato, aliado à redução dos casos novos entre 2009 e 2010 fez com que os indicadores de sentenças e casos novos por magistrado diminuíssem. Já a Justiça do Trabalho constatou aumento quantitativo de sentença de 6% e redução do número de magistrados, justificando assim o total de sentenças proferidas. Outro dado que impressiona por sua dimensão é o número de casos novos em face de cada grupo de mil habitantes: foram 11.536 casos novos para cada grupo de cem mil habitantes nos três ramos do Judiciário. O ramo da justiça mais demandado é a Justiça Estadual, com 8.641 casos novos para cada grupo de 100.000 habitantes. Analisando de forma específica a litigiosidade na primeira instância do Judiciário – que inclui o 1º grau e os Juizados Especiais – nota-se um grande volume de ações. Foram ajuizados no ano de 2010 cerca de 15,2 milhões de processos. Deste modo, houve redução do quantitativo de casos novos nas três esferas e foi na Justiça Federal que ocorreu a maior diminuição, no percentual de 6%, enquanto a Justiça do Trabalho reduziu 4% e a Justiça Estadual 3%. A Justiça brasileira na 1ª instância, em suas três esferas, recebeu, em média, para cada magistrado atuante, aproximadamente 1.267 casos novos. Já o índice de servidores atuantes na área judiciária por magistrado, no 1º grau, foi igual a 11, isto é, havia, em 2010, em média, para cada magistrado de 1ª instância, 11 servidores da área judiciária, sendo que na Justiça do Trabalho eram apenas 8, na Justiça Federal eram 10 e na Justiça Estadual 13. Examinando-se a carga de trabalho é possível aferir o quantitativo de processos que os magistrados têm para julgar em média a cada ano. Cada magistrado da 1ª instância teve, em 2010, 5.085 processos passíveis de julgamento, em média. Já a obtenção da taxa de congestionamento aponta o percentual dos processos em tramitação que ainda não foram baixados definitivamente. Esta taxa, considerada apenas na fase de conhecimento na 1ª instância, foi igual a 61,6%, isto é, de cada 100 processos que tramitaram em 2010 aproximadamente 62 não tiveram sua baixa (e remessa para a fase de execução) alcançada. Os percentuais mais altos foram constatados na Justiça Estadual e na Justiça Federal – 64% e 59%, respectivamente. Já a taxa de congestionamento considerando a fase de execução na 1ª instância, foi de 87,6%, isto é, de cada 100 processos que tramitaram, no ano em 51 questão, aproximadamente 88 não tiveram sua baixa definitiva alcançada. Os percentuais mais elevados foram verificados novamente nas Justiças Estadual e Federal – 89% e 85%, respectivamente. Estes dados possuem comportamento inverso nos anos de 2009 e 2010, quando comparados: enquanto a carga de trabalho da Justiça Estadual diminuiu, sua taxa de congestionamento aumentou, ao passo que a carga de trabalho da Justiça do Trabalho aumentou e sua taxa de congestionamento diminuiu. Já na Justiça Federal observou-se grande redução da carga de trabalho quando comparada com as demais justiças e uma pequena diminuição em sua taxa de congestionamento. O indicador de decisões terminativas de processos por magistrado, no 1º grau, aponta a produtividade dos juízes, isto é, quantas sentenças foram prolatadas em determinado período. Constatou-se que cada magistrado brasileiro sentenciou, em média, 1.018 processos: 1.051 na Justiça Estadual, 697 na Justiça Federal e 1.060 na Justiça do Trabalho. Já o indicador de processos baixados por caso novo objetiva demonstrar, percentualmente, o montante de processos que foram baixados em relação aos que ingressaram. Isso significa que, se o indicador for maior que 1 (ou 100%), entende-se que o resultado foi positivo, pois foram baixados, numericamente, mais processos do que o montante ingressado, demonstrando que o saldo de processos pendentes será diminuído e refletindo positivamente na taxa de congestionamento. Nesse sentido, as três esferas obtiveram saldo positivo (superior a 100%) em relação a este indicador: a Justiça Estadual obteve 102,4%, a Justiça Federal 131,6% e a Justiça do Trabalho 104,2%. Avaliando a litigiosidade na segunda instância do Judiciário brasileiro, observa-se que ingressaram cerca de 2,8 milhões de ações, enquanto que se encontravam pendentes, no mesmo ano de 2010, 2,6 milhões de processos. Ao todo, portanto, na segunda instância havia o total de 5,4 milhões de processos em tramitação. Neste caso, constatou-se que havia em média 1.267 casos novos para cada magistrado atuante no 2º grau do Poder Judiciário. Relacionando a demanda pelos serviços judiciários com o quantitativo de juízes atuantes, é possível refinar o estudo somando outro elemento: o número de servidores da área judiciária por magistrado. O índice de servidores atuantes na área judiciária 52 por magistrado, no 2º grau, foi igual a 13, sendo que na Justiça Federal está o maior valor aferido, com 26 servidores por desembargador. Além disso, ao apresentar a carga de trabalho existente no 2º grau, o relatório afere a taxa de congestionamento nesta instância também, apontando índices alarmantes. Assim, segundo o relatório, cada magistrado brasileiro no 2º grau teve 2.819 processos passíveis de julgamento, em média. O indicador varia de 1.877 processos na Justiça do Trabalho até 11.896 processos na Justiça Federal, indicando a elevada carga de trabalho dessa última na segunda instância do Poder Judiciário. Logo, a taxa de congestionamento – que consiste na divisão dos casos não baixados pela soma dos casos novos e pendentes de baixa – no 2º grau da Justiça foi de 50,3%, isto é, 50,3% dos processos que tramitaram acumularam para o ano seguinte. As taxas de congestionamento no 2º grau, por ramo da Justiça, são: 48,2% na Justiça Estadual, 68,3% na Justiça Federal e 27,7% na Justiça do Trabalho. Através do número de decisões terminativas, pode-se obter a produtividade dos juízes; assim, no 2º grau, cada magistrado brasileiro sentenciou, em média, 1.312 processos em 2010 (1.112 na Justiça Estadual, 3.532 na Justiça Federal e 1.356 na Justiça do Trabalho). Já o indicador de processos baixados por caso novo, constata que no 2º grau, somente a Justiça Federal e a Justiça do Trabalho já contam com saldos positivos e apresentam percentuais acima de 100% (100,0% e 103,9%, respectivamente). A Justiça Estadual, por sua vez, parece ter mais dificuldade em administrar seu estoque de processos, estando o percentual ao redor de 91,8%. Por fim, buscou-se analisar a utilização do processo eletrônico para investigar o nível de informatização da justiça e a adoção da nova sistemática na tramitação processual. O indicador – obtido pela razão dos casos novos eletrônicos e do total de casos novos de todas as instâncias da Justiça (2º grau, 1º grau, Turmas Recursais e Juizados Especiais) – apontou que a Justiça Federal vem trabalhando de maneira equilibrada na implantação do processo virtual em seus Tribunais. Seu índice de virtualização de processos varia de 43% (3ª Região) a 74% (5ª Região) com destaque para o TRF da 4ª Região que atingiu o percentual de 82% de virtualização de casos novos no 1º grau. 53 Após averiguar e reunir estes valiosos dados o Relatório Justiça em Números relativo ao ano de 2010 constatou a amplitude do conjunto dos tribunais e a complexidade da máquina judiciária brasileira, bem como as grandes disparidades em relação aos insumos, dotações e litigiosidade encontrados. Prova disso é o resultado das despesas totais da justiça, envolvendo as três esferas; juntas somaram o montante de R$ 41,0 bilhões. Em relação a esse valor, a Justiça Estadual respondeu por 58,1%, a Justiça do Trabalho por 26% e a Federal por 15,8%, proporção que deve ser cotejadas com os quantitativos referentes ao volume de demanda e de movimentação processual por ramo da Justiça. Logo, a Justiça Estadual é seguramente a mais demandada, tendo totalizado aproximadamente 18 milhões de casos novos em 2010, enquanto a Justiça Federal e do Trabalho apresentaram, em contrapartida, quantitativos no patamar de 3 milhões de casos novos. De outro lado, os gastos com o Judiciário no Brasil não são significativos, chegando a representar 1,12% do PIB nacional. Para os gastos públicos nas demais esferas de governo, mostra-se necessário o estudo sobre a temática de custos no Judiciário, que se tornam legítimos quando utilizados em prol do melhor acesso à justiça e de uma maior qualidade e eficiência dos serviços judiciais. Ainda, através do relatório se pode concluir que a jurisdição envolve receitas significativas para o Estado. Durante o ano de 2010 foram arrecadados R$ 17,5 bilhões em receitas de execuções, sendo R$ 8 bilhões na Justiça Estadual, R$ 6,1 bilhões na Justiça Federal e R$ 3,3 bilhões na Justiça do Trabalho (18%). Somando-se os feitos novos com aqueles já em andamento, observa-se que tramitou no Judiciário o absurdo número de 83,3 milhões de processos ao longo do ano de 2010. Já pela taxa de congestionamento fica claro que a justiça brasileira não consegue decidir com presteza as demandas da sociedade, pois 70% dos processos em andamento ainda não foram baixados definitivamente – percentual que tem se revelado estável desde 2004. Nesse sentido, verifica-se que a Justiça Estadual é a maior responsável pelo número tão expressivo de demandas, pois sua taxa de congestionamento é de 73% enquanto os demais ramos apresentaram-se abaixo da média auferida. 54 Destaque para a Justiça do Trabalho que apresentou uma taxa de 49%, mais uma vez mostrando-se como o ramo do Judiciário que atende com maior celeridade aos jurisdicionados. Ademais, analisando os dados por grau de jurisdição, constata-se que em todos os ramos de Justiça o principal gargalo está no total de processos que não são finalizados na 1ª instância. De cada 100 processos em tramitação, apenas 24 foram finalizados até o final do ano. Destaque novamente para a Justiça Estadual, que apresentou taxa de congestionamento de quase 80% em 2009. O Relatório Justiça em Números de 2010 trouxe também o cálculo diferenciado da taxa de congestionamento entre as fases de conhecimento e execução. Por meio dessa distinção, foi possível averiguar que a taxa de congestionamento na fase de conhecimento da Justiça Estadual na1ª instância totalizou 64,9%, percentual próximo ao da Justiça Federal de 1º grau (59,7%). Em relação à taxa de congestionamento na fase de execução, observa-se que o congestionamento é bem superior à fase de conhecimento. No tocante ao número de sentenças e decisões terminativas de feitos, ao analisar os dados históricos dos anos de 2004 a 2010, observa-se que o percentual tem se mantido próximo ao constatado nos períodos anteriores, no patamar de 4%, devido, sobretudo, à Justiça Estadual, que tem sido a principal responsável pelo aumento na produtividade média dos magistrados, uma vez que os dados da Justiça do Trabalho e da Justiça Federal apontaram quedas no número médio de decisões e sentenças por magistrado. Ainda, sobre a utilização do processo eletrônico, percebe-se que especialmente a Justiça Federal trabalha com o recurso na busca por informatização e celeridade. De outro lado, o baixo índice de utilização do processo eletrônico pela Justiça do Trabalho pode sinalizar o lento início da adoção do mesmo na esfera trabalhista. Por fim, dado importante revela que o percentual de execuções fiscais é expressivo e demonstra a necessidade de debate específico sobre o tema, que pode ser uma das principais causas da morosidade judicial. O enfrentamento desta e de outras questões tem potencial de auxiliar na solução de várias deficiências existentes na prestação jurisdicional. As informações adquiridas com os resultados do Relatório Justiça em Números de 2010, portanto, comprovam de forma ampla as crises enfrentadas na 55 prática pelo Judiciário nacional e lançam desafios para a criação de novas estratégias para as políticas judiciárias. Ao mesmo tempo, o estudo chama a atenção para a importância de se debater os problemas que a justiça brasileira atravessa, buscando novos rumos e esforços para seu aperfeiçoamento e modernização. Os números mencionados, deste modo, por si só demonstram as dificuldades enfrentadas pelo Judiciário brasileiro aliado ao fato de que a sociedade recorre a ele para resolver todo tipo de problema – inclusive aqueles que não precisariam. Em face desta situação, como modificar a consciência da sociedade? É possível sair dessa cultura centrada na judicialização dos conflitos? As crises que o Estado brasileiro enfrenta, refletidas especialmente na prestação jurisdicional, estão provocando sérios prejuízos à sociedade brasileira, especialmente a perda gradativa da confiança nas instituições, dificultando a adoção de um novo modelo cultural. Para tentar modificar este quadro é necessária uma mudança de cultura, mas sabe-se que esta tarefa não é fácil: o maior desafio na reconstrução da confiança do cidadão é reforçar sua participação social, desvinculando-se dos ritos processuais mas ao mesmo tempo mantendo a ideia de autoridade, e possibilitando uma convivência pacífica com uma visão positiva dos conflitos sociais. “Quando o aparelho estatal não consegue fazer face – em tempo oportuno e de maneira eficiente, eficaz e efetiva – às demandas por justiça, as soluções virão por outras vias”113. Na tentativa de modificar a situação atual, propõe-se um debate inicial sobre os conflitos sociais, sua importância e formas de tratamento, bem como as formas alternativas de resolução de disputas. Ainda, necessária a discussão das maneiras de modificar uma cultura e quebrar paradigmas, o que pode ser alcançado por meio da utilização de tais métodos. Nesse sentido, é a base teórica do capítulo a seguir. 113 NALINI, José Renato. A rebelião da toga. Campinas: Millennium, 2008, p. 49. 56 2 A IMPORTÂNCIA DO CONFLITO SOCIAL, OS MÉTODOS ALTERNATIVOS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS E A MEDIAÇÃO: A NECESSÁRIA BUSCA PELA CULTURA DA PAZ Neste capítulo serão abordados temas complexos e relevantes para a discussão entabulada no presente trabalho, referentes ao conflito social, seus conceitos e classificações, conforme o entendimento de sociólogos, como também sua ligação com a luta, a relação de poder, a dominação e a autoridade. A analise será pautada no enfoque de que o conflito não consiste em uma anomalia social, mas sim uma forma de criação do local e global. Na verdade, pensar na vida em termos de litígio, significa pensá-la em termos de assimetrias sucessivas e interligadas. Da mesma forma, apresenta-se a necessidade de buscar outras formas de tratar as controvérsias em face das falibilidades encontradas nos atuais métodos de resolução de litígios, questão já amplamente debatida no capítulo anterior. Nesse sentido, os métodos alternativos de resolução de disputas (ADR – Alternative Dispute Resolution) se tornam eficientes instrumentos na solução de controvérsias, na medida em que permitem a compreensão das partes sobre o problema por meio da construção de possibilidades a partir das diferenças, com propostas diversas daquela oferecia pelo judiciário. Deste modo, estuda-se o surgimento destes mecanismos, sua inserção na sociedade, bem como seu contexto histórico e as vantagens advindas com sua utilização. Discute-se também a contribuição de referidos métodos na busca por uma nova cultura de paz, baseada no consenso e na visão de que o conflito é uma forma de transformação social capaz de trazer benefícios quando bem administrado. Por fim, de todos estes instrumentos, analisa-se de forma ampla a mediação de conflitos como meio mais adequado de tratamento de disputas em face de seu caráter autônomo e consensuado, promotor de participação social e democracia. Para tanto, aponta-se seu surgimento em vários países, sua trajetória e origem até se tornar reconhecido método no tratamento de disputas. Esta é a discussão que ora se propõe. 57 2.1 A relevância do conflito social e sua interação com as relações de poder A importância do conflito para o amadurecimento e desenvolvimento das relações sociais demonstra aspectos não somente negativos, mas também positivos da interação conflitiva. Desta forma, “não obstante todo conflito ser considerado como uma perturbação que rompe com a harmonia e equilíbrio constituidores do estado normal da sociedade, ele é importante, uma vez que impede a estagnação social”. Por esta razão, a abordagem sobre o tema abrange ensinamentos de sociólogos renomados que entendem a controvérsia como um fenômeno fisiológico e não patológico114. Nesse sentido, Georg Simmel se refere ao conflito como um fato sui generis de dominação. A vontade de dominar é uma forma de interação ao passo que o desejo de dominação se propõe a quebrar a resistência interna do outro. Além de consistir uma forma de interação, o conflito é também sociação: se toda interação entre os homens é uma sociação, o conflito – afinal, uma das mais vividas interações e que, além disso, não pode ser exercida por um indivíduo apenas – deve certamente ser considerado uma sociação115. De fato, a dominação é exercida enquanto houver uma pessoa que manda eficazmente em outras, não necessariamente com a existência de um quadro administrativo ou associação, esta última denominada associação política quando houver ameaça e coação física para garantia da ordem. A possibilidade de exercer poder ou influência exige autoridade soberana que se baseie nos motivos da submissão, podendo existir, por outro lado, a vontade de obedecer. A dominação dirigida a uma pluralidade de pessoas requer um quadro de pessoas, isto é, há a “probabilidade confiável de que haja uma ação dirigida especialmente 114 SPENGLER, Fabiana Marion. Da jurisdição à mediação: por uma outra cultura no tratamento dos conflitos. Ijuí: Unijuí, 2010, p. 245-246. 115 SIMMEL, Georg. Sociologia. Tradução de Carlos Alberto Pavanelli et al. São Paulo: Ática, 1983. Isto é aproximadamente paralelo ao fato do mais violento sintoma de uma doença ser o que representa o esforço do organismo para se livrar dos distúrbios e dos estragos causados por eles. 58 à execução de disposições gerais e ordens concretas, por parte de pessoas identificáveis com cuja obediência se pode contar”116. Neste caso, o detentor da dominação possui “a probabilidade de encontrar obediência a uma ordem de determinado conteúdo, entre determinadas pessoas indicáveis”. De outro lado, “poder significa toda probabilidade de impor a própria vontade numa relação social, mesmo contra resistências, seja qual for o fundamento dessa probabilidade”. O jogo dos conflitos frequentemente é um jogo de poder, pois se trata do confronto entre vontades que buscam ceder a resistência do outro117. Ainda, “o poder sobre os objetos cria um poder sobre os outros. O desejo de posse e o desejo de poder estão profundamente ligados um ao outro”, consistindo muitas vezes em motivos para desencadear litígios. Nesse mesmo sentido, a coação: “coagir alguém é obrigá-lo a agir contra a sua vontade”, aceitando aquilo que inicialmente recusava. “Aceita porque não pode deixar de o fazer ou, mais precisamente, porque se o não fizesse, seriam mais os inconvenientes do que as vantagens que daí lhe adviriam”118. As subordinações, por sua vez, se desenvolvem a partir das relações de poder muito reais e pessoais. Através da espiritualização do poder dominador ou através da expansão e despersonalização de toda a relação, desenvolve-se gradualmente um poder ideal objetivo acima destas superordenações e subordinações. O superior exerce então o seu poder meramente na qualidade de representante mais próxima desta força ideal objetiva119. Desta forma, um poder soberano é dotado de força e esta, a seu tempo, “é mais coercitiva e imediata do que o poder. Fala-se, enfatizando-a, em força física. O poder, em seus estágios mais profundos e animais, é antes força” 120. O Estado é uma organização política por ser uma ordem que regula o uso da força, porque 116 WEBER, Max. Economia e sociedade: fundamentos da sociologia compreensiva. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2000, p. 139. 117 WEBER, Max. Economia e sociedade: fundamentos da sociologia compreensiva. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2000, p. 33. 118 MULLER, Jean-Marie. O princípio da não-violência. Percurso filosófico. Tradução de Maria Fernanda Oliveira. Lisboa: Instituto Piaget: 1995, p. 27. 119 SIMMEL, Georg. Sociologia. Tradução de Carlos Alberto Pavanelli et al. São Paulo: Ática, 1983, p . 115. 120 CANETTI, Elias. Massa e poder. São Paulo: Companhia das Letras, 1995, p. 281. 59 monopoliza o uso da força; é também uma sociedade politicamente organizada por ser constituída pela ordem coercitiva, que é o Direito121. Neste contexto, também a violência consiste em uma relação de poder e não apenas entre forças desenvolvidas por vários sujeitos ou grupos de dimensão variável que acabam forçando o outro a atuar contra a sua vontade e executar um desejo estranho. “Essa imposição de vontade se dá por meio de ameaças, de intimidação, de meios agressivos ou repressivos, capazes de atentar contra a integridade física ou moral do outro, contra os seus bens materiais, ou contra as suas ideias mais preciosas”, de modo que a violência trata da relação entre poderes e não entre forças122. Porém, a violência não é o único e nem necessariamente o mais eficaz instrumento utilizável num conflito social: “ela, de fato, não mede o grau de envolvimento, mas assinala a inexistência, a inadequação, a ruptura de normas aceitas por ambas as partes e de regras do jogo”. Esta violência pode ocorrer de diversas formas123 e a análise dos meios pelos quais ela acontece possibilita alcançar uma melhor compreensão do próprio conflito. O importante é que a violência sempre traz atrelada a ela um perdedor e consequentemente permanece intimamente ligada ao conflito que se revela como uma fase intermediária entre um estado de ordem inicial que se transforma em desordem124. A guerra é o maior exemplo da existência de violência na sociedade humana. Longe de ser uma sociedade pacífica, a sociedade contemporânea, que insiste em negar a importância dos conflitos, é atravessada por uma imensa carga de violência125. Esta, por sua vez, compreende o abuso da força, o insulto, a humilhação, a tortura. Até mais do que isso: “a violência, por si mesma, é um 121 KELSEN, Hans. Teoria geral do direito e do estado. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998. SPENGLER, Fabiana Marion. Da jurisdição à mediação: por uma outra cultura no tratamento dos conflitos. Ijuí: Unijuí, 2010, p. 249-250. 123 SPENGLER, Fabiana Marion. Da jurisdição à mediação: por uma outra cultura no tratamento dos conflitos. Ijuí: Unijuí, 2010, p. 251: existe aquela violência que não emerge e encontra-se escondida, interiorizada e não expressada, consistindo em verdadeira autoagressão. Paralelamente, há a violência comportamental, consciente ou não, que precede a violência verbal e física, mediante gestos e posturas, palavras ou silêncios. 124 SPENGLER, Fabiana Marion. Da jurisdição à mediação: por uma outra cultura no tratamento dos conflitos. Ijuí: Unijuí, 2010, p. 250-253. 125 BENASAYAG, Miguel; DEL REY, Angélique. Elogio del conflito. Milano: Feltrinelli, 2008, p. 6474. 122 60 abuso; o próprio uso da violência é um abuso. Abusar de alguém é violá-lo. Toda a violência que se exerce contra o homem é uma violação: a violação de seu corpo, de sua identidade, da sua personalidade”126. A violência, na verdade, não passa de uma expressão da agressividade; violentar é fazer sofrer. A agressividade não deixa de ser um poder de combatividade, de afirmação de si, que permite enfrentar o outro. Com efeito, a violência surge como um des-regulamentodo conflito, que deixa de lhe permitir cumprir a sua função, que é a busca pela justiça entre os litigantes. Quando se fala em violência, não se pode perder de vista também a violência estrutural, gerada pelas estruturas políticas, econômicas ou sociais que acabam criando situações de opressão, exploração ou alienação. As vítimas de tais situações sofrem uma violência que atenta contra a sua dignidade e liberdade, pendendo muitas vezes sobre elas uma real ameaça de morte127. No entanto, “compreender a violência não é motivo para a justificar”, mas sim criar mecanismos para a pratica da não-violência, almejando uma cultura de paz. Esta filosofia critica as ideologias violentas, emprego de força, coação, agressividade; “a violência continua a ser violência, isto é, continua a ser injusta e, logo, injustificável porque é desumana, qualquer que seja o fim que se pretende servir ao utilizá-la”128. Desta forma, a violência não é considerada uma forma de evolução social, mas a dinâmica conflitiva em si é uma forma de manter a vida social, de demarcar seu futuro, facilitar a mobilidade e valorizar determinadas configurações ou formas sociais em detrimento de outras. “O conflito transforma os indivíduos, seja em sua relação uns com os outros, ou na relação consigo mesmo, demonstrando que traz consequências desfiguradoras e purificadoras, enfraquecedoras ou fortalecedoras”129. 126 MULLER, Jean-Marie. O princípio da não-violência. Percurso filosófico. Tradução de Maria Fernanda Oliveira. Lisboa: Instituto Piaget: 1995, p. 30-31. 127 MULLER, Jean-Marie. O princípio da não-violência. Percurso filosófico. Tradução de Maria Fernanda Oliveira. Lisboa: Instituto Piaget: 1995, p. 32-33. 128 MULLER, Jean-Marie. O princípio da não-violência. Percurso filosófico. Tradução de Maria Fernanda Oliveira. Lisboa: Instituto Piaget: 1995, p. 36. 129 SPENGLER, Fabiana Marion. Da jurisdição à mediação: por uma outra cultura no tratamento dos conflitos. Ijuí: Unijuí, 2010, p. 264-265. 61 Além disso, o conflito, fato complexo e multidimensional, não está confinado tão somente no âmbito dos fenômenos humanos individuais ou coletivos, mas sim em uma realidade muito mais profunda, situada no entrelaçamento entre a fenomenologia e a ontologia. Sua concepção clássica não se refere ao antropocentrismo, mas sim é consubstancial à vida e à existência em cada forma: “il conflitto è un dispositivo ontologico”130. Assim como o universo precisa de “amor e ódio”, isto é, de forças de atração e de forças de repulsão para que tenha uma forma qualquer, assim também a sociedade, para alcançar uma determinada configuração, precisa de quantidades proporcionais de harmonia e desarmonia, de associação e competição, de tendências favoráveis e desfavoráveis. A competição131, por sua vez, tem enorme efeito sociativo: os grupos se distinguem em seu caráter sociológico segundo a extensão e o tipo de competição que admitem. Quanto mais estreitamente unido é um grupo, tanto mais a hostilidade entre seus membros pode ter consequências bem opostas. Por um lado o grupo precisamente por causa de sua intimidade, pode suportar antagonismos internos sem se dividir, desde que o vigor das forças sintéticas possa competir com o vigor de suas antíteses132. Ademais, o conflito possui a capacidade de constituir-se num espaço social em que o próprio confronto é um ato de reconhecimento e, ao mesmo tempo, produtor de um metamorfismo entre as interações e as relações daí resultantes. Outra característica positiva atribuída a ela reside no fato de superar hiatos e 130 BENASAYAG, Miguel; DEL REY, Angélique. Elogio del conflito. Milano: Feltrinelli, 2008, p. 105: Il conflitto, realtà complessa e multidimensionale, è ben altro dal semplice scontro. Ma non si comprende appieno questa tesi fichè non la si legge alla luce dell’ipotesi secondo cui il conflitto non è una realtà confinata nell’ambito dei soli fenomeni umani, individuali o collettivi, ma una realtà molto più profonda, situata all’incrocio tra la fenomenologia e l’ontologia. La conceine classica del conflitto non fa persa che sul livelo più superficiale del conflitto stesso; ci presenta ad esempio due individui, due gruppi di uomini, due popoli in lotta. Ma il conflitto non è antropocentrico, è consustanziale alla vita, all’esistenza in ogni sua forma; il conflitto è un dipositivo ontologico. 131 SIMMEL, Georg. Sociologia. Tradução de Carlos Alberto Pavanelli et al. São Paulo: Ática, 1983, p . 147: formalmente falando, a competição repousa sobre o princípio do individualismo. Entretanto, tão logo aconteça no interior de um grupo, sua relação com o princípio social de subordinação de todos os interesses individuais ao interesse uniforme do grupo não é imediatamente visível. A disputa competitiva é conduzida por meio de realizações objetivas, produzindo habitualmente um resultado algo valioso para um terceiro. O interesse puramente social faz desse resultado uma meta suprema, enquanto que para os próprios concorrentes é somente um produto secundário. 132 SIMMEL, Georg. Sociologia. Tradução de Carlos Alberto Pavanelli et al. São Paulo: Ática, 1983, p. 124-135. 62 limites socialmente estabelecidos pelos intervalos dicotomizados, ou mesmo as desigualdades produzidas e estruturadas pelos resultados dos entrelaçamentos ocorridos entre os indivíduos. Ele é a substância existente nas mais diversas relações entre os indivíduos na sociedade133. Tudo isso significa que o litígio pode não só elevar a concentração de uma unidade já existente, eliminando radicalmente todos os elementos que possam obscurecer a clareza de seus limites com o inimigo, como também pode aproximar pessoas e grupos, que de outra maneira não teriam qualquer relação entre si. Seu poderoso efeito a este respeito surge de modo mais claro no fato de que a conexão entre a situação do conflito e a unificação é suficientemente forte para chegar a ser importante mesmo no processo inverso134. Além disso, o conflito não se confunde com o simples choque entre identidades diferentes de uma ou outra; trata-se, isso sim, de processo em que o ser se realiza sem obedecer a princípios de harmonia. Por esta razão, o conflito enquanto processo de autoimplantação do ser não é nunca mera destruição, mas sim, sempre construção da dimensão do ser. Os segmentos e as linhas de força que constituem uma situação em conflito atravessam de modo indistinto todos seus protagonistas: o conflito é autoafirmação, auto-organização dos fenômenos e não uma simples conjugação de choques135. No entanto, ele se reproduz junto às ações interativas e relacionais sociais, ou seja, em todas aquelas produzidas no interior da sociedade. “A sociedade é necessária porque as pessoas diferentes têm que criar instituições comuns para sobreviver e melhorar de vida”, já que suas diferenças são importantes “pelo menos na medida em que os vários interesses se inserem uns nos outros, se não também porque a alguns tem a capacidade de impor sua vontade a outros”136. 133 TEDESCO, João Carlos et al. Georg Simmel e as sociabilidades do moderno: uma introdução. Passo Fundo: Universidade de Passo Fundo, 2006, p. 180. 134 SIMMEL, Georg. Sociologia. Tradução de Carlos Alberto Pavanelli et al. São Paulo: Ática, 1983, p. 157. 135 BENASAYAG, Miguel; DEL REY, Angélique. Elogio del conflito. Milano: Feltrinelli, 2008, p. 8081. Il conflitto è autoaffermazione, autorganizzazione dei fenomeni. Non è un semplice insieme di scontri. 136 DAHRENDORF, Ralf. O conflito social moderno: um ensaio sobre a política da liberdade. Tradução de Renato Aguiar e Marco Antonio Esteves da Rocha. São Paulo: Edusp, 1992. 63 Na verdade, a importância da sociedade reside na formação do indivíduo, vez que cada sujeito incorpora parte dela por meio da transmissão de gerações sucessivas e da civilização, como também da autoridade moral137. Isso ocorre pois os próprios acontecimentos sociais são fenômenos de natureza humana, gerados por ações de circunstâncias individuais: “os homens, em um estado de sociedade, são ainda homens; suas ações e paixões obedecem às leis da natureza humana individual”138. Os seres humanos em sociedade não têm outras propriedades além daquelas que são derivadas e que podem ser resolvidas nas leis da natureza do homem individual. Por este motivo, difícil separar a ideia de indivíduo de sua situação social, já que o sujeito só existe em face da sociedade 139. Outro fator central e definidor da formação do indivíduo social é sua ligação com a racionalização. Enquanto esta tende com maior freqüência a combinar centralidade cultural e associação à gestão da ordem estabelecida, o sujeito ocupa efetivamente um lugar culturalmente central140. Portanto, a estrutura social e os processos subjetivos determinam a formação do indivíduo e também a identidade de cada sujeito. A identidade é elemento-chave da realidade subjetiva e, ao ser estabelecida pela estrutura social, acaba modificando-a, mantendo-a ou até mesmo remodelando- a141.Quando se fala de identidade e conflito, fala-se na verdade em choque, pois o conflito em si é irredutível a um esquema feito de identidades separadas e contrapostas, é um tecido complexo, um enredo no qual diferentes segmentos se articulam nas linhas de tensão não necessariamente coincidentes com as identidades em jogo naquela situação142. Com efeito, o choque se constitui como uma forma desviada do conflito, sua dimensão superficial e ontológica, que até mesmo se torna falsa quando modificada por inteiro. Neste caso, o erro consiste em pensar que o conflito não 137 DURKHEIM, Émile. Sociologia e filosofia. São Paulo: Ícone, 2004: o autor entende que a sociedade é o fim eminente de toda atividade moral, porém em face da amplitude do tema, o mesmo não será aprofundado. 138 MILL, John Stuart. A lógica das ciências morais. São Paulo: Iluminura Ltda, 1999, p. 77. 139 MILL, John Stuart. A lógica das ciências morais. São Paulo: Iluminura Ltda, 1999, p. 77. 140 TOURAINE, Alain. Crítica da modernidade. Petrópolis: Vozes, 1994, p. 257. 141 BERGER, Peter I.; LUCKMANN, Thomas.A construção social da realidade: tratado de sociologia do conhecimento. 12. ed. Petrópolis: Vozes, 1995. 142 BENASAYAG, Miguel; DEL REY, Angélique. Elogio del conflito. Milano: Feltrinelli, 2008, p. 95. 64 seja outra coisa a não ser um choque143. O jogo de dissensões se traduz segundo o desejo de uns de impor seus pontos de vista sobre os outros mediante a persuasão, o domínio, ou por outros meios. “Por isso, o choque de interesses e de aspirações divergentes desenvolve uma relação de forças”144. Na verdade, “a própria sociedade, em geral, significa a interação entre indivíduos”, a qual advém a partir de determinados impulsos ou da busca de certas finalidades. Neste caso, são os instintos, interesses objetivos, impulsos religiosos, objetivos de defesa, ataque, jogo, conquista, ajuda, entre tantos outros, que promovem a relação de convívio entre os seres humanos, atuação com referência ao outro, com o outro e contra o outro, isto é, em correlação com o outro145. De outro lado, sabe-se que não existe sociedade cujos integrantes sejam totalmente iguais, criando assim os conflitos na busca pela satisfação dos intentos particulares. São as semelhanças e as diferenças os princípios de todo desenvolvimento externo e interno da sociedade, de modo que a história da cultura da humanidade deve ser apreendida pura e simplesmente como a história da luta e das tentativas de conciliação entre esses dois princípios146. Mais do que isso, no âmbito das relações do indivíduo, a diferença perante outros sujeitos é muito mais importante que a semelhança entre eles, pois é a diferenciação que incentiva e determina em grande parte as ações humanas 147. A quebra da simetria designa o evento que rompe o fluxo normal de um processo social; a assimetria, por sua vez, provoca uma prisão na cadeia de todo o processo, que se manifesta a partir de uma zona de turbulência no sistema e que 143 BENASAYAG, Miguel; DEL REY, Angélique. Elogio del conflito. Milano: Feltrinelli, 2008, p. 99100. 144 SPENGLER, Fabiana Marion. Da jurisdição à mediação: por uma outra cultura no tratamento dos conflitos. Ijuí: Unijuí, 2010, p. 262. 145 SIMMEL, Georg .Questões fundamentais da sociologia: indivíduo e sociedade. Tradução de Pedro Caldas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006, p. 59-60. 146 SIMMEL, Georg .Questões fundamentais da sociologia: indivíduo e sociedade. Tradução de Pedro Caldas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006, p. 45-46. 147 SIMMEL, Georg .Questões fundamentais da sociologia: indivíduo e sociedade. Tradução de Pedro Caldas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006, p. 45-46. Observa-se que serão apresentados apelas alguns tipos de conflitos existentes na sociedade, em face da abrangência do assunto e da limitação do espaço. 65 dá lugar a um momento de vazio148. Desta forma, existe uma variedade de conflitos reais existentes entre o indivíduo e a sociedade. Um deles é o conflito do indivíduo consigo mesmo, causado justamente em face da inerência da sociedade no sujeito. A capacidade do ser humano se dividir em partes e sentir qualquer parte de si mesmo como seu ser autêntico – parte que colide com outras partes e que luta pela determinação da ação individual – põe o ser humano à medida que ele se sente como ser social, em uma relação frequentemente conflituosa com os impulsos de seu eu que não foram absorvidos pelo seu caráter social. O conflito entre a sociedade e o indivíduo prossegue no próprio indivíduo como luta entre as partes de sua essência149. A aceitação do conflito implica que outros possam se opor a certas ordens sociais ou religiosas sem constituir por isso mesmo uma anomalia ou uma forma de barbárie a ser eliminada. Implica a existência, nas relações com outros e com si próprios, de uma multiplicidade irredutível à unidade, radicalmente estranha à inclinação que acompanha a sociedade transparente e segura a vigiar e disciplinar150. Outro conflito existente na sociedade decorre da distribuição desigual das chances de vida, pois, sabe-se, nunca acontecem de maneira igual. Na verdade, não existe sociedade cujos integrantes tenham as mesmas prerrogativas e gozem dos mesmos provimentos; provavelmente esta condição nem seria possível. “A distribuição desigual das chances de vida é um resultado das estruturas de poder. Alguns estão numa posição em que podem estabelecer a lei pela qual a situação dos outros será medida”151. O combate também é uma forma de estar em conflito; seu objetivo principal é “subordinar a violência a um fim necessário de modo que ela esteja 148 BENASAYAG, Miguel; DEL REY, Angélique. Elogio del conflito. Milano: Feltrinelli, 2008, p. 108. SIMMEL, Georg .Questões fundamentais da sociologia: indivíduo e sociedade. Tradução de Pedro Caldas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006, p. 83-84. 150 BENASAYAG, Miguel; DEL REY, Angélique. Elogio del conflito. Milano: Feltrinelli, 2008, p. 74. L’accetazione del conflitto implica che altri possano opporsi a un certo ordine sociale o religioso senza costituire perciò stesso un’anomalia, una forma di barbarie da eliminare. Implica l’esistenza, nei nostri rapporti con gli altri e con noi stessi, di una molteplicità irreducibile a unità, radicalmente estranea all’inclinazione che porta le nostre società trasparenti e securitarie a sorvegliare e disciplinare. 151 DAHRENDORF, Ralf. O conflito social moderno: um ensaio sobre a política da liberdade. Tradução de Renato Aguiar e Marco Antonio Esteves da Rocha. São Paulo: Edusp, 1992, p. 4042. O presente tema não será aprofundado em razão de sua amplitude. 149 66 regulamentada e vigiada, criando estratégias para que tal intento se concretize”. Caracteriza-se por moderar um conflito impondo uma disciplina aos confrontantes, submetendo suas vontades a uma vontade superior152. Por fim, outro fato gerador de disputas é o não desempenho adequado dos papeis sociais153: a cada posição ocupada pelo indivíduo na sociedade, correspondem determinadas formas de comportamento. A tudo que ele é, correspondem coisas que ele faz ou tem, assim como cada posição social equivale a um papel social. Quando estes papeis sociais não são desempenhados adequadamente, conforme expectativas do grupo social, nascem os conflitos. “Tais conflitos são relações sociais, caracterizando-se como apenas um dos muitos meios de interação e convívio dentro de uma mesma sociedade”154. As situações conflitivas, portanto, têm como berço a luta pela vida e a necessidade de perpetuar a espécie, a luta contra a natureza, contra outros seres da mesma espécie, contra si mesmo, entre outros. A luta é necessária quando a possibilidade de diálogo se torna impossível; sua função é criar as condições do diálogo, estabelecendo uma nova relação de força que obriga o outro a reconhecer-se como interlocutor necessário, bem como estabelecer nova relação de força buscando um equilíbrio155. “No meio de cada conflito existe uma tensão. A tensão é definida como estado de inquietação ou distúrbio, desassossego interior, desequilíbrio” existente entre os indivíduos que estão litigando156. De fato, a litigiosidade da qual partem os conflitos é um complexo sistema no qual se agitam razões e paixões que nem sempre são fáceis de decifrar ou até 152 SPENGLER, Fabiana Marion. Da jurisdição à mediação: por uma outra cultura no tratamento dos conflitos. Ijuí: Unijuí, 2010, p. 253. 153 SPENGLER, Fabiana Marion. Da jurisdição à mediação: por uma outra cultura no tratamento dos conflitos. Ijuí: Unijuí, 2010, p. 259-260. Ocupando posições sociais, o indivíduo torna-se uma pessoa do drama escrito pela sociedade em que vive. Por meio de cada posição, a sociedade lhe atribui um papel que precisa desempenhar. O papel define, assim, uma zona de obrigações e de coerções correlativa de uma zona de autonomia condicionada. Por isso, os papeis sociais implicam uma coerção exercida sobre o indivíduo, podendo ser vivenciada como uma privação de seus desejos particulares ou como um ponto de apoio que lhe fornece segurança. Logo, aquele que não desempenha o seu papel será punido. 154 SPENGLER, Fabiana Marion. Da jurisdição à mediação: por uma outra cultura no tratamento dos conflitos. Ijuí: Unijuí, 2010, p. 259-261. 155 MULLER, Jean-Marie. O princípio da não-violência. Percurso filosófico. Tradução de Maria Fernanda Oliveira. Lisboa: Instituto Piaget: 1995, p. 23. 156 SPENGLER, Fabiana Marion. Da jurisdição à mediação: por uma outra cultura no tratamento dos conflitos. Ijuí: Unijuí, 2010, p. 246-247. 67 mesmo regular. “É então vasto o mundo do conflito que se expande do terreno dos recursos econômicos àquele simbólico das motivações, das preferências e dos desejos”, estendendo-se ao longo de redes de combinações possíveis que vão da motivação racional de um agir muitas vezes irracional a um agir racional na base de uma motivação completamente irracional157. Quando o conflito é levado ao Judiciário por meio do processo judicial, é composto pelo singular e aparente paradoxo comunitário entre os litigantes: aquilo que os separa, a ponto de justificar o litígio, é exatamente aquilo que os aproxima, no sentido que eles compartilham a lide e consequentemente um mundo de relações, normas, vínculos e símbolos que fazem parte do mecanismo. Por mais frágil que possa ser, a aposta separa e une, corta nitidamente a possibilidade de comunicação e instaura outras158. A dinâmica conflitiva coloca em relevo um aspecto diverso, o qual consiste na singular cumplicidade rival, ou rivalidade cúmplice, que se instaura entre os conflitantes. Este enfoque, na verdade, “termina por ser o coração secreto do conflito antes e independentemente de motivações mais ou menos racionais ou de interesses mais ou menos racionalizáveis”159. Logo, o conflito em si é fato complexo e não consiste tão somente no afrontamento entre dois seres, mas sim, uma multiplicidade de processos entrelaçados160. O Estado possui o monopólio da violência legítima, “arrogando-se no direito de decidir litígios e chamando à possibilidade de aplacar a violência mediante um sistema diverso do religioso e do sacrificial, denominado ‘Sistema Judiciário’”161. O problema é que sua utilização é uma forma de impor regras de tratamento de conflitos que racionaliza não só a violência, mas também a vingança – “a mesma avistada nos sacrifícios religiosos, diferenciando-se somente pelo fato de que a 157 RESTA, Eligio. O Direito Fraterno. Tradução de Sandra Regina Martini Vial – Santa Cruz do Sul: Edunisc, 2004, p. 105-106. 158 RESTA, Eligio. O Direito Fraterno. Tradução de Sandra Regina Martini Vial – Santa Cruz do Sul: Edunisc, 2004, p. 108. 159 RESTA, Eligio. O Direito Fraterno. Tradução de Sandra Regina Martini Vial – Santa Cruz do Sul: Edunisc, 2004, p. 110. 160 BENASAYAG, Miguel; DEL REY, Angélique. Elogio del conflito. Milano: Feltrinelli, 2008, p. 82. 161 SPENGLER, Fabiana Marion. Da jurisdição à mediação: por uma outra cultura no tratamento dos conflitos. Ijuí: Unijuí, 2010, p. 280-284. 68 vingança judicial não será seguida de outra, rompendo, assim, a cadeia vingativa”162. Logo, o sistema sacrificial e o Judiciário possuem a mesma função, no entanto, o último é mais eficaz. A racionalização da vingança se apoia justamente na autoridade judiciaria que recebeu tal encargo, atribuição esta nunca discutida ou contestada. Ao levar um conflito ao Judiciário o cidadão ganha – de um lado – a tranquilidade de deter a vingança e a violência privada/ilegítima para se submeter à vingança e à violência legítima/estatal, mas acaba perdendo – de outro – a possibilidade de resolver de fato seu problema de maneira autônoma e não violenta163. Nesse sentido, no processo judicial os atores acabam assumindo exclusivamente a identidade de conflitantes, a qual é fortalecida quanto mais construída não sobre interesses ou razões, mas sobre o interesse e a própria razão do conflito. Este caráter simétrico e especular é que determina uma espécie de equilíbrio entre eles, que acabam compartilhando não somente as diferenças, mas construindo sua identidade com base no antagonista: “cada um existe em função do outro”164. Deste modo, quando em conflito, vive-se em função do outro conflitante, inexistindo tampouco a distância de segurança que cada estratégia garante. Este fato pode ser amplamente constatado por quem frequenta as salas de audiências: fácil reconhecer nos rostos neutros dos recorrentes verdadeiros duelantes que estão ali tão somente para demonstrar com sua presença e com seu comportamento processual que a verdadeira razão do conflito judicial não é um direito incontroverso, mas simplesmente a outra parte165. 162 SPENGLER, Fabiana Marion. Da jurisdição à mediação: por uma outra cultura no tratamento dos conflitos. Ijuí: Unijuí, 2010, 163 SPENGLER, Fabiana Marion. Da jurisdição à mediação: por uma outra cultura no tratamento dos conflitos. Ijuí: Unijuí, 2010, p. 283. Enquanto detentor de poder/autoridade política, fundado em regras formais/racionais, o Estado monopoliza não só a força, mas principalmente a força legítima. Dentro de um Estado pode existir violência criminal, mas este não é um grande problema porque tal violência é ilegítima e poderá/deverá ser massacrada pela força ilegítima estatal. 164 RESTA, Eligio. O Direito Fraterno. Tradução de Sandra Regina Martini Vial – Santa Cruz do Sul: Edunisc, 2004, p. 111. 165 RESTA, Eligio. O Direito Fraterno. Tradução de Sandra Regina Martini Vial – Santa Cruz do Sul: Edunisc, 2004, p. 112-113. Cada motivo é supérfluo: as causas em matéria de divórcio que não terminam nunca, mesmo quando concluídas, entre tantos outros exemplos. 69 Portanto, a matéria conflito presta-se à análise sociológica enquanto tarefa prospectiva das condições de vida das diversas sociedades. Há uma rica questão sociológica superando a simples compreensão restritiva até então hegemônica que se tinha sobre a noção de unidade, como aqueles processos culturais e sociais associados à ideia de unicidade como reduzidos a uma única dimensão. O seu avanço conceitual é um acréscimo a uma compreensão mais abrangente de uma unidade contida num contexto. O conflito estimula os elos dos momentos desenvolvidos pelas relações sociais166. Atualmente, o entendimento sobre os conflitos sociais vem assumindo uma importância relevante para a compreensão da realidade social moderna na medida em que a violência estaria ocupando papel significativo e interferindo na própria rotina social, especialmente quando o conflito é levado ao Judiciário. O conflito não passa de um elemento dos mais corriqueiros e intensos nas diversas sociedades e, ao mesmo tempo, um componente relativamente pouco estudado em consonância à sua relevância167. Para compreender um conflito é necessário pensar situações como unidades em ação, pensar na articulação dinâmica entre mais dimensões: o ambiente, os organismos presentes nele, as variáveis escondidas nos processos de longa duração, entre outros. Em outros termos, é preciso determinar o comportamento “pré-humano” das divergências para que se possa identificar se os litigantes já estão sob efeito de uma formalização, de uma segmentação operada a partir de uma unidade originária mais complexa e contraditória168. Ocorre que os elementos de um conflito parecem preceder o emergir do conflito em si, porém não preexiste nunca como tal, e o simples fato de estar capturado da dinâmica de um conflito comporta para eles o início de uma existência nova, inscrita no interior de uma dimensão imprevista. Até porque os organismos que fazem parte do conflito não se destinam a permanecer imutáveis169. 166 TEDESCO, João Carlos et al. Georg Simmel e as sociabilidades do moderno: uma introdução. Passo Fundo: Universidade de Passo Fundo, 2006, p. 183. 167 TEDESCO, João Carlos et al. Georg Simmel e as sociabilidades do moderno: uma introdução. Passo Fundo: Universidade de Passo Fundo, 2006, p. 180-181. 168 BENASAYAG, Miguel; DEL REY, Angélique. Elogio del conflito. Milano: Feltrinelli, 2008, p. 106. 169 BENASAYAG, Miguel; DEL REY, Angélique. Elogio del conflito. Milano: Feltrinelli, 2008, p. 106. 70 Desta forma, para que os conflitos possam ser entendidos e interpretados com este viés positivo, enquanto organismo complexo e gerador de transformações sociais, precisam ser bem administrados, isto é, receber um tratamento adequado, diferente da forma tradicional oportunizada pelo Judiciário. “O conflito para os juristas é algo que os juízes têm que enfrentar interpretando as leis e decidindo no interior dos processos; são expedientes”170. Com a judicialização dos conflitos, os processos decisórios e a tomada de decisão se baseiam na interpretação de normas jurídicas, discursos, textos, peças escritas, valores morais, princípios e interesses econômicos. Além disso, muitas dessas interpretações apelam tão somente para interesses carregados de vestígios ideológicos e políticos alheios às partes, “sem considerar os afetos ou os pontos em que as partes são afetadas”171. As controvérsias, portanto, devem ser analisadas sob a visão do ângulo de superação: são forças propulsoras e desbloqueadoras de situações sociais dinâmicas e/ou estáticas, cristalizadas nas formas sociais existentes, nos modos adotados por uma sociedade. O conflito impõe um passo além do agora construído; é uma ação desencadeadora de reviravoltas, de mudanças sociais, constituindo-se num componente regular do próprio cotidiano. Nesse sentido, a contribuição positiva seria dada pela capacidade de apresentar-se, enquanto um amálgama nas relações entre os seres sociais como um elemento de fusão nas interações sociais, responsáveis por produzir diversas formas de relações sociais172. A adequada administração do conflito realinha ou converge os propósitos para submeter as forças opostas a um acomodamento, neutralizando choques e minimizando os danos que a situação problemática pode causar. Nesse contexto, “a administração do conflito não exige identidade de propósitos, métodos ou processo voltados para um resultado positivo do conflito, nem atenta para o alinhamento de interesses e forças”: demanda, isso sim, atos que permitam a 170 WARAT, Luis Alberto. Em nome do acordo: a mediação no direito. Florianópolis: ALMED, 1998, p. 15. 171 WARAT, Luis Alberto. Em nome do acordo: a mediação no direito. Florianópolis: ALMED, 1998, p. 32. 172 TEDESCO, João Carlos et al. Georg Simmel e as sociabilidades do moderno: uma introdução. Passo Fundo: Universidade de Passo Fundo, 2006, p. 181-182. 71 continuidade do relacionamento das partes sem interferir no litígio propriamente dito173. Assim, uma nova maneira capaz de dar respostas adequadas à conflitualidade atual deve ser buscada. Para tanto, deve ser abandonada aquela visão de que um sistema só é eficiente quando para cada conflito há uma intervenção jurisdicional, passando-se à construção da ideia de que um sistema de resolução de conflitos é adequado quando conta com instituições e procedimentos que procuram prevenir e resolver controvérsias a partir das necessidades e interesses das partes174. Nesse sentido, os métodos alternativos de resolução de conflitos colocamse ao lado do tradicional processo judicial como uma opção vantajosa, transmitindo a ideia de que a provocação dos tribunais – que hoje ocorre de forma irracional – pode ter caráter subsidiário. Mais do que isso, embora tarefa difícil, são capazes de auxiliar a sociedade nesta quebra de paradigmas, devolvendo ao cidadão o poder de decidir seus problemas e conscientizando-o disso, conforme discussão entabulada no item a seguir. 2.2 O papel dos métodos consensuais de tratamento de litígios na busca pela cultura da paz A conflitualidade existente atualmente ocorre tanto a nível individual quanto social e acontece de várias formas; seu caráter elástico compreende uma grande quantidade de lides, desde discussões conjugais até guerras mundiais e o terrorismo175, por exemplo. Por isso, faz-se necessária uma mudança na maneira de ver o conflito e tratá-lo. No entanto, o maior desafio, ao contrário do que se 173 SPENGLER, Fabiana Marion. Da jurisdição à mediação: por uma outra cultura no tratamento dos conflitos. Ijuí: Unijuí, 2010, p. 297-298. 174 WARAT, Luis Alberto. Em nome do acordo: a mediação no direito. Florianópolis: ALMED, 1998, p. 69-70. 175 BENASAYAG, Miguel; DEL REY, Angélique. Elogio del conflito. Milano: Feltrinelli, 2008, p. 1718: una civilità vive solo fino a quando vive la sua sorella di segno opposto, la ‘barbarie’. Per questo la figura del terrorista è diventata tanto centrale nella nostra epoca. (...) Il terrorismo è diventato quindi il vero e proprio paradigma dell’altro della civilità, categoria minacciosa dell’inumano di cui la versione contemporanea della democrazia ha bisogno per potersi affermare come l’unico ordine possibile. (...) Quella del terrorista è una figura che si attaglia perfettamente al sistema in cui viviamo. Strumentalizzato dal potere molto più di quanto avvenisse in passato, egli è infatti profondamente funzionale alla democrazia dell’impero. 72 pensava até agora, é aprender a conviver com tudo aquilo que se considera problemático, revendo ideias e entendendo que o litígio é uma forma de transformação social176. Por isso, não se deve pensar no conflito com a ideia de removê-lo, mas sim, tratá-lo adequadamente para que tenha resultados positivos. Tal tarefa não é fácil vez que se vive atualmente a judicialização dos problemas e a cultura da litigiosidade, necessitando de uma quebra de paradigmas. A utilização da expressão “tratamento” dos conflitos e não “solução” indica justamente que os conflitos sociais não são “solucionados” pelo Judiciário no sentido de resolvê-los, suprimi-los, elucidá-los ou esclarecê-los, necessitando de formas diferente de administrá-los177. Como as controvérsias estão presentes em todos os tipos de relações, instrumentos consensuais de seu tratamento possibilitam a manutenção da convivência social e trazem resultados eficazes, contribuindo para a necessária mudança de visão. Os métodos de solução de controvérsias são em grande parte o reflexo da cultura de onde estão inseridos, de forma que ambos – os métodos e a cultura – encontram-se intrinsecamente ligados178. Desta forma, a utilização de tais métodos reflete e influencia a cultura de cada local: estes sistemas de solução de lides são ao mesmo tempo um produto da cultura, uma contribuição para ela e um aspecto seu179. Eles se ligam tanto com as ideias quanto às práticas sociais, ao mesmo tempo em que a cultura consiste em significados, concessões e esquemas interpretativos, que são 176 BENASAYAG, Miguel; DEL REY, Angélique. Elogio del conflito. Milano: Feltrinelli, 2008, p. 9. Non c’è dubbio che abbiamo pensato troppo a lungo il conflitto nella sola prospettiva del suo superamento, della sua soluzione. 177 SPENGLER, Fabiana Marion. Da jurisdição à mediação: por uma outra cultura no tratamento dos conflitos. Ijuí: Unijuí, 2010. 178 CHASE, Oscar G. Gestire i conflitti: diritto, cultura e rituali. Roma: Laterza, 2009, p. 5: Tali praticheistituzionali influenzano consideravolmente una società e la sua cultura – i suoi valori, gli ideali, le gerarchie sociali, i simboli – così come al contempo riflettono la società che le circonda. I metodi di soluzione dele controversie sono in gran parte il riflesso della cultura ove sono inseriti. 179 Ibidem, p. 7-10: anche il potere è in gioco quando i metodi di soluzione delle controversie si affermano, si sviluppano, vengono contestati e vengono riformati. Infatti tali metodi non sono mai neutrali rispetto ai vari gruppi sociali in competizione, anche se lo sono rispetto ai singoli individui. (...) La nozione di cultura qui usata include le idee tradizinali , i valori e le norme che sono ampiamente condivisi da un gruppo sociale. La cultura comprende proposizioni di fede che sono sia normative, sia cognitive. La cutlura comprende anche i simboli che rappresentano quelle costruzioni mentali agli occhi della popolazione (la figura della Giustizia con li bilancia, un mappamondo). Le procedure di soluzione dele controversie sono una di queste pratiche di routine. 73 construídos por meio da participação de instituições sociais e práticas de rotinas: os procedimentos de solução de controvérsias são uma destas práticas de rotina. Referir-se à cultura para compreender métodos de solução de conflitos não se trata apenas de uma ideia defendida por muitos autores, é mais do que isso: é um desafio. Os métodos mais violentos encontram-se onde as estruturas sociais não permitem ou não facilitam o surgimento do terceiro capaz de mediar a situação, ou ainda distanciar a lide do conflito. Na maior parte das sociedades existe mais de uma forma de resolver as desavenças, mas o método escolhido e usado em determinada situação dependerá da relação existente entre as partes, a natureza da lide, os custos envolvidos, entre outros fatores180. Na verdade, “os modos por meio dos quais um sistema social regula os conflitos que nascem no interior da sociedade são, de fato, muito diversos, mudam no tempo e no espaço”, refugiando-se nos singulares sistemas sociais e constituindo-se complexos sistemas sociais. Por isso, instrumentos alternativos de tratamento de litígios se tornam não apenas práticas para solucionar conflitos, mas também meios para dar expressão a valores, solidificar crenças e concretizar papeis sociais181. Nesse sentido, os modernos processos formais de resolução de controvérsias possuem algumas características essenciais; a mais importante delas é considerar o conflito com base em aspectos que podem ser fixados de maneira objetiva. Os sistemas processuais são produtos da cultura e da sociedade em que se desenvolvem, exercendo influência sobre esta: as relações sociais, a metafísica e a ontologia, enfim, o modo de compreender e definir o universo determinam e são determinados de todos os aspectos dos modelos processuais182. 180 CHASE, Oscar G. Gestire i conflitti: diritto, cultura e rituali. Roma: Laterza, 2009, p. 11: existe uma estreita conexão entre instrumentos simbólicos de um povo e o sistema de solução de controvérsias nele existentes. 181 SPENGLER, Fabiana Marion. Da jurisdição à mediação: por uma outra cultura no tratamento dos conflitos. Ijuí: Unijuí, 2010, p. 288. 182 CHASE, Oscar G. Gestire i conflitti: diritto, cultura e rituali. Roma: Laterza, 2009, p. 37-38. I rapporti sociali, le metafisiche e l’ontologia, insomma il modo di comprendere e definire l’universo, determinano e sono determinati da tutti gli aspetti dei modelli processual. I moderni processi formali di risoluzione delle controversie condividono alcune caratteristiche essenziali. La più importante è che essi valutano il conflitto sulla base di aspetti che è possibile fissare in maniera oggetiva. 74 A construção de uma cultura não é um processo rápido, mas sim contínuo e estreitamente ligado à confiança entre os cidadãos e entre eles com o sistema. Para que um sistema cultural se assente, os valores, os símbolos e as ideias devem estar amplamente compartilhados no interior de uma comunidade e devem possuir características transgeracionais. As crianças, por exemplo, devem estar socializadas ou civilizadas nesta cultura. De outro lado, as crenças e sua credibilidade devem estar sustentadas na vida dos membros da sociedade, que se confrontam nos inevitáveis conflitos relativos a valores, práticas e crenças183. Por isso, os atores sociais devem, antes de tudo, aprender os valores e adquirir uma certa familiaridade com eles, para posteriormente compreender seu significado tradicional e daí sim interiorizarem aqueles considerados verdadeiros, corretos e justos. Estes são os valores construídos culturalmente. Uma vez que as atitudes culturais foram interiorizadas, são elas que determinam a percepção do mundo e guiam as ações individuais. E mais: a cultura serve também para instigar ações, possuindo importância cognitiva, emotiva e motivacional. Percebese, deste modo, que este processo é circular: a ação guiada ou motivada por uma crença acaba por reforçar aquela crença, de modo que o sucesso de uma ação pode comportar aprovação social, gratificação interior ou qualquer outro resultado desejado184. O ensinamento através das palavras é o modo mais óbvio para transmitir as ideias de uma cultura às novas gerações; todavia, a interiorização requer qualquer coisa a mais, como a observação individual, a participação em eventos sociais ou cerimônias religiosas e outros. A confiança em adultos também faz parte de todo esse processo, bem ainda a educação formal por meio da escola, 183 Ibidem, p. 148-150. I valori, i simboli e le idee devono essere ampiamente condivisi all’interno di uma comunità e devono avere inoltre carattere transgenerazionale. I bambini devono essere socializzati o civilizzati in quella cultura. 184 CHASE, Oscar G. Gestire i conflitti: diritto, cultura e rituali. Roma: Laterza, 2009, p. 149. Gli attori sociali devono, innanzi tutto, imparare i valori e acquisire una certa familiarità con essi; in secondo luogo, devono comprenderne il significato tradizionale; infine, essi interiorizzano quei valori e li considerano veri, corretti e giusti: questi valori sono quindi costruiti culturalmente. Una volta che le attitudini culturali sono state così interiorizzate, esse informano l’ambiente in cui si muovono gli attori sociali e, determinando la loro percezione del mondo, guidano le loro azioni. 75 transmitindo sanções e prêmios, e a utilização de princípios normativos e cognitivos185. A utilização destes métodos pressupõe o reconhecimento subjetivo do conflito, a responsabilização e a auto-definição do problema. A transformação individual que acompanha esses instrumentos é visível na medida em que proporciona maior capacidade de confiança do cidadão em si mesmo, enquanto permite que os litigantes se interessem pelo problema do outro, humanizando a desavença. A mudança de cultura torna-se, nesse contexto, concreta pois não se restringe somente ao indivíduo, mas sim atinge a sociedade como um todo por meio do fortalecimento das relações sociais e da conscientização da importância das relações interpessoais186. Nesse sentido, os métodos alternativos de resolução de disputas (ADR – Alternative Dispute Resolution187) começaram a se desenvolver no século XX nos Estados Unidos por várias razões que não apenas a explosão de litigiosidade: ganhar tempo e dinheiro, evitar o júri, proteger o sigilo ou procurar soluções mais rápidas. Mais do que isso, outro fator favoreceu de forma particular a utilização destes recursos, qual seja, a existência de movimentos sociais que começaram a difundir e compor uma cultura neste senso, baseados na “ipertrofiadeldiritto” e no “contro culturalismo”188. A “ipertrofiadeldiritto” é excesso de confiança no direito para resolver os muitos problemas da sociedade, o que causa a explosão de litigiosidade e o consequente retardo da justiça em julgar os processos, enquanto que o “contro culturalismo” se refere a movimentos sociais dos anos sessenta que buscavam o 185 CHASE, Oscar G. Gestire i conflitti: diritto, cultura e rituali. Roma: Laterza, 2009, p. 150. “L’insegnamento attraverso le parole è il modo più ovvio per trasmettere le idee di una cultura alle nuove generazioni; tuttavia la loro interiorizzazione richiede qualcosa di più”. 186 CHASE, Oscar G. Gestire i conflitti: diritto, cultura e rituali. Roma: Laterza, 2009, p. 131. Tale combiamento non riguarda solo gli individui: esso, secondo gli stessi autori, può contribuire a cambiare la società nel suo insieme. 187 SPENGLER, Fabiana Marion. Da jurisdição à mediação: por uma outra cultura no tratamento dos conflitos. Ijuí: Unijuí, 2010, p. 295: esta expressão é utilizada para designar todos os procedimentos de resolução de disputas sem intervenção de uma autoridade judicial. Trata-se de vários métodos de liquidação de desajustes entre indivíduos ou grupos por meio do estudo dos objetivos de cada um, das possibilidades disponíveis e a maneira como cada um percebe as relações entre seus objetivos e as alternativas apresentadas. 188 Ibidem, p. 114-115: il movimento ADR abbia avuto sucesso, negli ultimi venticinque anni, nel cambiarei l modo in cui soggetti chiamati a formulare decisioni economiche e giuridiche ritengono di poter risolvere al meglio le controversie. 76 antiautoritarismo, anti-intelectualismo, a realização de si e da comunidade. Em suma, o argumento principal era a possibilidade dos indivíduos resolverem seus conflitos ao manter um profundo empenho pessoal em favor da comunidade em que viviam189. Portanto, as lutas a favor da ADR iniciaram-se baseadas num “movimento per lagiustizia di comunità” e seu desenvolvimento até os dias de hoje é considerado uma resposta à demandas institucionais, manobras políticas e movimentos culturais. A explicação mais simples do aumento dos recursos alternativos de solução de litígios se refere ao crescimento exponencial da litigiosidade, que teria inclusive ameaçado submergir os juízes e cortes, causando graves retardos na solução de controvérsias190. Estas estratégias permitem aumentar a compreensão das partes sobre o problema por meio da construção de possibilidades a partir das diferenças, com propostas diversas daquela proporcionada pelo Judiciário: trata-se de uma mudança de visão em que as práticas sociais elaboram uma realidade multidisciplinar, trabalhando com a diferença, envolvendo-se no conflito e dissolvendo-o, restabelecendo a comunicação rompida entre os conflitantes. Tais instrumentos observam a singularidade de cada participante do conflito, modificando a lógica determinista binária – na qual as opções estavam limitadas a “ganhar” ou “perder” – considerando a opção “ganhar conjuntamente”, por meio da construção em comum de bases de um tratamento efetivo, colaborativo e consensuado191. Tais práticas apresentam inúmeros pontos positivos, dentre os quais “aliviar o congestionamento do Judiciário, diminuindo os custos e a demora no trâmite dos casos, facilitando o acesso à Justiça; incentivando o desenvolvimento da comunidade no tratamento de conflitos e disputas” e, especialmente, 189 CHASE, Oscar G. Gestire i conflitti: diritto, cultura e rituali. Roma: Laterza, 2009, p. 125-130: il movimento social degli anni sessenta che Charles Reich identificò con la celebre espressione ‘nuova consapevolezza’. Il modo di pensare lineare e razionale, proprio del procedimento giuridico, contrastava con la loro diffidenza nei confronti della logica, della razionalità, dell’analisi e dei principi. 190 Ibidem, p. 130. 191 SPENGLER, Fabiana Marion. Da jurisdição à mediação: por uma outra cultura no tratamento dos conflitos. Ijuí: Unijuí, 2010, p. 295-310. 77 possibilitando uma forma de tratamento qualitativamente melhor aos conflitos, residindo aí sua importância192. Existem, contudo, algumas críticas relativas às formas alternativas de resolução de conflitos, as quais consistem em desequilíbrio de poder entre os litigantes, já que na maioria dos casos o conflito envolve pessoas com posições econômicas diferentes, fazendo com que as hipossuficiente acabem fechando um acordo por constrangimento ou falta de recursos; o problema da representação, já que as partes estarão agindo por si mesmas; a falta de fundamento para atuação judicial posterior, na medida em que a decisão tomada pelas partes limitará sua possível modificação pelo Juiz; e a ideia de que a justiça deve prevalecer antes que a paz com o intuito de não reduzir a função social da decisão jurisdicional, pois um acordo não se equivale a uma sentença judicial193. De outro lado, os meios pelos quais os modelos de resolução de controvérsias desenvolvem papel importante se referem às seguintes razões: o procedimento requer participação pessoal da parte – tanto física quanto mental; ele é importante para a vida da sociedade e de seus membros; os resultados suscitam interesses generalizados; a narração constitui o coração da disputa, porque cada litigante contará a história de forma diversa, entre outros. O poder desses métodos reside em seu caráter informal e consensual, que permite às partes definir o problema em seus próprios termos, convalidando a importância desses problemas e a finalidade dos litigantes em conflito194. Sua utilização pressupõe o fim do conflito e a criação de um estado de uniformidade de propósitos ou meios que significará sua morte195, neutralizando choques e minimizando os danos que a situação pode provocar. Para colocar em prática tais métodos de resolução de conflitos, o primeiro passo é entender o conflito social como fenômeno fisiológico, muitas vezes positivo. “Isso significa abrir mão da lógica processual judiciaria de ganhador/perdedor para passar a 192 Ibidem, p. 295. BOLZAN DE MORAIS, José Luis; SPENGLER, Fabiana Marion. Mediação e arbitragem: alternativas à jurisdição! 2 ed. rev. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008. 194 CHASE, Oscar G. Gestire i conflitti: diritto, cultura e rituali. Roma: Laterza, 2009, p. 155-162. 195 SPENGLER, Fabiana Marion. Da jurisdição à mediação: por uma outra cultura no tratamento dos conflitos. Ijuí: Unijuí, 2010, p. 297: o objetivo desses meios, todavia, é comujm: nao é o resultado positivo ou negativo do conflito, mas, sobretudo, seu fim. 193 78 trabalhar com a lógica ganhador/ganhador desenvolvida por outros meios de tratamento”196. Estes procedimentos informais estabelecem uma ordem consensuada, oposta àquela oferecida pelo Judiciário. Nesse sentido, o consenso “não busca a unanimidade, busca um acordo geral com o qual todos ou quase todos possam conviver. É um acordo geral alcançado a partir da participação de todos os envolvidos nos conflitos”, baseando-se na solidariedade como sentimento primordial. O interessante é que o consenso, neste caso, é consciente ou informado, de modo que não seria um acordo no qual as pessoas não sabem ao certo o que decidiram (normalmente resultado de persuasão), mas um acordo discutido, participado, em que as pessoas saibam exatamente o compromisso de cada uma, dentro de suas próprias possibilidades197. Assim, esse consenso gera um pacto que pode e será cumprido pelas partes, pois trabalha com “o reconhecimento das diferenças, a possibilidade de manter-se em desacordo, a proposta do diálogo colaborativo, a metodologia de inclusão, a percepção e distinção das posições, interesses e valores” 198. Em oposição a esta situação, os problemas levados ao judiciário, por não buscarem esse consenso, “podem não estar satisfeitos e as raízes do conflito não estarem extirpadas, mas a paz do Direito funcionará repousando sobre a sua capacidade impositiva”199. Isso significa que os problemas direcionados ao Judiciário não restam resolvidos integralmente, no seu cerne, mas sim acabam adentrando no circuito conflito/remédio: “como certos remédios, o Direito parece capaz de tratar, sobretudo, os sintomas e não as causas de um mal-estar”200. Esta lógica remedial 196 SPENGLER, Fabiana Marion. Da jurisdição à mediação: por uma outra cultura no tratamento dos conflitos. Ijuí: Unijuí, 2010, p. 299-300. Esses meios de tratamento auxiliam não só na busca por uma resposta consensuada para a lide, mas também na tentativa de desarmar a contenda, produzindo juntamente com as partes, uma cultura de compromisso e participação. 197 SALES, Lilia Maia de Morais. Transformação de conflitos, construção do consenso e a mediação – a complexidade dos conflitos. In: Justiça restaurativa e mediação no tratamento adequado dos conflitos sociais (no prelo). 198 Ibidem. 199 Oscar G. Gestire i conflitti: diritto, cultura e rituali. Roma: Laterza, 2009, p. 155-162. 199 SPENGLER, Fabiana Marion. Da jurisdição à mediação: por uma outra cultura no tratamento dos conflitos. Ijuí: Unijuí, 2010, p. 288. 200 , Oscar G. Gestire i conflitti: diritto, cultura e rituali. Roma: Laterza, 2009, p. 155-162. 200 SPENGLER, Fabiana Marion. Da jurisdição à mediação: por uma outra cultura no tratamento dos conflitos. Ijuí: Unijuí, 2010, p. 288. 79 contribui não somente a não resolver a questão, mas inclusive a inflacionar o saldo de procura e oferta; “os conflitos aumentam progressivamente e se atribui tudo isso à ineficiência decorrente da falta de recursos; pedem-se, assim, aumentos consistentes de recursos, pensando que assim os conflitos podem ser diminuídos”201. É claro que a regulação dos conflitos dentro de uma sociedade se transforma no tempo criando os “remédios” a serem aplicados. O problema, porém, é que este remédio age apenas sobre a ferida, não atacando a verdadeira causa202. A resolução judicial dos conflitos é o remédio que reage sobre o remédio, “mas não tem nenhuma direta incidência sobre as causas, dimensões, efeitos da litigiosidade que determinam os conflitos”203. É justamente por isso que o Poder Judiciário não elimina os conflitos sociais, apenas os interpreta de forma diversa204. Os atos do Poder Judiciário apenas interrompem aquela relação conflitiva em que ele atuou por meio de alguma decisão, não resolvendo a situação de fato e não impedindo o surgimento de tantas outras205. Ademais, esta situação reflete a legalidade moderna, a qual assume caráter onicompreensivo e pouco totalizante, determinando ao juiz que resolva todos os conflitos, não somente aqueles previstos por deliberação legal específica206. Tratar o problema judicialmente significa recorrer ao magistrado e atribuir a ele o poder de dizer quem ganha e quem perde a demanda com base 201 RESTA, Eligio. O Direito Fraterno. Tradução de Sandra Regina Martini Vial – Santa Cruz do Sul: Edunisc, 2004, p. 104. 202 SPENGLER, Fabiana Marion. Da jurisdição à mediação: por uma outra cultura no tratamento dos conflitos. Ijuí: Unijuí, 2010, p. 289. É notório como a estrutura jurídico-política foi sempre muito atenta aos “remédios” e quase nunca ás causas, deixando de lado análises mais profundas sobre a litigiosidade crescente, que é constantemente “traduzida” na linguagem jurídica e que se dirige à jurisdição sob a forma irrefreável de procedimentos judiciários, caracterizando a explosão de litigiosidade. 203 RESTA, Eligio. O Direito Fraterno. Tradução de Sandra Regina Martini Vial – Santa Cruz do Sul: Edunisc, 2004, p. 105. 204 Este tema já foi objeto de discussão no capítulo anterior. 205 SPENGLER, Fabiana Marion. Da jurisdição à mediação: por uma outra cultura no tratamento dos conflitos. Ijuí: Unijuí, 2010, p. 286. Não cabe ao Judiciário eliminar o próprio manancial de conflitos sociais, mas sobre eles decidir, se lhe for demandado. Assim, ele funcionaliza os conflitos sociais, mas não a própria vida; espera-se que ele decida conflitos que lhe chegam, em face dos graves riscos para sua funcionalidade e para a própria sociedade. 206 RESTA, Eligio. O Direito Fraterno. Tradução de Sandra Regina Martini Vial – Santa Cruz do Sul: Edunisc, 2004, p. 115. 80 em um frio imperativo funcional que intervém na economia da comunicação e que decide o conflito dizendo a última palavra207. Nesse contexto, o principal problema da magistratura é que ela decide litígios que lhe são alheios, encaixando-o em um modelo normativo, sem sentir os outros do conflito. Logo, a tarefa do juiz “é a de assumir decisões com base em decisões e de permitir decisões com base nas mesmas decisões”, inserindo-se em uma rede sistêmica. Por isso a importância dos mecanismos alternativos de resolução de litígios: enquanto no Judiciário tudo gira em torno da decisão do juiz, naqueles métodos os atores são os próprios construtores da resolução final208. Estes métodos consensuais de resolução de conflitos podem ser a negociação, arbitragem, conciliação ou mediação. Na negociação as partes administram o conflito por meio da autocomposição, na medida em que consiste em conversações no sentido de encontrar formas de satisfazer os interesses, procedimento muito comum na vida do ser humano. A negociação direta requer um investimento pessoal quanto ao envolvimento das partes e sua responsabilidade pelo resultado, implicando um engajamento conjunto no processo e comprometimento com as decisões209. Além disso, o processo de negociação direta apresenta cinco estágios: identificação do problema, comunicação a pessoas envolvidas no problema, desenvolvimento e apresentação de possíveis soluções, decisão alternativa e ação de resolução (verificação do procedimento final a ser acatado e posterior ação de cumprimento da decisão). Já na negociação indireta há o auxílio do negociador e ocorre quando normalmente as partes já não possuem condições de efetivarem uma comunicação direta; pode ser feita, ainda, com o auxílio de representantes, como por exemplo os conflitos administrados por advogados, em 207 SPENGLER, Fabiana Marion. Da jurisdição à mediação: por uma outra cultura no tratamento dos conflitos. Ijuí: Unijuí, 2010, p. 290. 208 RESTA, Eligio. O Direito Fraterno. Tradução de Sandra Regina Martini Vial – Santa Cruz do Sul: Edunisc, 2004, p. 118-119. 209 SPENGLER, Fabiana Marion. Da jurisdição à mediação: por uma outra cultura no tratamento dos conflitos. Ijuí: Unijuí, 2010, p. 300-301. Por meio da negociação as partes chegam a um acordo com base na autocomposição. Ela ocorre a qualquer tempo e lugar, e antes de ser um fato jurídico, é um acontecimento natural. 81 que as partes falam com seus procuradores, os quais, por sua vez, comunicam-se entre si210. De outro lado, outro método alternativo de resolução de conflitos é a arbitragem, por meio da qual “as partes elegem um árbitro para solucionar as divergências” e, neste mecanismo, as partes não possuem o poder de decisão, pois este se encontra com o árbitro. No Brasil, o instituto é regulado pela lei nº 9.307/96, a qual estabelece a possibilidade de utilizá-lo para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis, podendo os envolvidos escolher um árbitro de sua confiança para decidi-lo211. Na verdade, pode-se dizer que o procedimento de arbitragem é semelhante ao judicial, modificando-se tão somente quem decide o litígio, ao invés de ser decidido pelo juiz togado. “Tanto o árbitro quanto o juiz julgam baseados na verdade formal (seguindo o princípio de que o que não está nos autos não pertence ao mundo jurídico)”; a sentença e o laudo arbitral não resolvem a relação afetivo-conflituosa das pessoas, apenas determinam como “encerrar” o litígio. Ademais, a decisão arbitral não é passível de recuso ao Poder Judiciário, de modo que seu cumprimento é obrigatório212. A conciliação, por sua vez, consiste na tentativa de se chegar voluntariamente a um acordo neutro e conta com a participação de um terceiro – conciliador – que intervém de forma oficiosa e desestruturada para dirigir a discussão sem ter um papel ativo. “Na conciliação o objetivo é o acordo, ou seja, as partes, mesmo adversárias, devem chegar a um acordo para evitar o processo judicial ou para nele pôr um ponto final, se por ventura ele já existe”, de forma que 210 SPENGLER, Fabiana Marion. Da jurisdição à mediação: por uma outra cultura no tratamento dos conflitos. Ijuí: Unijuí, 2010, p. 302. A negociação indireta com representantes é uma técnica mais lenta que traz a probabilidade de se envolver em uma estrutura processual quando os advogados se comunicam por escrito. 211 SPENGLER, Fabiana Marion. Da jurisdição à mediação: por uma outra cultura no tratamento dos conflitos. Ijuí: Unijuí, 2010, p. 308. Na arbitragem a autocomposição não incide devido à presença de um terceiro que decide. O árbitro, por sua vez, deve ser um técnico ou um especialista no assunto em discussão apto a dar um parecer e decidir a controvérsia. 212 WARAT, Luis Alberto. Surfando na pororoca: o ofício do mediador. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2004, p. 60. 82 o conciliador sugere, orienta, interfere e aconselha as partes, sem analisar o conflito em profundidade213. Já a mediação de conflitos se difere da conciliação justamente porque “o mediador facilita a comunicação sem induzir as partes ao acordo” e consiste na recuperação do respeito e do reconhecimento da integridade e da totalidade de todos os espaços de privacidade do outro conflitante. O mecanismo é considerado enquanto ética de alteridade, ou seja, busca o respeito absoluto pelo espaço do outro e repudia o mínimo de movimento invasor214. Neste caso, há a possibilidade de transformar o conflito, transformando-se – ao mesmo tempo – nele. “Falar de alteridade é dizer muito mais coisas que fazer referência a um procedimento cooperativo, solidário, de mútua autocomposição”; trata-se da possibilidade de produzir a diferença com o outro, sem a preocupação de fazer justiça ou ajustar o acordo às disposições do direito positivo215. Na mediação a autocomposição está referida nas tomadas de decisão, na medida em que as partes litigantes assumem o risco desta decisão; o acordo resultante pode ou não ter força executiva. A própria palavra mediação “evoca o significado de centro, de meio, de equilíbrio, compondo a ideia de um terceiro elemento que se encontra entre as duas partes, não sobre, mas entre elas”, que é o mediador. O interessante é que a mediação não decide nada, apenas faz com que as partes possam recomeçar a comunicação, chegando numa solução que permita a continuidade das relações entre as pessoas em conflito216. Portanto, a ideia é que “a paz não é, não pode ser nem nunca será a ausência de conflitos, mas o domínio, a gestão e a resolução dos conflitos por meios diferentes da violência destruidora e mortífera”. Isso significa que só se pode falar em não-violência quando há de fato conflitos: “a não-violência não 213 SPENGLER, Fabiana Marion. Da jurisdição à mediação: por uma outra cultura no tratamento dos conflitos. Ijuí: Unijuí, 2010, p. 305. Observa-se que muitas vezes a intervenção do conciliador ocorre no sentido de forçar o acordo. 214 SPENGLER, Fabiana Marion. Da jurisdição à mediação: por uma outra cultura no tratamento dos conflitos. Ijuí: Unijuí, 2010, p. 306. Observa-se que o assunto será aprofundado no próximo capítulo. 215 WARAT, Luis Alberto. Em nome do acordo: a mediação no direito. Florianópolis: ALMED, 1998, p. 62. 216 SPENGLER, Fabiana Marion. Da jurisdição à mediação: por uma outra cultura no tratamento dos conflitos. Ijuí: Unijuí, 2010, p. 318. 83 pressupõe um mundo sem conflitos”. É claro que, para isso, o conflito não pode ser considerado como regra, como norma da relação com o outro ao mesmo tempo em que deve ser bem administrado217. Ou seja, “o conflito é o primeiro, mas não deve ter a última palavra. Não é o modo primordial, mas o mais primário da relação com o outro. Ele é criado para ser ultrapassado”218. Nesse sentido, o indivíduo deve esforçar-se para estabelecer com o outro uma relação pacífica, destituída de qualquer ameaça ou medo, o que pode ser alcançado com a utilização da mediação. Esta, por sua vez, “mostra o conflito como uma confrontação construtiva, revitalizadora, o conflito como uma diferença energética, não prejudicial, como um potencial construtivo”219. A busca por esta cultura não violenta não pode se reduzir a um simples debate de ideias, mas sim é um combate real que se opõe a várias forças. No interior dos vários tipos de conflitos os adversários não conseguem estabelecer entre eles um diálogo racional220. Por isso a importância dos métodos consensuais de tratamento de conflitos na busca por um novo modelo de composição de conflitos fundamentado no direito fraterno e na conscientização da sociedade em relação a eles, diferente daquela proporcionada pelo Judiciário. Não se nega o valor do processo judicial, “mas disso inferir a perenidade do ‘monopólio estatal da jurisdição’ e a racionalidade da competência generalizada do juiz sobre cada gênero de conflito, obviamente, é algo que não se cogita”221. O que se pretende é discutir uma outra forma de tratamento dos conflitos, “buscando uma nova racionalidade de composição dos mesmos, convencionada entre as partes litigantes”222. Dessas práticas de tratamento de controvérsias apresentadas uma em especial baseará o presente estudo: a mediação. Antes de apresentar suas 217 MULLER, Jean-Marie. O princípio da não-violência. Percurso filosófico. Tradução de Maria Fernanda Oliveira. Lisboa: Instituto Piaget: 1995, p. 18. 218 MULLER, Jean-Marie. O princípio da não-violência. Percurso filosófico. Tradução de Maria Fernanda Oliveira. Lisboa: Instituto Piaget: 1995, p. 19. 219 WARAT, Luis Alberto. Em nome do acordo: a mediação no direito. Florianópolis: ALMED, 1998, p. 62. 220 MULLER, Jean-Marie. O princípio da não-violência. Percurso filosófico. Tradução de Maria Fernanda Oliveira. Lisboa: Instituto Piaget: 1995, p. 27. 221 RESTA, Eligio. O Direito Fraterno. Tradução de Sandra Regina Martini Vial – Santa Cruz do Sul: Edunisc, 2004, p. 115. 222 SPENGLER, Fabiana Marion. Da jurisdição à mediação: por uma outra cultura no tratamento dos conflitos. Ijuí: Unijuí, 2010, p. 292. 84 vantagens e características principais, bem ainda as críticas existentes em relação a ela, necessário apresentar sua evolução histórica no mundo e seu contexto atual. Trata-se de um instrumento utilizado há muito tempo, bastante conhecido e respeitado em diversos países, conforme aponta-se a seguir. 2.3 Aspectos históricos da prática da mediação no mundo: da origem à disseminação A mediação é um instituto muito antigo, muitas culturas tem longa e efetiva tradição de seu uso, que remonta aos idos de 3.000 a.C. na Grécia, bem como no Egito, Kheta, Assíria e Babilônia, nos casos entre as Cidades-Estados. Os chineses, na Antiguidade, influenciados pelas ideias do filósofo Confúcio, já praticavam a mediação como principal meio de solucionar contendas. Confúcio – que viveu de 550-479 a.C. – acreditava ser possível construir um paraíso na terra, desde que os homens pudessem se entender e resolver pacificamente seus problemas223. Para ele existia uma harmonia natural nas questões humanas que não deveria ser desfeita por procedimentos adversariais ou com ajuda unilateral. Seu pensamento estabelecia que a melhor e mais justa maneira de consolidar essa paz seria através da persuasão moral e acordos, mas nunca através da coerção ou mediante qualquer tipo de poder. Nessa época, procurava-se sempre o compromisso, a conciliação e a solução negociada que acomodasse uma e outra parte, evitando-se o processo – pois ele era considerado desonroso, na medida em que atentava conta a paz social224. Em geral, a mediação nos primórdios da história era exercida por pessoas dotadas de uma habilidade natural, sem qualquer capacitação específica, geralmente exercendo outras funções ou deveres. 223 Em tempos bíblicos, as RODRIGUES JÚNIOR, Walsir Edson. A prática da mediação e o acesso à justiça. Belo Horizonte: Del Rey, 2006, p. 63-64. 224 RODRIGUES JÚNIOR, Walsir Edson. A prática da mediação e o acesso à justiça. Belo Horizonte: Del Rey, 2006, p. 63-64. 85 comunidades judaicas utilizavam a mediação – que era praticada tanto por líderes religiosos quanto políticos – para resolver diferenças civis e religiosas225. Na antiga Roma, o arcaico DirittoFecciali, isto é, direito proveniente da fé, em seu aspecto religioso, era a manifestação de uma justiça incipiente, onde a mediação aparece na resolução dos conflitos existentes. O direito romano já previa o procedimento in iure e o in iudicio, que significavam, na presença do juiz, o primeiro, e do mediador ou árbitro, o segundo. No antigo ordenamento ático e, posteriormente, no ordenamento romano republicano, a mediação não era reconhecida como instituto de direito, mas sim, como regra de cortesia226. Mais tarde, na Espanha, África do Norte, Itália, Europa Central e Leste Europeu, Império Turco e Oriente Médio, rabinos e tribunais rabínicos desempenharam papéis vitais na mediação ou no julgamento de disputas entre membros de sua fé. As tradições judaicas de solução de conflitos foram finalmente transportadas para as comunidades cristãs emergentes, que viam Cristo como mediador supremo. A Bíblia se refere a Jesus como mediador entre Deus e o homem: “pois há um Deus e um mediador entre Deus e o homem, o homem Jesus Cristo, que se entregou como redenção de todos, o que será comprovado no devido tempo” (I Timóteo 2:5-6)227. Até a renascença, a Igreja Católica na Europa Ocidental e a igreja Ortodoxa no Leste Mediterrâneo foram, provavelmente, as principais organizações de mediação e administração de conflitos da sociedade ocidental. As culturas islâmicas também têm longa tradição de mediação: em muitas sociedades pastoris tradicionais do Oriente Médio, os problemas eram frequentemente resolvidos através de uma reunião comunitária, em que os participantes discutiam, debatiam, deliberavam e mediavam para resolver questões tribais ou intertribais críticas ou conflituosas228. 225 CALMON, Petrônio. Fundamentos da mediação e da conciliação. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 174. 226 RODRIGUES JÚNIOR, Walsir Edson. A prática da mediação e o acesso à justiça. Belo Horizonte: Del Rey, 2006, p. 64. 227 MOORE, Christopher W. O processo de mediação: estratégias práticas para a resolução de conflitos. Porto Alegre: Artmed, 1998, p. 32. 228 MOORE, Christopher W. O processo de mediação: estratégias práticas para a resolução de conflitos. Porto Alegre: Artmed, 1998, p. 32. 86 No entanto, a prática da autocomposição não se limita à cultura ocidental; o hinduísmo e o budismo, e as regiões que eles influenciaram, têm uma longa história de mediação. As aldeias hindus da Índia têm empregado tradicionalmente o sistema de justiça panchayat, em que um grupo de cinco membros tanto media quanto arbitra as disputas, além de exercer funções administrativas ao lidar com questões relativas ao bem-estar e queixas dentro da comunidade. A mediação tem sido praticada amplamente na China, no Japão e em várias outras sociedades asiáticas, onde a religião e a filosofia enfatizam fortemente o consenso social, a persuasão moral e a busca do equilíbrio e da harmonia nas relações humanas229. No Japão, inclusive, a prática de métodos autocompositivos é culturalmente enraizada de tal forma que, quando acontece de alguém buscar a via judicial antes de esgotar por completo todas as possibilidades de resolução amigável do conflito, torna-se desprezado pela comunidade. Já os tribunais rabínicos e os rabinos europeus foram decisivos na mediação e na resolução de disputas entre os judeus, contribuindo, dessa forma, para a manutenção da identidade cultural230. De outro lado, embora o clero continuasse a desempenhar um papel importante como intermediário nas relações locais, intercomunitárias e interestaduais, o suprimento das nações-estados levou ao crescimento de intermediários diplomáticos não-religiosos. Dessa forma, a mediação e a quantidade de pessoas atuando como mediadores ampliou-se231. A mediação também cresceu na América e em outras colônias, e finalmente nos Estados Unidos e no Canadá. Enquanto um sistema estruturado, mostrou-se de forma mais enfática, a partir do século XX, sobretudo nos Estados Unidos, como forma alternativa de resolução de conflitos de interesses. Desde então, ela tem sido amplamente utilizada em vários países 232. 229 MOORE, Christopher W. O processo de mediação: estratégias práticas para a resolução de conflitos. Porto Alegre: Artmed, 1998, p. 33. 230 CALMON, Petrônio. Fundamentos da mediação e da conciliação. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 173. 231 MOORE, Christopher W. O processo de mediação: estratégias práticas para a resolução de conflitos. Porto Alegre: Artmed, 1998, p. 33. 232 RODRIGUES JÚNIOR, Walsir Edson. A prática da mediação e o acesso à justiça. Belo Horizonte: Del Rey, 2006, p. 65. 87 Foi, portanto, a partir do século passado, principalmente nos EUA no período da colonização, como uma forma de descongestionar os tribunais, diminuir custos e acelerar as resoluções de disputas, que a mediação foi resgatada de períodos longínquos da história da humanidade para se inserir no contexto jurídico atual, como uma alternativa eficiente aos problemas existentes no campo do Direito233. É possível afirmar, de outro lado, que as duas últimas décadas do século passado foram as da mediação, em especial entre os anos 1980 e 1990; “o que ocorreu foi a banalização do termo, empregando-o para todo o propósito, a torto e a direito”. De fato, a função “mediação” não se restringe somente às relações interpessoais, mas também naquelas em que cada sujeito pode ter com instituições, etc. A utilização múltipla da palavra demonstra, no fundo, a necessidade imperiosa de situar a mediação na sociedade, inserindo-a profundamente234. A expansão da prática do mecanismo também se deu por outros motivos, dentre eles, o reconhecimento mais amplo dos direitos humanos, bem como em face da crescente insatisfação com os processos autoritários de tomada de decisão, acordos impostos que não se ajustam adequadamente aos interesses genuínos das partes e aos custos cada vez maiores – em dinheiro, tempo, recursos humanos, solidariedade interpessoal e comunitária – de processos adversariais do tipo ganhador-perdedor de resolução de conflitos235. Sua ampliação e utilização, portanto, ocorreram inicialmente de forma mais rápida e significativa nos Estados Unidos e Canadá. O primeiro setor em que a mediação foi formalmente instituída nos Estados Unidos foi o das relações trabalhistas; em 1913, foi estabelecido o U.S Department of Labor, e um grupo – os “comissários da conciliação” – foi indicado para tratar dos conflitos entre empregados e patrões. Este grupo, posteriormente, veio se tornar o United States 233 RODRIGUES JÚNIOR, Walsir Edson. A prática da mediação e o acesso à justiça. Belo Horizonte: Del Rey, 2006, p. 65. 234 SPENGLER, Fabiana Marion. Da jurisdição à mediação: por uma outra cultura no tratamento dos conflitos. Ijuí: Unijuí, 2010, p. 316-317. Não há, desta forma, somente o emprego intempestivo do termo “mediação”: existe sim uma preocupação cada vez mais expressa de encontrar meios para responder ao problema real, qual seja, uma dificuldade de se comunicar. 235 MOORE, Christopher W. O processo de mediação: estratégias práticas para a resolução de conflitos. Porto Alegre: Artmed, 1998, p. 34. 88 Conciliation Service e, em 1947, foi reconstituído como o Federal Mediation and Conciliation Service236. Esperava-se que os acordos mediados pudessem evitar greves e paralisações dispendiosas e que melhorassem a segurança, o bem-estar e a prosperidade dos americanos. A mediação patrocinada pelas agências do governo não estava limitada às questões trabalhistas: o Civil Rights Act de 1964, de âmbito federal, criou o Community Relations Service (CRS) do Ministério a Justiça dos Estados Unidos. Esta agência destinava-se a ajudar “as comunidades e as pessoas a resolver suas disputas, desacordos ou dificuldades em relação a práticas discriminatórias relacionadas à raça, cor ou nacionalidade” (Civil Rights Act, 1964)237. De fato, desde meados da década de 1960, a mediação cresceu muito nos Estados Unidos como uma abordagem praticada de modo formal e amplo na resolução também de disputas comunitárias. Nos primeiros anos de crescimento do campo, o governo federal fundou os Neighborhood Justice Centers (NJCs) que proporcionavam serviços de mediação gratuitos ou de baixo custo para o público, de forma que as disputas pudessem ser resolvidas de maneira eficiente, barata e informal. No início da década de 1980, muitos desses NJCs foram institucionalizados e passaram a fazer parte dos serviços alternativos aos tradicionais meios judiciários de resolução de disputa238. Neste contexto os métodos alternativos de resolução de disputas (ADR – Alternative Dispute Resolution239) surgiram como obra dos próprios litigantes ou pessoas que, de fora do mundo jurídico, dedicaram-se a estudar o fenômeno dos conflitos e seu sistema de soluções, buscando alternativas como contraposição 236 MOORE, Christopher W. O processo de mediação: estratégias práticas para a resolução de conflitos. Porto Alegre: Artmed, 1998, p. 34. 237 MOORE, Christopher W. O processo de mediação: estratégias práticas para a resolução de conflitos. Porto Alegre: Artmed, 1998, p. 34. 238 MOORE, Christopher W. O processo de mediação: estratégias práticas para a resolução de conflitos. Porto Alegre: Artmed, 1998, p. 35. 239 Conforme SPENGLER, Fabiana Marion. Da jurisdição à mediação: por uma outra cultura no tratamento dos conflitos. Ijuí: Unijuí, 2010, p. 295, esta expressão é utilizada para designar todos os procedimentos de resolução de disputas sem intervenção de uma autoridade judicial. Trata-se de vários métodos de liquidação de desajustes entre indivíduos ou grupos por meio do estudo dos objetivos de cada um, das possibilidades disponíveis e a maneira como cada um percebe as relações entre seus objetivos e as alternativas apresentadas. 89 ao custo e ao formalismo da solução judicial estatal, sobretudo por causa da inflação processual240. Tais métodos compreendem os procedimentos de resolução de disputas sem a intervenção de uma autoridade judicial. Ao fugir do código binário ganhar/perder (existente na relação judicial) estas técnicas proporcionam o aumento da compreensão e do reconhecimento dos participantes e a possibilidade de construção de ações coordenadas, mesmo na diferença 241. A instalação em Nova York dos small claims courts, com o objetivo de proporcionar uma justiça mais simples, mais rápida e menos custosa, o que era obtido, sobremaneira, graças à conciliação, marcou o início deste movimento na década de 70. Em maio de 1975, no condado de Dade, na Flórida, foi fundado o primeiro Centro de Acordos de Disputas, restrito a conflito entre pessoas físicas, iniciativa que foi seguida por outros condados do mesmo estado242. A mediação cresceu de maneira significativa como um método informal muito difundido no setor comunitário, onde o governo financia Centros de Justiça de Vizinhança, que proporcionam serviços de mediação gratuitas ou a baixo custo, muito deles tendo se convertido em programas judiciais oficiais da cidade, do tribunal ou do distrito. A Flórida foi pioneira, também, criando em 1978 o Comitê de Resolução Alternativa de Disputas da Suprema Corte do Estado, que recomendou a criação de programas de mediação e arbitragem em todos os tribunais de seu território243. Nos anos 80 e 90 o movimento tomou vulto e se espalhou por todos os estados norte-americanos, tanto no setor público quanto no privado, para acusações relacionadas com discriminação racial, étnica, de gênero e de orientação sexual no local de trabalho, assédio sexual e adaptação de pessoas portadoras de deficiência. Passou a ser conhecido e acompanhado pelos demais 240 CALMON, Petrônio. Fundamentos da mediação e da conciliação. Rio 2007, p. 176. 241 SPENGLER, Fabiana Marion. Da jurisdição à mediação: por uma outra dos conflitos. Ijuí: Unijuí, 2010, p. 295-297. 242 CALMON, Petrônio. Fundamentos da mediação e da conciliação. Rio 2007, p. 177. 243 CALMON, Petrônio. Fundamentos da mediação e da conciliação. Rio 2007, p. 177. de Janeiro: Forense, cultura no tratamento de Janeiro: Forense, de Janeiro: Forense, 90 países, sucesso que se atribui pelo simples pragmatismo e não como decorrência de elevados estudos teóricos que o tivesse legitimado244. A mediação passou também a ser praticada nas escolas e nas instituições de educação superior, em face de conflitos entre os próprios alunos, ou entre alunos e professores, ou ainda, entre professores e o corpo docente e entre os professores e a administração. Para tanto, foi fundada a NationalAssociationofMediation in Education (NAME), destinada a interligar os profissionais de mediação e os programas na área educacional245. Os sistemas de justiça criminal dos Estados Unidos e do Canadá também têm utilizado a mediação para resolver queixas criminais e para programas de mediação entre vítima e agressor, em que os intermediários ajudam as partes interessadas a desenvolver planos de indenização ou a restabelecer relacionamentos interpessoais conflituados. A mediação familiar também teve grande crescimento e de forma muito rápida nas questões de custódia dos filhos, nos procedimentos de divórcio, nas brigas entre pais e filhos, casos de proteção à criança, violência doméstica e demais problemas relacionados a relações afetivas246. Da mesma forma em relação aos setores corporativo e comercial, onde, em alguns tipos de disputas, ela superou a arbitragem como método de escolha. Os tipos comuns de disputa que têm sido mediadas neste setor incluem disputas contratuais, deficiência no desempenho, confiabilidade do produto, infrações de patente, violação da marca registrada, disputas sobre a propriedade intelectual e várias questões de reinvindicação de seguro247. Já no setor ambiental a mediação tem sido usada para lidar com conflitos locais específicos, tais como projetos de construção, conservação e distribuição de água, disputa sobre local de instalações e questões de desenvolvimento; questões de administração e proteção do habitat de animais selvagens e da 244 CALMON, Petrônio. Fundamentos da mediação e da conciliação. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 178. 245 MOORE, Christopher W. O processo de mediação: estratégias práticas para a resolução de conflitos. Porto Alegre: Artmed, 1998, p. 36. 246 MOORE, Christopher W. O processo de mediação: estratégias práticas para a resolução de conflitos. Porto Alegre: Artmed, 1998, p. 36-37. 247 MOORE, Christopher W. O processo de mediação: estratégias práticas para a resolução de conflitos. Porto Alegre: Artmed, 1998, p. 38. 91 pesca; destinação do lixo; implantação de rodovias, ferrovias e aeroportos; lixo tóxico; administração da terra e proteção dos pântanos e várias outras disputas locais248. No Canadá a mediação é procedimento comum nos conflitos trabalhistas coletivos, para evitar ou resolver greves, sempre submetidas a um comitê especial nomeado pelas autoridades federais. Em Quebec há serviços de mediação especializados em conflitos de família desde a década de 70, sendo a Lei de Divórcio, de 1985, a primeira referência legislativa 249. A Argentina, embora sem qualquer experiência anterior, adotou a partir de 1992 uma forte política de mediação, cujo ponto central foi a edição da Lei 24.573, de 4 de outubro de 1995, pela qual foi instituída a mediação prévia obrigatória. Uma ação conjunta dos poderes Judiciário e Executivo permitiu à Argentina construir uma nova ordem no tema da solução de conflitos, implantando o Programa Nacional de Mediación, elaborado por comissão composta por juízes, advogados e representantes dos setores públicos e privados, inclusive organizações não-governamentais250. Em agosto de 1992, o país editou o Decreto 1.480, o qual declarou a mediação como instituto de interesse nacional, caracterizando-a como procedimento informal, voluntário e confidencial, especificando ainda sua aplicabilidade a conflitos judiciais e extrajudiciais, excluindo as causas penais e deixou claro que o mediador não resolve o conflito, mas tão-somente colabora para que as partes criem uma solução. A primeira experiência-piloto da Argentina se desenvolveu anexa aos juízos cíveis da Capital Federal, começando funcionar no segundo semestre de 1993251. Foi elaborado o regimento interno do Centro de Mediação no país e posteriormente foram realizadas supervisão e avaliação interna da experiência. As conclusões advindas da avaliação demonstraram altos percentuais de acordo 248 MOORE, Christopher W. O processo de mediação: estratégias práticas para a resolução de conflitos. Porto Alegre: Artmed, 1998, p. 39. 249 CALMON, Petrônio. Fundamentos da mediação e da conciliação. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 182. 250 CALMON, Petrônio. Fundamentos da mediação e da conciliação. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 188. 251 CALMON, Petrônio. Fundamentos da mediação e da conciliação. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 188. 92 e a grande maioria dos envolvidos, independentemente de ter havido acordo em suas experiências, revelou grande surpresa e complacência diante da inexistência do Centro como um espaço que antes se devia ao cidadão e que se constituía em um canal rápido, informal, pacífico e participativo para dirimir seus conflitos. Além disso, grande parte das mediações teve sua origem em recomendações de pessoas que haviam experimentado os mecanismos, tendo partes como advogados252. Deste modo, os meios alternativos de solução dos conflitos foram se desenvolvendo aos poucos em todas as regiões do mundo com o objetivo de solucionar conflitos de forma diversa ao tradicional processo judicial. Atualmente tanto a América Latina, como Europa e Ásia – a maioria de seus países – institucionalizaram o instituto como via de resolução de disputas253. O contexto cultural foi determinante para o surgimento de outras práticas no tratamento dos conflitos possibilitando o diálogo, promovendo uma mudança de paradigmas e conduzindo a um caminho diverso daquele privilegiado pela cultura jurídica 254. Há, assim, um confronto que se estabelece entre uma tradição assentada em um modelo conflitivo de tratamento de conflitos no qual de regra tem-se um ganhador e perdedor e, de outro lado, o crescimento de importância adquirido por outros métodos de tratamento de conflitos. As práticas consensuais de tratamento de disputas, em especial a mediação, permitem observar a singularidade de cada participante do conflito, considerando a opção de ‘ganhar conjuntamente’ e construindo em comum as bases de um tratamento efetivo, de modo colaborativo e consensuado255. No Brasil não existe uma lei que preveja a utilização da mediação como forma consensual de tratamento de litígios. O movimento legislativo para regulamentação do instituto no sistema jurídico brasileiro data de 1998, com a apresentação do Projeto de Lei da Câmara nº 4.827/98, de iniciativa da Deputada 252 CALMON, Petrônio. Fundamentos da mediação e da conciliação. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 189. 253 CALMON, Petrônio. Fundamentos da mediação e da conciliação. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 174. 254 SPENGLER, Fabiana Marion. Da jurisdição à mediação: por uma outra cultura no tratamento dos conflitos. Ijuí: Unijuí, 2010, p. 295. 255 SPENGLER, Fabiana Marion. Da jurisdição à mediação: por uma outra cultura no tratamento dos conflitos. Ijuí: Unijuí, 2010, p. 295. 93 Zulaiê Cobra Ribeiro, mas de autoria de Águida Arruda Barbosa, Antonio Cesar Peluso, Eliana Riberti Nazareth, Giselle Groeninga e, ainda Luís Caetano Antunes. Pioneiro, foi norteado pelo modelo Europeu, a partir de uma ótica interdisciplinar e inspirado na inserção da mediação no Código de Processo Civil francês que recepcionou o instituto na reforma processual de janeiro de 2005. O projeto original – de apenas 7 (sete) artigos – contemplou as diretrizes mais importantes da mediação, sem regulamentar o procedimento de forma minuciosa. Previa sua adoção sobre qualquer matéria passível de conciliação, reconciliação, transação ou acordo, não se restringindo a matéria ao âmbito civil, ampliando-a inclusive para questões penais. Possibilitava uma mediação total ou parcial sobre o conflito, prevendo ainda sua possibilidade tanto pela via judicial como extrajudicial, contemplando ainda um código de ética. Porém, deixou em aberto questões sobre a figura do mediador e sobre a qualificação técnica que deveria possuir, abrindo margem para várias interpretações. No entanto, o movimento mais recente sobre o tema no país é a definição de uma Política Nacional de "tratamento adequado dos conflitos de interesses no âmbito do Poder Judiciário", instituída por meio da Resolução 125 de 29 de novembro de 2010 do Conselho Nacional de Justiça-CNJ. A Resolução, que objetiva a qualidade dos serviços e capacitação mínima dos servidores, é uma forma inicial de institucionalização do mecanismo na política judiciária brasileira, que será amplamente analisada no próximo tópico. Nesse sentido, a análise do próximo capítulo se conduzirá por pontos específicos que tratam do mecanismo da mediação, suas características principais, críticas, procedimentos e base filosófica, para posteriormente abordá-la enquanto política pública instituída pela Resolução125. Paralelamente, serão discutidas as políticas públicas e a importância delas para o progresso social, bem ainda será objeto de discussão o exemplo prático da utilização da mediação, comprovando seus benefícios e a concretização da resolução harmônica no tratamento de conflitos. 94 3 A MEDIAÇÃO COMO POLÍTICA PÚBLICA DE TRATAMENTO DE CONFLITOS COM BASE NA RESOLUÇÃO Nº 125 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ: A TEORIA E A PRÁTICA No decorrer deste último capítulo a mediação de conflitos é o foco central, abordando-se de forma ampla suas técnicas, características, bem como a importância do mediador na busca pela construção do consenso. Além disso, o enfoque é feito com base na legislação brasileira, que a instituiu recentemente como política pública de tratamento de conflitos, e no exemplo prático existente na cidade de Santa Cruz do Sul por meio de um projeto de extensão. Nesse sentido, o debate se volta para as políticas públicas e sua importância para o desenvolvimento social e a tentativa de concretização de uma sociedade mais autônoma, pontuando seu conceito e seu contexto, bem ainda seus reflexos no fortalecimento das relações sociais. Embora a expressão remeta-se de imediato à esfera pública e seus elementos, vincula-se, de outro lado, à reconstrução das forças sociais e políticas e ao aumento do poder de organização dos cidadãos, com a aplicação de regras criadas por eles para tratarem seus próprios problemas, em face da diminuição do poder estatal. Após a análise conceitual propriamente dita das políticas públicas, a discussão se direciona para a Resolução nº 125 do Conselho Nacional de Justiça que institui a mediação e conciliação como políticas públicas no tratamento de conflitos em face da possibilidade que oferecem de resolver os litígios de forma adequada, prevenindo a incidência de novas demandas. A publicação do documento no ano de 2010 no País propõe uma forma diferente de ver os litígios e contribui, consequentemente, para uma nova cultura que deve permear a sociedade brasileira, evadindo-se da realidade atual que compreende a judicialização dos conflitos. Isto fica claro quando a Resolução prevê a atuação conjunta não só de órgãos jurisdicionados, mas também envolve a participação direta da sociedade, entidades e até mesmo universidades; propõe, além disso, orientação e informação social sobre o tema, estabelecendo diretrizes para implantação da política pública, tudo isso para permitir uma ampla participação da sociedade em 95 geral. Logo, a proposta do documento se mostra plausível para possibilitar transformação social referente à cultura de litígio instituída atualmente. Por fim, a pesquisa se volta para a análise pormenorizada de uma política pública que está em funcionamento desde o ano de 2009 na cidade de Santa Cruz do Sul, com resultados muito positivos. Trata-se de um projeto de extensão vinculado à Universidade local por meio de um convênio com o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que utiliza a mediação no tratamento de litígios, demonstrando na prática que a proposta é válida, dá certo e devolve à sociedade sua autonomia decisória. Neste sentido, a abordagem destes temas fundamenta a apresentação a seguir. 3.1 A mediação como instrumento consensual, democrático e autônomo de tratar os conflitos sociais, capaz de restabelecer a confiança do cidadão A mediação é uma técnica de tratamento de conflitos que vem demonstrando no mundo sua grande eficiência ao tratar de conflitos interpessoais. Mais que isso, é um método não adversarial, já que não há imposições de sentenças ou laudos, permitindo às partes a busca de seus verdadeiros interesses e sua preservação através de um acordo256. O tratamento do conflito pela mediação ocorre informalmente, por meio de uma terceira pessoa – o mediador – que tenta, mediante a organização de trocas comunicativas entre as partes, confrontar as opiniões, administrando o problema que as opõe. O debate entabulado durante o procedimento é todo voltado para o entendimento, pois a obtenção deste entendimento por meio de processos linguísticos possibilita “aos participantes, na interação, chegar ao acordo mútuo sobre a validade pretendida para os seus atos de fala, ou, se for o caso disso, levar em consideração os desacordos que foram averiguados”257. 256 SILVA, João Roberto da.A mediação e o processo de mediação. São Paulo: Paulistanajur, 2004, p. 13. 257 SPENGLER, Fabiana Marion. Da jurisdição à mediação: por uma outra cultura no tratamento dos conflitos. Ijuí: Unijuí, 2010, p. 356. 96 Nesse sentido, a mediação pode ser considerada uma estratégia do agir comunicativo258 proposto na teoria de Habermas259, na medida em que a força consensual dos processos linguísticos para obtenção do entendimento e as energias vinculativas da própria linguagem são eficazes para coordenação da ação. Esta coordenação da ação, por sua vez, baseia-se em uma racionalidade que se manifesta nas condições para um acordo racionalmente motivado 260. Nesse contexto, referido autor “pretende propor uma terapia por meio da nova conceituação que confere à ‘razão comunicacional’: ela rompe a clausura sistêmica de um direito curvado sobre as singularidades individuais”, almejando moldar no espaço público uma ética de discussão; é a linguagem – “mídia universal” – que cria a possibilidade de comunicação. É deste modo que as relações interpessoais passam a ter prioridade sobre a individualidade261. Quanto mais a racionalidade comunicativa se amplia, maior é a possibilidade de haver coordenação da ação sem o emprego da coerção, permitindo a resolução consensual do conflito deflagrado em decorrência de dissonâncias cognitivas. Logo, a ação comunicativa – e consequentemente a mediação – ocorre a partir da prática do consenso, gerando compromissos e 258 SPENGLER, Fabiana Marion. Da jurisdição à mediação: por uma outra cultura no tratamento dos conflitos. Ijuí: Unijuí, 2010, p. 357. A teoria da ação comunicativa habermasiana abrange as interações sociais em que o uso da linguagem é voltado para o entendimento. Neste tipo de ação, os participantes assumem posturas ilocucionárias, por meio das quais o objetivo do falante deriva do próprio significado do que diz, buscando entendimento do ouvinte a respeito do conteúdo que manifesta. 259 HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade. 2 vols. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997. Na verdade, a teoria da ação comunicativa de Habermas é entendida como um tipo de ação social mediada pela comunicação, em cuja dimensão encontra-se a possibilidade de reconhecer uma noção ampliada de racionalidade, capaz de resgatar e incorporar o interesse crítico e emancipatório das teorias. Em outras palavras: a compreensão da linguagem ocorre como uma forma de comunicação orientada para o entendimento subjetivo. Esta teoria é capaz de gerar uma efetiva democratização da sociedade e o exercício da cidadania mediante uma concepção discursiva da soberania popular; os pactos comunicativos viabilizam uma participação mais ativa por parte da sociedade civil. Ademais, o autor propõe a ampliação e desenvolvimento de espaços públicos comunicativos orientados para a formação democrática da opinião e da vontade comum, através da realização de processos de entendimento intersubjetivo mediados pela linguagem, permitindo que se produzam deliberações em diversas áreas da comunicação. 260 SPENGLER, Fabiana Marion. Da jurisdição à mediação: por uma outra cultura no tratamento dos conflitos. Ijuí: Unijuí, 2010, p. 356. 261 GOYARD-FABRE, Simone. O que é democracia? A genealogia filosófica de uma grande aventura humana. Tradução de Claudia Berliner. – São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 322. 97 responsabilidades aos envolvidos262. A racionalidade comunicativa “exprime-se na força unificadora da fala orientada ao entendimento mútuo, discurso que assegura aos falantes envolvidos um mundo da vida intersubjetivamente partilhado”, como também o horizonte pelo qual todos podem “se referir a um único e mesmo mundo objetivo”263. O paradigma do sujeito, neste caso, é visto por meio do paradigma da intersubjetividade que também é, de maneira concreta e pragmática, interação e intercompreensão; como o sistema jurídico não responde mais às necessidades e reivindicações de uma opinião que o jurislador não escuta, necessária a formação de uma estrutura de comunicação entre os setores privados do mundo vivido e o sistema jurídico-político. Assim, um novo paradigma de direito exige que a discussão argumentada predomine sobre a decisão voluntária do poder264. A razão processual convoca a prática do entendimento consensual por meio do diálogo. Assim, “a validade das normas jurídicas depende de seu acordo com o mundo comunicacional’” cotidiano vivido, que é o próprio télos do ‘agir 265 .Este, a seu tempo, pressupõe a utilização da racionalidade recíproca, isto é, a utilização do agir orientado para o entendimento. O contato que os indivíduos possuem com o mundo é mediado linguisticamente, ao passo que a objetividade do mundo – que se supõe ao falar e agir – “está de tal modo entrelaçada com a intersubjetividade do entendimento sobre algo no mundo”266. A interação existente na mediação de conflitos, portanto, decorre da ação comunicativa, a qual “se dá a partir da prática do consenso” e da racionalidade. “A atenção volta-se à racionalidade imanente da prática comunicativa que remete às diversas formas de argumentação” e à capacidade de seguir na comunicação almejando o consenso. Com efeito, o ato de argumentar almejando a 262 SPENGLER, Fabiana Marion. Da jurisdição à mediação: por uma outra cultura no tratamento dos conflitos. Ijuí: Unijuí, 2010, p. 365. 263 HABERMAS, Jürgen. Verdade e justificação: ensaios filosóficos. Tradução de Milton Camargo Mota. – São Paulo: Loyola, 2004, p. 107. 264 GOYARD-FABRE, Simone. O que é democracia? A genealogia filosófica de uma grande aventura humana. Tradução de Claudia Berliner. – São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 323. 265 HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade. 2 vols. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997. 266 HABERMAS, Jürgen. Agir comunicativo e razão destranscendentalizada. Tradução de Lucia Aragão. – Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2002, p. 56. 98 concordância é critério de racionalidade e recomendação prática para uma boa convivência267. Não se pode perder de vista, de outro lado, que o risco do desacordo sempre existe, pois inerente ao mecanismo comunicativo: “os desacordos fazem parte do meio comunicativo, surgindo das experiências que perturbam os aspectos rotineiros e tidos como adquiridos, constituindo uma fonte de contingências”. Podem acarretar, ainda, a frustração de expectativas e nesse aspecto o risco de desacordo é absorvido, regulado e controlado nas práticas cotidianas. Ocorrendo o dissenso, “os interlocutores buscam o restabelecimento do consenso por meio de argumentos, em decorrência da racionalidade comunicativa”268. De outro lado, o consenso social é fundamental para obtenção da vontade coletiva e “significa que toda a comunicação se volta para o entendimento, compartilhando expectativas, buscando o acordo”. Ocorre que, ao contrário do que se pensa, o consenso não pressupõe uma concordância coletiva 269, embora esta seja sua meta final: o falante aspira à validez de sua emissão, na ânsia do reconhecimento do interlocutor, o qual assume uma postura, admitindo ou não a validez da emissão270. A mediação de conflitos acarreta autonomia individual, na medida em que as partes constroem a decisão final juntas e se comprometem a cumpri-la, responsabilizando-se por meio da alteridade. Possuindo uma cadência temporal própria, colocando-se entre as partes e agindo como instrumento de justiça social, “a mediação pode organizar as relações sociais, auxiliando os conflitantes a tratarem os seus problemas com autonomia, reduzindo a dependência de um 267 SPENGLER, Fabiana Marion. Da jurisdição à mediação: por uma outra cultura no tratamento dos conflitos. Ijuí: Unijuí, 2010. Na teoria habermasiana a racionalidade possui relações profundas com a forma pela qual os sujeitos capazes de linguagem e de ação fazem uso do conhecimento linguístico. 268 SPENGLER, Fabiana Marion. Da jurisdição à mediação: por uma outra cultura no tratamento dos conflitos. Ijuí: Unijuí, 2010,p. 365. 269 Este assunto já foi abordado no capítulo anterior de forma breve. 270 SPENGLER, Fabiana Marion. Da jurisdição à mediação: por uma outra cultura no tratamento dos conflitos. Ijuí: Unijuí, 2010, p. 364. 99 terceiro (juiz)”, ao mesmo tempo em que acarreta entendimento mútuo e consenso271. Neste mesmo sentido, a mediação enquanto instrumento comunicativo permite que os conflitantes participem, inicialmente, da construção da decisão, comprometendo-se e responsabilizando-se pelo seu cumprimento, instigando, posteriormente, uma participação mais ampla. Isso significa dizer que o método é forma de estimular a participação e autonomia individual, auxiliando na construção da necessária mudança de cultura, qual seja, de que os sujeitos não devem sempre esperar uma resposta estatal, mas sim, resolver seus problemas ativamente. Isto ocorre porque “a mediação como ética de alteridade reivindica a recuperação do respeito e do reconhecimento da integridade e da totalidade de todos os espaços de privacidade do outro”. Nesse sentido, quando em conflito, as pessoas ficam tão tomadas pela dominação e vontade de impor seus interesses que acabam invadindo amplamente o espaço do outro litigante. Por isso, o mecanismo é radicalmente não invasor, não dominador, não aceitando dominação sequer em relação aos gestos272. A mudança de cultura proposta pela mediação inicia com a desvinculação da ideia de que uma terceira pessoa deve decidir a questão ou impor uma decisão, gerando participação do sujeito, o que indica que o procedimento possui também um viés democrático. Não existe coerção, sanção ou imposição de algum acordo ou decisão; tudo é definido pelos litigantes com o auxílio do mediador. Por isso a importância das políticas públicas geradoras de um cenário onde os sujeitos possuem espaço para atuação mais ampla.Para tanto, o Estado deve certamente garantir a igualdade de oportunidades aos diferentes projetos de institucionalidade democrática, possibilitando que os indivíduos acompanhem e participem das políticas públicas273. 271 SPENGLER, Fabiana Marion. Da jurisdição à mediação: por uma outra cultura no tratamento dos conflitos. Ijuí: Unijuí, 2010, p. 314. 272 WARAT, Luis Alberto. Surfando na pororoca: o ofício do mediador. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2004. 273 LEAL, Rogerio Gesta. Esfera pública e participação social: possíveis dimensões jurídicopolíticas dos direitos civis e de participação social no âmbito da gestão dos interesses públicos no Brasil. In: LEAL, Rogério Gesta (Org). A administração pública compartida no Brasil e na Itália: reflexões preliminares. Santa Cruz do Sul: Edunisc, 2008l, p. 201. Esses padrões mínimos de 100 Logo, a mediação é um procedimento que, além de instituir o consenso, proporciona autonomia individual e instiga também a prática democrática. Sua dinâmica desmancha a lide, decompondo-a em seus conteúdos conflituosos e avizinhando os conflitantes, ao contrário da decisão judicial – a qual toma por base uma linguagem terceira normativamente regulada. “A mediação pretende ajudar as partes a desdramatizar seus conflitos, para que se transformem em algo de bom à sua vitalidade interior”274. De fato, o procedimento é essencialmente democrático por que dissolve os marcos de referência da certeza determinados pelo conjunto normativo hierarquizado; acolhe a desordem como possibilidade positiva de evolução social. Aposta, ao mesmo tempo, numa matriz autônoma, cidadã e democrática, que compreende um salto qualitativo ao ultrapassar a dimensão da resolução de disputas jurídicas modernas, totalmente baseadas no litígio 275. Mais do que isso, ela envolve sensibilidade e institui um novo tipo de temporalidade, diversa da proporcionada pelo processo judicial: é o tempo instituído como tempo da significação, da alteridade que reconstitui como singularidade em devir, que aproxima os sentimentos. O tempo da mediação aponta para a sensibilidade, é “o momento certo, o instante propício para agir, lapso de crise, ocasião para a decisão”276. Já o tempo da jurisdição é dilatado, detendo-se sempre na lógica paradoxal do desejo da palavra definitiva, que permanece na espera de controles posteriores. “É o tempo da necessidade, uma vez que, na realidade, já aconteceu tudo, tornando-se prioridade, nesse momento, evitar o pior”. A prática da mediação, ao contrário, necessita de prudência e paciência, possibilitando aos litigantes o encontro de um tempo diferenciado277. inclusão são indispensáveis para transformar a instabilidade institucional em campo de deliberação democrática. 274 SPENGLER, Fabiana Marion. Da jurisdição à mediação: por uma outra cultura no tratamento dos conflitos. Ijuí: Unijuí, 2010, p. 320. 275 SPENGLER, Fabiana Marion. Da jurisdição à mediação: por uma outra cultura no tratamento dos conflitos. Ijuí: Unijuí, 2010, p. 337-338. 276 WARAT, Luis Alberto. Surfando na pororoca: o ofício do mediador. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2004, p. 31. A mediação enquanto forma de realizar a sensibilidade atinge a simplicidade do conflito, permitindo que os litigantes se transformem e descubram a simplicidade da realidade. 277 SPENGLER, Fabiana Marion. Da jurisdição à mediação: por uma outra cultura no tratamento dos conflitos. Ijuí: Unijuí, 2010, p. 347. 101 Nesse contexto, o sistema social delegou aos juízes o singular poder de interromper o tempo inútil, custoso e insuportável das lides, decidindo o tempo. Como decide por meio da linguagem – e do significado das palavras – possui o poder de dizer quando o tempo do processo terminou. No entanto, a pressa que a complexidade moderna exige, faz do tempo um recurso escasso, especialmente se comparado com a exigência necessária para a busca pela verdade. Logo, mesmo as questões que exigiriam maior longevidade em seu tratamento, são seguidamente resolvidas – não porque devidamente ponderadas – porque não há mais tempo para nada278. Na verdade, o tempo e o espaço da mediação não buscam a reconstrução de uma verdade, mas sim, permitem a reconstituição de várias verdades possíveis, as quais se modificam à medida que os atores se exprimem. Por isso, uma mediação de sucesso não traduz um acordo sobre uma verdade efetivamente correspondente à exata dinâmica dos fatos, pois as partes devem buscar a reconstrução dos fatos que as satisfaça. “Não está dito que devam reconstruir exatamente a verdade, o importante é que tenham reconstruído a verdade que as contente, momentaneamente, provisoriamente, no tempo de um aperto de mão”. É por isso também que não se define um tempo fixado para a mediação de conflitos279. De outro lado, a mediação possui como base teórica fundante o direito fraterno, modelo de direito que abandona a fronteira fechada da cidadania e olha em direção à nova forma de cosmopolitismo que não é representada pelos mercados, mas pela necessidade universalista de respeito aos direitos humanos 278 RESTA, Eligio. Diritto vivente. Roma: Laterza, 2008, p. 120. Si chiama, ad esempio, iurisdictio la complessa attività che pone fine, quando pone fine, a una lite: le parole del giudice, che dice il diritto, sono quelle definitive, sono le ultime parole tra le parole dei contendenti. Non c’è altra virtù nel processo giudiziario che dire l’ultima parola ingannando la cattiva infinità delle liti. Quello che il sistema sociale ha da sempre delegato al suo giudice è il singolare potere di interrompere il tempo inutile, costoso, insopportabile della lite. Non altra virtù, dunque, se non quella di decidere il tempo, e una volta per tutte – bella l’espressione di Maurice Blanchot nel suo libro sull’amicizia: il giudice è signore e padrone del linguaggio. Come decide sui significati delle parole (<<tutti i conflitti sono grammaticali>>, aveva ricorsato Pascal), così ha il potere di dire che il tempo della lite è finito, perchè <<non abbiamo tempo!>>. Il sistema sociale non può sopportare l’incertezza temporale e, per questo, <<decide>> il tempo. La <<fretta>> è una preoccupazione nascosta ma presente nel diritto che deve regolare la vita (persino affettiva); non c’è cinismo in questo, semmai vi è traccia di quel noto atteggiamento dei sistemi sociali che si preoccupano dei loro attori non più di tanto, se si potesse dir così. 279 SPENGLER, Fabiana Marion. Da jurisdição à mediação: por uma outra cultura no tratamento dos conflitos. Ijuí: Unijuí, 2010, p. 347. Na mediação o objetivo não pode ser a verdade, uma vez que as verdades podem ser diversas. 102 que vai se impondo ao egoísmo dos “lobos artificiais” ou dos poderes informais que à sua sombra governam e decidem. Trata-se, portanto, de uma proposta frágil, infundada, que aposta sem impor, que arrisca cada desilusão, mas que vale a pena cultivar: vive de expectativas cognitivas e não de arrogâncias normativas280. O binômio direito e fraternidade281, deste modo, além de ser uma tentativa de valorizar uma possibilidade diferente, recoloca em jogo um modelo de regra da comunidade política: modelo não vencedor, mas possível. Retorna um modelo convencional de direito, ‘jurado conjuntamente’ entre irmãos e não imposto, como se diz, pelo ‘pai senhor da guerra’. Jurado conjuntamente, mas não produzido por um ‘conluio’. Por isso é decisivamente não violento – isto é, capaz de não apropriar-se daquela violência que diz querer combater282. Na verdade, a fraternidade recoloca em questão a comunhão de pactos entre sujeitos concretos com as suas histórias e as suas diferenças, aproximandose de forma direta da amizade, a qual é capaz de unir independentemente de vínculos ou liames visíveis. Nesse contexto, a mediação de conflitos se apoia também na ideia de amizade, a qual possui uma dinâmica paradoxal, pois até pessoas desiguais podem ser amigas e se tornarem, assim, iguais; ela pressupõe igualdade e semelhança, especialmente a semelhança daquelas pessoas que se assemelham em excelência moral283. A ambivalência da amizade faz com que se torne ao mesmo tempo lugar de inclusão e exclusão. Isto é, “a contingência da amizade se apresenta ao mundo das relações mundanas com esta faceta dúplice de re-proposição da 280 RESTA, Eligio. O Direito Fraterno. Tradução de Sandra Regina Martini Vial – Santa Cruz do Sul: Edunisc, 2004, p. 16. 281 RESTA, Eligio. O Direito Fraterno. Tradução de Sandra Regina Martini Vial – Santa Cruz do Sul: Edunisc, 2004. Quando se fala em fraternidade, retrata-se um anacronismo, na medida em que é um ideal que permaneceu inédito e irresolvido em relação aos outros temas da igualdade e liberdade e retorna hoje com prepotência, com as acelerações jacobinas que o presente impõe, a questão do global, da dependência de tudo e de todos. Nesse sentido, fala-se da fraternidade atualmente como a parente pobre, ‘prima do interior’ em relação aos outros ideais mais nobres e urgentes; depois da igualdade e liberdade a fraternidade indicava um dispositivo de vaga solidariedade entre as nações. Tinha mais a ver com os princípios de um direito internacional nascente, que deixava intacta, bem como pressupunha, uma comunidade política fundada nos princípios dos Estados nacionais. 282 RESTA, Eligio. O Direito Fraterno. Tradução de Sandra Regina Martini Vial – Santa Cruz do Sul: Edunisc, 2004, p. 15. 283 ARISTÓTELES. Ética a nicômacos. 4. ed. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2001, p. 168. 103 solidariedade comunitária e de sua negação”. Este paradoxo é amplo, pois se constitui de movimentos diversos, mas complementares; a amizade separa reaproximando, dita regras ao mesmo tempo em que as tolera, “inclui porque exclui, avizinha porque distancia, reconstrói tecidos vitais enquanto destrói outros; parece, como o amor, uma improbabilidade normal”284. O direito fraterno adquire, assim, uma dimensão cosmopolita, já que sua aposta é distinta de outros códigos que olham a diferença entre amigo e inimigo, e por isso se torna não violenta. Consequentemente, a minimização da violência leva à ideia de jurisdição mínima e de uma nova concepção da relação entre sociedade e justiça, levando em conta que o problema surge na sociedade e por ela deve ser tratado e resolvido285. Esta mudança na forma de ver o problema traz consigo uma nova concepção, na medida em que as divergências começam a ser vistas como oportunidades alquímicas e as energias antagônicas como complementares. É desta forma que “as velhas lentes que fragmentavam, classificavam e geravam distâncias e diferenças maniqueístas vão para a lixeira”, dando lugar para o entendimento de que a sociedade é produto da complexidade destes vínculos 286. Nesse sentido, a figura do mediador é de fundamental importância para que o procedimento alcance o sucesso. Na verdade, o mediador não possui papel central – no sentido de que não é a pessoa mais importante do procedimento – mas sim desempenha papel secundário, pois seu poder de decisão é limitado ou não oficial. Isso significa que o mediador não pode obrigar unilateralmente as partes a resolver o problema ou mesmo impor uma decisão, mas sim reconciliar os interesses conflitivos, conduzindo-as para a conclusão da melhor solução proposta por elas, conforme discussão proposta no item abaixo287. 284 RESTA, Eligio. O Direito Fraterno. Tradução de Sandra Regina Martini Vial – Santa Cruz do Sul: Edunisc, 2004, p. 25. 285 RESTA, Eligio. O Direito Fraterno. Tradução de Sandra Regina Martini Vial – Santa Cruz do Sul: Edunisc, 2004. 286 WARAT, Luis Alberto. Surfando na pororoca: o ofício do mediador. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2004, p. 55. 287 SPENGLER, Fabiana Marion. Da jurisdição à mediação: por uma outra cultura no tratamento dos conflitos. Ijuí: Unijuí, 2010, p. 320-321. 104 3.1.1 Reflexões sobre a importância do papel do mediador e as características práticas da mediação A mediação é um procedimento que permite às partes, ao encontrar-se com o mediador, conversar sobre o problema, melhora a comunicação entre elas, auxiliando na manifestação clara dos próprios interesses e no entendimento dos interesses do outro litigante, demonstrando os pontos de força e fraqueza em face de seus posicionamentos, dentre outras atribuições. O mediador é a pessoa que identifica as áreas possíveis do acordo, ajudando os litigantes a formularem hipóteses de soluções que ambas concordem e se comprometam a cumprir288. O mediador colabora para que os conflitantes celebrem acordos com intenções reais e verdadeiras, promessas assinadas desde os sentimentos, evitando que elas se comprometam unicamente para satisfazer algum interesse. Nesse caso, é provável até que elas executem o compromisso assumido, contudo, o conflito permanecerá além do acordo; os conflitos não se transformam, perdem seu manancial criativo com acordos que cumprem a função de uma descarga para a energia em conflito se não forem bem administrados289. Por isso, definir e conceituar a palavra mediador é difícil. Uma boa forma de caracterizá-lo é explicando o que ele não é: não é um juiz, pois não impõe um veredicto, mas como um juiz, deve ter o respeito das partes conquistado com sua atuação. Não é um negociador que toma parte na negociação, com interesse direto nos resultados; dependerá das partes a conclusão da mediação com um acordo ou não. Não é um árbitro que emite um laudo ou decisão. O mediador, ainda que seja um experto no tema tratado, não pode dar assessoramento sobre o assunto em discussão. Ele cuida do relacionamento e da descoberta dos verdadeiros interesses reais de cada uma das partes290. Logo, o mediador é um terceiro que conduz sem decidir, e nessa condição deve fazer com que as partes participem ativamente na busca de melhores soluções. Por isso, inaugura um novo tipo de profissional, porquanto não é um 288 CHASE, Oscar G. Gestire i conflitti: diritto, cultura e rituali. Roma: Laterza, 2009. WARAT, Luis Alberto. Surfando na pororoca: o ofício do mediador. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2004, p. 30. 290 SILVA, João Roberto da.A mediação e o processo de mediação. São Paulo: Paulistanajur, 2004, p. 109. 289 105 advogado, nem psicólogo, assistente social ou médico, mas sim alguém que investiga e procura conhecer os reais interesses envolvidos no conflito, os quais só podem ser informados pelas partes291. A importância do mediador reside no fato de que ele trabalha para tratar o problema e não para nenhuma das partes especificamente. Isto é, um processo que objetiva tão somente a satisfação pessoal de uma parte em prejuízo da outra não terá sucesso, já que a mediação visa à resolução do conflito de forma consensuada292. O mediador que “faz os interesses de um ou de outro promove a falência da mediação e perde sua identidade, transformando-se em advogado ou juiz demasiadamente parcial, senão corrompido; mas para isto já existem os juízes e os advogados” com seus vícios e virtudes293. É imprescindível, de outro lado, que haja aceitabilidade por parte dos disputantes no sentido de permitir que um terceiro entre na disputa para ajudar a chegar a uma definição294. O espaço da mediação está no meio, entre dois extremos, por isso “a virtude do mediador é aquela de estar no meio, de compartilhar, e até mesmo do ‘sujar as mãos’”, percebendo as diferenças comuns aos litigantes e recomeçando deste ponto. O mediador não pode se confundir com o juiz e, deste modo, é equivocada a visão de que aquele é imparcial na relação com as partes e neutro no desenvolvimento da mediação295. Deste modo, o mediador não deve assumir uma postura neutra e imparcial, pois assim coloca-se na mesma posição do magistrado. Enquanto o juiz é pensado como justamente neutro, o mediador deve ser “isto e aquilo”, perdendo sua neutralidade até o fim. “Só assim se realiza a sua identidade como diferença em relação ao juiz, mas se realiza sua diferença, como identidade, em relação às partes”, pois enquanto estas somente conseguem enxergar seu próprio ponto de 291 SILVA, João Roberto da.A mediação e o processo de mediação. São Paulo: Paulistanajur, 2004, p. 113. 292 MOORE, Christopher W. O processo de mediação: estratégias práticas para a resolução de conflitos. Porto Alegre: Artmed, 1998. 293 RESTA, Eligio. O Direito Fraterno. Tradução de Sandra Regina Martini Vial – Santa Cruz do Sul: Edunisc, 2004, p. 126. 294 MOORE, Christopher W. O processo de mediação: estratégias práticas para a resolução de conflitos. Porto Alegre: Artmed, 1998. 295 SPENGLER, Fabiana Marion. Da jurisdição à mediação: por uma outra cultura no tratamento dos conflitos. Ijuí: Unijuí, 2010, p. 343. 106 vista, é ele que pode ver os pontos comuns. Em face desta intrínseca parcialidade é que ele encontra a forma adequada de tratar o conflito296. Para mediar é preciso sentir o sentimento dos litigantes, prestando atenção nos mínimos detalhes exibidos pelos conflitantes e, portanto, para ser mediador é preciso ascender a um mistério que está além das técnicas da comunicação e assistência a terceiros. Trata-se da arte do encontro, da comunhão e sensibilidade, atividade de interpretação297 que reconstrói o conflito, oferecendo às partes a oportunidade de resolver suas diferenças reinterpretando – no simbólico – o conflito com o auxílio do mediador298. Enquanto no poder judiciário se interpretam discursos, textos e normas, conciliando litígios nos conflitos, na mediação ocorre a interpretaçãodo conflito em si, transformando-o. É o momento em que as partes se reencontram para enfrentar o problema e buscar uma solução plausível, respeitando as diferenças e realizando a autonomia. “A mediação é um caminho para a substituição, na resolução de conflitos, de um saber de dominação por um saber solidário, ecológico”, substituindo a solução alienante por uma autônoma299. De outro lado, os mediadores podem ser classificados como de rede social, com autoridade e independentes. Os mediadores da rede social, como o próprio nome já diz, são indivíduos conhecidos que fazem parte de uma rede social duradoura e comum, por exemplo, amigo pessoal, vizinho, sócio, colega de trabalho, autoridade religiosa, entre outros. Os mediadores que possuem relacionamento de autoridade300 com os litigantes estão em situação superior (ou 296 RESTA, Eligio. O Direito Fraterno. Tradução de Sandra Regina Martini Vial – Santa Cruz do Sul: Edunisc, 2004, p. 126. 297 WARAT, Luis Alberto. Em nome do acordo: a mediação no direito. Florianópolis: ALMED, 1998, p. 22-28. O trabalho de interpretação se dá porque o espaço simbólico está marcado pela incompletude (que é a marca do segredo), sendo esta interpretação um vestígio do possível, um vestígio do real e de cada um que fala. A mediação se preocupa com a recuperação do simbólico para poder, desse modo, efetuar um trabalho de compreensão e transformação dos conflitos afetivos. 298 WARAT, Luis Alberto. Em nome do acordo: a mediação no direito. Florianópolis: ALMED, 1998, p. 32. 299 WARAT, Luis Alberto. Em nome do acordo: a mediação no direito. Florianópolis: ALMED, 1998, p. 35-37. 300 MOORE, Christopher W. O processo de mediação: estratégias práticas para a resolução de conflitos. Porto Alegre: Artmed, 1998, p. 51-54. Os mediadores com autoridade se subdividem em: benevolentes, administrativos/gerenciais e com interesse investido. Os mediadores com autoridade benevolente almejam um acordo que seja suficiente e razoável para as partes, não se preocupando em satisfazer suas necessidades ou interesses ligados à resolução. Podem, no 107 mais poderosa), capaz de influenciar na disputa, não significando, no entanto, que tomarão decisões por eles. Pelo contrário, em regra, tentam influenciar indiretamente as partes com o intuito de persuadi-las a chegar às próprias conclusões301. Por fim, o mediador independente é encontrado em culturas que desenvolveram tradições de aconselhamento ou assistência profissional independentes e objetivas e que preferem receber conselhos de pessoas de fora delas. Os que pertencem a estas culturas mantêm os grupos que participa separadamente (família, vizinhos, membros da Igreja, etc) e confiam em especialistas como terapeutas, consultores financeiros, conselheiros legais, entre outros: “um consultor ou assistente de uma área pode ter pouca ou nenhuma conexão com outro aspecto da vida de um indivíduo”302. Independentemente do tipo de mediador, o procedimento possui algumas características peculiares. A primeira delas é a privacidade, visto que o ambiente do processo é secreto e só revelado se for a vontade das partes; este princípio será desconsiderado, entretanto, em casos nos quais estejam presentes o interesse público através da quebra da privacidade por determinação legal. Outra característica inerente à mediação é a economia financeira e de tempo, haja vista a celeridade do processo e sua consequente diminuição de custos, contrapondose diretamente aos processos judiciais. A demora na solução da questão faz com entanto, possuir interesses pessoais na justiça e minimização do conflito, bem como interesses psicológicos na manutenção de sua posição pessoal ajudando efetivamente os indivíduos a resolver suas diferenças ou sendo vistos como servidores dos interesses mais amplos de paz e harmonia na comunidade. O outro mediador com autoridade, denominado administrativo/gerencial, também possui certa autoridade organizacional sobre as partes, mas se difere do benevolente essencialmente porque possui interesse fundamental no resultado; geralmente ocupa posição superior em uma comunidade. O terceiro e último tipo de mediador com autoridade, chamado mediador com interesse investido se parece com o anterior na medida em que possui interesses fundamentais e processuais no resultado da disputa, porém, o que os diferencia é justamente o grau em que seus interesses são defendidos. Em geral, possui interesses específicos e objetivos em relação a todos os aspectos da disputa e defende estes objetivos com entusiasmo e convicção. 301 MOORE, Christopher W. O processo de mediação: estratégias práticas para a resolução de conflitos. Porto Alegre: Artmed, 1998, p. 50. 302 MOORE, Christopher W. O processo de mediação: estratégias práticas para a resolução de conflitos. Porto Alegre: Artmed, 1998, p. 55. 108 que o direito da pessoa seja ignorado por ela própria, já que prefere abdicá-lo a enfrentar trâmites lentos e burocráticos303. A oralidade é um elemento da mediação capaz de demonstrar sua informalidade, pois traz a oportunidade de as partes debaterem seus problemas à procura de uma solução plausível. Esta talvez seja a principal característica, vez que os principais litígios ocorrem em relações de convivência cotidiana, por exemplo, entre vizinhos, na família ou no emprego, os quais, muitas vezes, não buscam simplesmente a satisfação do prejuízo, mas sim, a restauração da relação envolvida e do ambiente em que estão inseridos. Nota-se que o estado emocional das partes é decisivo para a solução do conflito; em contrapartida, o Poder Judiciário tende a afastar ainda mais as partes quando acionado, fato que também pode ser encontrado na próxima característica304. A reaproximação das partes é um dos objetivos da mediação, ao contrário da jurisdição tradicional. A autonomia das decisões, por sua vez, também vai de encontro ao poder Judiciário, já que as decisões tomadas pelas partes não precisam da homologação daquele, permitindo a interferência do mediador na hipótese de decisões injustas ou imorais. E, por fim, a mediação se preocupa fundamentalmente com o equilíbrio das relações entre as partes, tendo em vista a busca pela restauração da harmonia social entre elas305. Existem, também, duas formas básicas de mediação: a mandatória e a voluntária; “mandatória é aquela que decorre de determinação legal ou da vontade previamente definida contratualmente pelas partes”, ao passo que a voluntária “é definida pelas partes, em comum acordo, quando da existência do impasse”306. Neste mesmo sentido, há outra classificação para o instituto: uma que busca sua a institucionalização e outra que a analisa enquanto possibilidade autônoma. A primeira cumpre um trabalho específico a serviço, ao mesmo tempo, 303 BOLZAN DE MORAIS, José Luis; SPENGLER, Fabiana Marion. Mediação e arbitragem: alternativas à jurisdição! 2 ed. rev. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008. 304 BOLZAN DE MORAIS, José Luis; SPENGLER, Fabiana Marion. Mediação e arbitragem: alternativas à jurisdição! 2 ed. rev. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008. 305 BOLZAN DE MORAIS, José Luis; SPENGLER, Fabiana Marion. Mediação e arbitragem: alternativas à jurisdição! 2 ed. rev. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008. 306 SPENGLER, Fabiana Marion. Da jurisdição à mediação: por uma outra cultura no tratamento dos conflitos. Ijuí: Unijuí, 2010, p. 322. 109 de sua instituição e de seus clientes, enquanto a segunda nasce dos grupos sociais307. O tratamento de conflitos mediante a utilização da mediação pode acontecer em face de uma pluralidade de técnicas308 e os contextos nos quais é possível aplicá-las são vários: judicial, familiar, ambiente de trabalho, entre outros. Todos possuem como base “o princípio de religar aquilo que se rompeu, restabelecendo uma relação para, na continuidade, tratar o conflito que deu origem ao rompimento” através da comunicação309. Na sessão de mediação em si o mediador deve se valer das estratégias e movimentos capazes de ajudar os negociantes a iniciarem a troca de informações de forma harmônica e equilibrada e a grande parte desses movimentos ocorrem no início do primeiro encontro conjunto ocorrido na presença do mediador310. O procedimento é rápido e pressupõe “a composição de interesses e não a definição de direitos”;é composto de oito estágios, quais sejam: iniciação (quando as partes optam pela mediação e escolhem o mediador), preparação (informação às partes sobre as características da disputa e resultados que almejam), introdução (esclarecimento do procedimento e aceitação das partes), declaração do problema (discussão aberta das controvérsias), esclarecimento do problema (especificação do problema pelo mediador), geração e avaliação de alternativa(s) (o mediador estimula as partes a se questionarem, conduzindo-as à produção de alternativas), seleção de alternativa(s) (o mediador aponta as soluções inviáveis e praticáveis) e acordo (esclarecimento dos termos do acordo e a confirmação da aceitação das partes). Pode haver a necessidade de retornar a alguma etapa 307 SPENGLER, Fabiana Marion. Da jurisdição à mediação: por uma outra cultura no tratamento dos conflitos. Ijuí: Unijuí, 2010, p. 323. Ao lado dos mediadores institucionais estão os mediadores cidadãos, com origens e condutas bem diferentes. Os mediadores institucionais são essencialmente especialistas formados para atender a um problema específico e bem definido; os mediadores cidadãos, por sua vez, são os cidadãos entre os cidadãos, isto é, são pessoas que realmente auxiliarão no problema, estimulando a liberdade e a vontade própria. 308 Sobre as técnicas existentes e adequadas a serem utilizadas no procedimento da mediação é interessante a leitura de GHISLENI, Ana Carolina; SPENGLER, Fabiana Marion. Mediação de conflitos a partir do Direito Fraterno. (no prelo). 309 SPENGLER, Fabiana Marion. Da jurisdição à mediação: por uma outra cultura no tratamento dos conflitos. Ijuí: Unijuí, 2010, p. 319. 310 MOORE, Christopher W. O processo de mediação: estratégias práticas para a resolução de conflitos. Porto Alegre: Artmed, 1998. 110 anterior para maiores esclarecimentos, que deve ser percebida e efetivada pelo mediador311. No entanto, embora a mediação ofereça muitas vantagens, suscita, de outro lado, resistência de muitas pessoas quanto a sua utilização, tornando-se alvo muitas críticas, especialmente por ser um instrumento de certa forma novo, não disciplinado legalmente312, dotado de informalidade e que acarreta insegurança e incerteza jurídicas. Na verdade, com a utilização do mecanismo a verdade consensual se opõe a verdade processual, possibilitando aquilo que o Direito parece negar: “a possibilidade de recuperação daqueles espaços decisionais que a organização estatal, sempre invasiva e juridificada, gradativamente subtraiu”313. Deste modo, a falta de certeza do procedimento envolve a falta de previsibilidade das ações e o papel desempenhado pela segurança e certeza jurídicas. Ambas são proporcionadas pelo processo judicial, o qual traz a possibilidade de um conhecimento correto das normas e rituais que serão enfrentados pelas partes, sabendo desde o início o que é proibido, permitido e determinado, o que permite a organização de sua conduta e a programação das expectativas da atuação. A certeza e segurança enquanto percepção de previsibilidade da ação do outro permitem estruturar um procedimento e estabelecer projetos futuros314. Por isso, quando comparada ao procedimento judicial, a certeza e seus critérios de previsibilidade são apontados como falhas na mediação, já que no primeiro “a autonomia privada é substituída por uma autoridade que impede a má311 SILVA, João Roberto da.A mediação e o processo de mediação. São Paulo: Paulistanajur, 2004, p. 80. 312 SPENGLER, Fabiana Marion. Da jurisdição à mediação: por uma outra cultura no tratamento dos conflitos. Ijuí: Unijuí, 2010, p. 328-329. Sobre a necessidade de legislação específica sobre mediação, é importante mencionar que o Brasil não possui nenhuma lei que a discipline; recentemente, no entanto, foi publicada a resolução nº 125 do CNJ, instituindo-a como política pública no tratamento de conflitos, assunto amplamente abordado a seguir. O fato é que a criação de uma lei específica que regulamente a mediação é tema complexo e merecedor de maior aprofundamento, na medida em que o temor nasce da possibilidade de perda do seu caráter não decisório e não autoritário, que pode ocorrer com o advento de determinada lei. Mais do que isso: o risco de introduzir a mediação no sistema jurisdicional é reduzi-la à condição de mero instrumento a serviço de um Sistema Judiciário que está em crise. 313 SPENGLER, Fabiana Marion. Da jurisdição à mediação: por uma outra cultura no tratamento dos conflitos. Ijuí: Unijuí, 2010, p. 328. 314 SPENGLER, Fabiana Marion. Da jurisdição à mediação: por uma outra cultura no tratamento dos conflitos. Ijuí: Unijuí, 2010, p. 331. 111 fé de uma parte sobre a outra”. Outro problema oriundo da mediação ocorre quando há assimetria de poderes entre as partes, pois quando a decisão depende da autonomia individual é possível que a parte mais forte exerça pressões sobre a mais fraca, exigindo concessões. Neste caso, a presença de uma autoridade judicial que decida evita este tipo de pressão e acaba preservando as relações futuras entre elas315. Ocorre que até agora a mediação é a melhor fórmula encontrada para superar o normativismo jurídico, configurando-se um instrumento pleno de exercício da cidadania, pois educa, facilita e ajuda a produzir diferenças, estimulando a autonomia e a tomada de decisão individual, sem coerção nenhuma ou imposição de julgamento. Mais do que isso, a prática da mediação se torna assim um mecanismo capaz de reconstruir a confiança do cidadão que estava perdida, tanto em âmbito social (confiança do cidadão no outro cidadão) quanto no âmbito judicial (confiança do cidadão em um procedimento que realmente resolve seu problema e o estimula sua participação nesta resolução)316. A proposta da mediação, por fim, é justamente alcançar o outro por meio da sensibilidade a partir de uma postura corporal, mais até do que verbal: “a comunicação não verbal é de corpo para corpo, de sentimento a sentimento”, traduzindo melhor do que palavras os espaços de afetividade e de saber recalcados e as vezes é mais sábio do que a própria consciência ou do que as palavras317. Por isso, ela cumpre com a importante função de estimular e auxiliar os indivíduos a pensarem no coletivo, valorizando uma resolução que seja satisfatória para todos e que valorize o ganho comum, ao mesmo tempo em que se torna um mecanismo de acesso à justiça fortalecedor da participação social. Nesse sentido, no Brasil a mediação vem ganhando destaque enquanto política 315 SPENGLER, Fabiana Marion. Da jurisdição à mediação: por uma outra cultura no tratamento dos conflitos. Ijuí: Unijuí, 2010, p. 332. 316 SPENGLER, Fabiana Marion. Da jurisdição à mediação: por uma outra cultura no tratamento dos conflitos. Ijuí: Unijuí, 2010, p. 337. 317 WARAT, Luis Alberto. Surfando na pororoca: o ofício do mediador. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2004, p. 39. A postura corporal expressa realmente o que o indivíduo pensa e sente, surtindo efeitos mais eficazes no outro do que a persuasão ou mobilização pelas palavras. Na comunicação corporal procura-se harmonizar o verbal e o não verbal, aproveitar-se da comunicação não verbal e do seu enorme poder de dizer nos silêncios, no instante preciso em que o sentido das palavras morrem para que se possa se reencontrar com os sentidos do próprio corpo – que sempre são menos enganosos. 112 pública, após a publicação da Resolução nº 125, do CNJ. Antes, porém, de analisar de forma ampla referida Resolução, essencial discorrer sobre as políticas públicas e sua importância para a sociedade, conforme amplamente apresentado no item a seguir. 3.2 A importância das políticas públicas para o desenvolvimento social e para a concretização de uma nova cultura As políticas públicas constituem tema muito focado atualmente e que ganha destaque em diversas áreas do direito, como na área penal, tributária, constitucional, civil, etc. Porém, antes de se falar em políticas públicas, é necessário ter domínio de sua noção, fundamentos e limites, ou seja, em última instância, caracterizá-las. Vários são os conceitos elaborados sobre políticas públicas, sendo que se pode vislumbrar a presença de um elemento comum entre eles, qual seja, o fato de o núcleo central do conceito estar focado no conjunto de ações promovidas pelo Estado com vistas a atender um determinado fim, geralmente de cunho econômico e/ou social. A relevância do estudo das políticas públicas está vinculada às mudanças da sociedade e seu desenvolvimento, a uma compreensão teórica dos fatores intervenientes e da dinâmica das próprias políticas, bem como à necessidade dos cidadãos entenderem o que está previsto nas políticas que o afetam, como foram estabelecidas e como estão sendo implementadas318. Ou seja, o desenvolvimento e o progresso estão diretamente relacionados às iniciativas do Estado, o qual, por sua vez, atua “em prol dos interesses de um corpo político coletivo, a cidadania”, através das políticas públicas319. Na verdade, em termos político-administrativos, “o desenvolvimento de uma sociedade resulta de decisões formuladas e implementadas pelos governos dos Estados nacionais, subnacionais e supranacionais em conjunto com as 318 SCHMIDT, João Pedro. “Para entender as políticas públicas: aspectos conceituais e metodológicos”. In: Direito sociais e políticas públicas: desafios contemporâneos (org Jorge Renato dos Reis e Rogério Gesta Leal). Santa Cruz do Sul: Edunisc, 2008, p. 2308. 319 HEIDEMANN, Francisco G. “Do sonho do progresso às políticas de desenvolvimento”. In: Políticas públicas e desenvolvimento: bases epistemológicas e modelos de análises (org. Francisco G. Heidemann e José Francisco Salm). Brasília: UnB, 2009, p. 28. 113 demais forças vivas da sociedade”, de modo que estas decisões e ações de governo constituem o que se conhece genericamente por políticas públicas320. As políticas públicas contemporâneas encontram-se efetivamente inscritas no direito e constituem atualmente a forma precípua da ação estatal. Frequentemente, a concepção e implantação de políticas constituem respostas a algum aspecto da vida social que passa a ser percebido como problemático suficientemente forte para demandar uma intervenção por parte do Estado. Essa “descoberta” de um novo problema social usualmente relaciona-se a informação anteriormente não disponível ou, se disponível, não reconhecidas321. Ao oferecer respostas institucionais ou, antes, caminhos para solucionar os problemas identificados, o direito das políticas públicas abre espaço para o aprimoramento das condições de vida e para a consecução do ideal de vida boa para as pessoas em determinada sociedade. Esta nova faceta relegitima o papel do direito enquanto instância mediadora de poder – quer do Estado quer da sociedade – e de composição de conflitos em sociedade322. Para melhor entender o que significa essa expressão e sua importância, e para poder posteriormente conceituá-la, torna-se necessário voltar-se para as ações da esfera pública e ao plano das questões coletivas, sem olvidar que “a própria palavra ‘política’, por si só, já suscita um mundo de discordâncias no diálogo e nos debates entre as pessoas”323, justamente por encerrar diversas acepções diferenciáveis. O público, por outro lado, se distingue do privado, do particular, do indivíduo, mas também se distingue do estatal: “o público é uma dimensão mais ampla, que se desdobra em estatal e não-estatal”, pois ao mesmo tempo em que o Estado está voltado ao que é público, possui instâncias e 320 Ibidem, 2009, p. 28. MASSA-ARZABE, Patrícia Helena. Dimensão jurídica das políticas públicas. In: Políticas públicas: reflexões sobre o conceito jurídico. Maria Paula Dallari Bucci (organizadora). São Paulo: Saraiva, 2006. 322 MASSA-ARZABE, Patrícia Helena. Dimensão jurídica das políticas públicas. In: Políticas públicas: reflexões sobre o conceito jurídico. Maria Paula Dallari Bucci (organizadora). São Paulo: Saraiva, 2006. 323 HEIDEMANN, Francisco G. “Do sonho do progresso às políticas de desenvolvimento”. In: Políticas públicas e desenvolvimento: bases epistemológicas e modelos de análises (org. Francisco G. Heidemann e José Francisco Salm). Brasília: UnB, 2009, p. 28. 321 114 organizações da sociedade que possuem finalidades públicas expressas, que denominam-se públicas não-estatais324. Nesse sentido, percebem-se muitas divergências conceituais relativas à expressão “políticas públicas”: inicialmente, pode-se dizer que “política engloba tudo o que diz respeito à vida coletiva das pessoas em sociedade e em suas organizações”325, mas também trata do conjunto de processos, métodos e expedientes usados por indivíduos ou grupos de interesse para influenciar, conquistar e manter o poder, ao mesmo tempo em que é “a arte de governar e realizar o bem público”. Enfim, a política pode ser compreendida como as ações e diretrizes políticas – fundadas em lei – empreendidas como função estatal por um governo, a fim de resolver questões gerais e específicas da sociedade, bem ainda como teoria dos fenômenos ligados à regulamentação e ao controle da vida humana em sociedade. Logo, se o termo “política” é polissêmico, a expressão “políticas públicas” o é duplamente. Designando a esfera política em contraposição a uma esfera da sociedade civil, usa-se o termo da língua inglesa polity, enquanto politics designa a atividade política e policies, a ação pública. A expressão ação pública, por sua vez, também é multívoca, pois o campo de significados de ação estatal ampliouse.O adjetivo “pública” igualmente é alvo de sentidos múltiplos, pois às vezes é usado como equivalente de estatal, do Estado, e outras vezes, daquilo que é de todos, onde a dicotomia tradicional pública-privado perde a função e as fronteiras entre estado e sociedade tornam-se permeáveis. A utilização da expressão política pública serve para designar a política do Estado, do público, de todos. Trata-se da política voltada a fazer avançar os objetivos coletivos de aprimoramento da comunidade e da coesão – ou da interdependência – social326. A partir destes esclarecimentos principiais, pode-se partir para uma definição da expressão “políticas públicas” com maior propriedade. Para o cientista político Thomas Dye, política pública é tudo o que o governo decide fazer 324 SCHMIDT, João Pedro. “Para entender as políticas públicas: aspectos conceituais e metodológicos”. In: Direito sociais e políticas públicas: desafios contemporâneos (org Jorge Renato dos Reis e Rogério Gesta Leal). Santa Cruz do Sul: Edunisc, 2008, p. 2311. 325 HEIDEMANN, op. cit., 2009, p. 28. 326 MASSA-ARZABE, Patrícia Helena. Dimensão jurídica das políticas públicas. In: Políticas públicas: reflexões sobre o conceito jurídico. Maria Paula Dallari Bucci (organizadora). São Paulo: Saraiva, 2006. 115 ou deixar de fazer, como regular conflitos sociais, organizar a sociedade em face de outras sociedades, distribuir simbólicas recompensas aos membros da sociedade, extrair dinheiro através de taxas, entre outras coisas327. Esta prática definição é bastante ampla e traz a ausência de ação em relação a uma questão – isto é, a inação – como uma forma de política. Entretanto, mais do que ação ou inação, o conceito de políticas públicas está intimamente ligado à idéia de intenção: para que haja uma política positiva, é necessária uma ação que materialize um propósito eventualmente enunciado. “Portanto, não há política pública sem ação, ressalvando-se, obviamente, as eventuais políticas deliberadamente omissivas perfiguradas por Dye” 328. Deste modo, as políticas públicas são o conjunto de ações políticas voltadas ao atendimento das demandas sociais, focadas nos resultados das decisões tomadas pelo governo. No entanto, a perspectiva das políticas públicas vai além dos aspectos de políticas governamentais, já que o governo e sua estrutura administrativa não é a única instituição capaz de promover políticas públicas: outras entidades podem perfeitamente ser agentes promotoras de políticas públicas, como associação de moradores, organizações não governamentais, empresas concessionárias, entre outros329. Ao estabelecer metas e caminhos para a consecução dessas metas, as políticas públicas vinculam, além dos órgãos estatais, também agentes econômicos, organizações da sociedade civil e também os particulares, como 327 DYE, Thomas R. Understanding public policy. 12 ed. New Jersey: Pearson, 2008, p. 1: “Public policy is whatever governments choose to do or not to do. Governments do many things. They regulate conflict within society; they organize society to carry on conflict with other societies; they distribute a great variety of symbolic rewards and material services to members of the society; and they extract money from society, most often in the form os taxes. Thus public polices may regulate behavior, organize bureaucracies, distribute benefits, or exctract taxes – or all these things at once”. 328 HEIDEMANN, Francisco G. “Do sonho do progresso às políticas de desenvolvimento”. In: Políticas públicas e desenvolvimento: bases epistemológicas e modelos de análises (org. Francisco G. Heidemann e José Francisco Salm). Brasília: UnB, 2009, p. 30. 329 HEIDEMANN, Francisco G. “Do sonho do progresso às políticas de desenvolvimento”. In: Políticas públicas e desenvolvimento: bases epistemológicas e modelos de análises (org. Francisco G. Heidemann e José Francisco Salm). Brasília: UnB, 2009, p. 31. 116 indica uma rápida lançada de olhos sobre políticas econômicas ou as políticas sociais de saúde, de educação, de trabalho330. Em outras palavras, política pública é definida como um programa ou quadro de ação governamental, porque consiste num conjunto de medidas articuladas (coordenadas), cujo escopo é dar impulso, isto é, movimentar a maquina do governo, no sentido de realizar algum objetivo de ordem pública ou, na ótica dos juristas, concretizar. Possui um componente de ação estratégica, isto é, incorpora elementos sobre a ação necessária e possível naquele momento determinado, naquele conjunto institucional e projeta-os para o futuro mais próximo331. Neste contexto, em se tratando do fundamento das políticas públicas, vincula-se na própria necessidade de concretização de direitos por via de prestações estatais, sendo o desenvolvimento nacional a principal política pública, conformando e harmonizando todas as demais332. Ademais, analisando de forma específica o caso brasileiro, denota-se que o processo de desenvolvimento é marcadamente fundado em decisões políticas. Não se pode olvidar também que tais políticas públicas, aqui entendidas no sentido de fundamentação e diretrizes para as ações do Estado, legitimam-se na seara constitucional333. O procedimento de implantação das políticas públicas é complexo e envolve, de início, a inserção de uma ideia no conjunto de preocupações dos formuladores de políticas. Na verdade, compreende o conjunto de quatro processos, a saber: “o estabelecimento de uma agenda de políticas públicas; a 330 MASSA-ARZABE, Patrícia Helena. Dimensão jurídica das políticas públicas. In: Políticas públicas: reflexões sobre o conceito jurídico. Maria Paula Dallari Bucci (organizadora). São Paulo: Saraiva, 2006. 331 BUCCI, Maria Paula Dallari. O conceito de política pública em direito. In: Políticas públicas: reflexões sobre o conceito jurídico. Maria Paula Dallari Bucci (organizadora). São Paulo: Saraiva, 2006, p. 14. 332 BERCOVICI, Gilberto. Políticas Públicas e o Dirigismo Constitucional. Revista da Academia Brasileira de Direito Constitucional, Curitiba, v. 3, p. 174, jan. 2003. 333 ROGRIGUES, Hugo Thamir. Políticas tributárias de desenvolvimento e de inclusão social: fundamentação e diretrizes, no Brasil, frente ao princípio republicano. In: REIS, J. R. dos; LEAL, R. G. (Org.). Direitos sociais e políticas públicas: desafios contemporâneos. Tomo 7. Santa Cruz do Sul: Edunisc, 2007. p. 1901-1905. Políticas públicas (...) podem ocorrer de forma negativa ou positiva, no sentido do “não agir” ou “agir do Estado”. Quando este não intervém nos preços do combustível e nas taxas de câmbio, exemplificadamente, atua de forma negativa, privilegiando as leis de mercado e, em tese, deixando de proteger faixas de sua população, quaisquer que sejam; já, quando age de forma positiva, direciona ações em prol de determinado segmento social, qualquer que seja, buscando um resultado que, por força do contexto constitucional, busca, ou deveria buscar, o desenvolvimento e a inclusão social. (grifado). 117 consideração das alternativas para a formulação de políticas públicas, com base nas quais as escolhas serão realizadas; a escolha dominante entre o conjunto de alternativas disponíveis e, finalmente, a implementação da decisão” 334. A política pública é, portanto, um procedimento linear em que fases perfeitamente distintas sucedem-se. É necessário ao jurista o conhecimento do ciclo da política pública para tornar possível o controle jurídico de seu processo e de seus resultados. A fase da formulação se baseia em estudos prévios e em um sistema adequado de informações, definindo-se não só as metas, mas também os recursos e o horizonte temporal da atividade de planejamento. Sobrevindo a decisão conformadora da política, inicia-se a implementação, que deverá observar os princípios e diretrizes, prazos, metas quantificadas etc. A avaliação, que se dá por vários métodos, vai verificar o impacto da política, se os objetivos previstos estão sendo atingidos e se há algo a ser modificado. Istoé, irá aferir a adequação de meios a fins promovendo a relegitimação ou a desligitimação da ação pública e também fornecendo elementos para o controle judicial, social ou pelos tribunais de contas335. O interessante é que a política pública funciona numa dimensão diferente da norma tradicional estruturada sobre a coerção. A ação estatal meramente repressiva é insuficiente e não raro inócua para dar cabo de situações disseminadas e culturalmente toleradas na sociedade, como já debatido de forma exaustiva anteriormente. A estrutura de política pública, ao contrário, permite o encaminhamento e tratamento do problema de forma mais razoável e possibilita aos agentes causadores do problema em questão uma reconceitualização de si, de suas próprias ações frente ao mundo e da realidade de seu entorno336. Atualmente, em face das crises estatais, a sociedade não pode mais depender exclusivamente do governo e do Estado para contar com os serviços 334 CAPELLA, Ana C. Perspectivas teóricas sobre o processo de formulação de políticas públicas. In: HOCHMAN, G., ARRETCHE, M.; MARUQES, Eduardo (Orgs.). Políticas públicas no Brasil. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2007. p. 87. 335 MASSA-ARZABE, Patrícia Helena. Dimensão jurídica das políticas públicas. In: Políticas públicas: reflexões sobre o conceito jurídico. Maria Paula Dallari Bucci (organizadora). São Paulo: Saraiva, 2006. 336 MASSA-ARZABE, Patrícia Helena. Dimensão jurídica das políticas públicas. In: Políticas públicas: reflexões sobre o conceito jurídico. Maria Paula Dallari Bucci (organizadora). São Paulo: Saraiva, 2006. 118 públicos que necessita, de modo que outros atores tomam essa iniciativa e assumem funções de governança para resolver problemas de natureza comum. Deste modo, essa diminuição de atuação estatal acaba por legitimar a atuação justamente das políticas públicas que incentivem a participação do indivíduo, aumentando o poder de organização dos cidadãos e a sua capacidade de tratar seus problemas337. Portanto, a utilização das políticas públicas no âmbito judicial não reflete apenas a busca pelo progresso e desenvolvimento sociais, mas também é uma forma diferente de aplicação de regras estatais, que foge da coerção, cujos resultados apresentam-se mais eficazes. Isso ocorre pela forma como acontecem e são implementadas, provocando maior organização social e fortalecimento das relações entre os indivíduos. No Brasil, no âmbito da resolução de conflitos, recentemente foi estabelecida uma política pública de tratamento adequado às controvérsias, por meio da publicação da Resolução nº 125, do CNJ. O documento inaugura a política nacional sobre o tema e sua importância, de modo que o próximo item propõe o debate de suas principais ideias, pontos positivos e negativos. 3.3 A Resolução nº 125 do Conselho Nacional de Justiça e a instituição de uma política nacional no tratamento dos conflitos O Brasil não possui nenhuma legislação instituindo a mediação como um método de resolução de conflitos; existem, isso sim, diversos projetos de lei ainda não aprovados. Nesse sentido, a Resolução 125 do CNJ institui uma política nacional de tratamento dos conflitos, de forma que o CNJ – dentro de sua missão constitucional de aperfeiçoamento do serviço público na prestação jurisdicional – é o responsável pelo planejamento e coordenação da política de solução pacífica de conflitos no território nacional. 337 SPENGLER, Fabiana M. A mediação comunitária como meio de tratamento de conflitos. Revista pensar, v. 14, nº 2, 2009, p. 275-278. 119 Em 29 de novembro de 2010, portanto, foi publicada a Resolução nº 125 pelo Conselho Nacional de Justiça, instituindo a Política Judiciária Nacional de tratamento dos conflitos de interesses, assegurando à sociedade o direito de resolver seus conflitos por meios adequados à sua natureza e peculiaridade. O documento é uma forma de desafogar o Judiciário e reduzir a judicialização dos conflitos, melhorando a prestação jurisdicional e auxiliando, ainda, na prevenção de novos litígios. Embora esta Política Judiciária Nacional de tratamento adequado de conflitos tenha por objetivo, em última análise, a mudança de mentalidade dos próprios operadores do Direito, das partes e da sociedade em geral, na busca por uma vivência em harmonia, apresenta algumas fragilidades. Nessa linha, as dificuldades dizem respeito principalmente à estrutura física e de pessoal, capacidade financeira do Judiciário brasileiro em arcar com os custos de implantação da política pública e a resistência social em face da aceitação e utilização de tais mecanismos338. Neste contexto, a Resolução busca uma atuação mais ampla do Poder Judiciário, trazendo uma nova imagem que atende aos anseios da comunidade. A utilização dos mecanismos de conciliação e mediação, conforme consta no documento, ocorre no curso do processo judicial. Assim, a partir de sua utilização, a sociedade amplia o conhecimento sobre eles e as vantagens obtidas com os procedimentos, podendo no futuro optar por eles antes mesmo de ajuizar um processo, deixando de utilizar o Judiciário para resolver qualquer tipo de problema, como ocorre atualmente com a cultura da judicialização dos conflitos339. 338 SPENGLER, Fabiana Marion. A mediação e a conciliação enquanto políticas públicas de tratamento de conflitos propostas na Resolução 125 do CNJ. (no prelo). 339 LUCHIARI, Valeria Ferioli Lagrasta. A Resolução n. 125 do Conselho Nacional de Justiça: Origem, Objetivos, Parâmetros e Diretrizes para a Implantação Concreta. In: Conciliação e Mediação: Estruturação da Política Judiciária Nacional. (Coordenadores Morgana de Almeida Richa e Antonio Cezar Peluso; colaboradores Ada Pellegrini Grinover, et al). Rio de Janeiro:Forense, 2011. Os métodos consensuais de solução de conflitos não podem ser vistos apenas como meios ou métodos praticados fora do Poder Judiciário, como sugere o adjetivo “alternativo”, utilizado para qualificá-los, mas devem ser vistos também como instrumentos à disposição do Judiciário inicialmente, para, depois de apresentados à sociedade, servirem de instrumento para resolução dos problemas sociais, anteriormente ao ajuizamento do processo judicial. 120 Analisando de forma geral a situação em que se encontra o judiciário brasileiro e os institutos da mediação e conciliação, justifica-se a elaboração e publicação do documento por diversos motivos. Dentre eles, considerando-se que a eficiência operacional, o acesso ao sistema de Justiça e a responsabilidade social são objetivos estratégicos do Poder Judiciário e que o direito de acesso à Justiça, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal implica acesso à ordem jurídica justa; considerando também que cabe ao Judiciário estabelecer política pública de tratamento adequado dos problemas jurídicos e dos conflitos de interesses, que ocorrem em larga e crescente escala na sociedade, de forma a organizar, em âmbito nacional, não somente os serviços prestados nos processos judiciais, como também os que possam sê-lo mediante outros mecanismos de solução de conflitos, em especial dos consensuais, como a mediação e a conciliação, esclarece-se a criação da Resolução. Da mesma forma, considerando que existe a necessidade de se consolidar uma política pública permanente de incentivo e aperfeiçoamento dos mecanismos consensuais de solução de litígios, a conciliação e a mediação são instrumentos efetivos de pacificação social, solução e prevenção de litígios, capazes de reduzir a excessiva judicialização dos conflitos de interesses, a quantidade de recursos e de execução de sentenças. Ainda, é imprescindível estimular, apoiar e difundir a sistematização e o aprimoramento das práticas já adotadas pelos tribunais e por fim, a organização dos serviços de conciliação, mediação e outros métodos consensuais de solução de conflitos deve servir de princípio e base para a criação de Juízos de resolução alternativa de conflitos, verdadeiros órgãos judiciais especializados na matéria. Referida política pública centra-se, portanto, no acesso à justiça qualificado, o qual compreende um acesso à ordem jurídica justa, ou seja, exige efetividade, celeridade e adequação da tutela jurisdicional, bem como atenção redobrada do Poder Público. Nesse sentido, incumbe ao Judiciário não somente organizar os serviços processuais, mas também os mecanismos alternativos à solução de conflitos e serviços que atendam ao cidadão de modo mais abrangente, contribuindo para aproximar o cidadão da justiça e para o exercício da cidadania. 121 A utilização da mediação e conciliação conforme prevê o documento é forma de realização do princípio constitucional do acesso à Justiça, já que a Constituição Federal não assegura um acesso meramente formal à Justiça, mas sim qualificado, o que atualmente não está sendo alcançado. Este acesso qualificado não é obtido “através da solução adjudicada, por meio da sentença, pois esta muitas vezes não é capaz de ministrar uma solução adequada à natureza dos conflitos e às peculiaridades e especificidades dos conflitantes” 340, o que somente pode ser alcançado – frisa-se – por meio da utilização de outros mecanismos341. Entretanto, equivocadamente, a Resolução trata tanto a mediação como a conciliação como se fossem institutos idênticos, com as mesmas características e servindo ao mesmo tipo de conflitos, deixando de diferenciá-las. Porém, suas diferenças são significativas e importantes, dando-se não somente quanto à conceituação propriamente dita, mas também operando de modo expressivo no papel desempenhado pelos profissionais que administram as sessões, pelo tipo de conflito nelas tratados, pelos objetivos perseguidos e pelos resultados almejados342. A partir destas considerações, a Resolução foi publicada determinando aos órgãos judiciários – além da solução mediante sentença – o oferecimento de outros mecanismos de soluções de controvérsias, em especial os chamados meios consensuais, como a mediação e a conciliação, bem ainda prestar atendimento e orientação ao cidadão. Por meio deste dispositivo, o documento 340 LUCHIARI, ValeriaFerioliLagrasta. A Resolução n. 125 do Conselho Nacional de Justiça: Origem, Objetivos, Parâmetros e Diretrizes para a Implantação Concreta. In: Conciliação e Mediação: Estruturação da Política Judiciária Nacional. (Coordenadores Morgana de Almeida Richa e Antonio Cezar Peluso; colaboradores Ada Pellegrini Grinover, et al). Rio de Janeiro:Forense, 2011. A sentença realmente não pacifica as partes, sempre deixa uma delas descontente, quando não, ambas, nem que seja parcialmente, levando à criação de novos processos ou recursos, permanecendo o conflito inicial irresolvido, conforme já debatido nos capítulos anteriores. 341 LUCHIARI, ValeriaFerioliLagrasta. A Resolução n. 125 do Conselho Nacional de Justiça: Origem, Objetivos, Parâmetros e Diretrizes para a Implantação Concreta. In: Conciliação e Mediação: Estruturação da Política Judiciária Nacional. (Coordenadores Morgana de Almeida Richa e Antonio Cezar Peluso; colaboradores Ada Pellegrini Grinover, et al). Rio de Janeiro:Forense, 2011, p. 232. A dificuldade de oferecer respostas adequadas à sociedade pelo Judiciário e as crises enfrentadas por ele é tema que restou esgotado no primeiro capítulo. 342 SPENGLER, Fabiana Marion. A mediação e a conciliação enquanto políticas públicas de tratamento de conflitos propostas na Resolução 125 do CNJ. (no prelo). A efetiva diferenciação entre mediação e conciliação já foi amplamente discutida no segundo capítulo do presente trabalho. 122 busca uma aproximação do judiciário e dos mecanismos consensuais em relação à sociedade343. Ademais, o documento propõe a modificação da “cultura da sentença” para a “cultura da pacificação”. Nesse contexto, ocorre que os próprios operadores do direito desde sua formação são educados e orientados para o litígio e não para o consenso, ao mesmo tempo em que o cidadão comum também não está acostumado a resolver seus problemas com base no diálogo; prefere que um terceiro diga quem tem razão e decida a situação – é mais fácil do que se responsabilizar e tomar alguma atitude decisional, responsabilizando-se por ela. Por isso a importância do resgate das vias conciliativas. A efetiva mudança de mentalidade tanto dos operadores do direito quanto da sociedade exige ações concretas, o que pode ser alcançado por meio de políticas públicas. A Resolução, nesse sentido, busca a cooperação e atuação conjunta de instituições públicas e privadas desde o ensino jurídico, propiciando o surgimento de uma cultura de soluções pacíficas de conflitos, com a devida capacitação dos profissionais. Porém, deve-se ter em mente que tais instrumentos não devem ser utilizados somente com a finalidade primeira de desafogar o judiciário. Portanto, necessária a divulgação destes métodos, não unicamente na comunidade, mas também no próprio ambiente judiciário, através de cursos e seminários, bem como de informações veiculadas na mídia 344. Assim, a Resolução é uma forma de inserir não somente no Judiciário brasileiro, mas gradativamente na sociedade em geral, a cultura dos métodos consensuais de tratamento de litígios; não se trata apenas de difundir o ideal autocompositivo, mas desenvolver na prática uma política pública nacional que estabeleça parâmetros mínimos, que assegurem sua implantação em caráter profissional. 343 NOGUEIRA, Mariella Ferraz de Arruda Pollice. Dos Núcleos Permanentes de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos. In: Conciliação e Mediação: Estruturação da Política Judiciária Nacional. (Coordenadores Morgana de Almeida Richa e Antonio Cezar Peluso; colaboradores Ada Pellegrini Grinover, et al). Rio de Janeiro:Forense, 2011. 344 LUCHIARI, Valeria Ferioli Lagrasta. A Resolução n. 125 do Conselho Nacional de Justiça: Origem, Objetivos, Parâmetros e Diretrizes para a Implantação Concreta. In: Conciliação e Mediação: Estruturação da Política Judiciária Nacional. (Coordenadores Morgana de Almeida Richa e Antonio Cezar Peluso; colaboradores Ada Pellegrini Grinover, et al). Rio de Janeiro:Forense, 2011. Os próprios magistrados e serventuários da justiça devem ter conhecimento específico sobre os métodos consensuais de solução de conflitos, para que possam informar as partes sobre sua existência e procedimentos afetos a esses instrumentos, encaminhando-as. 123 Para disseminar esta cultura de pacificação social a Resolução determina a centralização das estruturas judiciárias, adequada formação e treinamento de servidores, conciliadores e mediadores, bem como acompanhamento estatístico específico. Toda a organização ocorrerá por conta do Conselho Nacional de Justiça, o qual desenvolverá e as atividades relativas à capacitação dos mediadores e conciliadores, ao mesmo tempo em que buscará interlocução com diversas instituições e cooperação dos órgãos públicos competentes e das instituições públicas e privadas da área de ensino345. Porém, o risco que se corre com a centralização dos procedimentos de conciliação/mediação ou o acompanhamento e fiscalização dos mesmos na estrutura do Judiciário é que se crie o entendimento de que ambas são obrigatórias e de que o não comparecimento à sessão pode ser considerado má vontade (gerando algum tipo de consequência jurídica); além disso, há o temor de que o relato feito na sessão possa ser levado ao conhecimento do magistrado, dentre outros medos/riscos que os conflitantes podem entender como existentes e que, ao serem assim considerados, dificultariam a adesão à conciliação/mediação346. Deste modo, a Resolução prevê no artigo 7º o desenvolvimento no âmbito dos Estados através da criação de Núcleos Permanentes de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos e Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania, capazes de colocarem em prática as políticas de tratamento consensual dos conflitos. Estes Núcleos são integrados por magistrados (da ativa ou aposentados) e servidores, que tenham experiência em métodos consensuais de solução de conflitos e são responsáveis pelo planejamento, implementação, manutenção e aperfeiçoamento de ações voltadas ao cumprimento da política pública e suas metas, exercendo função política e atuando na interlocução com outros tribunais e instituições. 345 A interlocução com o ensino vincula-se à ideia de criação de disciplinas que propiciem o surgimento da cultura da solução pacífica dos conflitos, de modo a assegurar que, nas Escolas da Magistratura, haja módulo voltado aos métodos consensuais de solução de conflitos, no curso de iniciação funcional e no curso de aperfeiçoamento. 346 SPENGLER, Fabiana Marion. A mediação e a conciliação enquanto políticas públicas de tratamento de conflitos propostas na Resolução 125 do CNJ. (no prelo). 124 No entanto, neste ponto surge outra dúvida, desta vez quanto à capacidade de magistrados (da ativa ou aposentados) de ministrar cursos cujo viés e o resultado esperado seja tão diferenciado das suas atividades cotidianas, qual seja, uma cultura de pacificação347. Do magistrado se espera a decisão, a última palavra e não a realização de mediação ou conciliação. Na lógica do judiciário trabalha-se com a ideia de transferência de responsabilidades quanto à gestão do conflito que vai direcionada ao juiz que o traduz na linguagem dele; são juízes que estão acostumados, em suas lides, a fazer conciliação e não mediação e mesmo assim, a fazer conciliação endoprocessual, rápida, num procedimento que inicia pelo fim com a típica pergunta: “tem acordo?”348. Desse modo, as atenções continuam centradas na figura do juiz e do Estado, que continuará a dar a última palavra e a deter a forma de poder legal. De qualquer modo, as funções do Núcleo compreendem a realização da gestão junto a empresas, incentivando práticas autocompositivas, conforme prevê art. 6º, VII, da referida Resolução, e a efetivação concreta das disposições contidas no documento por meio da instalação e fiscalização de Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania, os quais serão amplamente analisados a seguir. Para tanto, deverá promover capacitação dos servidores, através de cursos e seminários, organizar o cadastro de mediadores e conciliadores, regulamentando, ainda, o processo de inscrição e a remuneração dos mesmos349. 347 SPENGLER, Fabiana Marion. A mediação e a conciliação enquanto políticas públicas de tratamento de conflitos propostas na Resolução 125 do CNJ. (no prelo). Não se põe aqui em dúvidas, em nenhum momento, a capacidade cognitiva dos magistrados, profissionais que adentram ao Judiciário depois de um árduo processo de seleção no qual seus conhecimentos são testados exaustivamente. Porém, os magistrados são formados nas universidades na cultura do conflito que sempre direciona os litígios para o processo e consequentemente para a sentença. Posteriormente são concursados e treinados para decidir. É isso que se espera de um juiz. Por outro lado, sabe-se que existe uma sobrecarga de trabalho atribuída ao magistrado: pilhas de processos que aguardam sua decisão. Porque sobrecarregá-los mais ainda com outros afazeres? Porque não atribuir a eles o trabalho para o qual foram selecionados? 348 SPENGLER, Fabiana Marion. A mediação e a conciliação enquanto políticas públicas de tratamento de conflitos propostas na Resolução 125 do CNJ. (no prelo). 349 LUCHIARI, Valeria Ferioli Lagrasta. A Resolução n. 125 do Conselho Nacional de Justiça: Origem, Objetivos, Parâmetros e Diretrizes para a Implantação Concreta. In: Conciliação e Mediação: Estruturação da Política Judiciária Nacional. (Coordenadores Morgana de Almeida Richa e Antonio Cezar Peluso; colaboradores Ada Pellegrini Grinover, et al). Rio de Janeiro:Forense, 2011, p. 235. É aconselhável, neste caso, que o Núcleo conte com um Regimento Interno capaz de direcionar a atuação de seus membros, podendo detalhar as atribuições contidas no art. 7º da referida Resolução e até acrescentar outras com o objetivo de 125 As funções expressas dos núcleos compreendem a indicação pelo Presidente do Tribunal dos juízes aptos a atuarem como coordenadores e adjuntos, gestão das atividades em geral, acompanhamento legislativo de projetos voltados aos mecanismos consensuais de resolução de litígios, solução de dúvidas relativas ao tema e criação e controle de um banco de dados referente às atividades desenvolvidas, com a devida divulgação dos resultados, entre outros. De outro lado, o cadastro dos mediadores e conciliadores, atividade que compete ao Núcleo, deve atender ao Código de Ética de Conciliadores e Mediadores Judiciais, conforme Anexo III, do documento. Ainda, podem ser incluídos neste cadastro os mediadores e conciliadores; todos passarão por avaliação e seleção realizada pelos juízes dos Centros. O cadastro unificado pode exigir no momento da inscrição apresentação do certificado de conclusão de curso previsto no Módulo I do Anexo I da Resolução, idade mínima de 21 anos, estar no gozo dos direitos políticos, comprovação do cumprimento das obrigações eleitorais. Da mesma forma, é atribuição do Núcleo regulamentar a exclusão do mediador ou conciliador do cadastro, conforme disciplina o Código de Ética, e a remuneração dos mesmos350. Além disso, a Resolução também trata das competências dos mediadores e conciliadores na Seção III, determinando expressamente que somente serão admitidos mediadores e conciliadores capacitados na forma prevista no Anexo I, cabendo aos Tribunais, antes de sua instalação, realizar o curso de capacitação, podendo fazê-lo por meio de parcerias. Para tanto, o próprio documento estabelece o tipo de curso de capacitação que deve ser realizado pelos profissionais, inclusive prevendo conteúdo programático e carga horária mínima, bem ainda a necessidade de realização de estágio supervisionado. Todos ficarão efetivar a política judiciária nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesses no âmbito do Estado. 350 LUCHIARI, Valeria Ferioli Lagrasta. A Resolução n. 125 do Conselho Nacional de Justiça: Origem, Objetivos, Parâmetros e Diretrizes para a Implantação Concreta. In: Conciliação e Mediação: Estruturação da Política Judiciária Nacional. (Coordenadores Morgana de Almeida Richa e Antonio Cezar Peluso; colaboradores Ada Pellegrini Grinover, et al). Rio de Janeiro:Forense, 2011, p. 237. O que se nota é que a falta de remuneração constitui entrave significativo ao bom desenvolvimento do trabalho. Outros países possuem vários exemplos de como remunerar os mediadores e conciliadores. O que deve ser vedado é o condicionamento da remuneração à obtenção do acordo, a fim de evitar que os profissionais constranjam as partes a concretizá-lo,o que violaria o princípio da autonomia da vontade – o qual norteia todo o procedimento. 126 sujeitos, ainda, ao Código de Ética anexado à Resolução, composto por oito dispositivos, os quais indicam os princípios e garantias da conciliação e mediação, regras que regem o procedimento de conciliação/mediação e por fim as responsabilidades e sanções previstas ao conciliador/mediador. Todavia, atualmente faltam conciliadores e mediadores já capacitados, bem como profissionais treinados para desenvolver os cursos de capacitação. Não existem ainda profissionais suficientes e nem mesmo professores para os cursos de formação dos mesmos. Paralelo a isso, se temos poucos conciliadores/mediadores e poucos professores, temos poucos locais de observação e de estágio. Corre-se o risco, então, de formar profissionais teóricos que não contam com laboratórios práticos (leiam-se, sessões de conciliação/mediação), para colocar em prática seus conhecimentos mediante a supervisão de profissional experiente351. Além disso, quando se fala em mediação e na atuação do mediador, a Resolução não esclarece de forma ampla a questão de sua remuneração. Nessa linha, não se pode olvidar que a expectativa depositada nestes profissionais é imensa, pois lhes é atribuído um papel de auxiliar na resolução de conflitos com resultados que os próprios conflitantes, seus advogados e o magistrado não conseguiram alcançar. O risco que se corre é a não realização de trabalho no Judiciário por parte de mediadores habilidosos em face da ausência de retorno financeiro352. De outro lado, os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania são unidades do Poder Judiciário às quais cabe preferencialmente a realização das sessões de mediação e audiências de conciliação, no âmbito do território definido pela organização judiciária de cada Estado. Devem necessariamente abranger o setor de solução de conflitos pré-processual, processual e o setor de cidadania, conforme prevê o art. 10 da Resolução, bem ainda contar com uma estrutura funcional mínima – composta por juiz coordenador e eventualmente um 351 SPENGLER, Fabiana Marion. A mediação e a conciliação enquanto políticas públicas de tratamento de conflitos propostas na Resolução 125 do CNJ. (no prelo). 352 SPENGLER, Fabiana Marion. A mediação e a conciliação enquanto políticas públicas de tratamento de conflitos propostas na Resolução 125 do CNJ. (no prelo). Nos moldes da Resolução, entende-se que o trabalho é voluntário. Porém, o mediador deve ser bem remunerado, pois precisa de estudos constantes e deve ter condições de arcar com estas despesas, além das básicas. 127 adjunto, devidamente capacitados nos moldes do Anexo I – cuja função é administrar e fiscalizar o trabalho de mediadores e conciliadores. O procedimento a ser adotado pelos Centros, por sua vez, ficou a cargo dos Tribunais, mas a Resolução facultou a adoção daquele sugerido no Anexo II. Na fase inicial, então, deve o juiz ou serventuário – devidamente qualificado, treinado e capacitado, amplo conhecedor dos diversos instrumentos de solução de conflitos – fornecer informações às partes sobre os mecanismos (incluindo vantagens e desvantagens) e indicar o que seria mais adequado para o caso concreto. A partir disso, as partes terão elementos suficientes para optar de forma consciente pela técnica mais adequada para tratar seu conflito353. Deste modo, consoante Anexo II, no setor de solução pré-processual poderão ser recepcionados casos que versem sobre direitos disponíveis em matérias cível, de família, previdenciária e da competência dos Juizados Especiais, que serão encaminhados pelo servidor devidamente habilitado para o método mais adequado. Deste modo, comparecendo o interessado com as informações necessárias, o servidor emitirá carta-convite para a outra parte com data, hora e local da sessão de mediação ou conciliação354. Depois de realizada a sessão e com a obtenção do acordo, este será homologado por sentença judicial após manifestação do Ministério Público; caso não haja acordo, os interessados serão orientados a buscar a solução do conflito no judiciário355. No setor de solução de conflitos processual, por sua vez, serão recebidos processos, cujos magistrados indicarão o método de solução de 353 Este ponto é polêmico, pois os métodos alternativos de solução de conflitos caracterizam-se pela voluntariedade, isto é, as partes não poderiam neste caso estar obrigadas a participar desta triagem inicial, devendo ser apenas uma fase opcional do sistema. 354 LUCHIARI, Valeria Ferioli Lagrasta. A Resolução n. 125 do Conselho Nacional de Justiça: Origem, Objetivos, Parâmetros e Diretrizes para a Implantação Concreta. In: Conciliação e Mediação: Estruturação da Política Judiciária Nacional. (Coordenadores Morgana de Almeida Richa e Antonio Cezar Peluso; colaboradores Ada Pellegrini Grinover, et al). Rio de Janeiro:Forense, 2011. Este convite poderá ser feito por qualquer meio idôneo de comunicação. 355 LUCHIARI, Valeria Ferioli Lagrasta. A Resolução n. 125 do Conselho Nacional de Justiça: Origem, Objetivos, Parâmetros e Diretrizes para a Implantação Concreta. In: Conciliação e Mediação: Estruturação da Política Judiciária Nacional. (Coordenadores Morgana de Almeida Richa e Antonio Cezar Peluso; colaboradores Ada Pellegrini Grinover, et al). Rio de Janeiro:Forense, 2011, p. 244. De qualquer forma, obtido ou não o acordo, será colhida a qualificação completa dos interessados com CPF ou CNPJ para fins estatísticos. De outro lado, se o acordo for descumprido, o interessado poderá ajuizar ação de execução de título judicial segundo as regras de competência. 128 conflitos a ser seguido. De outro lado, o setor da cidadania prestará serviços de informação, orientação jurídica, serviços psicológicos, entre outros. Existem argumentos que defendem a necessidade da conciliação e mediação ser iniciada e concluída no prazo de 60 dias, sob pena do processo ser restituído à Vara de origem, obtida ou não a composição 356. Entretanto, sabe-se que a mediação possui um tempo diferenciado do processo judicial, caracterizase pela flexibilidade e depende de cada caso concreto, de forma que é temerário impor prazo para que ela aconteça e seja finalizada. Mesmo que o argumento seja evitar a má-fé na sua utilização para ganhar tempo, é provável que a imposição de prazos seja mais maléfica do que benéfica. Neste caso, se a decisão for pelo estabelecimento de prazo, que eles sejam mais dilatados e que possam ser revistos conforme a situação fática357. Os artigos 7º e 8º disciplinam os prazos para implantação dos Núcleos e Centros: trinta dias para os núcleos, quatro meses para instalação dos centros nas capitais e doze meses no interior. Entretanto, a fixação de tais prazos é incoerente com a situação atual do país e, portanto, de difícil cumprimento, inclusive pela própria situação de crise/exaurimento que atravessa o judiciário. A pressa mediante a qual vem sendo tratado o assunto explica e justifica o interesse e a pressão na implantação dos núcleos: a intenção maior, na prática, é desafogar o Judiciário358. Nesse sentido, o tema é delicado e merece cautela: a criação de centros e núcleos em tão pouco tempo pode acarretar a atuação de profissionais bem intencionados, porém pouco habilitados, gerando o risco da ocorrência de mediações intuitivas em detrimento do conhecimento teórico e técnico que a matéria exige e do qual não é possível abrir mão. Além disso, a mediação não pode servir com o propósito primeiro de aliviar a situação do Judiciário e diminuir 356 Sobre o assunto ver: NOGUEIRA, Mariella Ferraz de Arruda Pollice. Dos núcleos permanentes de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos. In: PELUSO, Antonio César; RICHA, Morgana de Almeida. Conciliação e mediação: estruturação da Política Pública Judiciária Nacional – CNJ. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 268. 357 SPENGLER, Fabiana Marion. A mediação e a conciliação enquanto políticas públicas de tratamento de conflitos propostas na Resolução 125 do CNJ. (no prelo) 358 SPENGLER, Fabiana Marion. A mediação e a conciliação enquanto políticas públicas de tratamento de conflitos propostas na Resolução 125 do CNJ. (no prelo). 129 o número de processos, mas sim, deve ser pensada como meio de tratamento de conflitos qualitativamente eficaz359. O bom funcionamento de toda política pública proposta pela Resolução depende de atuação conjunta dos operadores do Direito, membros do Ministério Público, defensores públicos, procuradores, etc. A participação do advogado, por exemplo, é de suma importância na escolha do método de solução de conflitos a ser utilizado, orientando seu cliente – desde que tenha conhecimento sobre o tema. Da mesma forma, sua participação é essencial no momento de realização dos procedimentos de mediação ou conciliação, na medida em que confere segurança jurídica aos acordos eventualmente obtidos, pois aconselham juridicamente as partes360. A disseminação da cultura da solução de conflitos pelas vias autocompositivas demanda permanente discussão sobre o tema, atualização e participação social. Pensando nisso, a Resolução nº 125 também menciona a necessidade de criação de um banco de dados para controle estatístico sobre as atividades de cada Centro e trata da criação de um Portal da Conciliação que, dentre outras funções, publicará o Código de Ética e relatórios gerais do programa, divulgando notícias e informações acerca do assunto361. Nesse contexto, a Resolução 125 alinha seu posicionamento com as demais instituições estatísticas do CNJ ao criar o Portal da Conciliação (como é o caso, por exemplo, do Relatório Justiça em Números, apresentado no primeiro capítulo). O artigo 13 menciona a necessidade de organizar um banco de dados, ou seja, um conjunto de registros, contendo as informações de tudo o que se passou em cada Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - 359 SPENGLER, Fabiana Marion. A mediação e a conciliação enquanto políticas públicas de tratamento de conflitos propostas na Resolução 125 do CNJ. (no prelo). 360 LUCHIARI, Valeria Ferioli Lagrasta. A Resolução n. 125 do Conselho Nacional de Justiça: Origem, Objetivos, Parâmetros e Diretrizes para a Implantação Concreta. In: Conciliação e Mediação: Estruturação da Política Judiciária Nacional. (Coordenadores Morgana de Almeida Richa e Antonio Cezar Peluso; colaboradores Ada Pellegrini Grinover, et al). Rio de Janeiro:Forense, 2011, p. 247. Nesse sentido, observa-se que a própria Ordem dos Advogados do Brasil em seu Código de Ética, art. 2º, VI, estabelece como função do advogado a atuação como conciliador a facilitador do consenso, prevenindo a instauração de novos processos judiciais. 361 Sobre o tema importante a leitura de WERNER, José Guilherme Vasi. O controle estatístico na Resolução n. 125 do Conselho Nacional de Justiça. In: Conciliação e Mediação: Estruturação da Política Judiciária Nacional. (Coordenadores Morgana de Almeida Richa e Antonio Cezar Peluso; colaboradores Ada Pellegrini Grinover, et al). Rio de Janeiro:Forense, 2011. 130 CEJUSCS. Posteriormente caberá ao CNJ compilar informações sobre os serviços públicos de solução consensual das controvérsias existentes no país e sobre o desempenho de cada um deles, mantendo permanentemente atualizado o banco de dados. Por meio destas informações será possível avaliar o desenvolvimento das sessões, enumerando as dificuldades, os pontos de fragilidade e de exaurimento, assinalando possíveis alternativas de melhoria. Contudo, a dúvida que surge em relação ao banco de dados se refere à utilização dos mesmos para pressionar mediadores quanto ao resultado quantitativo do trabalho desenvolvido (número de mediações feitas e de acordos alcançados), sob pena de promover a quantidade em detrimento da qualidade. Ou seja, a pressão para se chegar num acordo e posteriormente computar no banco de dados não seria um fator gerador de acordos sem qualidade, mas satisfatórios em termos numéricos? Desta forma, a resolução prevê a atuação conjunta de variados segmentos sociais, demonstrando que a expansão das práticas autocompositivas se sustenta pela integração de várias instituições, especialmente as atuantes no sistema judicial. Nada adianta dispor de mediadores e conciliadores capacitados se as partes não possuem o conhecimento de suas vantagens e benefícios, comparecendo à sessão sem interesse nenhum na composição. Por isso também importante a manutenção de um canal de comunicação entre Judiciário e instituições (empresas, sociedade, etc). Logo, o documento é um marco nas políticas públicas relativas ao tratamento de conflitos no país, pois prevê uma atuação conjunta dos órgãos jurisdicionados, sociedade, entidades e até mesmo universidades, através de orientação e informação para toda a sociedade sobre o tema para sua posterior aplicação e consequente transformação social, estabelecendo diretrizes para implantação de políticas públicas. Embora muitos dispositivos e diretrizes da Resolução, apontadas anteriormente, possuam fragilidades e suscitem dúvidas, é preciso ponderar que este é o primeiro passo na busca por uma forma qualitativamente mais eficaz no tratamento de conflitos. A Resolução nº 125 do CNJ, portanto, busca a realização de serviços de mediação e conciliação, demonstrando na prática, a qualidade e os benefícios 131 dos métodos, auxiliando na modificação da cultura atual para uma visão de pacificação social. O documento, por meio da intensificação e melhora dos serviços jurisdicionais, contribui de forma ampla para um novo momento da sociedade brasileira. Os benefícios da mediação enquanto política pública estão sendo comprovados na prática por meio de um projeto de extensão vinculado ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e da Universidade de Santa Cruz do Sul. As atividades do projeto acontecem desde o ano de 2009 e a experiência colabora para modificação da cultura da comunidade e da sociedade, assunto arrazoado no item a seguir. 3.4 A comprovação prática das vantagens da mediação enquanto política pública em face do projeto362 existente em Santa Cruz do Sul O fórum da comarca de Santa Cruz do Sul conta desde o ano de 2009 com um serviço de mediação oferecido ao Juizado da Infância e Juventude e às Varas Cíveis, que faz parte de um projeto de extensão. Observa-se que a mediação é aplicada no curso do processo, ou seja, é judicial, oferecendo um espaço de reflexão ao cidadão e uma alternativa ao judiciário para resolver os litígios. O projeto de extensão intitulado “A crise da jurisdição e a cultura da paz: a mediação como meio democrático, autônomo e consensuado de tratar dos conflitos”, ora apresentado, nasceu a partir de pesquisas realizadas no Mestrado e Doutorado em Direito da Universidade de Santa Cruz do Sul-UNISC363 em parceria com o Curso de Direito e com o Curso de Psicologia. Sua implementação 362 O projeto em comento está vinculado ao Grupo de Estudos intitulado “Políticas públicas no tratamento dos conflitos”, que, por sua vez, é vinculado ao mestrado em Direito da UNISC; suas atividades iniciaram em 2008 e foi certificado pelo CNPq como grupo autônomo desde 2010. 363 As informações referentes à apresentação da instituição educacional foram retiradas do site da própria universidade: http://www.unisc.br/: O compromisso da UNISC para com a sociedade inclui ações sociais que oferecem oportunidades de crescimento social e intelectual a um número cada vez maior de pessoas, proporcionando melhores condições de vida, de saúde, de educação, e que contribuam para a vivência plena da cidadania. O fomento de projetos voltados à saúde, à educação, ao esporte, ao meio ambiente, à comunicação e ao desenvolvimento tecnológico assegura sua inserção na comunidade. E, ao primar pela excelência em seus projetos, reforça o compromisso com o desenvolvimento regional. 132 ocorreu em março de 2009 por meio de um convênio entre duas instituições: UNISC e Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul – TJ/RS. A primeira – UNISC – é instituição localizada na cidade de Santa Cruz do Sul – RS, comprometida com a ética e solidariedade, busca a superação de desafios em benefício da coletividade, utilizando ciência e tecnologia para tanto. Além disso, é uma universidade comunitária, cuja mantenedora é a Associação Pró-Ensino em Santa Cruz do Sul – APESC. O segundo – TJ/RS – gestiona todos os assuntos pertinentes à justiça e à magistratura no RS fiscalizando todos os projetos que envolvam de forma direita ou indireta os ritos e os processos judiciais da justiça estadual. A importância social do projeto364 em comento se justifica pela necessidade de se buscar novas alternativas que possam atender de forma adequada e célere ao contingente conflitivo atual em face das crises que o Sistema Judiciário enfrenta, conforme amplamente arrazoado no presente artigo. O que se propõe é pensar a mediação não apenas como meio de acesso à justiça, aproximando o cidadão comum e desafogando o Poder Judiciário. Pretende-se mais: “discutir/fazer mediação” enquanto meio de tratamento de conflitos eficaz, possibilitando o cumprimento efetivo do acordo eventualmente firmado e consequentemente diminuindo a incidência de novas demandas. Observa-se, ainda, que o projeto ora em comento vem demonstrando resultados muito positivos. No ano de 2010 a principal conquista foi receber o primeiro lugar no prêmio Sinepe/RS de Responsabilidade Social, categoria Educação Comunitária. Muitas instituições e outros projetos participaram do prêmio, mas a escolha por este demonstra sua importância social para toda a sociedade local, contribuindo para uma mudança de cultura e uma educação comunitária. Este prêmio é o reconhecimento de todo trabalho desenvolvido e evidencia que a utilização da mediação no tratamento dos conflitos é uma forma de educar a comunidade local, evitando a incidência de novos litígios e buscando uma cultura de paz. A mediação permite que os indivíduos se tornem autônomos e 364 Importante mencionar que todas as informações referentes ao projeto, tanto em relação aos procedimentos quanto aos resultados, foram retiradas de relatórios entregues aos financiadores do mesmo. 133 responsáveis pelas decisões tomadas nos processos, além de ser instrumento democrático – pois as próprias partes decidem o problema, não havendo imposição de uma decisão pelo juiz. Tudo isso comprova a importância social do presente projeto de extensão. Além disso, o projeto possui relevância científica, já que possui inserção em uma das linhas de pesquisa do Mestrado em Direito: Políticas Públicas de Inclusão Social365 – justamente porque pretende, através do trabalho de extensão desenvolvido, colocar em prática a mediação como estratégia consensuada para tratar os conflitos sociais; torna-se, assim, importante ferramenta de extensão que possibilitará a aplicação prática dos conhecimentos teóricos proporcionados pelas disciplinas oferecidas junto ao Mestrado em Direito da UNISC. Ainda, a atividade de extensão como um todo prevê imbricações com a graduação uma vez que, além das relações com as disciplinas ministradas, contará com dois bolsistas cujas tarefas dirão respeito a organização, sistematização e divulgação das atividades desenvolvidas e possui vínculos com a produção teórica de seus proponentes. O objetivo geral, por sua vez, é propor e efetivar a prática da mediação como meio consensual, autonomizador e democrático para o tratamento de conflitos sociojurídicos. Já os objetivos específicos compreendem a aplicação de técnicas de mediação que resultem num tratamento adequado as demandas conflitivas atuais, cujas respostas sejam construídas pelas partes de maneira consensuada, autônoma e democrática, restabelecer a comunicação entre as partes mediante o uso de técnicas adequadas, comprovar que existem alternativas autonomizadoras e democráticas para o tratamento dos conflitos, dentre elas a mediação, como também demonstrar que o conflito pode ter resultados positivos se bem administrado. Nesse sentido, a ação social proporcionada por meio da política pública – projeto de extensão – oferece oportunidade de crescimento social e intelectual a um número cada vez maior de pessoas, contribuindo para a vivência plena da cidadania. O desafio do projeto, assim, é educar toda a sociedade local, tanto a 365 Linha de pesquisa na qual se encontra inserida a disciplina lecionada pela coordenadora proponente do presente projeto de extensão e linha de pesquisa dos mestrandos/coordenadoresvoluntários junto ao Mestrado em Direto da referida IES. 134 comunidade que se utiliza dos serviços judiciários, como também os alunos da graduação e pós-graduação envolvidos nas atividades do projeto para uma outra cultura: uma cultura de paz. Essa cultura de paz, por sua vez, depende de uma construção conjunta entre universidade, Tribunal e comunidade que tenha como propósito a educação e a responsabilização na gestão e na resolução de conflitos. Os resultados apontam para um novo paradigma na cultura jurídica que pretende inovar, educando para pacificação social e para a construção conjunta de acordos positivos e criativos sobre o melhor modo de resolução dos problemas. Assim, a sistemática do projeto engloba a realização da prática judicial da mediação nas Varas do Juizado da Infância e Juventude e Varas Cíveis do Fórum da Comarca da cidade mencionada, através da escolha de processos realizada pelos magistrados de cada Vara366. A estrutura do trabalho de extensão compreende, inicialmente, a seleção e formação de mediadores e bolsistas para atuarem de fato nas atividades práticas, para, posteriormente, se dar início à mediação propriamente dita. Para que isso aconteça, então, após o ajuizamento e distribuição das ações, o juiz verifica a possibilidade de realização da mediação em cada feito e, nestes casos, as partes são intimadas para comparecer à sessão de mediação. Ato contínuo, ocorrendo a concordância das partes em submeter o conflito ao procedimento de mediação, o mediador inicia os trabalhos, contando com o auxílio do dos bolsistas, que realizam tarefas burocráticas, como cadastramento das partes, digitação das informações no computador, entre outros. Observa-se que, caso as partes não queiram participar do procedimento de mediação o processo seguirá seu trâmite normal até desfecho final da lide (por sentença ou por acordo); da mesma forma, podem as partes desistir do procedimento a qualquer momento assim como os mediadores poderão suspendê-lo sempre que verificado risco de integridade física ou psicológica para qualquer um dos integrantes. 366 Observa-se que a mediação pode ocorrer extrajudicialmente também, mas no caso ora em análise a proposta do projeto é oferecer sessões de mediação em processos que estão em andamento. 135 Além disso, ao final do procedimento, é sempre redigido um termo relativo à sessão de mediação realizada, informando ao juiz seu resultado– se houve acordo ou não, se a sessão se realizou ou não. Em caso de acordo, o magistrado será informado de suas disposições e o homologará367; se não houver acordo, o processo segue seu trâmite tradicional. Por fim, após a realização da sessão é feita uma pesquisa com as partes para que elas possam avaliar como foi a sessão do ponto de vista delas, se foi proveitosa, se se sentiram bem, etc. Após todos os atendimentos, é feita uma análise dos resultados, que são contabilizados no final de cada mês. Deste modo, após o início de suas funções, o projeto já demonstrou que dá certo através da análise de seus resultados. Como indicadores de avaliação, são observados o cumprimento das ações previstas para cada um dos integrantes bem como o atendimento dos objetivos geral e específicos propostos no projeto, o envolvimento dos participantes e da comunidade atingida pela proposta – bem como o grau de atendimento de suas expectativas – que é medido por um “formulário de satisfação” do serviço de mediação prestado, como também o número de mediações realizadas, a inserções na graduação e pós-graduação dos resultados práticos alcançados e, por fim, a produção de um texto científico que tenha por objetivo divulgar o trabalho realizado e seus resultados. Por outro lado, todos os resultados obtidos desde o início do projeto – março de 2009 – até o final do ano de 2011 foram quantificados; neste período foram realizados 214 turnos de mediação. Nesse sentido, das 769 sessões de mediação agendadas, foram realizadas 563. Destas, 55% obtiveram acordos e apenas 44% foram inexitosas, isto é, as partes não chegaram a um consenso. Além disso, foram atendidas 1.379 pessoas e atingidas 1.940368. 367 Ressalta-se que a homologação do acordo ocorre quando ambas as partes comparecem à sessão acompanhadas de um procurador. Se uma delas não levar um advogado, ou nenhuma delas, é feita uma audiência de ratificação posterior à sessão para corroborar o pacto estabelecido quando da mediação; após a confirmação ocorre a homologação. Importante mencionar que as partes não são obrigadas a comparecer à sessão de mediação acompanhadas pelo advogado. 368 Como pessoas atendidas computam-se os números daqueles que são partes no processo e/ou que participam diretamente e de forma ativa das sessões de mediação, aqueles que comparecem ao fórum e que assinam os acordos judiciais elaborados. Já as pessoas atingidas pela mediação são todas aquelas que mesmo não tendo comparecido pessoalmente à sessão de mediação se beneficiam com seus resultados seja por força do acordo lá obtido, seja pela mudança positiva na forma de tratar o conflito no qual estão indiretamente inseridas. 136 Já os resultados qualitativos se referem à pesquisa realizada com as partes após a sessão de mediação. Foi perguntado se acharam justo o acordo obtido na mediação; 90% dos que realizaram a pesquisa entenderam que sim e apenas 10% entenderam que foi parcialmente justo o acordo realizado. Perguntado se a mediação ocorreu em tempo aceitável, 90% entenderam que sim, 5% entenderam que parcialmente e 5% não responderam. Para a pergunta que questionou o tratamento dos mediadores durante a mediação, 98% entenderam que foi bom e 2% não responderam. Questionada a possibilidade de voltar a fazer mediação caso necessário, 94% dos entrevistados concordaram com a possibilidade e apenas 6% discordaram. Para a pergunta que questionou se o mediando se sentiu obrigado a fazer o acordo, 95% responderam que não e 5% responderam que sim. Em relação à competência profissional dos mediadores, 53% responderam estar muito satisfeitos, 40% satisfeitos e 7% não responderam. Portanto, os dados concretos do projeto demonstram claramente que o mesmo atinge seu objetivo e tem condições de continuar suas atividades no sentido de implantar uma nova cultura, educando para a prevenção de conflitos e buscando uma sociedade mais harmônica e democrática. Consequentemente, os resultados positivos comprovam que a mediação é uma alternativa à rigidez do rito judiciário, tanto na forma procedimental quanto resolutiva, bem como é instrumento consensuado, autônomo e democrático no tratamento de conflitos. A mediação, por fim, não constitui um fenômeno novo, “na verdade sempre existiu e passa a ser redescoberta em meio a uma crise profunda dos sistemas judiciários de regulação de litígios”. O projeto de extensão que prevê a realização de sessões de mediação é a comprovação prática dos benefícios trazidos à comunidade local. Assim, o instrumento torna-se, no contexto cultural brasileiro, uma importante política pública na busca por uma cultura de paz que reconstrua a confiança dos cidadãos369. Logo, a mediação é uma promessa verdadeira na busca por uma cultura da paz em face de sua capacidade de transformar o caráter de ambos os litigantes e consequentemente da própria sociedade; a capacidade construtiva da mediação é baseada em seu caráter informal e consensual, na medida em que os litigantes 369 BOLZAN DE MORAIS, José Luis; SPENGLER, Fabiana Marion. Mediação e arbitragem: alternativas à jurisdição! 2 ed. rev. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008, p. 149. 137 consentem em definir o problema e os objetivos em seus próprios termos, confirmando a importância do conflito370. Os conflitos reais, profundos, vitais, encontram-se no coração, no interior das pessoas. Por isso, é preciso buscar acordos interiorizados e é nesse sentido que a mediação precisa de outro tipo de linguagem – a linguagem dos afetos, que insinue a verdade e não a aponte diretamente, uma linguagem estratégica, que permita tocar o conflito371. 370 CHASE, Oscar G. Gestire i conflitti: diritto, cultura e rituali. Roma: Laterza, 2009.La capacità costruttiva della mediazione è basata sul suo carattere informale e consensuale. 371 WARAT, Luis Alberto. Surfando na pororoca: o ofício do mediador. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2004, p. 29. 138 CONCLUSÃO A complexidade conflitiva atual e a cultura da judicialização dos conflitos assoberbam o Poder Judiciário com a quantidade de demandas que a ele aportam; o acesso formal à justiça nunca foi tão usufruído pelo cidadão brasileiro. Todo e qualquer tipo de problema se transforma em processo judicial. Um dos motivos do ajuizamento de tantas ações é a dificuldade que o cidadão possui em resolver seus próprios problemas em face da falta de confiança em seu semelhante. Além disso, é fácil para duas partes em litígio que uma terceira pessoa dê o veredicto final sobre a situação, pois neste caso não há comprometimento delas na construção da decisão e nem há necessidade de assumir qualquer postura de reconhecimento de erros e responsabilização, como acontece aos casos julgados pelo Judiciário. Contudo, em face das crises que ele atravessa, a resposta proporcionada aos litígios não é adequada nem satisfatória: as decisões muitas vezes não correspondem à realidade das partes e geralmente chegam no momento impróprio em face da lentidão no julgamento dos processos, entre outros problemas. A morosidade – talvez a maior e mais conhecida de todas as falhas – faz com que o retorno postulado pelo sujeito insurja quando os interessados já se desestimularam, quando o conflito já se resolveu ou quando a discussão do problema já perdeu importância. Esta lentidão na prestação jurisdicional é refletida também no acúmulo de demandas e no expressivo número de ações em andamento, o que evidencia o descompasso existente entre a sociedade e a função jurisdicional estatal. Nesse sentido, as leis também são inadequadas e ultrapassadas, porém continuam sendo aplicadas a uma sociedade que mudou muito em pouco tempo, especialmente em relação a seu quadro conflitivo. Toda formalização e burocracia enfrentadas no Judiciário, bem como os simbolismos desnecessários e há muito tempo superados fazem parte das dificuldades que impossibilitam sua resposta adequada. Outro obstáculo que contribui para uma resposta ineficaz diz respeito ao mito criado em razão do espetáculo do processo e principalmente da figura do 139 magistrado, ser derivado da divindade cujo poder decisional é legitimado não somente pelo Estado, mas também pela própria sociedade. Aliado a estas fragilidades, o Judiciário enfrenta sérios problemas de carência de recursos, estrutura e planejamento administrativo, como também em relação à linguagem técnico-formal utilizada nos rituais processuais, que acaba dificultando a comunicação entre os operadores de direito e a sociedade. Ademais, o quadro funcional da Justiça possui dificuldades em lidar com novas realidades fáticas, especialmente reformulação de mentalidades e novas formas de tratamento de controvérsias. Logo, a dogmática jurídica enfrenta deficiências ao lidar com fenômenos sociais, de modo que os conflitos transformados em processos judiciais nunca são devidamente tratados ou dissolvidos, mas sim, meramente interpretados de formas diversas. Até mesmo porque quando as pessoas ingressam com um litígio judicial perdem sua identidade, pois passam a ser chamadas de “partes” e recebem um número de processo que é somente mais um no meio de tantos outros. Assim, os acontecimentos sociais levados ao Judiciário passam a ser analisados como simples abstrações jurídicas, sobrevindo a coisificação destas relações. Por tudo isso, o cidadão vai se afastando do Estado e acreditando cada vez menos nele e em seu poder jurisdicional, fato que se reflete no alto número de decisões judiciais descumpridas e no consequente ajuizamento de novos processos. Essa falta de credibilidade repercute na cultura política da sociedade, pois quanto mais confiança existe nela, mais associativa ela é, mais politicamente envolvido o cidadão e mais estável a democracia. A partir disto, portanto, constata-se que atualmente a sociedade brasileira possui baixo índice de participação política, haja vista que o povo não se sente verdadeiramente parte do poder. A existência do excessivo número de demandas judiciais demonstra que o povo brasileiro está descrente, pois em tese as sociedades construídas e concretamente vividas com base na confiança não necessitam do direito. Na verdade, o cidadão está descrente em relação às instituições como um todo e da mesma forma em relação à Justiça, mas não consegue se desconectar dela no momento de tratar seus conflitos por que também não confia no outro e em sua 140 própria capacidade de resolver consensualmente seus problemas, de modo que necessita de alguém que os decida. Trata-se, isso sim, de um momento de esquizofrenia completa. De um lado, portanto, há a falta de confiança do cidadão na Justiça em geral, mas, de outro, sua incapacidade de se desvincular dela quando se trata de resolver seus problemas, pois a descrença é geral e nasce com mais força ainda quando diz respeito ao outro conflitante. Prova disso são os dados absurdos promovidos pelo Relatório Justiça em Números, oriundo do Conselho Nacional de Justiça: ingressaram na justiça brasileira no ano de 2010 24,2 milhões de processos, enquanto tramitaram nos três ramos da Justiça cerca de 83,3 milhões neste mesmo período. Portanto, alguma coisa deve ser feita para modificar esta realidade, atingindo e modificando diretamente a cultura – em especial a da judicialização dos litígios – que já está enraizada na população. Sabe-se que toda quebra de paradigma é difícil e demorada, mas nesse sentido os métodos consensuais de tratamento de conflitos são importantes subsídios, contribuindo com o amparo inicial de aprender a conviver com aquilo que se considera problemático. Nesse contexto, a primeira visão a ser modificada é em relação aos conflitos, que devem ser entendidos como elementos de amadurecimento e desenvolvimento social, superando aquela antiga ideia de suprimi-lo. Na verdade, como fato complexo e multidimensional que é, quando bem administrado pode trazer resultados muito positivos; a sociedade precisa de quantidades proporcionais de harmonia e desarmonia, de associação e competição, de tendências favoráveis e desfavoráveis para sua evolução. É a litigiosidade da qual partem os conflitos que deve ser trabalhada. De fato, outras maneiras capazes de darem respostas adequadas à conflitualidade atual devem ser buscadas. A adequada administração dos conflitos se remete aos métodos alternativos de resolução de conflitos – que se colocam ao lado do tradicional processo judicial como uma opção vantajosa. O mais interessante é que estes mecanismos possibilitam não somente a manutenção da convivência social e uma boa solução ao problema, mas também auxiliam na mudança de cultura. 141 A construção de um novo paradigma social é um processo demorado que depende da ação dos atores que compõem a sociedade; por isso a utilização destes instrumentos gera transformação visível, na medida em que proporcionam autonomia individual e consequentemente maior confiança do cidadão em si mesmo e nos demais. Ainda, seu uso permite aos litigantes o interesse pela condição do outro, humanizando a problemática e construindo as possibilidades a partir das diferenças. Os resultados positivos obtidos com a utilização de tais métodos ocorrem – e esta é a principal diferença se comparados ao Judiciário – por que exigem participação pessoal dos envolvidos, ao mesmo tempo em que seu caráter é informal e consensual. Estes métodos consensuais de resolução de conflitos podem ser a negociação, arbitragem, conciliação ou mediação, no entanto, é a mediação de conflitos o foco central da pesquisa. Ao contrário do que se pensa, a mediação é uma forma muito antiga e tradicional de resolver conflitos, utilizada por muitas culturas, desde a Antiguidade. Nesse sentido, sua disseminação se deu em diversos países, mas a expansão mais ampla ocorreu de forma inicial nos EUA, no século passado; desde então, ela vem demonstrando no mundo suas vantagens e conquistando sempre novos adeptos. Sua sistemática dá certo porque todo o procedimento acontece mediante a organização de trocas comunicativas entre as partes, que confrontam as opiniões, administrando o problema que as opõe e voltando todo o debate para o entendimento. Muito além disso, a mediação é mecanismo capaz de restabelecer a confiança do cidadão, pois trabalha e desenvolve amplamente valores como autonomia pessoal, responsabilização e comprometimento. Ademais, é considerada um método consensual e democrático, na medida em que permite às partes a construção de um acordo sem a imposição de regras, de nenhuma decisão ou sanção. Logo, sua utilização contribui de forma determinante para a tão mencionada quebra de paradigma que a sociedade brasileira necessita, pois oferece alternativa mais eficaz e adequada que o Judiciário. Desta forma, o cidadão que utilizar referido instrumento para resolver sua controvérsia, além de desvincular-se do processo judicial, seus rituais e a figura do juiz, estará também se comprometendo com a decisão construída e se responsabilizando por ela. 142 Com esta sistemática, aos poucos uma nova mentalidade será criada; o cidadão novamente perceberá que pode resolver seus problemas, não depende que uma terceira pessoa – dotada de poderes – imponha uma decisão com base em regras que já não correspondem mais a sua realidade. Nesse ponto que se vislumbra a maior contribuição da mediação de conflitos: ela devolve ao cidadão a capacidade de lidar com a litigiosidade inerente a sua existência, tornando-os novamente pessoas com histórias e não apenas sujeitos processuais. Neste ponto reside a importância da Resolução nº 125 do Conselho Nacional de Justiça, publicada no ano de 2010 no Brasil: inaugura a política nacional de tratamento de conflitos no país. O fato de a Resolução prever a utilização da mediação vinculada ao processo judicial realmente não é o ideal; o documento apresenta fragilidades em diversos dispositivos. No entanto, é a forma inicial de apresentar o mecanismo à população brasileira. De outro lado, a Resolução também traz outra discussão à pauta, sobre políticas públicas. Ligadas a programas e ações governamentais, consistem num conjunto de medidas articuladas que visam a impulsionar a máquina governamental na realização de algum objetivo de ordem pública, vinculando além dos órgãos estatais, também agentes econômicos, organizações da sociedade civil e particulares. Possuem componente de ação estratégica que incorpora elementos sobre a ação necessária e possível naquele momento determinado, naquele conjunto institucional e projeta-os para o futuro mais próximo. Logo, o emprego das políticas públicas é importante para o desenvolvimento social, porém, no âmbito judicial – como é o caso da Resolução nº 125 do Conselho Nacional de Justiça – não reflete apenas a busca pelo progresso, indo muito além dessa perspectiva. Sua implementação provoca maior organização social e fortalecimento das relações entre os indivíduos, bem ainda maior participação do cidadão. Não se pode perder de vista, de outro lado, as críticas que a mediação e as outras formas consensuais de tratamento de conflitos recebem. Entre elas, destaca-se a falta de segurança e certeza, o desequilíbrio de poder entre os litigantes, a falta de fundamento para atuação judicial posterior e a ideia de que a justiça deve prevalecer antes que a paz com o intuito de não reduzir a função 143 social da decisão jurisdicional, pois um acordo não se equivale a uma sentença judicial. No entanto, constata-se que os benefícios e vantagens advindos de sua aplicação são inúmeros, além do fato de que não se trata de negação da figura do Estado – até mesmo porque não se exclui a opção da via jurisdicional. Por fim, exemplo prático de política pública envolvendo a mediação de conflitos com resultados positivos é o projeto de extensão discutido no último capítulo desta dissertação. A ideia do projeto se enquadra bem nos moldes propostos pela Resolução nº 125 do Conselho Nacional de Justiça, com exceção da realização das sessões de mediação ocorrer no próprio Fórum – pois o documento prevê sua realização em prédio apartado. Os resultados do projeto e o impacto na comunidade falam por si: alto índice de acordos cumpridos e a prevenção de novos litígios. Portanto, a mediação definitivamente é a melhor fórmula encontrada para superar o normativismo jurídico, configurando-se um instrumento pleno de exercício da cidadania, pois educa, fortalece a confiança, facilita e ajuda a produzir diferenças, estimulando a autonomia e a tomada de decisão individual, sem coerção nenhuma ou imposição de julgamento. É necessária uma mudança de cultura urgente no país. Para que isto aconteça, a restauração da confiança do cidadão é requisito essencial que pode ser alcançado por meio da utilização da mediação de conflitos enquanto política pública, conforme estabelece a recente Resolução nº 125 do Conselho Nacional de Justiça. 144 REFERÊNCIAS AGRA, Walber de Moura. Republicanismo. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005. AMORIM, Maria Salete Souza de. Cidadania e participação democrática. Anais do II Seminário Nacional Movimentos Sociais, Participação e democracia. Florianópolis: 2007. ARISTÓTELES. Ética a nicômacos. 4. ed. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2001. BENASAYAG, Miguel; DEL REY, Angélique. Elogio del conflito. Milano: Feltrinelli, 2008. BERCOVICI, Gilberto. Políticas Públicas e o Dirigismo Constitucional. Revista da Academia Brasileira de Direito Constitucional, Curitiba, v. 3, p. 174, jan. 2003. BERGER, Peter I.; LUCKMANN, Thomas.A construção social da realidade: tratado de sociologia do conhecimento. 12. ed. Petrópolis: Vozes, 1995. BIASE, Paola Gaiotti de. Fede e fiducia. Parolechiave, Roma, n. 42, p. 10, dez. 2009. BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de política. 5. ed. Brasília: UnB, 2000. BOLZAN DE MORAIS, José Luis; SPENGLER, Fabiana Marion. Mediação e arbitragem: alternativas à jurisdição! 2 ed. rev. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008. 145 BUBER, Martin. Sobre comunidade. São Paulo: Perspectiva, 2008. BUCCI, Maria Paula Dallari. O conceito de política pública em direito. In: Políticas públicas: reflexões sobre o conceito jurídico. Maria Paula Dallari Bucci (organizadora). São Paulo: Saraiva, 2006. CALMON, Petrônio. Fundamentos da mediação e da conciliação. Rio de Janeiro: Forense, 2007. CANETTI, Elias. Massa e poder. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. CAPELLA, Ana C. Perspectivas teóricas sobre o processo de formulação de políticas públicas. In: HOCHMAN, G., ARRETCHE, M.; MARUQES, Eduardo (Orgs.). Políticas públicas no Brasil. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2007. CASELLI, Giancarlo; PEPINO, Livio. A um citadino che non crede nella giustizia. Bari-Roma: Laterza, 2005. CHASE, Oscar G. Gestire i conflitti: diritto, cultura e rituali. Roma: Laterza, 2009. DAHRENDORF, Ralf. O conflito social moderno: um ensaio sobre a política da liberdade. Tradução de Renato Aguiar e Marco Antonio Esteves da Rocha. São Paulo: Edusp, 1992. DONOLO, Carlo. Fiducia: un bene comune. Parolechiave, Roma, n. 42, p. 10, dez. 2009. DURKHEIM, Émile. Sociologia e filosofia. São Paulo: Ícone, 2004. DYE, Thomas R. Understanding public policy. 12 ed. New Jersey: Pearson, 2008. 146 FARIA, José Eduardo. O Poder Judiciário no Brasil: paradoxos, desafios e alternativas. Brasília: Conselho da Justiça Federal, 1995. GARAPON, Antoine. Bem julgar. Ensaio sobre o ritual do Judiciário. Tradução de Pedro Filipe Henriques. Lisboa: Instituto Piaget, 1997. GOYARD-FABRE, Simone. O que é democracia? A genealogia filosófica de uma grande aventura humana. Tradução de Claudia Berliner. – São Paulo: Martins Fontes, 2003. HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade. 2 vols. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997. ______. Agir comunicativo e razão destranscendentalizada. Tradução de Lucia Aragão. – Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2002. ______. Verdade e justificação: ensaios filosóficos. Tradução de Milton Camargo Mota. – São Paulo: Loyola, 2004. HEIDEMANN, Francisco G. “Do sonho do progresso às políticas de desenvolvimento”. In: Políticas públicas e desenvolvimento: bases epistemológicas e modelos de análises (org. Francisco G. Heidemann e José Francisco Salm). Brasília: UnB, 2009. HOBBES, Thomas. Leviatã ou a matéria, forma e poder de um estado eclesiástico e civil. São Paulo: Ícone, 2000. HUME, David. L’obbligodellepromesse. Parolechiave, Roma, n. 42, p. 10, dez. 2009. 147 KELSEN, Hans. Teoria geral do direito e do estado. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998. LEAL, Rogerio Gesta. Esfera pública e participação social: possíveis dimensões jurídico-políticas dos direitos civis e de participação social no âmbito da gestão dos interesses públicos no Brasil. In: LEAL, Rogério Gesta (Org). A administração pública compartida no Brasil e na Itália: reflexões preliminares. Santa Cruz do Sul: Edunisc, 2008. LEONARDIS, Ota de. Appunti su fiducia e diritto. Tra giuridificazione e diritto informale. Parolechiave, Roma, n. 42, p. 10, dez. 2009. LUCHIARI, ValeriaFerioliLagrasta. A Resolução n. 125 do Conselho Nacional de Justiça: Origem, Objetivos, Parâmetros e Diretrizes para a Implantação Concreta. In: Conciliação e Mediação: Estruturação da Política Judiciária Nacional. (Coordenadores Morgana de Almeida Richa e Antonio Cezar Peluso; colaboradores Ada Pellegrini Grinover, et al). Rio de Janeiro:Forense, 2011. MASSA-ARZABE, Patrícia Helena. Dimensão jurídica das políticas públicas. In: Políticas públicas: reflexões sobre o conceito jurídico. Maria Paula Dallari Bucci (organizadora). São Paulo: Saraiva, 2006. MILL, John Stuart. A lógica das ciências morais. São Paulo: Iluminura Ltda, 1999. MOORE, Christopher W. O processo de mediação: estratégias práticas para a resolução de conflitos. Porto Alegre: Artmed, 1998. MULLER, Jean-Marie. O princípio da não-violência. Percurso filosófico. Tradução de Maria Fernanda Oliveira. Lisboa: Instituto Piaget: 1995. NALINI, José Renato. A rebelião da toga. Campinas: Millennium, 2008. 148 NOGUEIRA, Mariella Ferraz de Arruda Pollice. Dos Núcleos Permanentes de Métodos Consensuis de Solução de Conflitos. In: Conciliação e Mediação: Estruturação da Política Judiciária Nacional. (Coordenadores Morgana de Almeida Richa e Antonio Cezar Peluso; colaboradores Ada Pellegrini Grinover, et al). Rio de Janeiro:Forense, 2011. RENNÓ, Lucio R. Confiança interpessoal e comportamento político: microfundamentos da teoria do capital social na América Latina.Opinião Pública, vol.7, nº 1. Campinas: 2001. RESTA, Eligio. O Direito Fraterno. Tradução de Sandra Regina Martini Vial – Santa Cruz do Sul: Edunisc, 2004. _____. La certezza e la speranza. Saggio su diritto e violenza. 3 ed. Roma-Bari: Laterza, 2007. ______. Diritto vivente. Roma: Laterza, 2008. _____. Le regole della fiducia. Roma: Laterza, 2009. ROGRIGUES, Hugo Thamir. Políticas tributárias de desenvolvimento e de inclusão social: fundamentação e diretrizes, no Brasil, frente ao princípio republicano. In: REIS, J. R. dos; LEAL, R. G. (Org.). Direitos sociais e políticas públicas: desafios contemporâneos. Tomo 7. Santa Cruz do Sul: Edunisc, 2007. RODRIGUES JÚNIOR, Walsir Edson. A prática da mediação e o acesso à justiça. Belo Horizonte: Del Rey, 2006. SALES, Lilia Maia de Morais. Transformação de conflitos, construção do consenso e a mediação – a complexidade dos conflitos. In: Justiça restaurativa e mediação no tratamento adequado dos conflitos sociais (no prelo). 149 SANTIN, Janaína Rigo. O tratamento histórico do poder local no brasil e agestão democrática municipal. Anais do II Seminário NacionalMovimentos Sociais, Participação e Democracia. Florianópolis: UFSC, 2007. SCHMIDT, João Pedro. “Para entender as políticas públicas: aspectos conceituais e metodológicos”. In: Direito sociais e políticas públicas: desafios contemporâneos (org Jorge Renato dos Reis e Rogério Gesta Leal). Santa Cruz do Sul: Edunisc, 2008. SILVA, João Roberto da. A mediação e o processo de mediação. São Paulo: Paulistanajur, 2004. SIMMEL, Georg. Sociologia. Tradução de Carlos Alberto Pavanelli et al. São Paulo: Ática, 1983. ______. Questões fundamentais da sociologia: indivíduo e sociedade. Tradução de Pedro Caldas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006. SPENGLER, Fabiana M. Da jurisdição à mediação: por uma outra cultura no tratamento dos conflitos. Ijuí: Unijuí, 2010. ______. A mediação comunitária como meio de tratamento de conflitos. Revista pensar, v. 14, nº 2, 2009. _______. A mediação e a conciliação enquanto políticas públicas de tratamento de conflitos propostas na Resolução 125 do CNJ. (no prelo). STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica jurídica e(m) crise: uma exploração hermenêutica da construção do Direito. 3. ed. rev. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001. 150 TEDESCO, João Carlos et al. Georg Simmel e as sociabilidades do moderno: uma introdução. Passo Fundo: Universidade de Passo Fundo, 2006. TOURAINE, Alain. Crítica da modernidade. Petrópolis: Vozes, 1994. WARAT, Luis Alberto. Pensemos algo diferente em matéria de mediação. In: Justiça restaurativa e mediação no tratamento adequado dos conflitos sociais (no prelo). ______. Em nome do acordo: a mediação no direito. Florianópolis: ALMED, 1998. ______. Surfando na pororoca: o ofício do mediador. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2004. WEBER, Max. Economia e sociedade: fundamentos da sociologia compreensiva. Brasília: Universidade de Brasília, 2000. 151 ANEXO A - Relatório Justiça em Números 2010 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ
Download