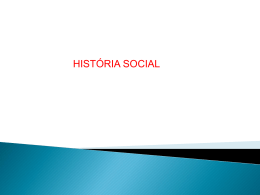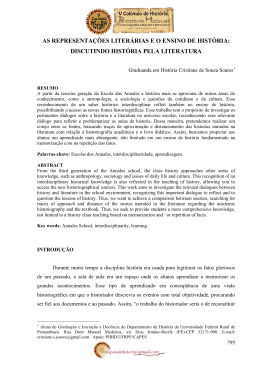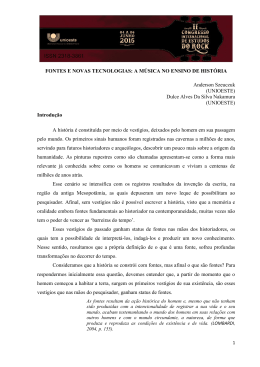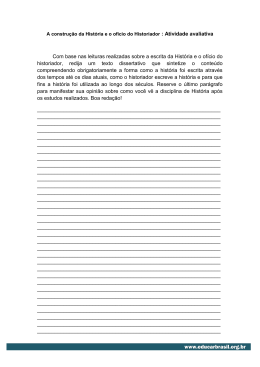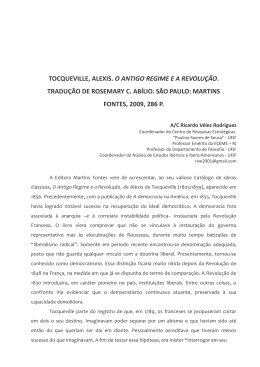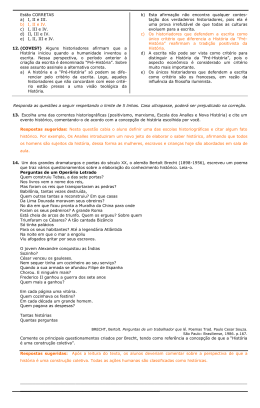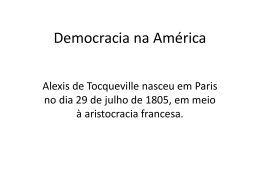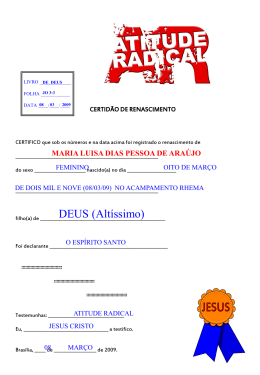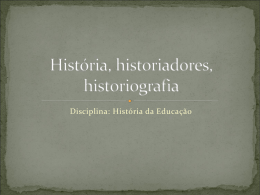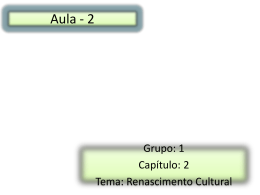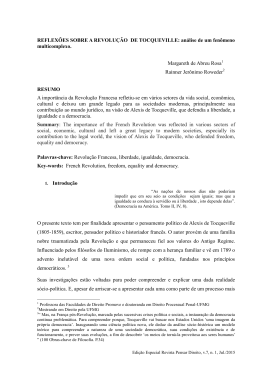Tocqueville e a história política: seu (en)cobrimento e (re)descobrimento pela historiografia francesa do século XX* Aquele que compreende o que aconteceu e porque aconteceu é livre (Espinosa) Aparentemente não há nada a acrescentar à conhecida proposição de Tocqueville, formulada em 1835, na Introdução de A Democracia na América, nos seguintes termos: “precisamos de uma nova ciência política para um mundo inteiramente novo”. Por um lado, porque o próprio autor, cinco anos depois, em 1840, na conclusão da obra, se encarregou de, se ainda restassem dúvidas aos leitores, esclarecer seu sentido, ao afirmar “o passado não iluminando mais o futuro, o espírito marcha nas trevas”; por outro lado, porque a numerosa literatura existente sobre Tocqueville tratou de explorar convenientemente o assunto. Como é o caso, para dar um exemplo, de um autor, prata desta casa, como se diz, Marcelo Jasmin, que todos vocês conhecem. Pois bem, no capitulo dois de sua belíssima tese sobre Tocqueville, que no ano passado saiu em nova edição.i Jasmim, esclarece corretamente a formulação tocquevilliana e conclui: “Renovando a tentação de ideólogos que quiseram fundar cientificamente a política... a obra de Tocqueville engrossa o filão da invenção da ‘ciência social’ moderna que, com Montesquieu, Comte e Marx, quis adquirir o controle das forças que governam a sociedade para nela intervir”. Deixemos a Montesquieu que pertence ao século XVIII de lado, e fiquemos por um momento com Auguste Comte (1798-1857) e Karl Marx (1818-1883), contemporâneos de * Este texto corresponde, com pequeníssimos acréscimos (e também subtrações), à aula inaugural apresentada, em 21 de março do corrente ano, no Departamento de História da PUC/Rio. Reitero aqui, o que afirmei, verbalmente, no início da aula, ou seja, que a presente exposição não tem a pretensão de traçar, nem mesmo em grandes linhas, a evolução histórica do que se convencionou chamar de história política; mas sim a de oferecer minhas reflexões pessoais sobre a mesma. Estou convencido de que não obstante o caráter muito esquemático e simplificado do texto, alguma luz, algum núcleo de verdade, ele oferece sobre o tema em questão. Reitero também meus sinceros agradecimentos pelo convite recebido e meu muito obrigado aos professores e alunos que assistiram a aula; ambos muito me honraram. Alexis de Tocqueville (1805-1859), que também se propuseram fundar, exatamente na mesma época, uma nova ciência. Com efeito, menos de dez anos separam a proposta de uma nova ciência política (1835) por parte de Tocqueville, da formulação de Comte de uma nova ciência social, a física social ou sociologia (1842), e da elaboração de Marx, em parceria com Engels, de uma nova filosofia cientifica, o materialismo histórico (1844). Se, é verdade que os três (ou melhor os quatro autores, se incluirmos Engels) quiseram, nas palavras de Jasmin, “fundar cientificamente a política”, também é verdade que Tocqueville, ao contrário do que fizeram Comte e Marx, recusou-se a aceitar o destronamento da política do centro da história. Ao contrário de Tocqueville, que nunca abandonou a antiga concepção de História como mestra da vida e nunca aceitou a pretensão das filosofias modernas à cientificidade, os fundadores do positivismo e do materialismo histórico estavam convencidos de que com os seus sistemas, isto é, o positivismo e o materialismo histórico, tinham encontrado a chave para iluminar o presente e esclarecer o futuro. Assim, enquanto os dois primeiros rompiam, em definitivo, com a tradição que vinha desde os gregos, ao subsumir e subordinar a esfera do político à esfera do social (invertendo a concepção clássica, que dava primazia à política e a esta subordinava todas as demais esferas da vida), o terceiro, mantinha-se fiel à tradição, isto é, continuava a ver e a dar à esfera da política a autonomia e a primazia de sempre. Daí decorre que a concepção de Tocqueville da história e da política (ou seja, da liberdade, da ação livre do homem na história), não é, ao contrário da de Comte e da de Marx, nem determinista nem teleológica, ela não se resolve e dissolve em um futuro previsivelmente positivo e comunista; e embora a sua fosse uma perspectiva de retaguarda, por ser indeterminada e aberta, parece, nos dias de hoje, mais atual que as outras duas. O que tudo isso tem a ver com o que chamamos de história política e com o que chamo de seu encobrimento/descobrimento por parte dos historiadores franceses do século XX. Tem a ver muito, para não dizer tudo, pois, foram os êxitos de Comte e Marx na fundação de suas respectivas ciências da sociedade e da história, e, a seguir, a hegemonia que ambas estas ciências alcançaram no pensamento Ocidental, que levaram ao – ou tornaram possível o – completo destronamento da política como centro da história e da explicação do seu movimento. Em outras palavras, com o positivismo e com o materialismo histórico, seria o movimento da sociedade e/ou da economia, que iria determinar e explicar a política, pois o campo do sócio-econômico, ou do econômicosocial, ao contrário do campo político, embora não se situe na superfície das coisas, nem decorra, como este, de atos mais ou menos conscientes dos homens, pode, por seu funcionamento regular e contínuo, à maneira de leis naturais, ser apreendido como uma ciência pela razão humana. Esse destronamento da política, que culmina com o positivismo e o marxismo, teve inicio, no século XVII, com Hobbes e Locke, com a invenção dos conceitos de estado de natureza e de estado civil que, fazendo tabula rasa da história, iniciam a distinção e a separação entre sociedade civil e Estado. Sendo a sociedade civil anterior ao Estado, e portanto, à política, era a sociedade (e com ela o individuo) que passava a explicar a política e a ocupar o centro do palco. No século XVIII, com o Iluminismo (e particularmente com o chamado iluminismo escocês que formula a teoria dos estádios ou fases da evolução social e econômica: selvageria-caça, barbárie-agricultura e civilização-comércio), enquanto a História conhece uma grande inovação, a política continua a sofrer esse processo que culminará com sua subsunção ao social. De tudo quanto foi dito até aqui, não se deve pensar e inferir que a partir do século XVII, e como que num crescendo até se chegar ao positivismo e ao marxismo no século XIX, a história política foi perdendo a primazia em termos da nossa disciplina, a Historia. Pelo contrário, a política continuou a ocupar o centro de tudo como se pode facilmente verificar quando lembramos os nomes dos maiores historiadores do século XIX, entre os quais figuram obrigatoriamente os nomes de Michelet, Ranke, Tocqueville e Burckhardt; este último mesmo sendo historiador da arte e da cultura, abre A Cultura do Renascimento na Itália (1860), sua obra-prima, com a política, intitulando seu primeiro capítulo de “O Estado como obra de arte”. Assim, foi somente a partir dos anos 1920 que os historiadores, influenciados pela sociologia, pela etnologia, pela ciência política e pela economia, sem esquecer a geografia e a psicologia, começaram a abordar de uma nova maneira e a atribuir um novo lugar à política. Mas antes de mostrar essa mudança, vejamos como tudo começou, isto é, como e porquê a história foi até o início do século XX essencialmente história política. O que não significa dizer, ao contrario do que erroneamente se pensa, que a história política não estivesse voltada e não contemplasse as demais instancias ou esferas da realidade, como mostram a História de Heródoto, o pai da história, e O Antigo Regime e a Revolução de Tocqueville, o último grande pensador da política a concebe-la à maneira antiga, como vimos, isto é, como a esfera ao mesmo tempo central e autônoma da vida humana. Todos sabemos que a nossa disciplina, bem como a política, nascem na Grécia. O que talvez nem todos saibam é que a História nasce da política e da democracia grega. Política, como poder e dominação, existe em todos os lugares e em todos os tempos, mas política como destino, como finalidade do homem, a tal ponto que a própria definição de homem decorre da política, vale dizer, o homem como zoon politikon, isso é uma criação da polis grega. História, como memória e narração do passado (seja oral, seja escrita, seja, ainda, mítica e/ou sagrada), todos os povos e culturas possuem, pois como afirmou um cronista mongol do século XVII “...se o homem não conhece as suas origens ele é como um macaco louco. Ele que não conhece ao certo as relações de sua grande família é como um dragão descomunal. Ele que não conhece as circunstâncias e o curso das ações de seu nobre pai e avô é como um homem que, tendo preparado a dor para os seus filhos, joga-os neste mundo”. Esse relato é citado por Arnaldo Momigliano, um dos maiores historiadores da antiguidade do século XX.ii Graças ao livro de Momigliano, ficamos sabendo a razão de ter sido entre os gregos, e não entre os persas e os hebreus (que também possuíam uma escrita e uma literatura sofisticada), que nasceu a História. A história como saber crítico, bem entendido. Pois, os gregos por causa das poleis – e dentro das poleis, por causa da democracia, vale dizer, do debate – viram-se impedidos de cultivar como ocorreu com os persas e os hebreus, uma história única e sagrada, e por isso, acrítica, sendo obrigados a reconhecer que a história como a humanidade é plural. Como se vê por essas palavras de um escritor grego do século VI a.C. : “Eu, Hecateu, direi o que acredito ser a verdade; as histórias dos gregos são muitas e são ridículas”; ao cita-las Momigliano observa que elas “ainda não perderam a sua força depois de 2.500 anos”. Daí decorre essa capacidade dos dois maiores historiadores gregos de olhar com objetividade o outro, essa sensibilidade para descrever outras culturas, absolutamente extraordinárias e comoventes, que levou o primeiro, Heródoto, a se interessar por tudo e por todos, constituindo uma das matrizes historiográficas, a de dimensão etnográfica, que se volta não só para a política (para os feitos públicos e extraordinários), mas para todas as esferas da vida, a religiosa, a social, a econômica e a cultural; e que levou o segundo, Tucídides, tomado pelo desejo de compreender as causas que haviam levado os próprios gregos a uma guerra generalizada e fratricida, a constituir, com realismo e objetividade exemplares, a outra matriz historiográfica, a que subordina tudo à política. Com efeito, no livro primeiro de sua História da Guerra do Peloponeso, Tucídides afirma: “Pode acontecer que a ausência do fabuloso em minha narrativa pareça menos agradável ao ouvido, mas quem quer que deseje ter uma idéia clara tanto dos eventos ocorridos quanto daqueles que algum dia voltarão a ocorrer em circunstâncias idênticas ou semelhantes em conseqüência de seu conteúdo humano, julgará a minha história útil e isto me bastará. Na verdade, ela foi feita para ser um patrimônio sempre útil, e não uma composição a ser ouvida apenas no momento da competição por algum prêmio”. Dir-se-ia que o primum movens tanto de Heródoto quanto de Tucídides (que na passagem citada critica seu antecessor sem nomeá-lo) é, naturalmente, a curiosidade intelectual, mas, enquanto com o primeiro temos tanto o conhecimento do próprio passado, quanto, senão mais, o conhecimento gratuito ou desinteressado do outro (descrito a partir de informações não raro fantasiosas e sem possibilidade de serem controladas, daí a crítica de seu sucessor), em Tucídides, ao contrário, domina o conhecimento instrumental do próprio passado. Aquilo que Tucídides, entre os gregos, realizou com perfeição, isto é, uma história política que se tornaria modelar até o século XIX, foi conceituado por Cícero, entre os romanos, com beleza inigualável em sua obra De Oratore: “A história, na verdade, testemunha dos tempos, luz da verdade, vida da memória, mestra da vida, mensageira da Antiguidade, com que palavra a não ser a do orador, será confiada à eternidade?”. Trata-se, como se vê, do passado como guia indispensável para, sobretudo no caso do estadista, agir sabiamente no presente e, assim, na medida do possível, construir o futuro. Nessa concepção, conforme afirmou o reacionário Joseph de Maistre, em suas Considérations sur la France (1796), a história é “a política experimental”. Depois do longo intervalo representado pela Idade Média, foi como magistra vitae, como história política que a disciplina reapareceu no Renascimento. Note-se que isto aconteceu em Florença, nos séculos XV e XVI, novamente em decorrência, senão da democracia, da intensa politização que caracterizou o humanismo florentino (e que o historiador Hans Baron chamou de humanismo cívico em seu livro Crisis of the Early Italian Renaissance: Civic Humanism and Republican Liberty in an Age of Classicism and Tirany, de 1955), decorrente, no plano externo, da ameaça de uma invasão estrangeira, e no plano interno, das lutas políticas entre as várias classes sociais e das tentativas de se recriar uma republica com participação alargada. Os dois maiores historiadores florentinos e de todo o Renascimento, Maquiavel e Guicciardini, eram ambos humanistas por formação, humanistas cívicos ou republicanos clássicos por opção e políticos por profissão. Ou seja, na Florença do Renascimento, tanto quanto na Atenas no período clássico, foi a política que suscitou a história e esta por sua vez fez da política o seu objeto por excelência. Contudo, mesmo no século do Iluminismo, quando surge a história filosófica, (e a descoberta de que, na formulação do historiador Droysen, “para além das histórias existe a História”), voltada também para os costumes e para as culturas do outro, que compara e propõe esquemas de evolução, como se pode ver nas obras de Vico, de Montesquieu, de Voltaire e de Hume; pois bem, mesmo nessa historiografia iluminista a história política continua a ter a primazia e é a polêmica política que a desencadeia e a inspira. Como bem notou o historiador Franco Venturi, em meados do século XVIII, na França e em outras partes da Europa absolutista, impera entre os intelectuais não só um programa filosófico, qual seja o de praticar e difundir o esprit critique, vale dizer, a razão, mas também um programa ético-político, pois: “Sobrevive uma amizade republicana, um sentido republicano do dever, um orgulho republicano mesmo em um mundo agora mudado, até mesmo no próprio coração de um Estado monárquico, na corte, no mais profundo do ânimo de homens que poderiam parecer completamente integrados ao mundo do absolutismo. E é justamente sob esse aspecto ético que essa tradição republicana faz apelo aos escritores do Iluminismo, a Voltaire, a Diderot, a d’Alembert e, naturalmente, a Rousseau”.iii Nos cem anos que antecedem o aparecimento da revista Annales em 1929, primeiramente com o romantismo e o historicismo, e depois com o cientificismo e evolucionismo – sem esquecer que, no plano político-ideológico, vive-se sob o signo do conservadorismo, do liberalismo, do nacionalismo e do socialismo – a historiografia do oitocentos ao mesmo tempo em que se impregna, para o bem e para o mal, como não poderia deixar de acontecer, e com mais ou menos consciência, de todos esses ingredientes, continua a privilegiar a história política. Tomemos um exemplo. Em 1901, A. Aulard, historiador então consagrado da Revolução Francesa (que, como bem observou um outro historiador, o conservador inglês Alfred Cobban, em meados do século passado, “é o centro estratégico da história moderna”), publica sua interpretação geral sobre a mesma e a intitula, significativamente, de Histoire Politique de la Révolution Française. Eis, pois, um livro que se prestou como uma luva para servir de material para L. Febvre e Marc Bloch, fundadores dos Annales, criticarem a historiografia então dominante, rotulando-a, negativamente, de histoire événementielle. O sucesso que alcançaram com essa crítica não poderia ter sido maior, tendo em vista, sobretudo, a hegemonia que passou a exercer, e ainda exerce, na historiografia francesa, principalmente a partir dos anos 1950 quando Fernand Braudel assume o controle da revista e propõe a historia da longa duração, única capaz, em sua perspectiva, de apreender o profundo e o estrutural (existentes no econômico, no social, no cultural, no mental, mas não no político), em oposição à história dos acontecimentos, presa ao superficial. Contudo, é preciso insistir na critica dessa critica, isto é, mostrar que reduzir toda a historia política à história événementielle, que é o que os historiadores annaliens ou vinculados a essa corrente historiográfica, fizeram, é um equivoco grave pois dessa maneira jogaram a criança junto com a água do banho, como se diz. Fomos levados a acreditar, errônea e injustamente, que toda a história política anterior à praticada pelos historiadores ligados aos Annales era uma história tradicional, positivista, reducionista, apegada à narrativa e incapaz de ir além dos acontecimentos, o que, como vimos, está longe de ser verdade. Quando os fundadores dos Annales lançaram a proposta, ambiciosa, de uma história total (que contemplasse igualmente todas as esferas da vida humana) estavam não só inaugurando, com estardalhaço, uma renovação na maneira de se fazer história, mas estavam também realizando no campo dessa disciplina o que o positivismo e o marxismo haviam realizado no campo da política, isto é, subordinando-a e anexando-a ao social, ao econômico, ao cultural e ao mental. É nisso que implicava sua exigência de uma História aberta a todas as ciências sociais e do homem. Com isso estavam, assim acreditavam, recusando e superando qualquer filosofia da história e substituindo a história como magistra vitae, isto é, política, pela história total, isto é, cientifica. Mas, hoje, sabemo-lo bem, não existe história sem filosofia da história, nem história cientifica. Como bem sentenciou o weberiano Ernest Gellner, num livro notável, intitulado El arado, la espada y el libro: “Todos, sem exceção alguma, somos historiadores filosóficos malgré nous, queiramo-lo ou não. A única alternativa que possuímos é a de expressar nossa visão, na medida do possível, de uma maneira explícita, coerente e em conformidade com os fatos disponíveis; ou a de empregá-la de forma mais ou menos consciente e incoerente. Agindo dessa última maneira, arriscamo-nos a utilizar as idéias sem estudo nem crítica fazendo-as passar tacitamente por uma espécie de senso comum”.iv Vou dar dois exemplos extremos dessa utilização de “idéias sem estudo nem critica”, que passam “tacitamente por uma espécie de senso comum”, como muito bem coloca Gellner e que, acrescento eu, uma vez postas em circulação, parecem impossíveis de serem removidas. Primeiro exemplo: em 1947, W. K. Ferguson, em um livro admirável sobre a historiografia do Renascimento desde o próprio Renascimento, descobriu que um conhecido fato histórico, qual seja, o da fuga dos sábios bizantinos para a Itália, no século XV, com a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, os quais teriam assim contribuído para o Renascimento italiano, foi pela primeira vez relatado por Pierre Bayle em seu Dictionnaire Critique et Historique, de 1697. Bayle teria obtido, ao que tudo indica, tal informação de fontes intelectuais de reformadores protestantes. Pois bem, embora essa informação não tenha tido outra fonte e nunca tenha sido comprovada, tornou-se um fato histórico no qual todos os historiadores, desde então, e até o século XIX, passaram a acreditar e que os manuais de história ainda continuam a veicular. (Nas palavras de Ferguson: “Os erros de Bayle, em sua concepção da gênese do Renascimento, são facilmente discerníveis. Contudo, ele tinha a vantagem de apresentar uma data precisa 1453 e uma causa dramática a queda de Constantinopla. Estas visões encontraram apoio da teoria corrente que persistiu através da época das Luzes e que fazia proceder tais e tais processos históricos de acontecimentos acidentais ou catastróficos. Concepção clara, precisa, fácil a captar e, como mostrou-se a seguir, dotada de persistência. Encontramo-la muitas vezes repisada até o fim do século XIX”).v Segundo exemplo: Lucien Febvre, em um artigo de 1943 sobre o Renascimento se perguntava: “Qual foi o verdadeiro papel, na evolução da cultura européia, desse humanismo italiano? Foi o ‘promotor’ no terreno intelectual, como a arte italiana passava por haver sido no terreno artístico? Não seria conveniente recolocar os termos do problema e se perguntar se a França – a França que conheceu tão cedo, já no século XII, uma vida buliçosa e desenfreada; a França que soube expressar com tanto brio seu individualismo religioso no pensamento dos místicos ou no nacionalismo disciplinado mas irrequieto de Abelardo; a França que lia os textos antigos nas escolas catedralícias de uma forma que os latinistas do Quattrocento não teriam desaprovado... – perguntar-se se não foi a França, na verdade, a diretora de orquestra? E se é certo que os escultores de Reims, de Chartres inclusive, esperaram os de Pisa para ver a natureza com os olhos dos antigos, se não se poderia ver, ao fim e ao cabo, na Divina Comédia uma poderosa síntese do saber parisiense, em Petrarca o último dos grandes trovadores e em Boccaccio o autêntico herdeiro da Idade Média francesa e de sua veia realista?”. Aí vemos, por incrível que pareça, o grande historiador L. Febre, repetir, sem nenhum espírito crítico, invenções fabricadas por historiadores nacionalistas franceses medíocres, nas ultimas décadas do século XIX e primeiras do XX, sobre uma suposta primazia da França no Renascimento. Como Louis Courajod, historiador da arte francesa que em suas lições proferidas na Escola do Louvre, entre 1887 e 1896, proclamava: “Que não se esqueça que foi à escola flamenga, adotada pelo norte da França, em meados do século XIV... que se deve, não se pode deixar de repeti-lo, o movimento geral do qual emergiu o estilo definitivo do Renascimento, aí compreendido o do Renascimento italiano”; ou como Edmond Faral que em 1925 arrematava: “De sorte que, um dos fatores importantes do Renascimento italiano apareceu como um dom do povo do norte, e a tradição erudita e literária... fez da Itália a devedora da civilização francesa por seu primeiro contato com as letras romanas”(apud Ferguson). Voltemos aos anos da fundação dos Annales. Naquele momento, não eram apenas L. Febvre e M. Bloch que estavam renovando a nossa disciplina e destronando a história política e entronizando a história social. Em 1932, o historiador socialista Georges Lefebvre, contemporâneo e amigo de M. Bloch (haviam trabalhado juntos na Universidade de Strasbourg e o primeiro havia colaborado com um artigo para o número inaugural dos Annales), ao fazer um balanço da contribuição do recém falecido Albert Mathiez, para a historiografia da Revolução francesa afirmava: “Habituado, apesar de tudo, a considerar a Revolução pelo alto, do ponto de vista das assembléias e dos deputados, [Mathiez] não se preocupou em determinar com precisão quais poderiam ser as necessidades, os interesses, os sentimentos, e, sobretudo, o conteúdo mental das classes populares. É aí, contudo, que reside o problema essencial da história social”.vi Nessa única frase temos duas coisas importantes e pioneiras, pelo menos naquele momento: uma espécie de manifesto em que se pede a substituição da história política pela história social, e a proposta de uma história dos debaixo, de uma história que foi ele, Lefebvre, a cunhar de “l’histoire vu d’en bas”, em contraposição a até então dominante “l’histoire vu d’en haut” e das quais saíram, posteriormente, a “história dos vencidos” em contraposição à “história dos vencedores”. Tudo isto dentro da França. Fora, na Inglaterra, já desde os anos 1920, os trabalhos do historiador Lewis Namier (como, principalmente, Structure of Politics at the Accession of George III, publicado em 1929) estavam renovando por completo o conhecimento que se tinha da história política inglesa do século XVIII. Nesse caso também, o conservador Namier estava demolindo a interpretação whig da história, com o argumento fundamental (inspirado seja pela economia seja pela psicologia) de que os discursos dos políticos whigs do século XVIII não passavam de retórica, de disfarce, de racionalização que escondiam interesses econômicos e políticos, ou seja, a oposição dos whigs ao governo visava apenas chegar ao poder para, no poder, fazer o mesmo que faziam os tories. Nas décadas seguintes, e por boa parte do século XX, entre os historiadores que marcaram a historiografia inglesa dos períodos moderno e contemporâneo figuram dois discípulos de Namier: os consagrados H. Trevor-Roper e A.J.P. Taylor, cujas obras mais brilhantes e polêmicas têm a política como centro (ver, entre tantos escritos de um e outro, respectivamente, os livros de ensaios, Religião Reforma e Transformação Social, de 1972, e Europe: Grandeur and Decline, de 1967). Na Itália, também na mesma época, navegando como que contra essa corrente que, sobretudo na França, levou à desqualificação do político, Guido De Ruggiero (Storia del liberalismo europeu, 1925) e Benedetto Croce (Storia d’Europa nel secolo XIX, 1928), em suas interpretações do liberalismo, sustentaram que era preciso distinguir entre o liberalismo econômico e o liberalismo político, vendo este último como um campo autônomo e como uma criação sobretudo francesa, dos políticos da época da Restauração e da Monarquia de Julho, isto é do período 1815-1848, com destaque para B. Constant, F. Guizot e Tocqueville. Daí a proposta por parte do filósofo e historiador Croce, de um novo termo, liberismo, para designar o liberalismo econômico e distingui-lo do liberalismo que, para ele, repito, era um fenomeno essencialmente político. Ainda na Itália, a partir do pósguerra e até os anos 1980, pontifica a figura do historiador republicano e socialista (mas não marxista) Franco Venturi, considerado por muitos como o maior historiador italiano do século XX (por exemplo, Ruggiero Romano em La storiografia italiana oggi, de 1976). Pois bem, Venturi, embora aberto ao social, ao econômico, e ao cultural-mental, mantém, em seus numerosos trabalhos, a primazia e a autonomia do político e, como Tocqueville, desconfiava de concepções interpretativas que se pretendiam cientificas e totais. Com efeito, nas Lembranças das Jornadas Revolucionárias de 1848 (que foram escritas entre 1850-51), Tocqueville afirma: “Odeio de minha parte, estes sistemas absolutos, que fazem depender todos os acontecimentos da história de grandes causas primeiras, ligando-as umas as outras por uma cadeia fatal, e que suprimem, por assim dizer, os homens da história do gênero humano. Eu os acho limitados em sua pretensa grandeza, e falsos sob seu ar de verdade matemática”. Por sua vez, Venturi, em seu livro já mencionado, sustenta não haver coisa mais perigosa do que “a pretensão a uma história total, a uma visão da sociedade como uma estrutura global capaz de revelar a sua lógica interna, a lei da própria existência se submetida a um instrumento interpretativo adequado, seja ele a luta de classe, a quantificação ou o estruturalismo. Esta pretensão mais ou menos evidente e explícita de descobrir le mot de l’énigme [os termos do enigma] de uma civilização corre sempre o risco de distorcer o julgamento histórico, transformando-o em filosofia da história, e até mesmo, como dizia Carl Becker, em moonshine [fantasia]”. Mas, a essa altura, cabe novamente a pergunta: o que têm ver o socialista Lefebvre, o conservador Namier e o republicano Venturi, entre si e com os Annales? Objetivamente nada. Mas, por outro lado, muito, pois, demonstram que enquanto na França a história política era estigmatizada e, em conseqüência disso, abandonada por parte dos seguidores dos Annales e, por parte dos seguidores do marxismo, subsumida ao social, fora da França, ela continuava sendo cultivada e renovada. Mas há mais, e mais importante ainda: enquanto na França, os historiadores da segunda e terceira geração dos Annales continuaram deblaterando contra a história política (Braudel não formulou a boutade de que a Revolução Francesa por ser da esfera do événementielle não existe como objeto para o historiador?), eis que, nos vinte anos que vão de 1955 a 1975, no mundo anglo-norteamericano, tem lugar uma renovação extraordinária, para não dizer uma revolução, precisamente no campo da história política. Com efeito, depois da descoberta, nos anos 1950, do humanismo cívico por Hans Baron, na década seguinte, Bernard Bailyn revoluciona, com As Origens Ideológicas da Revolução Américavii, a historiografia norteamericana da independência (ao propor um novo paradigma interpretativo baseado na política), e, em 1975, J.G.A. Pocock, com The Machiavellian Moment. Florentine Political Thought and the Atlantic Republican Tradition (inspirando-se nos trabalhos de Baron, de Bailyn e de J. H. Plumbviii), realiza uma verdadeira renovação na história do pensamento político moderno inglês, bem como do pensamento político florentino na época do Renascimento e do norte-americano da época da Independência. Em suma, enquanto na França encobria-se a história política (e, em decorrência disso, seus grandes pensadores e historiadores políticos liberais do XIX, como B. Constant, F. Guizot e Tocqueville eram deixados de lado, ou esquecidos, à exceção, parcialmente, do último por causa quase que exclusivamente de R. Aron), nos Estados Unidos descobria-se um novo paradigma, chamado de republicanismo clássico, que renovava por completo nosso conhecimento do pensamento político moderno. Graças a esse paradigma sabemos agora que, no Ocidente, entre os séculos XV e XVIII o discurso e a ação política não são constituídos somente pelo par absolutismo (feudalismo) – liberalismo (capitalismo), mas também por outras correntes e tradições ideológicas, entre as quais a aristotélica-polibiana do zoon politikon, re-atualizada, primeiro pelos florentinos, a partir do quattrocento, depois pelos republicanos ingleses a partir da Revolução de 1640 e, por último, pelos norte-americanos da Independência (daí o nome republicanismo clássico ou humanismo cívico). Ou seja, o zoon politikon, ou homo politicus, reaparece no Ocidente moderno naqueles momentos e lugares e sucede, juntamente com o homo mercator e o homo creditor, ao homo credens (da Idade Média), antes de todos estes darem lugar ao homo faber (e, este último, por sua vez, a partir das últimas décadas do século XX, está dando lugar ao sabe-se lá qual homo: cibernéticovirtual-transgênico?). O paradigma do republicanismo enquanto história – a um só tempo discurso e ação – é autônomo com relação ao liberalismo, embora com este coexista, compita, e, às vezes, se confunda; e, enquanto historiografia, é, ou melhor, pretende ser, uma terceira posição, alternativa ao campo liberal/marxista. Como paradigma interpretativo, devemos ao republicanismo todo esse novo olhar sobre o passado, que permitiu recuperar tradições e correntes de pensamento e de ação, senão esquecidas, mal compreendidas e redimensionar autores e hegemonias consagradas (como são os casos mais conspícuos de Locke e do liberalismo). Para dar um exemplo: graças a Pocock, hoje o nascimento dos Estados Unidos, como notou com muita perspicácia a historiadora Appleby, aparece “menos como o primeiro ato político do Iluminismo revolucionário e mais como o ‘último grande ato do Renascimento’”. Foi essa mesma historiadora que, inteligentemente, chamou a atenção para o fato de o republicanismo (como teoria do conhecimento e/ou historiografia) “aparecer nesse final do século XX a homens e mulheres como uma alternativa atrativa ao liberalismo e ao socialismo.... permanecendo fora da imaginação do campo liberal, tornou-se um ponto vantajoso para aceder a tal campo. Como uma agulha magnética o republicanismo atraiu a si as limalhas do descontentamento contemporâneo em face da política e da cultura norteamericanas. Diferentemente do marxismo, fez isso ao estabelecer suas origens antes da Independência e, conseqüentemente, estabelecendo autênticas raízes norte-americanas”.ix Para terminar, voltemos pela última vez à historiografia francesa contemporânea, a qual, tendo em vista a hegemonia conquistada pelos Annales ao longo de três gerações, e tendo em vista o cacoete de olhar somente para o próprio umbigo, passou a acreditar como se fora um fato inquestionável e a cultuar como se fora um dogma indiscutível: a) na existência, até 1930, de uma suposta única modalidade de história política, a événementielle; b) no suposto abandono e descrédito da história política no meio século seguinte; e c) em uma suposta reabilitação da história política a partir dos anos 1980; levada a cabo por quem? Por eles, naturalmente, os historiadores franceses! Vejamos algumas pérolas desses historiadores franceses para provar nosso argumento: F. Furet, ligado à terceira geração dos Annales, declarava em 1971: “Eu não acredito que a história total possa ser outra coisa que não uma história filosófica e no fundo eu me interesso pouco pelas histórias filosóficas”. Mas, em 1987, declarava o contrário: Eu advogo uma aliança da história com a filosofia. Minha idéia central é juntar os historiadores e os filósofos. É tentar reabilitar não apenas a história do político, mas também a história das idéias que foi praticamente arruinada pela Escola dos Annales. O que eu queria é fazer os historiadores compreenderem que a esfera do político é provavelmente a mais favorável para se perceber a história total de uma coletividade”. P. Rosanvallon, historiador da política, em um artigo de 1986, intitulado “Para uma história conceitual do político”, formula a proposta de uma história conceitual do político que pretende ser, a um só tempo, filosófica e total. Filosófica porque, nas suas palavras, “sem um universo político referencial não há inteligibilidade na história”, e total porque “A ambição é clara: a perspectiva é a de uma história global. É para ‘uma história total’ que é preciso se dirigir para apreender o político em toda sua complexidade”. Por sua vez, o consagrado E. Le Roy Ladurie, também da terceira geração dos Annales, em 1987, afirma em O Estado Monárquico: “Nada de Estado, contudo, sem sociedade civil, território, economia, religião, cultura...” Depois desta última afirmação, a pergunta que não quer calar é: será que existem obras de história política, como quiseram e continuam querendo nos fazer acreditar esses historiadores, que tenham sido capazes de ignorar a sociedade civil, o território, a economia, a religião e a cultura? Esses historiadores, além disso, querem nos fazer acreditar que o tema e/ou o autor que eles escolheram para estudar estava, até o momento em que decidiram estuda-lo, esquecido. Sendo o mérito de sua redescoberta, il va sans dire, deles, naturalmente! Assim, enquanto Rosanvallon “redescobre” Guizot (com seu Le Moment Guizot; que é de 1985, ao passo que The Machiavellian Moment de Pocock é de 1975, e apesar da evidente coincidência de títulos, o primeiro não faz nenhuma referência ao segundo), Furet, não podendo fazer o mesmo com Tocqueville, isto é, não podendo fazer passar seu interesse pelo último como sendo uma redescoberta, saiu-se com esta: “Tocqueville é mais citado do que lido”! Modesto Florenzano Abril de 2006 i Alexis de Tocqueville: a historiografia como ciência da política, Editora UFMG, 2006. As raízes clássicas da historiografia moderna, Edusc, Bauru, 2003 (Edição inglesa de 1962). iii Utopia e Reforma no Iluminismo, Edusc, Bauru, 2003 (Edição inglesa 1970). iv Cito da edição castelhana, Fondo de Cultura, México 1992 (a edição original, inglesa é de 1988). ii v Cito da edição francesa La Renaissance dans la pensée historique (a edição original inglesa é de 1947). “L’Oeuvre D’Albert Mathiez”, Études sur la Révolution Française, PUF, Paris, 1963. vii Edusc, Bauru, 2003 (edição original em inglês, 1967). viii O livro de Plumb intitula-se The Growth Of Political Stability in England 1675-1725, publicado em 1967. A tradução do livro de Pocock deverá sair em breve no Brasil pela editora Edusc. ix Liberalism and Republicanism in the Historical Imagination, 1992. vi
Download