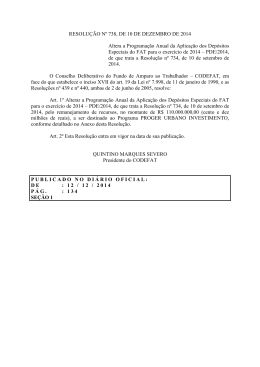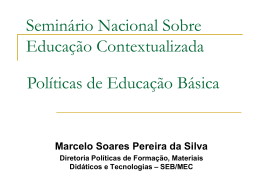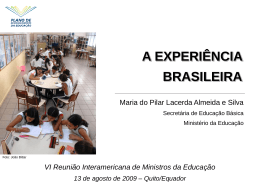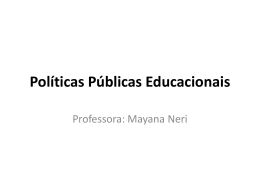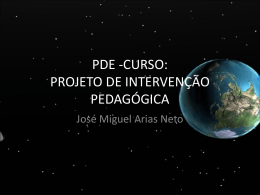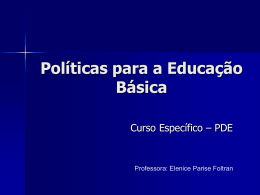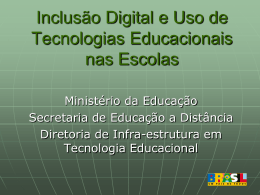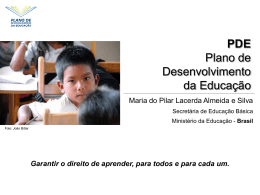UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA-UNEB DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO – CAMPUS I CURSO PEDAGOGIA ANOS INICIAIS ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA A Política Educacional Brasileira: Uma Análise Crítica do PDE - Plano de Desenvolvimento da Educação Salvador 2010 ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA A Política Educacional Brasileira: Uma Análise Crítica do PDE – Plano de Desenvolvimento da Educação Monografia apresentada como requisito parcial para obtenção da graduação em Pedagogia do Departamento de Educação campus l da Universidade do Estado da Bahia, sob orientação da Profª Maria Alba Guedes Machado Mello. Salvador 2010 ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA A Política Educacional Brasileira: Uma Análise Crítica do PDE – Plano de Desenvolvimento da Educação Monografia apresentada como requisito parcial para obtenção da graduação em Pedagogia do Departamento de Educação campus l Universidade do Estado da Bahia, da sob orientação da Prof. Ms. Maria Alba Guedes Machado Mello. Aprovada em _____ de ____________ de 20____. BANCA EXAMINADORA __________________________________________ Prof. Dr. Antônio Amorim __________________________________________ Prof. Ms. Otoniel Rocha __________________________________________ Prof. Ms. Maria Alba Guedes Machado Mello Dedico este trabalho a minha mãe, que tanto faz para que seus filhos sejam felizes. AGRADECIMENTOS Agradeço imensamente a Deus por toda força e a Maria, por sempre ouvir minhas preces e iluminar meu caminho. Assim também, agradeço às forças da natureza por me ajudarem a transpor os obstáculos. À minha querida mãe, que mesmo distante fisicamente sempre pude ouvir suas orações, sentir sua presença de carinho e apoio. Além de mostrar que é possível transitar entre o mundo da Academia e do saber popular. À minha madrinha e mãe, que juntamente com minha irmã, sempre estão prontas para uma palavra, um olhar ou um gesto de carinho. Quero registrar aqui meu agradecimento àqueles que, mesmo não estando mais aqui, com sua presença física, posso senti-los e tenho certeza de que compartilham desta alegria comigo: Givanildo, Cremilda, Tia Suzele e minha grande tia Solange (in memoriam). À minha orientadora, professora Alba Guedes que acreditou em mim desde o primeiro momento e sempre com muita verdade, mas sem deixar de ser gentil, conduziu-me com grande sabedoria. À Márcia por imprimir sempre meus textos, a todos os familiares e amigos do interior pelo carinho e apoio. A todos os colegas do curso com os quais, no decorrer desses anos, troquei idéias, sorrisos, conhecimentos e em especial àqueles que em razão da proximidade, do diálogo, do carinho e do companheirismo transformaram-se em verdadeiros amigos. Ao G7, muito obrigado. Tenho dito, desde faz muito tempo, que a educação não é alavanca para a transformação da sociedade porque poderia ser. O fato porém de não ser, porque poderia ser, não diminui a sua importância no processo. Freire (2006, p. 53) RESUMO A presente pesquisa apresenta uma reflexão sobre a atual política educacional do país e suas implicações para a promoção de uma educação pública de qualidade. O trabalho foi desenvolvido com base na análise dos principais documentos e programas que compõem as normas e diretrizes da educação nacional. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, Plano Nacional da Educação – PNE e o Plano de Desenvolvimento da Educação Nacional – PDE, sendo, este último, o foco principal da pesquisa. Procuramos analisar e discutir como os objetivos e metas propostos pelo governo no PDE estão promovendo a construção de uma educação democrática e como a sociedade civil participa desse processo. Palavras-chave: Educação, Política Educacional, Gestão Democrática RESÚMEN La presente investigación presenta uma reflexión sobre la actual política educacional del país y seus implicaciones para la promoción de uma educación pública de calidad. El trabajo fue desarrollado basado en el analisis de los principales documento y programas que componen las normas y directrizes de la educación nacional. La Ley de las Directrices y Bases de la Educación Nacional LDB, Plan Nacional de la Educación - PNE y el Plan de Desarrollo de la Educación - PDE, siendo, este ultimo, el foco principal de la investigación. Buscamos analisar y discutir como los objectivos y metas propuestos por el governo en el PDE, están promoviendo la construción de uma educación democratica y como la sociedad civil participa de ese proceso. Palabras-clave: Educación, Política Educación, Gestión Democratica SUMÁRIO 1 INTRODUÇÃO 10 2 A POLÍTICA EDUCACIONAL 14 2.1 ESTADO E SOCIEDADE CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE UMA GESTÃO DEMOCRÁTICA 14 2.2 17 MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO 2.2.1 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 18 2.2.2 Plano Nacional de Educação (PNE) 19 2.2.3 Plano Nacional de Educação (PNE) e Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) 23 3 26 O PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 3.1 EDUCAÇÃO BÁSICA 29 3.2 INFRAESTRUTURA 31 3.3 FINANCIAMENTO 32 4 37 A AVALIAÇÃO COMO MECANISMO DE GESTÃO 4.1 REFERÊNCIAS CONCEITUAIS 37 4.2 INSTRUMENTOS DO PDE 40 4.3 AVALIAÇÃO E QUALIDADE 43 CONSIDERAÇOES FINAIS 46 REFERÊNCIAS 49 5 11 1 - INTRODUÇÃO A educação pública brasileira é permeada por problemas comuns que vão desde a evasão escolar até a infraestrutura. São problemas oriundos de uma sociedade capitalista, conservadora e reprodutora, cujos conflitos e contradições evidenciam-se também na educação brasileira. Aspectos relativos aos diferentes âmbitos da organização da educação nacional como currículo, espaço físico, transporte para todos os educandos, direitos trabalhistas dos docentes e funcionários, entre outros, reforçam a má qualidade do ensino e propiciam graves consequências para os educandos. A educação como direito do cidadão deve acontecer na esfera pública. No entanto, percebemos que os governos ainda não demonstraram a devida importância com a educação nacional, pois elementos como distorção idade-série, repetência e baixa escolaridade dos adolescentes, jovens e adultos demonstram os problemas existentes na educação. Diante desta problemática, surge a necessidade de identificar e analisar quais as propostas do atual governo para oferecer uma educação pública, gratuita e de qualidade. Qualidade no acesso do educando, na sua permanência e nos aspectos físico e humano, necessários para que a educação realmente aconteça e seja garantida a todos. Com isso, toma-se como foco desta pesquisa o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), seus principais objetivos, aplicação e eficácia buscando perceber a sua real perspectiva política e social para a formação dos cidadãos. Entender tal questão nos permite traçar um objetivo de trabalho para análise e discussão, e apontar os resultados positivos e os pontos a serem melhorados. Sabemos que relacionada aos problemas e dilemas referentes à educação pública, está a sociedade que atua como reprodutora de desigualdades e, conseqüentemente, acaba transmitindo isso às gerações futuras que deixa de intervir política e socialmente na busca de melhorias e mais participação no processo de construção das políticas públicas para a educação. 12 Com o objetivo principal de conhecer as perspectivas políticas inseridas no Plano de Desenvolvimento da Educação, esta pesquisa analisa os principais objetivos e metas contidas no PDE e visa compreender o que se entende por qualidade da educação pública, por meio dos mecanismos de avaliação contidos no PDE, como a Prova Brasil, o Saeb- Sistema de Avaliação da Educação Básica e o Ideb - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Parte-se do pressuposto de que a utilização dos seus resultados indica como o governo pretende promover a melhoria da educação. Além disso, aponta quais os caminhos que o PDE tem sinalizado para garantir uma educação pública de fato democrática. Ao analisar o processo educativo no Brasil, nos deparamos com inúmeros problemas que desqualificam e empobrecem a educação nacional. O panorama geral do quadro educativo, resultante de um diagnóstico geral da educação no país, foi realizado pelo MEC (Ministério da Educação e Cultura) através do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o qual avaliou numa escala de 0 a 10 o ensino fundamental e o médio por meio do Ideb. Os dados dessa avaliação foram estarrecedores: os estados que obtiveram as piores notas estão localizados na região Nordeste, dentre eles destacam-se os estados da Bahia, Piauí, Rio Grande do Norte e Alagoas. Estas notas variam entre 2,6 na primeira fase do ensino fundamental (da 1ª à 4ª serie); 2,4 na segunda fase do ensino fundamental (5ª a 8ª serie); e 2,3 no ensino médio ficando todos abaixo da média nacional que é de 3,8. Além desses dados, das 27 unidades federativas apenas sete obtiveram o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, acima da média1. Uma nova avaliação da qualidade da educação nacional foi realizada pelo MEC em 2009, onde já pode ser verificado um avanço em relação aos dados apresentados pelo Ideb de 2007, na primeira e segunda fases do ensino fundamental e do médio, segundo Ideb apresentado. De acordo com os resultados divulgados pelo MEC, na primeira fase do ensino fundamental, o Ideb passou de 4,2 para 4,6; nos anos finais do ensino fundamental, o Ideb do País evoluiu de 3,8 para 1 Dados do MEC 2007 – www.mec.com.br/ideb 13 4,0; no caso do ensino médio, o Ideb do Brasil avançou de 3,5 para 3,6. Fazendo um paralelo com os resultados apresentados em 2007 e os de 2009, os dados mostram uma evolução na qualidade da educação em todas as etapas da Educação Básica, porém ainda não há motivos para comemorar. Ante o quadro estarrecedor no qual se encontrava a educação nacional, o governo Lula desenvolveu o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), como resposta à situação do rendimento escolar (taxa de aprovação, reprovação e abandono) e das médias dos educandos verificadas por meio de dois exames: Sistema Nacional de Avaliação Básica (Saeb) e a Prova Brasil. Infelizmente resultados como esses reforçam a permanência do país no campo do analfabetismo, da falta de uma educação de qualidade, do descrédito nos programas educacionais e nos permite alguns questionamentos: Quais as implicações políticas inseridas no PDE? Quais os seus resultados práticos? Realmente estão contribuindo para a melhoria da educação brasileira? O trabalho pretende, com este enfoque, tecer algumas reflexões sobre a educação nacional, verificando como o PDE está sendo desenvolvido, quais os investimentos e recursos destinados e quais os aspectos que estão sendo considerados para a sua aplicação. Por tais razões e para melhor compreensão da pesquisa, aqui apresentada, organizou-se este trabalho em três capítulos distintos. O primeiro capítulo apresenta uma caracterização da atual política educacional do país, passando pelos principais mecanismos e instrumentos de gestão: a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o Plano Nacional de Educação, comparando-o ao Plano de Desenvolvimento da Educação, os quais servem de base para os capítulos que se seguem. As discussões aqui apresentadas estão sustentadas nos escritos de Evelina Dagnino (2002) e Demerval Saviani (2007). Já o segundo capítulo traz, no seu cerne todo o Plano de Desenvolvimento da Educação Nacional - PDE, do qual foi feita uma análise mais singular dos seus 14 princípios, metas e objetivos, buscando responder em que medida esse se revela, efetivamente, capaz de oferecer uma educação pública de qualidade. O capitulo final é um desdobramento do segundo, onde procuramos examinar aquilo que talvez seja a base de sustentação do Plano que é a avaliação da gestão democrática. Busca-se, aqui, discutir os mecanismos de avaliação utilizados pelo Plano, apresentando como esta avaliação ocorre e o que é considerado neste processo. Para isso apresentamos uma concepção de avaliação sustentada nas autoras Sandra Zákia (1995) e Ana Maria Saul (1995). Com o propósito de contribuir para uma educação pública de qualidade, com base no entendimento da educação como um direito social que está intimamente ligado à garantia de emancipação cultural, político e social do ser humano, esta pesquisa pretende apontar caminhos de melhoria. Toma-se como objeto de estudo a análise de um programa de governo sem a pretensão da simples crítica ou convicção partidária e sim com a responsabilidade de identificar se esta proposta afirma políticas emancipadoras ou assistencialistas. 15 2 - A POLÍTICA EDUCACIONAL É cada vez mais evidente a participação da sociedade civil na construção e acompanhamento das políticas socais do governo. A participação da sociedade nos espaços públicos tem por finalidade não só avaliar a forma de trabalho do governo, mas participar ativamente na construção de uma sociedade mais justa e democrática. Dessa forma, apresentaremos a seguir quais os instrumentos que a sociedade e o governo laçam mão para a promoção de uma política social mais democrática e quais as consequências desse processo. 2.1 - ESTADO E SOCIEDADE CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE UMA GESTÃO DEMOCRÁTICA As relações entre Estado e sociedade ganharam novas configurações e uma nova postura a partir da década de 1990, quando os debates educacionais, econômicos e sociais ganharam força não só no Brasil como em alguns países da America Latina. A reconfiguração do papel Estado como Estado mínimo possibilitou uma mudança no relacionamento entre Estado e sociedade, o que permitiu uma maior participação da sociedade civil na gestão e provimento das ações públicas, passando o Estado a ser um agente regulador e dispondo, cada vez mais, do comando das políticas públicas para a sociedade. A partir daí, o Estado passou a analisar os projetos oriundos da sociedade civil de maneira política e democrática, e em todas as instâncias governamentais. Essas experiências passam a configurar um avanço na construção da democracia e de uma política transparente, cada vez mais próxima da população e sendo construída pela sociedade civil. Essa marca dos anos 90 resultou do avanço neoliberal, que reduz a intervenção do Estado e amplia a participação ativa da sociedade civil nos espaços públicos. Essa descentralização da ação do Estado tem valorizado os poderes locais e comunitários ao passo que esses passam a desenvolver um trabalho de cunho social que busca realmente a melhoria das relações sociais, a modificação do quadro de exclusão e o fortalecimento da democracia. São muitos os elementos que 16 marcam essa relação, porém a regulação é, sem dúvida, o mais importante deles, que, segundo o discurso oficial, é necessária uma regulação para viabilizar a governabilidade e o ordenamento, além de mediar a relação e os conflitos existentes entre Estado e sociedade. Por outro lado, o Estado, enquanto regulador das políticas públicas, não deixa o controle das ações públicas, pelo contrário, o Estado tem como propósito manter a governabilidade para o desenvolvimento do sistema, o ordenamento e controle social. O novo quadro de relação entre Estado e sociedade civil é um passo importante para tornar mais transparente as decisões do governo, além de ampliar a nossa capacidade de monitoramento e influência sobre as políticas publicas, cabendo ainda uma cobrança maior sobre o Estado em relação aos bens sociais e o comprometimento político com a sociedade. É evidente que uma maior abertura por parte do Estado para a sociedade civil traz algumas conseqüências tanto no âmbito das políticas sociais quanto na implantação de uma gestão democrática. A mais importante delas é um menor comprometimento do governo no cumprimento de suas atribuições públicas como educação, saúde, esporte e outro. À medida que a gestão democrática se fortalece e ganha espaços na esfera publica e social, dá margem também para que o Estado torne-se mais omisso em alguns setores que são de sua responsabilidade. No Brasil, essas mudanças permitiram à sociedade consolidar uma nova forma de gestão da educação, além de poder reverter o atendimento dado ao ensino fundamental e os altos índices de fracasso e evasão escolar. Essa nova configuração permitiu um avanço na relação Estado X Escola X Sociedade, o que implicou mudanças estruturais e na forma de pensar a gestão pública e escolar. Passamos então a ter um canal maior de interação entre Estado, comunidade escolar e comunidade geral o que possibilitou também que a sociedade civil participasse de projetos e atividades desenvolvidas na escola pública, passando a ter um espaço de discussão mais ativo entre governo central e as unidades escolares. 17 A gestão escolar e a própria escola passaram a apresentar um novo modelo de gestão o que, consequentemente, pediu novos mecanismos e instrumentos, pois se apresentava aí, uma nova configuração que posteriormente viria a ser definida como gestão democrática. Isso permitiu que projetos democráticos criados no interior da sociedade civil fossem levados ao Estado nas instâncias municipais e estaduais. Vale ressaltar, porém, que a participação da sociedade encontra algumas barreiras, tanto do lado do Governo quanto da própria sociedade civil. Seja pela burocracia, lentidão, falta de recursos e principalmente pela falta de vontade política do Estado, ou, pelo lado da sociedade civil onde se destaca a falta de técnica e conhecimento político. Essas barreiras impedem uma participação mais ampla na formulação das políticas públicas capazes de impactar mais significativo a sociedade. A fragmentação é inerente ao próprio Estado e comum à construção da democracia. Contradições, visões hierárquicas e o autoritarismo são obstáculos ainda existentes entre as instâncias políticas e a sociedade civil. Como define bem Dagnino (2002) Aponta nessa mesma direção a característica, freqüentemente assumida pelos espaços públicos que se constituem no interior do Estado, de isolamento e relação ao conjunto da estrutura administrativa: eles acabam se constituindo como “ilhas” separadas, em “institucionalizadas paralelas”, conservadas à margem e com difícil comunicação com o resto do aparato estatal. (DAGNINO, 2002, p. 283) Por outro lado, o acesso da sociedade civil na gestão dos espaços públicos tem cumprido um papel importante na construção da democracia. Uma atuação mais conjunta entre Estado e sociedade civil mostra que a descentralização do poder do Estado e a ação efetiva da sociedade na tomada de decisões referentes às políticas públicas tem-se desdobrado numa maior confiabilidade e credibilidade política das ações. Apontam nessa mesma direção, ações como reconhecimento e distinção dos diferentes interesses existentes na relação Estado e sociedade civil, para um avanço dos interesses coletivos. Participação na formulação e construção de políticas 18 públicas que efetivamente expressem e visem o bem comum, são pontos que caracterizam a iniciativa de descentralização do Estado e favorecem a construção da democracia. Trabalhar para que os diferentes interesses sejam mantidos sem a perda da autonomia é, sem dúvida, o maior dos desafios existentes na ação conjunta Estado e sociedade civil, como bem define Dagnino (2002, p.281) “A relação entre Estado e sociedade civil são objetos da política e, portanto transformáveis pela ação política”. A organização da sociedade civil tornou-se característica singular na relação com o Estado e passou a ser ponto central na luta por uma maior participação pública. O avanço do processo de construção da democracia contribuiu para dar visibilidade aos projetos políticos que apresentavam visões diferenciadas e realmente pensadas para a ampliação do acesso aos espaços públicos e garantir transformações importantes no interior da própria sociedade. A política educacional, neste contexto, ganhou mais espaço de discussão e intervenção além de participar mais ativamente das mudanças tanto no campo educativo como no social. 2.2 - MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO As ações políticas lançam mão de alguns mecanismos de gestão para que possa, efetivamente, acontecer e por em prática as ações públicas; no que se refere à educação podemos destacar, enquanto instrumento de gestão democrática, a LDB 9394/96, o Plano Nacional de Educação e o Plano de Desenvolvimento da Educação objeto deste estudo. Estes instrumentos têm a função de viabilizar uma gestão democrática criando meios para que não só o Estado, mas também a sociedade civil organizada pudessem participar da construção de uma educação realmente de qualidade. Para isso estabelecem diretrizes que norteiam os pressupostos educacionais e a gestão educacional é sem dúvida a mais importante delas. 19 2.2.1 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional LDB - Lei nº 9.394/96 foi aprovada pelo Congresso Nacional em 17 de dezembro de 1996, promulgada em 20 de dezembro e publicada no Diário Oficial da União em 22 de dezembro de 1996. Com sua implementação em 1996, a LDB, tornou-se um dos instrumentos de gestão mais efetivo no contexto da política educacional, primeiro por equacionar todas as diretrizes referentes à educação nacional e depois por regulamentar a educação pública no Brasil por um longo período. A LDB provocou uma nova forma de gestão democrática logo na sua formulação, pois contou com a participação efetiva da sociedade civil, educadores, partidos políticos, organizações não governamentais, jornalistas, movimentos sociais, universidades, em torno de debates teóricos e políticos sobre sua finalidade e objetivos. Esse novo modelo de gestão ampliou substancialmente a relação Estado, escola e comunidade, principalmente esses dois últimos e isso implicou uma maior autonomia da sociedade frente à política educacional com novos espaços, maior participação na construção e tomada de decisões, e, portanto, maior poder de discussão sobre as demandas e os problemas da educação brasileira. A LDB de 1996, em seu artigo 3º, define a “gestão como democrática”, ou seja, as políticas educacionais são amplamente marcadas pelas relações sociais e políticas que determinadamente estão esboçadas numa relação que envolve conflitos, dessa forma, somente com uma gestão que opere com relativa autonomia e na busca constante pela construção da democracia, poderá criar condições para uma educação democrática, onde as organizações e gestão das escolas, as práticas pedagógicas e formativas sejam inovadoras, críticas, autônomas e visem à formação humana do cidadão. A política está diretamente ligada à administração da sociedade, através da organização e operação da coisa pública e, dessa maneira, a política educacional é, em suma, uma modalidade de política social. Esta política deve ser vista como 20 preventiva, visando o aumento da pressão sobre o aparelho governamental através dos movimentos sociais para que o Estado assuma os serviços de interesse público. A educação participa intimamente desta luta por meio da participação social na formulação da política educacional dentro das políticas sociais. Com isso a LDB é sem dúvida um mecanismo de gestão que caminha na direção de uma política educacional que responda aos desafios educacionais da sociedade brasileira na conjuntura atual. Com mudanças significativas, a LDB tem como intuito consolidar uma nova forma de gestão da educação e da escola, procurando reverter o quadro de má qualidade educacional, bem como os altos índices de fracasso e evasão escolar. 2.2.2 - Plano Nacional de Educação (PNE) Outro instrumento de gestão que marcou o direcionamento da educação nacional foi o Plano Nacional da Educação (PNE), Lei nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001, que tem como base para sua concepção a Constituição Federal de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e a Emenda Constitucional nº 14, de 1995, que instituiu o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério que posteriormente se desdobra em FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. O PNE foi aprovado em 9 de janeiro de 2001, tendo validade de dez anos, devendo passar por uma avaliação no seu quarto ano de vigência para as devidas correções das deficiências que apresentasse. Sua estrutura se assenta em três momentos: 1 - diagnóstico da situação; 2 - enunciado das diretrizes a serem seguidas; 3 formulação dos objetivos e metas a serem atingidas progressivamente, durante o período de duração do Plano. Essa estrutura abrange todos os níveis de ensino estendendo-se ao financiamento e a gestão e orienta as ações do poder público nas três esferas (União, Estados e Municípios). Dentre as metas contidas no PNE, tomamos para análise qual função social da educação e da escola concebida pelo mesmo. 21 Como são vários os objetivos e metas contidas no Plano, tomaremos apenas duas que consideramos principais para análise: I A melhoria da qualidade do ensino, em todos os níveis; II A redução das desigualdades sociais e regionais no tocante ao acesso e à permanência, com sucesso, na educação pública. Sem dúvida, educação de qualidade e permanência do educando na escola com sucesso é uma das questões mais discutidas no âmbito da política educacional. portanto, o que se espera agora não é mais ter esses dois elementos como objetivos a serem atingidos e sim apresentar caminhos eficazes que realmente venha dar garantias de uma educação com qualidade e que essa mesma educação seduza, envolva e conquiste o educando na sala de aula. Assim não teremos mais as nossas tão elevadas taxas de evasão escolar e repetência que são considerados, atualmente, o maior problema da educação nacional. Para que a escola realmente cumpra sua função social e os mecanismos de gestão, desenvolvimento e garantia da educação sejam efetivos, devemos pensar no que Libâneo diz: Primeiramente, é necessário admitir que há, de fato uma inter-relação entre as políticas educacionais, a organização e a gestão das escolas, as práticas pedagógicas na sala de aula e o comportamento das pessoas.As políticas educacionais e diretrizes organizacionais e curriculares são portadores de intencionalidades, idéias, valores atitudes, práticas, que influenciam as escolas e seus profissionais na configuração das práticas formativas determinando um tipo de sujeito a ser educado.(LIBANEO, 2008, p. 14) Nesse sentido é preciso entender claramente quais os valores e intencionalidades políticas que determinam as políticas educacionais. Ou seja, a eficácia dos planos e programas só acontecerá quando o todo for considerado. Por mais que se faça um diagnóstico situacional da educação nacional, se todas as instâncias de governo não estiverem alinhadas, se não houver uma fiscalização dos recursos destinados às metas, os objetivos traçados não terão importância. 22 O Plano Nacional de Educação destaca que a educação deve fazer parte da vida do indivíduo desde o seu nascimento, constituindo-se como parte fundamental do seu desenvolvimento social e cultural, ou seja, é preciso que as diretrizes educacionais dêem conta de assegurar uma educação realmente responsável, de qualidade e que busque realmente a emancipação do sujeito enquanto ser político e social. O cenário educacional necessita, hoje, de uma gestão que pense e promova o sucesso escolar dos educandos, que crie mecanismos para enfrentar os desafios que a educação nacional possui. Esse processo não é simples e requer além de vontade política, conhecimento técnico e um planejamento que realmente pense no desenvolvimento qualitativo da educação, na aprendizagem. A gestão é o fio condutor para que a escola, enquanto instituição responsável pela garantia de que o saber sistematizado seja socializado, cumpra sua função social. Ao observar o PNE, podemos notar que suas metas foram fixadas após um diagnóstico profundo da educação nacional e isso é, sem dúvida, fundamental para que seus objetivos sejam elaborados e proponham mudanças significativas e possíveis de serem alcançadas. Para isso é preciso o envolvimento de todas as instâncias, comprometimento da União, dos Estados e Municípios e principalmente da sociedade civil, parte mais interessada no efetivo sucesso do PNE. Além disso, outro ponto importante é o acompanhamento dos recursos investidos, algo que foi definido pelo próprio PNE para acontecer após quatro anos da sua implementação. Essa fiscalização permite que seja observado o que não deu certo, quais as áreas que merecem mais atenção, quais metas foram atingidas e quais ainda precisam de mais tempo, e principalmente como o dinheiro público está sendo administrado. A análise desses elementos deve direcionar os resultados no sentido de que contribuam para o aperfeiçoamento dos planos e da gestão. É oportuno, então, lembrar que uma das metas essenciais do Plano envolve a redução das desigualdades regionais e a permanência com sucesso do educando na escola, ou seja, esta meta quando contempla as desigualdades regionais vem 23 reforçar que só um trabalho conjunto pode fazer com que essas e outras metas sejam cumpridas, como bem observa Libâneo: Uma coisa é certa: as escolas estão ai, é nela que estão matriculados os filhos das camadas médias e pobres da população, e é questão de justiça que elas atendam, do melhor modo possível, aos direitos de todos e uma educação de boa qualidade, apta a preparar os alunos para a empregabilidade, participar da vida política e cultural, desenvolver a capacidade reflexiva para atuar e transformar a realidade social. (LIBÂNEO, 2008, p.21) Diante de todos estes programas e planos elaborados e apresentados pelo governo para a melhoria da educação, percebemos que mudar a educação oferecida no país para uma educação de qualidade está além das metas e objetivos, não que eles não sejam necessários, porém, para que sejam postos em prática com eficácia é preciso vontade de mudança, empenho, planejamento e conhecimento técnico. É preciso acreditar que só pela via democrática pode-se chegar a uma educação de qualidade onde haja uma equidade no governo e na gestão, e que tanto a oferta de uma educação de qualidade quanto a permanência com sucesso do educando na escola seja possível, pensando-se nas políticas educacionais e na gestão, e tendo a escola como espaço de realização das metas e dos objetivos propostos pelos programas educativos. Com caráter global, o Plano Nacional de Educação apresenta metas que abrangem todos os aspectos relativos à organização da educação nacional. O PNE marcou um avanço significativo na busca por uma unidade das políticas educacionais do país por apresentar um panorama geral da educação nacional e isso, sem duvida, possibilitou um avanço substancial na forma de pensar as novas políticas públicas para educação como veremos ao analisar o Plano de Desenvolvimento da Educação. 24 2.2.3 - Plano Nacional de Educação (PNE) e Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) Uma análise comparativa evidencia que o PDE, em sua concepção, deixou de fora alguns elementos importantes contidos no PNE. Dentre eles vale destacar que o PNE, que comporta um diagnóstico geral da educação nacional, passou por uma discussão ampla na sociedade civil além de compreender políticas para educação indígena o que só aparece no PDE dentro do FUNDEB. Tais questões nos permitem indagar porque a criação de um Programa se possuímos um Plano Nacional ainda em vigência e em desenvolvimento? Frente a este questionamento percebemos que das 30 ações que compõem o Plano 17, incidem sobre aspectos previstos no PNE; são ações referentes à Educação Básica, à Superior, as modalidades de ensino e outras. Além disso, é notório que o plano não apresenta ação voltada para a educação indígena, financiamento ou gestão; estes aspectos só estão presentes porque o FUNDEB contempla amplamente o financiamento e a gestão como garante as diretrizes para educação indígena e quilombola. Ao confrontar a estrutura do PNE com do PDE, notamos claramente que este último não constitui um Plano, como bem afirma Saviani (2007, p.12) “Ele se define, antes, como conjunto de ações que, teoricamente, se constituíram em estratégias para a realização dos objetivos e metas previstas no PNE”. Ou seja, a implantação do PDE não considerou as características e metas já elaboradas pelo PNE, nem avaliou os seus avanços na política educacional. De fato, o PDE não parte de uma estratégia, do diagnóstico e das diretrizes para o cumprimento das metas do PNE. Compõe-se apenas de ações que não se articulam organicamente como o PNE. Sob as etapas de ensino, na educação infantil há apenas uma ação, a ”Proinfância”, que prevê recursos federais por meio do FNDE, para financiar a construção, ampliação e melhoria das instalações escolares. As demais 26 metas estabelecidas pelo PNE não são mencionadas. Já para o ensino fundamental o PDE tem a “Provinha Brasil” o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e o Programa “Gosto de Ler”. Apenas a meta 17 do PNE é contemplada por meio da ação 25 Transporte Escolar; as demais 29 metas fixadas para o ensino fundamental, pelo PNE, não foram consideradas. No que tange o ensino médio, das 20 metas definidas pelo PNE o PDE abarca o programa Biblioteca na Escola que remete parcialmente à meta 9 que previa, ao final de 2005, que todas as escolas estivessem equipadas com biblioteca. Abarca também através do programa Inclusão Digital a meta 10 do PNE. Com relação ao ensino superior, apenas a meta 17 do PNE foi contemplada pela ação Pós-Doutorado. Já que a meta da duplicação das vagas nas universidades federais até 2017 pelo PDE, não alcança em nada o PNE que já previa na meta 1 atingir até 2010, um número total de vagas com capacidade de absorver 30% da faixa etária de 18 a 24 anos, o que significa a triplicação das vagas existentes. As demais 33 metas relacionadas à educação superior existentes no PNE não foram consideradas pelo PDE. Saviani (2007, p. 14) vai além quando diz que “a palavra “plano”, no contexto do PDE, não corresponde ao significado que essa mesma palavra adquire no contexto do PNE”. Diante disso, verificamos que o PDE foi lançado com o PNE ainda em vigência, porém, este foi totalmente ignorado pelo PDE elaborado independentemente do PNE. O mesmo não considerou os avanços já apresentados pelo Plano Nacional de Educação; os diagnósticos que apresentam um panorama situacional bem elaborado sobre a educação brasileira, as ações e os investimentos para a educação indígena e infantil como também não procurou contemplar as suas principais metas e os seus objetivos essenciais. Considerando as metas e os objetivos propostos pelo PDE, fica evidente que sua estrutura não incide em nenhum momento sobre os aspectos considerados relevantes pelo PNE, além disso, é notória a disparidade entre os dois programas e, indo mais além, o PDE foi formulado em paralelo ao PNE. Outra questão importante é que, com o título de plano, temos a idéia de que foi elaborado um novo plano de educação, construído com todas as discussões e debates que ocorreram na construção do PNE. 26 Dessa forma, apontamos que a educação é antes de tudo um bem comum e social, que não deve estar a serviço deste ou daquele governo e, portanto a construção, aplicação e eficácia dos programas devem ser destinados a promoção de uma educação democrática, independente e de qualidade. 27 3 - O PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – PDE O Plano Nacional de Desenvolvimento da Educação – (PDE) foi apresentado ao país em 15 de março de 2007 e foi lançado oficialmente em 24 de abril de 2007, simultaneamente à promulgação do Decreto Federal nº 6.094, que dispõe sobre o Plano de Metas Compromisso “Todos Pela Educação” – carro chefe do PDE. O Plano de Desenvolvimento da Educação está organizado em quatro eixos norteadores: educação básica, educação superior, educação profissional e alfabetização, compreendendo mais de 40 programas, sendo 30 os principais que com seus desdobramentos passam a abrigar grande parte dos programas do MEC para a educação. O PDE visa reduzir a segmentação territorial constitutiva do país, a desarticulação de programas além de intervir e acabar com os baixos índices de rendimento escolar na rede pública de educação. Tendo como objetivo principal e singular a melhoria da qualidade da educação básica, esse Plano traz em sua apresentação um diagnóstico da educação do país e tenta em suas 30 ações (consideradas prioritárias) apontar novos caminhos face aos problemas que a educação enfrenta atualmente. Além do envolvimento da União, Estados e Municípios para articularem-se com a política geral do país, o PDE utiliza-se dos instrumentos de gestão como A Provinha Brasil, o ENEM, IDEB e outros que servem para avaliar também a aplicação e eficácia do Plano, e ajudam a traçar um panorama dos avanços ocorridos, assim como apontar os pontos que necessitam de revisão. Todo programa tem, em sua essência, um norte que o orienta e serve de base para a sua implementação. O PDE traz uma definição de educação que envolve aprendizagem, emancipação e conhecimento para o trabalho. O plano Reconhece na educação uma face do processo dialético que se estabelece entre socialização e individualização da pessoa, tendo como objetivo a construção da autonomia isto é, a formação de indivíduos capazes de assumir uma postura critica e criativa frente ao mundo. (BRASIL, 2007, p. 5) 28 Esta definição de educação do PDE (como um processo de socialização e individualização da pessoa para construção da autonomia) deixa claro que o desenvolvimento humano está intimamente ligado ao que o PDE pretende garantir. Indo mais adiante, o Plano aponta a educação formal pública como cota de responsabilidade do Estado e não se desenrola só na escola pública, mas tem lugar na família, na comunidade e em toda forma de interação na qual os indivíduos tomam parte, especialmente no trabalho. Diante desta variedade de situações educativas nos remetemos à educação como a define a LDB: “processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e manifestações culturais” (BRASIL, 1996, p 2). Evidentemente a escola não será o único espaço em que a educação acontece; ela desenvolve-se em vários lugares, sob diversas modalidades e intenções. Existe uma pluralidade de sistemas e entidades que contribuem para que a educação aconteça, dentre eles destacam-se a família, Igrejas, ONGs, bibliotecas e, sobretudo a escola. Neste sentido, Brandão (1986, p. 7) diz que: ”ninguém escapa da educação. Em casa, na rua, na igreja ou na escola, de um modo ou de muitos, todos nós envolvemos pedaços da vida com ela”. Esta definição permite ampliar a educação para outros espaços educativos que não sejam essencialmente a escola como as bibliotecas, brinquedotecas e outros citados acima que não têm na sua natureza a prerrogativa de uma educação formal, mas possuem elementos, características e objetivos organizados que oferecem conhecimentos culturais e socais que auxiliam na construção da sociedade e da pessoa humana por meio das relações sociais e interpessoais, resultantes das práticas coletivas que estes sujeitos estão envolvidos e vinculados. A escola, neste contexto, aparece como local destinado à oferta e promoção da educação no seu cotidiano; é o local onde ela deve acontecer efetivamente. Possuem objetivos formais predeterminados, estruturados dentro de parâmetros e 29 diretrizes definidos pelo governo e entidades internacionais. Contudo, hoje, frente às mudanças sociais, uma maior participação da comunidade e da família junto a escola e dos pontos positivos na busca de uma educação de qualidade e do acompanhamento dos processos educativos como propõe o próprio PDE, quando afirma que “A educação formal pública é a cota de responsabilidade do Estado nesse esforço social mais amplo, que não se desenrola apenas na escola pública, mas tem lugar na família, na comunidade e em toda forma de interação na qual os indivíduos tomem parte, especialmente no trabalho”.(BRASIL, 2007, p. 5). É evidente que a escola não tem como ficar distante ou alheia às novas formas de educação, além do que com a sociedade civil participando cada vez mais ativamente na construção e na gestão dos espaços públicos, cabe a esta instituição dialogar com a diversidade e procurar ampliar seus espaços de discussão e interação com a sociedade para que atenda à demanda dos seus educandos os quais chegam até a escola com culturas cada vez mais diversas e, ao mesmo tempo, singular. A educação possui conceito amplo, o que permite a mesma ser definida como: O conjunto das ações, processos, influências, estruturas que intervêm no desenvolvimento humano de indivíduos e grupos na sua relação ativa com o meio natural e social. Num determinado contexto de relações entre grupos e classes sociais. (LIBÂNEO, 2002, p.30) Essas concepções visam destacar que a educação é um processo intencional que, de uma maneira ou de outra, irá influenciar a situação política e econômica do país, além de estar ligada intimamente aos valores culturais, compromissos sociais e ideológicos. Tais princípios possibilitam e fundamentam o sentido essencial da educação que é aprender re-aprender, construir e, em uma constante relação com o outro, construir um processo educativo no qual o ser humano seja livre, capaz de conviver com as diversas formas de educação que a sociedade oferece, sejam elas formais ou informais. 30 Consideramos significativo o argumento que a educação é uma atividade planejada, ou seja, “é uma influência intencional sobre a geração em desenvolvimento que pretende dar aos indivíduos que se desenvolvem, determinada forma de vida, determinada ordem de forças espirituais. (W. Dilthey, in Luzuriaga apud Libâneo 2002, p. 76) e seus desejos sem causar, nos demais, maiores prejuízos e submissões pessoais. Desse modo, tendo a Educação como dever do Estado e com a finalidade de promover o pleno desenvolvimento humano do educando, abrangendo qualificação para o trabalho, acesso aos mais variados bens culturais e principalmente à formação Crítica e reflexiva do sujeito, buscaremos a seguir verificar e analisar como o PDE assegura estes direitos sociais por meio de suas metas. Para tanto foi seguido o critério de agrupamento adotado por Saviani (2007) descrito abaixo. 3.1 EDUCAÇÃO BÁSICA No que se refere aos níveis escolares, a educação básica está contemplada com 17 ações, sendo 12 de caráter global e cinco específicas de cada etapa de ensino. Entre as ações que incidem globalmente sobre a educação básica situam-se o FUNDEB, o Plano de Metas do PDE-IDEB, duas ações dirigidas à questão docente (Piso do Magistério e Formação), complementadas pelos programas de apoio Transporte Escolar, Luz para Todos, Saúde nas Escolas, Guias de Tecnologias, Censo Escolar, Mais Educação, Coleção Educadores e Inclusão Digital. O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) foi aprovado em dezembro de 2006, em substituição ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), cujo prazo de vigência estaria esgotado ao final deste ano (2010). Como se pode ver, pela própria denominação, o atual Fundo amplia o raio de ação em relação ao anterior, estendendo-se para toda a educação básica. Para isso, a participação dos Estados e Municípios na composição do Fundo foi elevada de 15 para 20%, do montante de 31 25% da arrecadação de impostos obrigatoriamente destinados, por determinação constitucional, para a manutenção e desenvolvimento do ensino, assegurando-se a complementação da União. Gostaríamos de fazer aqui algumas considerações referentes ao financiamento enquanto mecanismo de gestão democrática. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) foi criado pelo MEC a partir de estudos elaborados pelo INEP para avaliar o nível de aprendizagem dos educandos. Tomando como parâmetros o rendimento dos educandos (pontuação em exames padronizados obtida no final das 4ª e 8ª séries do ensino fundamental e 3ª do ensino médio) nas disciplinas Língua Portuguesa e Matemática e os indicadores de fluxo (taxas de promoção, repetência e evasão escolar), construiu-se uma escala de 0 a 10. Aplicado esse instrumento aos educandos em 2005, chegouse ao índice médio de 3,8. À luz dessa constatação, foram estabelecidas metas progressivas de melhoria desse índice, prevendo-se atingir, em 2022, a média de 6,0, índice obtido pelos países da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que ficaram entre os 20 com maior desenvolvimento educacional do mundo. O ano de 2022 foi definido não apenas em razão da progressividade das metas, mas em vista do caráter simbólico representado pela comemoração dos 200 anos da Independência política do Brasil. Pelo programa Piso do Magistério propõe-se elevar gradativamente o salário dos professores da educação básica até atingir, em 2010, o piso de R$ 850,00 para uma jornada de 40 horas semanais. No que se refere à formação docente, o PDE pretende oferecer, por meio da Universidade Aberta do Brasil (UAB), cursos de formação inicial e continuada de docentes da educação básica, esperando atingir aproximadamente dois milhões de professores. Com o programa Saúde nas Escolas pretende-se, com a colaboração do Ministério da Saúde e das equipes do Programa Saúde da Família – PSF, assegurar atendimento básico a estudantes e professores no interior das próprias escolas. A ação Guia das Tecnologias Educacionais busca qualificar propostas de melhoria dos 32 métodos e práticas de ensino pelo recurso e técnicas, aparatos, ferramentas e utensílios tecnológicos. O Educacenso é um sistema de coleta de dados que pretende efetuar levantamento de dados pela Internet, abrangendo, de forma individualizada, cada estudante, professor, turma e escola do país, tanto das redes públicas (federal, estaduais e municipais) quanto da rede privada. O programa Mais Educação propõese a ampliar o tempo de permanência dos educandos nas escolas, o que implica também na ampliação do espaço escolar para a realização de atividades artísticas, culturais, esportivas e de lazer, contando com o apoio dos ministérios da Educação, Cultura, Esporte e Desenvolvimento Social. Pela ação Coleção Educadores pretende-se tornar disponíveis nas escolas e bibliotecas públicas uma coleção de 60 volumes, reunindo autores clássicos da educação, sendo 30 de educadores brasileiros e 30 de estrangeiros. Por meio do programa Inclusão Digital, o MEC planeja distribuir computadores às escolas de educação básica, começando pela etapa do ensino médio, que terá cobertura total em 2007, e estendendo-se a todas as escolas de ensino fundamental até 2010. 3.2 – INFRAESTRUTURA A diversidade e o grande número de metas previstas no PDE voltadas para as melhorias estruturais das instituições escolares expressam as desigualdades existentes entre as escolas do país, frente as condições de aprendizagem. Ao contemplar ações que vão desde a instalação de luz elétrica em todas as escolas até a implementação da alfabetização digital, o Plano reflete a distorção ainda existente em nosso país em relação às condições das escolas e da educação ainda oferecida. As ações de apoio ao desenvolvimento da educação básica estão representadas pelos seguintes programas: "Transporte Escolar", que visa garantir às crianças, adolescentes e jovens do meio rural o acesso às escolas. Luz para Todos, por sua vez, propõe adotar todas as escolas rurais de energia elétrica. Apesar do grande volume de recursos destinados ao aprimoramento e expansão da infraestrutura escolar, no âmbito da educação básica, ainda 33 encontramos um imenso contraste nas condições das escolas e salas de aula do país, além da falta de recursos básicos como água e luz elétrica. Situações como essas ficam evidentes nas afirmações de Vieira quando ela nos afirma que: Boa parte da infra-estrutura da rede escolar é precária. A rede de atendimento e mal distribuída, representando pesado ônus para o poder público em custos de transporte escolar. Ainda temos escolas de uma só sala, sem serviços básicos como água e ate mesmo banheiros. (VIEIRA, 2007, p.2) Se as dificuldades são grandes no país como um todo, imaginem nas regiões mais distintas e nos estados com dimensões maiores. Diante dos desafios da gestão educacional para enfrentar esses problemas num contexto de escassez de recursos é válido destacar que o acesso à educação não tem sentido sem garantias à permanência do educando na escola; além disso, cabe fortalecer a gestão municipal para que essa possa direcionar bem os recursos e materiais destinados à melhoria da educação, ou seja, além do auxilio do governo é mais que necessário equalizar a educação nacional e pensá-la focando as suas especificidades. 3.3 - FINACIAMENTO Ainda no âmbito da educação básica, há ações que incidem sobre determinado nível de ensino. Assim, a ação Proinfância é dirigida especificamente à educação infantil, visando garantir o financiamento para a construção, ampliação e melhoria de creches e pré-escolas. No que se refere ao ensino fundamental, foram previstas três ações: uma delas é a Provinha Brasil destinada a avaliar o desempenho em leitura das crianças de 6 a 8 anos de idade, tendo como objetivo verificar se os educandos da rede pública estão conseguindo chegar aos 8 anos efetivamente alfabetizados; a segunda é o Programa Dinheiro Direto nas Escolas (PDDE), que concederá, a título de incentivo, um acréscimo de 50% de recursos financeiros às escolas que cumprirem as metas do IDEB; e a terceira é o Gosto de Ler, que pretende, por meio da Olimpíada Brasileira da Língua Portuguesa, estimular o gosto pela leitura nos educandos do ensino fundamental. Outro fator importante é 34 que o PIB - Produto Interno Bruto passa de 3,5 % para 5% até 2011 em investimento na educação básica, através do FUNDEB devendo ser mantido pelos 11 anos seguintes. É oportuno destacar que através do PDE está previsto um atendimento prioritário aos municípios com IDEB baixo, porém a liberação desses recursos é condicionada à elaboração de um diagnóstico das dificuldades, juntamente com um plano de gestão e metas para mudar os indicadores educacionais com prazos para alcançar as metas e previsão dos recursos necessários. É evidente que o governo continua insistindo no pressuposto de que as escolas necessitam de diagnósticos para encontrar soluções, como se os problemas já não fossem conhecidos por gestores, secretários e pelo próprio governo, por meio de programas e planos como o PNE, e o próprio PDE. Enquanto isso, como afirma Rut (2008, p.10) “acumula-se “diagnósticos” que servem mais para cumprir burocraticamente a condição estipulada para o recebimento de recursos financeiros do poder público do que para orientar as ações e encontrar as saídas”. O importante é fiscalizar a chegada desses recursos até o seu destino e que sejam empregados na melhoria da educação: que as escolas com indicadores baixos tenham um apoio técnico para que possam realmente intervir nos setores mais deficitários e ainda mais que gestores, secretários e governo trabalhem em conjunto e buscando promover mudanças reais e efetivas para a vida do educando. O ensino médio foi contemplado com uma ação, Biblioteca na Escola, que pretende colocar nas bibliotecas das escolas obras literárias e universalizar a distribuição de livros didáticos, contemplando as sete disciplinas que integram o currículo do ensino médio. Registre-se que essa ação também se propõe, no âmbito do Programa Nacional Biblioteca da Escola, a distribuir livros de literatura para as escolas de educação infantil; e, no âmbito do Programa Nacional do Livro Didático para a Alfabetização de Jovens e Adultos, a distribuição de livros didáticos para os educandos dos cursos de alfabetização de jovens e adultos desenvolvidos pelo Programa Brasil Alfabetizado. 35 No que se refere à educação superior, o Plano inscreve cinco ações: FIESPROUNI, que pretende facilitar o acesso ao crédito educativo e estender o prazo de ressarcimento, além de permitir o parcelamento de débitos fiscais e previdenciários às instituições que aderirem ao PROUNI. O programa Pós-doutorado é destinado a reter, no país, pessoal qualificado em nível de doutorado, evitando a chamada "fuga de cérebros". Já o Professor Equivalente visa facilitar a contratação de professores para as universidades federais: consta ainda o Educação Superior, cuja meta é duplicar, em dez anos, o número de vagas nas universidades federais; e o Programa Incluir: Acessibilidade na Educação Superior, que visa adequar as instalações para a mobilidade de pessoas deficientes em todos os espaços e atividades das instituições federais de ensino superior. Além dos níveis de ensino houve, também, modalidades de ensino que foram contempladas com ações do PDE. A modalidade Educação de Jovens e Adultos ( EJA) conta com o programa Brasil Alfabetizado. Criado em 2003, esse Programa foi reformulado no contexto do PDE, prevendo que no mínimo 70% dos alfabetizadores sejam constituídos por professores da rede pública, que trabalhariam num turno distinto daquele em que realiza sua atividade regular como docente. Para a modalidade Educação Especial, foram dirigidas três ações: a) salas de recursos multifuncionais equipadas com televisão, computadores, DVDs e materiais didáticos destinados ao atendimento especializado aos educandos deficientes; b) Olhar Brasil, um programa desenvolvido conjuntamente pelos ministérios da Educação e da Saúde para identificar os educandos com problemas de visão e distribuir óculos gratuitamente; c) Programa de Acompanhamento e Monitoramento do Acesso e Permanência na Escola das Pessoas com Deficiências Beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social, dirigido prioritariamente à faixa etária de 0 a 18 anos. A modalidade Educação Tecnológica e Formação Profissional também foi contemplada com três iniciativas: a) a ação educação profissional propõe-se a reorganizar a rede federal de escolas técnicas, integrando-as nos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFET), triplicar o número de vagas pela via da Educação à Distância (EAD) nas escolas públicas estaduais e municipais e articular 36 o ensino profissional com o ensino médio regular; b) a ação de novos concursos públicos foi autorizada pelo Ministério do Planejamento, prevendo, além de um concurso para admitir 191 especialistas no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, um outro concurso destinado a preencher 2.100 vagas nas instituições federais de educação profissional e tecnológica; c) a ação cidades-pólo prevê a abertura de 150 escolas federais, elevando para 350 o número de unidades da rede federal de educação tecnológica, com 200 mil novas matrículas até 2010. Finalmente, a ação Estágio, que deve ser implementada mediante aprovação de projeto de Lei nº 11.788 de 25 de setembro de 2008, encaminhado ao Congresso Nacional, caracteriza o estágio como atividade educativa supervisionada e estabelece as regras de funcionamento que garantam aos estudantes do ensino superior, ensino profissional e ensino médio a preparação metodológica para o trabalho. Podemos dizer hoje que, no âmbito educacional, o PDE é o eixo norteador de todos os demais programas setoriais existentes no país e em qualquer nível de ensino. Isso o configura no lugar da política educacional como o elemento mais importante no momento. Ao articular Estados e Municípios com a União, o PDE busca uma equalização da política educacional para que suas metas sejam cumpridas e para poder traçar um panorama do seu próprio desenvolvimento. Infelizmente, toda ação governamental está sujeita a algumas críticas e com o PDE não será diferente. As metas estabelecidas pelo governo são bem condizentes com a realidade da educação, porém ela nos permite algumas ressalvas, primeiro porque a participação dos municípios ao Plano não é obrigatória o que deixa uma brecha enorme, pois se os municípios não aderirem os Plano do MEC, todo o programa poderá ficar prejudicado. Outra questão está relacionada aos resultados, pois estes só virão se houver uma administração eficiente dos recursos, clareza na definição das metas e um monitoramento do MEC. Porém, isso precisa ser discutido dentro da política educacional levando-se em conta a autonomia dos sistemas e a gestão democrática. 37 Outra ressalva é quanto à criação das creches, que precisam ser vistas, efetivamente como Instituições de Educação; ressaltamos também que a questão da qualificação dos professores e o desempenho escolar dos educandos merecem mais atenção porque os currículos desses cursos de qualificação devem ser bem definidos, para garantir o objetivo primordial do Plano que é aprendizagem da criança. Já o desempenho escolar dos educandos deve levar em consideração um elemento de fundamental importância que é a infraestrutura das escolas que ainda é precária e onde há muito a fazer em todo o país. Ressalto, porém que o Plano de Desenvolvimento da Educação está bem elaborado e possui elementos fundamentais para garantir uma educação pública de qualidade, além de possuir efetivamente subsídios básicos para o desenvolvimento das políticas públicas do governo. Além de priorizar a educação básica tem sua avaliação realizada por meio da Provinha Brasil, no sentido de observar os avanços na alfabetização; apoiará prioritariamente as redes e os municípios com maiores dificuldades, além de trabalhar dois pontos fundamentais: a importância da educação e do professor. A educação como mobilização social, pela via democrática e revolucionária pela qual pode melhorar a vida das pessoas e a sociedade. Garantir que os cidadãos tornem-se sujeitos políticos e que mesmo com conhecimentos e culturas diferentes possam agir e ocupar coletivamente espaços onde podem efetivamente intervir na construção de melhores condições de vida. Já o professor deve ser visto como elemento fundamental na construção de uma sociedade melhor; ele é o elo mediador entre o educando e o conhecimento. Seu papel tem grande relevância para que tanto as metas do PDE como qualquer outro objetivo proposto para a melhoria da educação seja atingido. Por fim, reforço, que as políticas públicas do Governo Lula, para a educação devem ser vistas como processo ou conjunto de processos que culminam na escolha de prioridades que têm o objetivo de implementação de metas concretas o que levará a resultados desejados. E, finalmente estas metas expressam interesses coletivos, desejados pela sociedade que almeja uma participação democrática. 38 4 - A AVALIAÇÃO COMO MECANISMO DE GESTÃO Neste capitulo estão presentes algumas reflexões sobre a abordagem dada a problemática da avaliação. Buscou-se evidenciar quais os principais elementos utilizados no processo avaliativo e qual a sua intencionalidade. A intenção é compreender como a avaliação está sendo pensada tanto pelo MEC como pelas escolas e seus respectivos sistemas de ensino tendo em vista como os dados apresentados estão sendo analisados e utilizados para uma melhoria do ensino nacional. 4.1 - RERÊRENCIAS CONCEITUAIS Ao longo dos anos, os indicadores educacionais são analisados e metas são traçadas para minimizar o fracasso escolar e para que o país possa promover uma educação de qualidade. Tem-se evidenciado cada dia mais a questão da avaliação. O PDE concentrou grande parte da eficácia e verificação dos resultados atingidos na avaliação dos programas, o que permite pensar que o interesse principal não seria apenas a melhoria da qualidade da educação nacional, mas também uma qualificação significativa nos rankings internacionais. Como bem afirma Zákia (1995, p.45) “a avaliação não é um processo meramente técnico; implica uma postura política e inclui valores e princípios, refletindo uma concepção de educação, escola e sociedade”. Neste sentido, é preciso que a avaliação seja vista e entendida como um processo emancipador, que busca transpor as ideologias e visa, através dos resultados, auxiliar os objetivos propostos nos programas educacionais para que estes possam melhor intervir e mudar a realidade social das escolas brasileiras. É cada vez maior a utilização e interferência dos instrumentos de avaliação para a mudança da realidade educacional do país. De fato, em alguns anos o Brasil tem apresentado bons indicadores em certos setores da educação. Porém, a avaliação não deve ser vista como instrumento de promoção e controle ou de forma quantitativa. A importância da avaliação é de acompanhamento do desempenho dos 39 educandos (ou de unidades escolares, ou de redes de ensino, ou de sistemas) para a correção dos rumos da política educacional, apoiando as intervenções a serem feitas e no sentido de que o governo saiba em que área intervir, quais os recursos que devem ser destinados com responsabilidade democraticamente. Avaliar é um processo amplo e complexo, por isso é necessário uma distinção e especificidade dos elementos que são considerados num processo de avaliação. Segundo Libâneo (2008) três elementos são fundamentais neste processo. Ele considera que: A avaliação supõe uma coleta de dados e informações, por meio de diferentes instrumentos de verificação, para saber se os objetivos previstos estão sendo atingidos. Os juízos de valor (ou valoração) referem-se a uma apreciação valorativa sobre o evento, atividade ou pessoa, como conclusão do processo avaliativo. A quantificação, ou menção qualitativa, refere-se à utilização de alguma forma ou medida a partir de critérios explicitados previamente. (LIBÃNEO, 2008, p.237) Esses elementos são essenciais para servir de base à nossa abordem acerca de uma avaliação democrática, emancipadora e que busca promover uma educação de qualidade. Ou seja, se a finalidade maior dos processos avaliativos do governo não for a busca por uma melhor qualidade na oferta da educação, onde a aprendizagem dos educandos tenha como objetivo construir e ampliar seus conhecimentos cognitivos, culturais e garantam a sua promoção social, de nada adiantará termos uma gestão democrática, onde a escolha dos gestores seja feita com a participação da comunidade, onde novos equipamentos e recursos sejam garantidos sem que os objetivos com o ensino não sejam atingidos, continuaremos com taxas elevadas de analfabetismo e baixo rendimento escolar. Para tanto, devemos compreender que além dos elementos essenciais que envolvem a avaliação devemos distinguir que a avaliação processa-se em diferentes âmbitos institucionais nos quais é mais global; da aprendizagem que verifica o rendimento do aluno; dos sistemas de ensino que tem por objetivo traçar um 40 diagnóstico situacional e amplo sobre o sistema escolar nacional. Estes dados irão nortear as políticas educacionais que serão desenvolvidas para todo o país. Na avaliação do educando, realizada pelo professor, avalia-se a aprendizagem deste aluno, seu processo de construção do conhecimento dentro e fora da sala de aula e ai está embutida a avaliação do próprio professor. Tais processos avaliativos estão intrinsecamente interligados e são fundamentais para a produção de informações e dados sobre a aprendizagem escolar, possibilitando um acompanhamento e revisão das políticas desenvolvidas e dos objetivos elaborados além de serem indicadores da qualidade da educação. É cada vez mais evidente o uso de instrumentos de avaliação para mudar a realidade educacional do país. No entanto, num sentido mais amplo, a avaliação é um processo humano que se desenrola cotidianamente, envolvendo ações diárias do indivíduo através de reflexões, questionamentos e das suas próprias ações. Os rumos que o governo dará à educação, serão definidos a partir destes dados, os quais revelam a eficiência e eficácia dos seus programas, porém é necessário certo cuidado para que a avaliação não passe a ser um critério que defina e determine os objetivos e finalidades do governo em função dos seus interesses deixando assim de serem os objetivos que determinem as formas de avaliação. Outra questão que vale ressaltar é a interferência internacional na definição das políticas educacionais do país, o que é cada vez mais forte. Existe força internacional que investe na educação com propósito econômico e para isso exige-se metas, dados e resultados rápidos. É preciso transpor esse conceito de avaliação pela busca de resultados e pensar na avaliação como algo mais abrangente onde os seus processos avaliativos estejam comprometidos com a formação amancipadora do sujeito, para que esta seja mais justa, responsável e democrática. A avaliação democrática e emancipadora envolve o monitoramento de aspectos que vão além da cultura de dados e resultados. Essa avaliação compreende aspectos estruturais, técnicos, e humanos. Dessa maneira, a avaliação passa a ser um dos pontos fundamentais na busca de uma educação de qualidade. 41 É pensando nesse modelo que avaliaremos, agora, os principais instrumentos de avaliação do governo com um enfoque mais acentuado em dois: o Ideb e o Saeb. 4.2 - INSTRUMENTOS DO PDE No Brasil, a avaliação nacional do sistema de ensino é realizada pelo MEC, por meio do Inep. Dentre as ferramentas avaliativas do MEC destacam-se o Enem, que avalia o desempenho dos alunos do ensino médio em todo o país, a Provinha Brasil avalia o processo de ensino aprendizagem dos educandos no segundo ano do ensino fundamental considerando seu desempenho em relação às disciplinas de língua portuguesa e matemática. A intenção é oferecer aos professores e gestores escolares um instrumento que permita acompanhar, avaliar e melhorar a qualidade da alfabetização e do letramento inicial oferecidos às crianças. Já a Prova Brasil e o Saeb buscam, no seu processo de larga escala, identificar a qualidade do ensino oferecido pelo sistema educacional brasileiro a partir de testes padronizados e questionários socioeconômicos que produz informações a respeito da realidade educacional por regiões brasileiras. Nos testes aplicados na quarta e oitava séries (quinto e nono anos) do ensino fundamental e na terceira série do ensino médio, os estudantes respondem a itens (questões) de língua portuguesa, com foco em leitura; e matemática, com foco na resolução de problemas. No questionário socioeconômico, os estudantes fornecem informações sobre fatores de contexto que podem estar associados ao desempenho. As médias de desempenho nessas avaliações também subsidiam o cálculo do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), ao lado das taxas de aprovação nessas esferas juntamente com o Censo Escolar realizado pelo Inep, que coleta dados e informações da educação básica, educação especial e de jovens e adultos (EJA). O Censo coleta dados referentes a matrículas, funções docentes, movimento e rendimento escolar. Esses dados além de traçar um panorama nacional da educação básica são determinantes para a formulação de políticas públicas e execução de programas que possibilitam o repasse de recursos públicos 42 como merenda e transporte escolar, distribuição de livros e uniformes, Programa Dinheiro Direto na Escola e Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). Principal elemento de avaliação do PDE, o Ideb combina os resultados da Prova Brasil com os resultados obtidos pelo Censo Escolar aprovação, movimento abandono escolar dos alunos do ensino fundamental e médio. Estes indicadores servem de referência para as metas do PDE. Dessa forma a maioria das ações do governo passar a ser determinada por um único índice que concentra as demais formas avaliativas do MEC para a educação e o Ideb apresentado passa a ser determinante para elaboração e fixação de metas de desenvolvimento de médio e longo prazo para todas as instâncias. Assim o PDE: (...) promove profunda alteração na avaliação da educação básica. Estabelece, inclusive, inéditas conexões entre avaliação, financiamento e gestão, que invocam conceitos até agora ausente do nosso sistema educacional: a responsabilização e, como decorrência, a mobilização social.(BRASIL, 2007, p.19) Contudo é preciso cautela para não termos ai o que Saviani (2007, p. 31) chama de “pedagogia de resultados”. Todas as ferramentas e formas de avaliação, os avanços e a novas formas de pensar a avaliação propostas pelo PDE, devem estar a serviço da melhoria da educação oferecida. Ou seja, a intenção maior de obter dados, resultados e diagnósticos é avaliar se os objetivos postos nos programas estão sendo cumpridos, se dão conta de resolver as desigualdades regionais existentes entres as escolas do país, se os recursos estão sendo aplicados com responsabilidade, professores e gestores estão ampliando sua formação e principalmente se tudo isso está promovendo a aprendizagem dos educandos. Para dar o resultado do Ideb, é realizada uma combinação entre os dados de evasão e repetência coletados pelo Censo Escolar e a aprendizagem apresentada pelos educandos na Prova Brasil. Após verificar esses dois elementos que avalia a 43 educação básica o governo tem um panorama geral de como está a Educação Básica. As instituições que apresentarem grande taxa de evasão e repetência e tiverem notas baixas na Prova Brasil, que verifica a aprendizagem dos conteúdos de língua portuguesa e matemática terão os menores Ideb e o mesmo acontece com as que apresentam os melhores resultados. Com base nesses dados o governo mede a qualidade da educação nacional e traça os objetivos e metas para que as instituições escolares que tenham apresentado um Ideb ruim ou abaixo da média possam melhorar. O Ideb pretende com isso, (...) identificar as redes e as escolas públicas mais frágeis a partir de critérios objetivos e obriga a união a dar respostas imediatas para os casos mais dramáticos ao organizar o repasse de transferências voluntarias com base em critérios substantivos, em substituição ao repasse com base em critérios subjetivos. (BRASIL, 2007, p. 23). Porém, vale ressaltar que as intervenções e reformas, assim como os recursos a serem investidos, não devem induzir à competitividade. O objetivo maior das avaliações realizadas dos sistemas de ensino é garantir uma educação de qualidade e não apenas de resultados, pois os problemas são bem diagnosticados e conhecidos e o que se deseja agora é que as ferramentas avaliativas disponíveis ofereçam condições necessárias para que efetivas mudanças realmente aconteçam na educação, sejam elas estruturais, financeiras ou gestoras. Não podemos deixar que a busca por uma educação de qualidade recaia sobre os resultados. É preciso ver que a avaliação, como elemento que fornece informações que servem para padrões de desempenho, possa melhorar no rendimento escolar, permita o monitoramento das escolas, melhorias nas formas de gestão, currículo, projetos pedagógicos e demais elementos que possam influenciar na oferta de uma educação democrática, emancipadora e de qualidade. O objetivo da avaliação dos sistemas educacionais, como vimos, vai além de registrar e apresentar dados; o seu intuito maior está na melhoria da qualidade da educação. Por isso a sua importância para o governo ao qual cabe ver estes 44 resultados pelo prisma da autoavaliação dos seus programas, pois aponta o que deve ser repensado ao passo que possibilita avançar onde está dando certo. Avaliar está intimamente ligado à qualidade como veremos logo adiante. Então, é preciso ver a avaliação como um conjunto que se articula com a gestão e o projeto pedagógico da escola, com a comunidade, que desdobra-se no currículo e autonomia escolar, servindo de base a estratégias para que todas as escolas, indistintamente de que sua região seja mais ou menos favorecida, tenha os instrumentos e mecanismos suficientes para garantir uma aprendizagem que garanta ao educando a construção e ampliação do seu conhecimento, além de uma formação crítica e emancipadora que lhe possibilite ler e pensar o mundo. 4.3 - AVALIAÇÃO E QUALIDADE Durante toda a pesquisa nos remetemos ao termo qualidade, no entanto, a que qualidade nos referimos quando se trata de educação? Em todo texto sinalizamos que os programas de governo pretendem, com seus objetivos e metas, oferecer uma educação de qualidade. Em sentido mais abrangente, qualidade escolar refere-se tanto ao grau de excelência baseado numa escala de valor quanto aos atributos de uma organização ou serviço. É grande também o número de definições e elementos para definir a qualidade dentro da educação. Entendendo a educação como um fenômeno da ação política e social, Libâneo define que: Educação de qualidade é aquela que promove para todos o domínio de conhecimentos e o desenvolvimento de capacidades cognitivas, operativas e socais dos alunos, à inserção no mundo do trabalho, à constituição da cidadania, tendo em vista a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.( LIBÂNEO, 2008, p.66.) Nesse sentido uma educação de qualidade é aquela que visa ampliar as capacidades humanas do sujeito. Entre as modalidades de qualidade dentro da educação merece destaque a de Demo (1999). Segundo ele, a qualidade no campo 45 educativo distingue-se em qualidade formal e qualidade política. A qualidade formal refere-se ao nível de perfeição dos instrumentos e meios para se chegar ao conhecimento, a maneira como a prática acontece, como a criança aprende e os elementos que a escola dispõe para este fim. Já a qualidade política diz respeito aos fins, valores e intencionalidades do conhecimento, ou seja, como estes irão intervir na realidade pensando o bem comum. Indo mais além, Demo diz que qualidade: Não é dos meios, mas dos fins. Não é de forma, mas de substancias. Na verdade parte-se do ponto de vista de que somente o homem produz qualidade. Ou de que a qualidade é uma conquista humana, em sua história, em sua cultura. (DEMO, 1999, p.12) Segundo o PDE, sua preocupação maior é atacar o problema qualitativo da educação básica e para isso seus programas propõem-se a atingir o objetivo da melhoria da qualidade da educação através do apoio técnico e financeiro as escolas com deficiências, formação de professores, junto com a avaliação construída a partir dos indicadores apresentados pelas instituições de ensino, onde estão expressos os rendimentos dos educandos. Cumpre, todavia, pensar que, tanto os resultados como os elementos e processos que determinam os critérios e as estratégias de intervenção do governo, através dos seus programas para a garantia da qualidade, deve considerar a singularidade de cada escola, de cada região, além de não interferir na sua autonomia. É necessário considerar neste processo de avaliação a busca da qualidade como os educandos estão aprendendo, quais os recursos que estão sendo utilizados para promover sua aprendizagem e se estes educandos estão sendo capazes de pensar sobre o que aprendem, de intervir na sociedade e se estão sendo cidadãos mais críticos, humanos e sociais. Pensando assim, concluímos que uma educação que pensa e deseja ser de qualidade deve promover e assegurar uma formação sólida, que desenvolva processos de formação para a cidadania e para o respeito e esteja comprometida 46 com a elevação do nível de escolaridade dos seus educandos, através da construção do conhecimento, autonomia, integração cultural e tecnológica. Além de dispor das condições físicas e matérias para o funcionamento do trabalho. Cabe, portanto, aos estados e municípios garantir, incentivar e criar meios para que a educação de fato aconteça. É mais que necessário e urgente pensar um ensino de qualidade para todos, visando o pleno desenvolvimento do educando e garantido as ferramentas essências, sejam elas financeiras ou operacionais para que o seu desenvolvimento seja integral. As considerações anteriores mostram que a avaliação não é o elemento mais importante no processo de uma educação de qualidade e esta afirmativa nos permite alertar que a forma e os instrumentos que o governo utiliza para considerar se a educação está sendo ou não de qualidade depende de resultados, de dados que não consideram a educação como um todo nem suas variadas formas de avaliação como um processo que depende de outros fatores. Desse modo, estes indicadores ainda são insuficientes para medir a qualidade da educação, pois por mais que sejam bons não consideram todos os componentes de uma educação de qualidade os quais não podem ser medidos. É necessário alertar que para aferir a qualidade da educação é preciso considerar as dimensões cognitivas, afetivas, e morais, além disso, esse processo dispõe das condições materiais e humanas, remuneração digna dos profissionais e sua ampla formação. Além do que, medir o desempenho dos aducandos por meio de exames e provas não da conta de garantir a aprendizagem já que esta vai além do cognitivo, perpassa também dimensões afetivas, ética, cultural e social. 47 5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS Durante a pesquisa pode-se perceber que o PDE representa um passo importante no enfrentamento do problema da qualidade da educação. É um avanço do Plano apresentar metas especificas para essa questão, além de construir instrumentos de intervenção. Outro avanço do Plano é a receptividade em relação à opinião pública referente à promoção de uma educação de qualidade. Contudo outras considerações precisam ser feitas em relação ao grande investimento com a preocupação com os resultados. O PDE configura um plano de caráter global que traça um panorama situacional da educação do país, porém é necessário entender que os investimentos e melhorias não podem estar atrelados apenas a resultados. Isso implica que os municípios com baixos rendimentos não podem utilizar-se de dados antigos como os que têm bom desempenho não podem manipular os dados em função do repasse das verbas. Então isso deixa claro, que não há uma amarração condizente do Plano que dê conta de garantir que a preocupação com a melhoria, promoção e busca de uma educação de qualidade, democrática que visa dar os subsídios necessários para que haja uma aprendizagem com responsabilidade, significativa e emancipadora será atingida. Outra questão importante diz respeito ao Plano não considerar o grande diagnóstico e importante metas contidas no PNE já que o próprio PDE não se configura um Plano propriamente dito e sim um programa de metas e objetivos a serem atingidos. Primeiramente, todo programa ou plano de governo tem uma perspectiva política e com o PDE não é diferente. Sua implementação ocorreu em um ano de mudança de governo e como sempre acontece cada grupo apresenta suas propostas e planos para os diversos setores de desenvolvimento da sociedade (saúde, esporte, economia) e com a educação não foi diferente tanto que tínhamos um Plano Nacional de Educação e este foi substituído pelo PDE. 48 Mas independente da perspectiva política ou partidária a educação e os demais bens sociais devem ser providos pelo governo. Percebemos então, que, mesmo substituindo e não agregando metas do PNE, o PDE, com as falhas que aqui já foram apresentadas, tem objetivos e metas que podem dar um salto de qualidade na educação brasileira. É preciso reconhecer que, no que diz respeito ao aspecto financeiro e infraestutural o PDE representa grande avanço. Contudo, para êxito e garantia de que seu objetivo principal seja cumprido, e não se perca, é preciso que estes investimentos e a grande intervenção avaliativa não ganhem mais visibilidade e importância do que as ações empreendidas e as repercussões disso no cotidiano da escola. Outra consideração importante deve ser feita com relação às significativas mudanças propostas para a educação básica principalmente no que diz respeito ao problema da qualidade. Três dos seus principais programas têm a melhoria da educação básica como principal objetivo. E para isso o PDE apresentou o Ideb para mediar e avaliar os resultados dos investimentos e recursos destinados a este nível de ensino, a Provinha Brasil que acompanha o desempenho da aprendizagem dos educandos e o Piso Magistério que se preocupa em capacitar e ampliar a formação dos professores para que as mudanças aconteçam nas salas de aula efetivamente e os objetivos sejam alcançados e tenhamos uma educação de qualidade. É evidente que ainda há muito a ser feito, mas este é um processo longo que requer seriedade e envolvimento de todos para que os programas sejam aplicados e os educandos comecem a mostrar, na prática, agindo socialmente e interagindo no mundo que estão tendo uma educação justa, responsável e socialmente emancipadora. Em suma, concluímos que ainda há muito a ser feito para que haja realmente uma mudança significativa na educação brasileira e isso vai além da destinação de recursos. É preciso pensar a educação com uma política social que implica mudanças em todos os âmbitos da sociedade. Precisamos tratar a educação com seriedade e para isso, devemos sair do discurso e passar à prática, à vontade política de mudar. Os investimentos apresentados pelo PDE só terão real eficácia se 49 considerar que ainda temos escolas e professores em condições mínimas de trabalho, em pleno século XXI, o que é inadmissível. Urge transformar as escolas em um lugar estimulante, com professores formados em cursos sérios e de longa duração, com salários justos e que faça jus ao papel social deste profissional. Escolas onde as crianças possam permanecer em tempo integral e o país consiga acabar o problema do fracasso escolar. Ainda no âmbito da educação verificamos que promover uma educação de qualidade envolve assegurar as escolas e aos gestores um projeto pedagógico condizente com as necessidades locais de cada região, seriamente pensado para a melhoria da aprendizagem e isso implica considerar a singularidade local, a cultura e as condições de trabalho. Finalmente, nessas condições o país poderá oferecer uma educação responsável, democrática e condizente com as suas principais diretrizes e teremos realmente uma educação de qualidade, garantindo o acesso dos educandos a cultura, os conhecimentos socialmente construídos e sistematizados além. 50 REFERÊNCIAS ATARDE, Jornal. Caderno 1, Salvador, 27 de abril, 2007. p: 4 SOUSA, Clarilza Prado (org.) Avaliação do rendimento escolar. 4ª Ed – Campinas, SP: Papirus, 1995. (coleção Magistério: formação e trabalho pedagógico) BRANDÃO, CARLOS RODRIGUES. O que é educação. São Paulo. Editora Brasiliense, 1996. BRASIL. Ministério da Educação. - MEC. Plano Nacional de Educação. Brasília, 2000. Disponível em: < http://www.mec.gov.br/pne. Acesso permanente __________________________ Lei de Diretrizes e Bases da educação Nacional. Brasília, 1996. Disponível em <http://www.mec.gov.br/ldb. Acesso em 15/06/2010. ___________________________. Plano de Desenvolvimento da Educação. Brasília, 2007. Disponível em < http://www.mec.gov.br/pde. Acesso permanente. DAGNINO, Evelina. (org.) Sociedade civil e espaços públicos o Brasil. São Paulo: Paz e Terra, 2002. DEMO, Pedro. Educação e qualidade. 6 ed. Editora Papirus, são Paulo, 1994. ___________. Avaliação qualitativa. 6 ed. Campinas, SP: Autores Associados, 1999. (coleção polemicas do nosso tempo) FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa. 2 ed. Rio de Janeiro Editora Nova Fronteira, , 1986.p: 860, 1358, 1424 FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996 FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direitos Administrativos. 8 ed. Editora Lúmen Júris.Rio de Janeiro, 2001.p:246-248. GADOTTI, Moacir. Pensamento Pedagógico Brasileiro. 5 ed. São Paulo.Ática 1994, GENTILI, Pablo e MCCOWAN, Tristan. Reinventar a escola pública. Política educacional para um novo Brasil. Petrópolis, Vozes, 2003. _____________ (org.) Pedagogia da exclusão: O neoliberalismo e a crise da escola pública/ Michel W. Aplle... [et al.]. Petrópolis, RJ: vozes, 1995. (coleção estudos culturais em educação) 51 LIBÂNEO, José Carlos. Pedagogia e Pedagogos Para Quê? São Paulo: Editora Cortez, 2002. ____________________. Organização e gestão da escola: teoria e prática/ 5 ed. Revista e ampliada. Goiânia; MF livros, 2008. Krawczyk, Nora Rut. O PDE: novo modo de regulação estatal? Cadernos de Pesquisa. v. 38, n. 135. São Paulo: Setembro/ dezembro. 2008. Disponível em < http://www.scielo.com.br. Acesso em 12/05/2010. SAVIANI, Dermeval. Da nova LDB ao Plano Nacional de Educação: por uma outra política educacional. 4 ed. Campinas, SP:Autores Associados, 2002 ________________O Plano de Desenvolvimento da Educação: análise do projeto do MEC. Educação e Sociedade. V. 28, n. 100, Campinas outubro de 2007. Disponível em < http://www.scielo.com.br. Acesso em 29/04/2010 SAUL, A. M. Avaliação emancipatória: desafio à teoria e a prática de avaliação e reformulação de currículo. São Paulo: Cortez, 1995. VIEIRA, Sofia Lerche. Gestão, avaliação e sucesso escolar: recortes da trajetória cearense. Estudos avançados. V. 21, n 60. São Paulo, maio/ agosto de 2007. . Disponível em < http://www.scielo.com.br. Acesso em 28/04/10 VALENTE, Arnoldo. Governo empreendedor e estado-rede na gestão pública brasileira. IN. Gestão Pública. Salvador. FLEM, 2001. p: 87 ZÁKIA, Sandra. Revisando a teoria da avaliação da aprendizagem. In: SOUSA, Clarilza Prado (org.) Avaliação do rendimento escolar. 4ª Ed – Campinas, SP: Papirus, 1995. (coleção Magistério: formação e trabalho pedagógico) Entrevista com Fernando Haddad. Fundação Victor Civita. Ed. Abril. Maio 2007. p: 20- 44. WWW.mec.gov.br. Consulta constante. WWW.scielo.com.br. Consulta constante Consultas DEMO, Pedro. Dialética da felicidade: felicidade possível, volume III- Petrópolis. RJ: vozes, 2001 FREIRE, Paulo. A educação na cidade. Prefacio de Moacir Gadotti e Carlos Alberto Torres; notas de Vicente Chel. – 7 ed. – São Paulo: Cortez, 2006.
Download