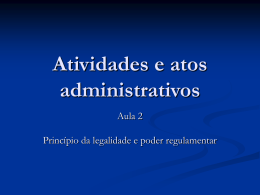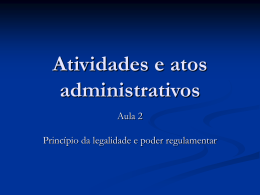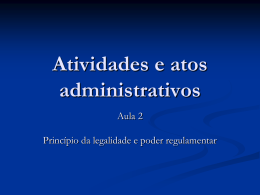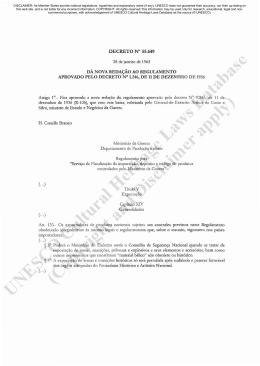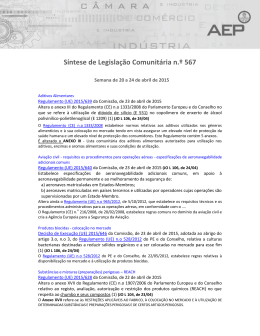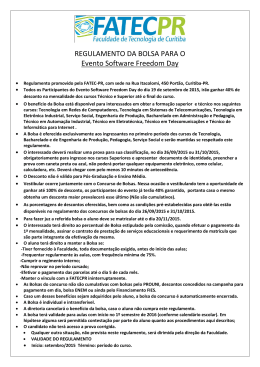1 ANA TERESA RIBEIRO DA SILVEIRA A COMPETÊNCIA REGULAMENTAR NO DIREITO BRASILEIRO MESTRADO EM DIREITO Dissertação apresentada à Banca Examinadora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, como exigência parcial para obtenção do título de MESTRE em Direito Administrativo, sob a orientação do Prof. Doutor Márcio Cammarosano. PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO SÃO PAULO / 2006 2 BANCA EXAMINADORA 3 Agradeço ao Professor Doutor Márcio Cammarosano pelo permanente incentivo na elaboração deste trabalho, ao Professor Msc. Marcelino Leal Barroso de Carvalho e à Professora Doutora Teresinha de Jesus Mesquita Queiroz pela colaboração na sua revisão metodológica. 4 RESUMO O objetivo deste trabalho é identificar o tratamento jurídico conferido pelo Direito positivo brasileiro ao instituto da competência regulamentar, tratando de seus aspectos fundamentais. Essa abordagem se justifica na medida em que a atividade normativa do Poder Executivo, sempre presente em nosso sistema jurídico, toma relevo com o crescimento do papel de agente fiscalizador e regulador das atividades dos particulares, por vezes exercido pelo Estado além de seus limites legais e constitucionais. O estudo estrutura-se em cinco partes. Metodologicamente, a primeira parte do trabalho destina-se a fornecer os referenciais teóricos que acompanharão o desenvolvimento do estudo. Na segunda e na terceira parte, procura-se estabelecer, através da observação da evolução histórica e da interpretação do sistema de Direito positivo, a conformação dada pelos princípios da separação de poderes e da legalidade à atividade administrativa. Na quarta parte, encontra-se a análise da configuração atual do instituto, com base em construções doutrinárias e interpretação de textos constitucionais e jurisprudenciais. Na parte final, aborda-se o tema da atividade normativa das agências reguladoras com fundamento em constatações obtidas no decorrer do trabalho. O resultado do estudo é a verificação de que o regulamento é ato administrativo geral e abstrato, expedido sob a forma de decreto, com referenda ministerial, pelo chefe do Poder Executivo, no exercício típico de função administrativa, não podendo criar direitos ou obrigações não previstas em lei, sob pena de se violarem os princípios da legalidade e da separação de poderes, em razão do que só se pode falar em regulamentos executivos no Direito brasileiro; limitação aplicada igualmente ao produto da atividade normativa realizada pelas agências reguladoras. 5 ABSTRACT The objective of this work is to identify the juridical treatment conferred by the Brazilian positive law to the institute of regulative competence, studying its fundamental aspects. This analysis is justified because the normative activity of the Executive Power, always present in our juridical system, becomes greater with the growth of the State capacity to control and regulate the private activities. This work is structured around five parts. The first part presents the theoretical propositions to the development of the whole study. The second and the third parts try to determine the influence of the powers’ separation principle and the legality principle in the administrative activity, by studying the historical evolution and the interpretation of the positive law system. The fourth part discourses about the current configuration of the regulative competence, based on its doctrine and the interpretation of the constitutional and jurisprudential texts. Finishing, it analysis the theme of the normative activity of the regulatory agencies. This work concludes that the regulation is a general and abstract administrative act, issued in the form of decree, with ministerial approval, by the leader of the Executive Power, playing a typical exercise of an administrative role. The Brazilian positive law only allows the figure of an executive regulation, without creating new rights or duties that don’t have legal prevision, in order to not break the principles of powers’ separation and legality; limitation equally applied to the normative activity of the regulatory agencies. 6 SUMÁRIO 1 INTRODUÇÃO ...................................................................................................................08 2 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS ..........................................................................................11 3 A SEPARAÇÃO DE PODERES E A FUNÇÃO ADMINISTRATIVA .........................21 3.1 A separação de poderes em Montesquieu.......................................................................23 3.2 Críticas à teoria da separação de poderes ......................................................................25 3.3 A separação de poderes no ordenamento jurídico brasileiro .......................................31 3.4 A caracterização das três funções do Estado..................................................................33 4 O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.....................42 4.1 A lei como expressão da vontade geral ...........................................................................43 4.2 A crise da supremacia da lei ............................................................................................46 4.3 Princípio da legalidade e reserva de lei...........................................................................50 4.4 A legalidade administrativa .............................................................................................54 4.4.1 A forma de submissão da Administração Pública à lei....................................................57 4.4.2 A ampliação da legalidade administrativa .......................................................................59 4.4.3 Discricionariedade e legalidade administrativa ...............................................................65 4.5 Exceções ao princípio da legalidade ................................................................................68 5 A COMPETÊNCIA REGULAMENTAR .........................................................................71 5.1 Diferenças entre o regulamento e o ato administrativo em sentido estrito .................73 5.2 Diferenças entre o regulamento e outros atos administrativos gerais e abstratos......78 5.3 Diferenças entre o regulamento e a lei ............................................................................80 5.4 Natureza da competência regulamentar.........................................................................85 5.5 Fundamento político da competência regulamentar .....................................................87 5.6 Fundamento jurídico da competência regulamentar ....................................................89 5.7 Espécies de regulamento...................................................................................................92 5.7.1 Regulamentos delegados..................................................................................................92 5.7.2 Regulamentos independentes...........................................................................................98 5.7.2.1 Corrente favorável aos regulamentos independentes.................................................100 5.7.2.2 Corrente desfavorável aos regulamentos independentes ...........................................102 5.7.2.3 Crítica .........................................................................................................................104 5.7.3 Regulamentos executivos...............................................................................................112 5.8 Leis passíveis de regulamentação ..................................................................................118 5.9 Relação entre o regulamento e a lei dependente de regulamentação ........................121 5.10 Limites da competência regulamentar........................................................................125 5.10.1 Limites formais ............................................................................................................125 5.10.2 Limites materiais..........................................................................................................127 5.11 Controle da competência regulamentar......................................................................129 5.11.1 Controle administrativo ...............................................................................................130 5.11.2 Controle legislativo......................................................................................................133 5.11.3 Controle judicial...........................................................................................................134 5.11.3.1 Controle da constitucionalidade...............................................................................135 5.11.3.2 Mandado de segurança.............................................................................................136 7 5.11.3.3 Ação popular.............................................................................................................138 5.11.3.4 Controle da omissão .................................................................................................139 6 A ATIVIDADE NORMATIVA DAS AGÊNCIAS REGULADORAS .........................143 6.1 A origem das agências reguladoras...............................................................................143 6.2 Os tipos de agências reguladoras e suas atribuições....................................................145 6.3 As características comuns às agências reguladoras.....................................................149 6.4 A natureza e os limites da atividade normativa das agências reguladoras ...............153 7 CONCLUSÕES ..................................................................................................................157 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS................................................................................164 8 1 INTRODUÇÃO Desde as primeiras cartas constitucionais, a concessão de competência regulamentar mais ou menos ampla ao Poder Executivo se fez presente. O que, no entanto, não a torna tema esgotado entre nós. Ao contrário, trata-se de assunto atual, pois à medida que cresce o rol de atribuições do Poder Executivo, o regulamento ganha relevo como instrumento de sua atuação administrativa. Num contexto de privatizações, de desestatizações, de incremento do papel do Estado como agente fiscalizador e regulador das atividades dos particulares, cuja atividade normativa se amplia e se intensifica a cada dia, o estudo da competência regulamentar adquire importância. O regulamento é um dos atos gerais e abstratos que podem ser produzidos pelo Poder Executivo, a exemplo das medidas provisórias, das leis delegadas, das instruções, das portarias. As regras jurídicas que veiculam integram o ordenamento, incidindo sobre a conduta do agente público e do particular. Tal como todas as grandes questões do Direito administrativo, a discussão acerca da competência regulamentar leva, inevitavelmente, ao problema da proteção da liberdade do indivíduo frente às prerrogativas de autoridade. De um lado, multiplicam-se as tarefas do Poder Executivo e a necessidade de dar agilidade e eficiência às suas ações; por outro, é imperiosa a observância da legalidade e da tripartição dos poderes, albergadas pela Constituição Federal com o fim derradeiro de proteger os direitos individuais dos administrados. A história do regulamento, na sua prática, demonstra a tendência do Poder Executivo em exercer a competência regulamentar para além dos limites constitucionais, em detrimento 9 da liberdade do indivíduo, e, há tempos, proclamam-se os referidos princípios como meios de defesa do indivíduo contra os excessos dos detentores do poder. Trata-se de fundamentos primordiais do nosso Estado democrático de direito, que informam todo o Direito positivo, sua interpretação e aplicação. Pretendemos constatar como se delineia a competência regulamentar diante do conteúdo constitucionalmente conferido, em especial, aos princípios da legalidade, da separação de poderes, da igualdade e da isonomia. Objetivamos identificar o regime jurídico da competência regulamentar à luz do Direito positivo brasileiro e cotejá-lo com a atividade normativa realizada pelas agências reguladoras. Em síntese, almejamos analisar a competência regulamentar através de uma adequada interpretação dos dispositivos legais e constitucionais a ela pertinentes, a fim de caracterizá-la juridicamente, ou seja, à luz do Direito positivo vigente. Para tanto, entendemos ser necessário primeiramente nos posicionarmos acerca do Direito, da ciência do Direito e das funções de cada qual, assim como sobre os princípios jurídicos, em especial, os princípios constitucionais, dada sua relação como o tema proposto. São esses os aspectos tratados no primeiro capítulo deste trabalho, que apresenta os pressupostos teóricos para o seu desenvolvimento. Em seguida, abordamos o tema da separação de poderes, iniciando pelo reconhecimento da sua origem e da sua evolução histórica, passando pela identificação de seu conteúdo perante o ordenamento jurídico pátrio atual e culminando com a caracterização jurídica das três funções estatais, salientando-se a função administrativa. Logo após, refletimos sobre o significado do princípio da legalidade e da reserva de lei, acerca das conseqüências de sua incidência sobre a Administração Pública, finalizando com a enumeração das hipóteses apontadas pela doutrina como exceções ao princípio da legalidade. 10 Passamos, então, ao tema da competência regulamentar. Distinguimos o regulamento de figuras afins e procuramos traçar o regime jurídico da competência regulamentar, identificando: sua natureza jurídica, seus fundamentos, seus limites, as modalidades de controle, as espécies de regulamento e sua relação com as leis dependentes de regulamentação. No final, apresentamos sucintamente a figura das agências reguladoras, sua origem, tipos, atribuições e características, para, então, concluirmos sobre a natureza e os limites de sua atividade normativa. O tema em debate é de inegável atualidade e relevância, e suscita dificuldades que nos instigam a uma tentativa de sistematização e análise crítica, a fim de procurarmos oferecer uma pequena contribuição ao seu melhor esclarecimento. 11 2 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS Na linguagem jurídica, o termo Direito apresenta-se de forma equívoca, podendo expressar um conjunto de normas, uma ciência, um fato histórico-social ou a própria idéia de justiça. Por esta razão, fixaremos de antemão o sentido em que tomamos tal expressão, a fim mesmo de fundamentar a exposição que se inicia. Para tal intento, socorremo-nos das lições de Miguel Reale, para o qual, genericamente, “o direito corresponde à exigência essencial e indeclinável de uma convivência ordenada, pois nenhuma sociedade poderia subsistir sem um mínimo de ordem, de direção e solidariedade”.1 O Direito visa a ordenar as relações dos indivíduos entre si, entre estes e o Estado, e as relações desenvolvidas no âmbito interno da estrutura estatal, tudo isso, a fim de possibilitar uma convivência ordenada e harmoniosa. O Direito procura, portanto, além de atingir um determinado ideal de justiça2, garantir segurança aos indivíduos, no sentido de dar-lhes certeza sobre suas possiblidades de ação em sociedade e sobre as conseqüências de cada conduta.3 Para assegurar a consecução desse mister, as normas jurídicas atuam como instrumentos de organização, direção e controle dos comportamentos humanos. 1 REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. 24. ed. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 2. Segundo Miguel Reale (1999, p. 377), a justiça é a condição de possibilidade de todos os valores jurídicos, é o valor fundante do Direito ao longo do processo histórico e cada época histórica possui sua idéia de justiça. 3 Cf. MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 113. Ao abordar o tema da segurança jurídica, Celso Antônio Bandeira de Mello assevera que “é sabido e ressabido que a ordem jurídica corresponde a um quadro normativo proposto precisamente para que as pessoas possam se orientar, sabendo, pois, de antemão, o que devem ou o que podem fazer, tendo em vista as ulteriores conseqüências imputáveis a seus atos”. Para o referido autor, “o Direito propõe-se a ensejar uma certa estabilidade, um mínimo de certeza na regência da vida social”, pois a segurança é uma aspiração permanente do homem, na medida em que, somente sobre algo estável, é possível vislumbrar com alguma previsibilidade o futuro. 2 12 Entretanto, para Miguel Reale, o Direito não se resume em um conjunto de normas. Na fórmula de Miguel Reale, o Direito é uma realidade trivalente, é sempre fato, valor e norma. Segundo sua teoria tridimensional: onde quer que haja um fenômeno jurídico, há, sempre e necessariamente, um fato subjacente; um valor que confere determinada significação a esse fato, inclinando ou determinando a ação dos homens no sentido de atingir ou preservar certa finalidade ou objetivo; e, finalmente, uma regra ou norma que representa a relação ou medida que integra um daqueles elementos ao 4 outro, o fato ao valor. Esses três elementos coexistem, na experiência jurídica, numa unidade concreta, exigem-se reciprocamente, atuando como elos de um processo, de forma que o Direito é o produto da sua interação dinâmica e dialética. A norma representa o momento culminante de um processo, inseparável dos fatos que o originam e dos valores que são sua razão de ser. Da integração de fato e valor surge, portanto, a norma. Nas palavras de Miguel Reale: cada norma ou conjunto de normas representa, em dado momento histórico e em função de dadas circunstâncias, a compreensão operacional compatível com a incidência de certos valores sobre os fatos múltiplos que condicionam a formação dos modelos jurídicos e a sua aplicação.5 As diferentes acepções que a expressão Direito acolhe são um reflexo desta sua natureza tridimensional. Sendo sempre fato, valor e norma, o que pode variar é o prisma sob o qual se pretende apreciar o Direito. Enquanto o sociólogo tem por alvo o Direito como fato social e o filósofo pretende perquirir os valores do Direito, o jurista toma para si a norma e procura entendê-la, interpretá-la e aplicá-la. Assim, a ciência do Direito preocupa-se fundamentalmente com um dos três aspectos da realidade trivalente da experiência jurídica, sem olvidar a permanente interação existente entre todos estes fatores. A ciência do Direito estuda o Direito como conjunto de normas. Para nós, é a ciência de um Direito positivo, pois tem por objeto o fenômeno jurídico positivado no tempo e no 4 5 REALE, 1999, p. 65. REALE, Miguel. Teoria tridimensional do direito. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 1993, p. 74. 13 espaço, ou seja, é uma forma de conhecimento das normas objetivadas no decurso do processo histórico. Por isso, a ciência do Direito é considerada uma ciência dogmática, porque se desenvolve a partir de normas vigentes, tem como ponto de partida inafastável o Direito positivo. Na lição do eminente Tércio Sampaio Ferraz Júnior: a ciência dogmática do direito costuma encarar seu objeto, o direito posto e dado previamente, como conjunto compacto de normas, instituições e decisões que lhe compete sistematizar, interpretar e direcionar, tendo em vista uma tarefa prática de solução de possíveis conflitos que ocorram socialmente.6 A praticidade que conduz a pesquisa do jurista também é ressaltada por Miguel Reale, para o qual, “toda pesquisa jurídica tem um duplo momento: o momento compreensivo, da descoberta de relações constantes ou de princípios, tipos e leis; e o momento normativo, que implica um modelo de atividade ou de conduta a ser seguido”.7 A pesquisa jurídica visa sempre ao problema da aplicação do Direito para a solução de conflitos; esta é a principal tarefa da ciência dogmática do Direito. Destacando o elemento normativo da estrutura tridimensional, a ciência do Direito tende a ver o ordenamento jurídico como um conjunto sistemático de normas. Habitualmente, os doutrinadores fazem referência ao Direito como um sistema de normas jurídicas. É preciso, então, saber o que se entende por sistema. De acordo com os ensinamentos de Maria Helena Diniz, sucintamente, sistema é um modo de ordenar logicamente a realidade que, em si, não é sistemática. Um sistema compõese de repertório e de estrutura. Repertório é uma reunião de elementos, que se relacionam entre si, conforme certas regras; as quais, por sua vez, formam a estrutura do sistema e conferem-lhe coesão. Para a autora, o Direito, portanto, não é um sistema, mas uma realidade estudada sistematicamente pela ciência do Direito, com o objetivo de facilitar seu 6 7 FERRAZ Jr., Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 82. REALE, 1999, p. 325. 14 conhecimento e seu manejo pelos indivíduos. Nesses termos, o sistema normativo seria o resultado de uma operação lógica realizada pelo jurista, que procura estabelecer um nexo lógico entre as normas jurídicas, de modo a dar-lhes uma unidade de sentido.8 Tércio Sampaio Ferraz Júnior, igualmente, aponta o sistema como uma forma técnica de conceber o ordenamento jurídico, que é um dado social. Segundo o doutrinador, a ciência do Direito capta o ordenamento jurídico de forma sistemática, para atender às exigências da decidibilidade dos conflitos, pois a noção de sistema permite traçar contornos precisos para o ordenamento jurídico, contribuindo para a verificação da pertinência ou não de uma norma ao mesmo.9 Consoante Geraldo Ataliba, por exigência universal e primeira da ciência do Direito, o Direito positivo assume uma feição sistemática, é um conjunto uno, coeso e harmônico de disposições normativas. Nas suas palavras: é um conjunto harmonioso de disposições coordenadas entre si, hierarquicamente dispostas, sistematicamente organizadas, de forma a erigir uma unidade estruturada em torno de alguns princípios básicos, informadas por uma coerência interna que coordena e solidariza cada qual de suas partes.10 A ciência do Direito aplica a noção de sistema a um conjunto de normas jurídicas de forma pragmática, visto que se trata de conceito operacionalmente útil ao seu propósito derradeiro de solução de conflitos. A ciência do Direito procura sistematizar a realidade jurídica, tendo em seu horizonte sempre o problema da aplicação do Direito. Nesse passo, portanto, o Direito é concebido como um sistema unitário e coeso; em outras palavras, como um conjunto homogêneo de normas jurídicas relacionadas entre si de forma coerente. 8 DINIZ, Maria Helena. As lacunas no direito. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 25-26. FERRAZ JUNIOR, 2003, p. 178. 10 ATALIBA, Geraldo. Estudos e pareceres de direito tributário. São Paulo: Revista dos tribunais, 1978, v. 2, p. 240. Cf. VILANOVA, Lourival. As estruturas lógicas e o sistema do direito positivo. São Paulo: Revista dos tribunais, 1977, p. 112-113. Sobre o tema, Lourival Vilanova assume posição peculiar: para o mestre, tanto a ciência do Direito, quanto o Direito positivo, tendem a assumir a forma de sistema. A primeira é sistema cognoscitivo, descritivo, sistema de conhecimento sobre o sistema do Direito positivo, ou seja, um sistema sobre outro sistema, um meta-sistema. O último é sistema prescritivo, composto de proposições cujos conteúdos são normativos, objeto de outro sistema, ou seja, um sistema-objeto. Na lição do professor, ser sistema é característica de totalidades formadas de proposições, e a ciência do Direito e o Direito positivo são constituídos de linguagem manifestada na forma de proposições, num caso, descritivas, no outro, prescritivas. 9 15 Porém, apesar de compreender o Direito de forma unitária, a ciência do Direito identifica um grupo de normas jurídicas que se destacam das demais, merecendo tratamento especial. São as normas constitucionais. Na trilha do tridimensionalismo, José Afonso da Silva afirma: certos modos de agir em sociedade transformam-se em condutas humanas valoradas historicamente e constituem-se em fundamentos do existir comunitário, formando os elementos constitucionais do grupo social, que o constituinte intui e revela como preceitos normativos fundamentais: a Constituição.11 A Constituição não é pura norma, desligada da vida social e vazia de conteúdo valorativo. Como qualquer outro fenômeno jurídico, a Constituição apresenta-se como fato, valor e norma; ocorre que se trata da norma inicial e básica do ordenamento jurídico, na qual todas as demais normas jurídicas encontram seu fundamento de validade. Consoante Miguel Reale, o ordenamento jurídico é constituído de múltiplos complexos normativos entre si correlacionados, faixas normativas correspondentes a distintos aspectos da realidade social. Entre estes, o complexo normativo constitucional põe-se como círculo envolvente dos demais, pois traça o âmbito de validade das demais normas, distribuindo originariamente as esferas de competência.12 As normas constitucionais, portanto, possuem um status diferenciado. O fato de formar originariamente o ordenamento jurídico as coloca em posição de superioridade em relação às demais normas jurídicas. Nesse sentido, a Constituição situa-se no ápice do sistema jurídico positivo.13 Celso Ribeiro Bastos e Carlos Ayres Britto abordam, em preciosa obra, na qual nos baseamos, a peculiar fisionomia das normas constitucionais. Segundo sua doutrina, da inicialidade das normas constitucionais decorre que as normas infraconstitucionais devem ser 11 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p..39. REALE, 1999, p. 195. 13 Ao abordar este tema, tomamos como pressuposto uma Constituição rígida e escrita, tal como a Constituição brasileira de 1988, e entendemos como normas constitucionais todas aquelas inscritas numa Constituição rígida, adotando, portanto, um conceito formal de Constituição e de normas constitucionais. 12 16 interpretadas a partir da Constituição e não o contrário. Em outros termos, a interpretação das normas constitucionais não pode valer-se de critérios e parâmetros que não estejam em si mesmas consubstanciados, pois a Constituição é anterior e superior ao Direito comum, não se beneficiando dos conceitos extraídos deste último. 14 Quanto ao seu conteúdo, as normas constitucionais são consideradas as normas fundamentais do Estado, na medida em que organizam e estruturam seus elementos essenciais: “a forma de Estado, a forma de Governo, o modo de aquisição e exercício do poder, o estabelecimento de seus órgãos, os limites da sua ação, os direitos fundamentais do homem e as respectivas garantias”.15 As normas constitucionais traduzem opções políticas diante de questões primordiais, quanto ao modo de ser do Estado e ao seu relacionamento com os indivíduos. Consoante as lições dos autores anteriormente citados, a Constituição absorve toda a ideologia que inspira os temas políticos por ela estatuídos, e isto repercute, inevitavelmente, no seu processo de interpretação. A carga ideológica que impregna as normas constitucionais exige do intérprete a consideração de elementos exteriores ao sistema normativo, a fim de captar o sentido social dos valores convertidos em bens jurídicos pela Constituição. Além disso, a fluidez de tais valores é, em certa medida, transferida para a norma posta, através do emprego de termos vagos e imprecisos, que são a própria fonte de atualização histórica da Constituição e o meio de proteção dos bens jurídicos nela substanciados.16 Estas são apenas algumas das características apontadas pelos eminentes professores; umas privativas das normas constitucionais, outras apenas nelas mais expressivas, que justificam a reserva de um tratamento hermenêutico diferenciado, no sentido de uma técnica especial de emprego dos tradicionais métodos lógico-sistemático, histórico e teleológico. 14 BASTOS, Celso Ribeiro, BRITTO, Carlos Ayres. Interpretação e aplicabilidade das normas constitucionais. São Paulo: Saraiva, 1982, p. 13-14. 15 SILVA, 2005, p. 38. 16 BASTOS; BRITTO, 1982, p. 16-17. 17 Reconhecidamente, a Constituição apresenta-se como um conjunto normativo diferenciado. Por sua vez, dentro do próprio sistema constitucional, é possível identificar dois grupos de normas que exercem funções distintas, embora todas se situem, igualmente, em posição de superioridade em relação às demais normas do ordenamento jurídico. Isso ocorre porque algumas normas constitucionais encerram verdadeiros princípios jurídicos.17 Segundo Carmen Lúcia Antunes da Rocha, a Constituição compõe-se de regras e outras normas de natureza e eficácia distintas, nas quais se contém os seus princípios.18 Geraldo Ataliba identifica no sistema jurídico preceitos providos de forças distintas, devendo o intérprete detectar aqueles que se sobrepõem aos outros, a fim de garantir uma adequada interpretação da normas jurídicas. A própria coerência interna do sistema jurídico impede que se considerem iguais todas as normas, ainda que do mesmo nível formal Assevera o autor que “dentre as normas que formam o sistema constitucional, normas há mais importantes que as outras; são as que formulam princípios”. Os princípios detêm prioridade e precedência sobre as simples normas.19 Entretanto, essa posição sobranceira das normas que encerram princípios sobre as demais não impede que, num mesmo plano formal, criem-se exceções aos princípios. Procurando fixar uma noção sobre os princípios, encontramos nos ensinamentos de Miguel Reale que “princípios são enunciados lógicos admitidos como condição ou base de validade das demais asserções que compõem dado campo do saber”. São as verdades fundantes de um sistema de conhecimento.20 Nas precisas palavras de Celso Antônio Bandeira de Mello: 17 Celso Ribeiro Bastos, José Joaquim Gomes Canotilho e Jorge Miranda consideram como espécies diversas de normas jurídicas os princípios e as regras, enquanto José Afonso da Silva critica tal distinção. Preferimos falar simplesmente em normas e princípios, entendidos estes como um tipo especial de norma jurídica. Cf. BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de direito constitucional. São Paulo: Celso Bastos, 2002, p. 75; CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional. 5. ed. Coimbra: Almedina, 1991, p. 173; MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional. 4. ed. Coimbra: Coimbra, 1997, t. 2, p. 230. 18 ROCHA, Carmen Lúcia Antunes da. Princípios constitucionais da administração pública. Belo Horizonte: Del Rey, 1994, p. 22. 19 ATALIBA, 1978, p. 148-149. 20 REALE, 1999, p. 305. 18 princípio é, por definição, mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas compondo-lhes o espírito e servindo de critério para sua exata compreensão e inteligência exatamente por definir a lógica e a racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere a tônica e lhe dá sentido harmônico. Desse conceito, decorre a incisiva afirmação de que violar um princípio é muito mais grave do que transgredir uma norma qualquer. 21 Os princípios jurídicos residem na base do Direito e orientam a compreensão de todo o sistema, contribuindo para sua coerência lógica e servindo como ponto de referência para o intérprete. Ao mesmo tempo que conferem coesão ao ordenamento jurídico, compondo sua estrutura, os princípios fazem parte dele, assim como as demais normas jurídicas. Os princípios jurídicos assumem simultaneamente a posição de critério interpretativo e de objeto de interpretação. Segundo o constitucionalista português José Joaquim Gomes Canotilho, além do papel de vetor interpretativo e de elemento de conexão do sistema, os princípios jurídicos exercem outras funções. Na medida em que expressam as idéias fundamentais do ordenamento, os princípios jurídicos atuam também como instrumentos de integração do ordenamento jurídico e servem ainda de base à elaboração de normas jurídicas.22 A esta múltipla interferência dos princípios jurídicos, nos planos interpretativo, integrativo e construtivo do ordenamento, Jorge Miranda acrescenta uma função prospectiva. Dada a maior abstração e indeterminação de seus conteúdos, os princípios jurídicos permitem mais facilmente a adaptação do Direito às modificações no campo fático e valorativo, principalmente, através do processo interpretativo. 23 No mesmo sentido, Carmen Lúcia Antunes da Rocha assevera que o fato das normas principiológicas não serem fixadas com significado unívoco e preciso permite a própria 21 MELLO, 2004, p. 841-842. CANOTILHO, 1991, p. 173-175. 23 MIRANDA, 1997, t. 2, p. 230. 22 19 evolução do Direito, a sua atualização através da determinação permanente e engajada de seu conteúdo quando da aplicação da norma.24 Os princípios jurídicos possuem a mesma natureza, as mesmas funções, porém nem todos possuem idêntico alcance, conforme irradiem seus efeitos sobre um campo mais amplo ou mais restrito do ordenamento jurídico. Celso Ribeiro Bastos assevera que “cada área do Direito não é senão a concretização de certo número de princípios, que constituem o seu núcleo central, já que possuem uma força que permeia todo o campo sob seu alcance”.25 Tudo o que dissemos sobre os princípios jurídicos aplica-se aos princípios constitucionais, talvez, até com maior intensidade, na medida em que estamos falando de normas, expressas ou implícitas, que atuam sobre o diploma fundamental do ordenamento jurídico. De acordo com Carmen Lúcia Antunes da Rocha, os princípios constitucionais são o ponto de partida e o ponto de chegada de todas as normas que fazem parte do Direito positivo, pois deles nascem e a eles se reportam em sua aplicação.26 Os princípios constitucionais indicam a essência e os parâmetros fundamentais do ordenamento jurídico. Em razão da sua especial natureza e função, assumem uma posição sobranceira diante de todas as demais normas jurídicas do sistema, inclusive as de nível constitucional, sem que isso impeça, como já salientamos, a existência de exceções a eles. Assim, merecem a atenção do intérprete na aplicação de qualquer norma jurídica que se lhe apresente. É preciso ainda salientar que os princípios constitucionais positivam-se como qualquer outra norma jurídica; são dotados de imperatividade, isto é, impõem sua observância ao Estado e a todos aqueles que se submetem à ordem jurídica. Assim, os princípios 24 ROCHA, 1994, p. 26 e 36. BASTOS, 2002, p. 82. 26 ROCHA, 1994, p. 30-31. 25 20 constitucionais não se direcionam apenas a outras normas jurídicas, mas também atuam, com a mesma autoridade, sobre comportamentos estatais e dos particulares.27 Destacada a importância dos princípios jurídicos, em especial, dos princípios constitucionais, para a conformação de todo o ordenamento aos valores e idéias fundamentais que dão sustentação ao próprio sistema jurídico, passamos à análise daqueles vetores constitucionais que estão mais intimamente ligados ao tema proposto por este trabalho. 27 Calham as palavras da professora Carmen Lúcia Antunes da Rocha (1994, p. 57): “Postos para serem determinantes de comportamentos públicos e privados, não são eles (os princípios constitucionais) arrolados como propostas ou sugestões: formam o Direito, veiculam-se por normas e prestam-se ao integral cumprimento. A inobservância vicia de mácula insanável o comportamento, pois significa a negativa dos efeitos a que se deve prestar. Quer-se dizer, os princípios constitucionais são positivados no sistema jurídico básico para produzir efeitos e devem produzi-los”. 21 3 A SEPARAÇÃO DE PODERES E A FUNÇÃO ADMINISTRATIVA O surgimento do Estado moderno é resultado do desenvolvimento de um tipo de organização que surgiu séculos atrás, com a superação das sociedades feudais. 28 Sua função histórica inicial foi possibilitar a reconstrução da unidade do Estado, perdida na Idade Média, através da concentração do poder nas mãos do Príncipe.29 No primeiro momento, o Estado moderno correspondeu ao Estado absoluto. O poder das monarquias, firmado inicialmente num direito divino, recebeu posterior fundamentação racionalista30, porém, em ambas as fases, a ação do Príncipe não encontrou limitações. Nesse contexto, insere-se o Estado de polícia. A segunda etapa do Estado moderno corresponde ao advento do Estado de direito. Movimentos econômicos, sociais e políticos, cujo ponto culminante e mais representativo foi a Revolução Francesa, conduziram à sua formação. O Estado de direito foi um instrumento da luta política da burguesia contra o Estado absolutista centralizador. Para a burguesia, interessava um Estado limitado, que não ofendesse os direitos e liberdades inalienáveis do indivíduo, nem interferisse na ordem social ou na economia, tendo sido o Direito escolhido como instrumento de limitação.31 Sobre esse novo Estado leciona Jorge Miranda: surge como Estado liberal, assente na idéia de liberdade e, em nome dela, empenhado em limitar o poder político tanto internamente (pela sua divisão) como externamente (pela redução ao mínimo de suas funções perante a sociedade).32 28 Cf. CLÈVE, Clèmerson Merlin. Atividade legislativa do poder executivo no estado contemporâneo e na constituição de 1988. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993, p. 17. 29 Cf. DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Discricionariedade administrativa na constituição de 1988. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2001, p. 17. 30 O poder do Príncipe foi fundamentado na idéia de soberania. Conforme lição de Clèmerson Merlin Clève (1993, p. 26), o conceito de soberania foi elaborado pelos juristas para corroborar com a concentração do poder nas mãos do Príncipe, o poder soberano legitimava a ação do Monarca e nenhum outro havia acima dele. 31 Cf. DI PIETRO, 2001, p. 21. 32 MIRANDA, 1997, t. 2, p. 85. 22 O Estado de direito nasceu como um conceito liberal, objetivando assegurar a liberdade dos indivíduos entre si e perante o Estado, mediante a organização e limitação do poder. O constitucionalismo moderno também propugnou a necessidade de conter o poder, a fim de garantir a liberdade do homem, através de um texto constitucional que estabelecesse normas jurídicas de organização, divisão, limitação e controle do poder político.33 O Estado constitucional ou de direito é usualmente reconhecido como aquele no qual todos, inclusive o próprio Estado, subordinam-se ao Direito. Entretanto, o conceito de Estado de direito não se realiza completamente no princípio da legalidade. O Estado de direito possui como elementos estruturantes fundamentais, além daquele princípio, a separação de poderes e a declaração dos direitos e garantias individuais. Esses foram os instrumentos consagrados pela doutrina liberal, inseridos na Constituição, para a derrocada do absolutismo e a proteção do homem perante o poder do Estado. Apesar de o Estado de direito atual adotar uma feição social, e não mais liberal, na lição de José Afonso da Silva, aqueles elementos estruturantes “continuam a ser postulados básicos do Estado de direito, que configura uma grande conquista da civilização liberal”.34 A idéia do Estado de direito prende-se, portanto, à doutrina da separação de poderes e à submissão de todos ao império da lei, na medida em que ambas trazem consigo um núcleo comum de conservação da liberdade. Somente a partir do Estado de direito é possível falar em Administração Pública, seja como um conjunto de orgãos, seja como uma atividade especializada do Estado. Isso porque, no Estado absoluto, todas as ações partiam do Monarca e nele se concentravam, sem qualquer distinção. O mesmo ocorre quanto ao Direito administrativo, pois, antes da submissão do Estado à ordem jurídica, não havia Direito a regular a atividade estatal. E como o Direito 33 34 Cf. BASTOS, 2002, p. 152. SILVA, 2005, p. 113. 23 administrativo é aquele que regula, fundamentalmente, as relações entre a Administração Pública e os cidadãos, bem como o funcionamento da organização administrativa, obviamente, só pode ser concebido a partir do momento em que há a vinculação do comportamento da Administração a um conjunto de normas jurídicas.35 Nesse sentido, a Administração Pública e o Direito administrativo só podem ser adequadamente estudados e compreendidos, se tivermos em conta sua origem e sua inserção num Estado de direito. Passamos, então, a analisar a separação de poderes, um dos pilares do Estado constitucional, observando, em especial, sua interferência sobre a esfera administrativa. 3.1 A separação de poderes em Montesquieu Desde a Antigüidade, o homem interessava-se pelo estudo do poder e das relações de poder. Aristóteles já havia identificado certas categorias de atividade estatal que podiam ser agrupadas em razão de traços de uniformidade, fixando, desde então, a existência de 3 funções principais.36 O pensador grego já propunha “formas de governo que ambicionavam alcançar o equilíbrio político com a limitação do poder”.37A preocupação com o poder, conseqüentemente, não pertence ao mundo moderno. Há muito tempo a doutrina vem repetindo a divisão tricotômica das funções do Estado: legislativa, executiva e judicial. Entretanto, reconhecidamente, é a Montesquieu que se atribui a formulação da teoria da separação de poderes, posteriormente consagrada pelos sistemas jurídicos de inúmeros 35 Cf. MELLO, 2004, p. 40. Cf. BASTOS, 2002, p. 557. 37 Cf. CLÈVE, 1993, p. 20. 36 24 Estados modernos. Isso porque o escritor francês acrescentou àquela simples separação de funções uma contribuição pessoal, transformando sua teoria num símbolo da liberdade e da luta pela limitação do poder do Estado.38 Montesquieu inovou ao afirmar que cada uma das funções do Estado deveria corresponder a um órgão próprio, que a desempenharia de forma autônoma e independente. Ou seja, agregou à divisão de funções uma divisão orgânica. Consoante Celso Ribeiro Bastos, “ao determinar que à separação funcional estivesse subjacente uma separação orgânica, Montesquieu concebia sua teoria da separação dos poderes como técnica posta a seviço da contenção do poder pelo próprio poder”. Ainda na esteira do ilustre constitucionalista, “a idéia de um sistema de freios e contrapesos, onde cada órgão exerça as suas competências e também controle o outro, é que garantiu o sucesso da teoria de Monstesquieu”.39 O pensador francês sustenta, em conhecido trecho de sua obra “De l’esprit des lois”, que todo titular do poder tende a abusar deste, sendo necessário que se lhe imponham limites, em nome da liberdade; e assevera que a única forma de deter o poder é com o próprio poder, objetivo possível de ser alcançado mediante a disposição das coisas. O referido autor pretendia atingir uma forma moderada de governo, que só exitiria quando não se abusasse do poder .40 A solução encontrada pelo Barão de La Brède foi atribuir cada função estatal a um órgão independente, de forma que cada qual é responsável pela sua própria função, sem poder interferir na atuação dos outros, ao mesmo tempo que todos fiscalizam e exercem controle sobre a obediência a este arranjo do poder no contexto do Estado. 38 Cf. BONAVIDES, Paulo. Do Estado liberal ao Estado social. São Paulo: Saraiva, 1961, p. 36. BASTOS, 2002, p. 250 e 561. 40 MONTESQUIEU. De l’esprit des lois. Paris: Ernest Flammarion, [19-?], t. 1, p. 168-169. Nas palavras de Montesquieu: “La liberté politique ne se trouve que dans les gouvernements modérés. Mais elle n’est pas toujours dans les états moderés: elle n’y est que lorsqu’on n’abuse pas du pouvoir; mais c’est une experiénce éternelle, que tout homme qui a du pouvouir est porté à en abuser; il va jusqu’à ce qu’il trouve des limites. Qui le dirait? La vertu même a besoin de limites. Pour qu’on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir”. 39 25 Segundo Francis-Paul Bénoit, o objetivo de Montesquieu foi criticar o Direito positivo de sua época; ele queria lutar contra a Monarquia absoluta e, para tanto, descreveu o que lhe pareceu ser o regime político ideal. Para o doutrinador, trata-se de uma obra política que propõe um modelo a ser seguido, refletindo soluções contingentes e ideológicas.41 A fórmula de contenção de poder pelo poder, que o filósofo francês propôs, serviu à consolidação do Estado de direito e à consagração do Estado liberal propugnado pela burguesia. Para Clèmerson Merlin Clève, sua doutrina foi uma técnica formulada ideológica e teoricamente, que ingressou no mundo jurídico reivindicada de maneira inequivocamente política.42 É inegável a importância da teoria da separação de poderes para a evolução do Estado moderno rumo à consagração dos direitos e liberdades do homem. Entretanto, tal fato não imunizou a doutrina de Montesquieu a críticas e à ação dinâmica da realidade social. 3.2 Críticas à teoria da separação de poderes Primeiramente, a própria expressão “separação de poderes” ou “divisão de poderes” não deve ser entendida como distribuição de poder do Estado a seus órgãos, pois o poder soberano é um só, é uno e indivisível, e pertence ao povo, nos Estados democráticos. Não há divisão do poder, o que existe é a atribuição das funções do Estado a órgãos ou conjunto de órgãos, aos quais se confere o nome de “Poderes”. Nesse sentido, Poder não se confunde com soberania, nem com função; trata-se de órgão ou conjunto de órgãos encarregado de exercer uma das funções do Estado. 41 42 BÉNOIT, Francis-Paul. Le droit administratif français. Paris: Dalloz, 1968, p. 33. CLÈVE, 1993, p. 25. 26 É preciso ter nítida a distinção entre poder, Poderes, funções e órgãos. Assim, afastase a crítica de que a teoria da separação de poderes fere o princípio da soberania feita por alguns doutrinadores. Segundo Dalmo de Abreu Dallari, “é normal e necessário que haja muitos órgãos exercendo o poder soberano do Estado, mas a unidade do poder não se quebra por tal circunstância”.43 No mesmo sentido, assevera Sampaio Dória que a separação de poderes não implica ser soberano cada Poder, nenhum deles é soberano, nenhum goza de poderes ilimitados, todos estão sujeitos à soberania nacional, que é única.44 A despeito da ressalva feita acima e da preferência de alguns doutrinadores pela adoção de expressões diversas de “separação” ou “divisão” de poderes, manteremos a sua utilização, pois há tempos já se consolidou na doutrina e mesmo nos textos constitucionais. Contanto que se compreenda adequadamente a expressão “separação de poderes”, não vemos problema no seu emprego. Sampáio Dória e Dalmo de Abreu Dallari salientam que enquanto se distribuem as funções para obter maior eficiência no seu desempenho; desconcentra-se o poder para melhor garantir a defesa da liberdade dos indivíduos.45 Montesquieu conjugou a divisão funcional a uma divisão orgânica. E se, inicialmente, o fez objetivando resguardar a liberdade dos indivíduos, com a adoção pelos textos constitucionais, sua teoria revelou-se também como valiosa técnica de organização para a eficiência do Estado.46 43 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do estado. 23. ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 216. DÓRIA, A. de Sampaio. Direito constitucional. 4. ed. São Paulo: Max limonad, 1958, t. 1, p. 284-285. 45 DORIA, 1958, t. 1, p. 272; DALLARI, 2002, p. 216. 46 Cf. CAVALCANTI, Themístocles Brandão. Teoria geral do estado. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1977, p. 291. 44 27 Outra crítica feita à visão do pensador francês é a de que a divisão absoluta das funções entre os Poderes é impraticável, e sempre houve, na realidade, uma interpenetração entre eles. Celso Ribeiro Bastos assevera: depois de introduzida com grande rigor pelas Revoluções americana e francesa, a separação rígida de poderes afigurou-se inviável na prática. Isto basicamente devido à necessidade de impedir que os poderes criados se tornassem tão independentes a ponto de se desgarrarem de uma vontade política central que deve informar toda a organização estatal.47 Entretanto, a verdade é que o próprio Montesquieu nunca pregou tal divisão estanque e radical das funções, o que, infelizmente, foi tentado durante os primeiros anos da Revolução Francesa.48 Paulo Bonavides sustenta: não só reconheceu Montesquieu a inevitabilidade de legítimas interferências recíprocas, como se capacitou da imperiosa necessidade de andarem os poderes de concerto, visto que seu repouso ou imobilidade, qual seria de desejar, é contrariado pelo movimento necessário das coisas.49 Segundo Manuel Gonçalves Ferreira Filho, a relatividade da separação vem claramente exposta na própria obra do pensador francês.50 Assim, parece-nos que a crítica deve dirigir-se não à teoria em si, mas aos seus intérpretes, ou melhor, ao apego dogmático destes à separação proposta pelo Barão de La Brède. Admiti-la como um dogma implica a defesa de uma divisão rígida das funções, totalmente incompatível com a realidade do Estado. Para Clèmerson Merlin Clève, a doutrina da separação de poderes foi vítima da dogmatização por obra dos juristas, porém, o direito positivo jamais impediu a ocorrência de 47 BASTOS, 2002, p. 562. Cf. BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de teoria do estado e ciência política. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 78. 49 BONAVIDES, Paulo. Teoria do estado. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 161. 50 FERREIRA FILHO, Manuel Gonçalves. Do processo legislativo. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 112. 48 28 importantes interferências de Poder para Poder, seja quanto à prática de atividades próprias de um pelo outro, seja quanto ao controle de um sobre o outro.51 A independência entre os Poderes não exclui a colaboração entre eles, nem implica a absoluta impossibilidade da prática de ato típico de um Poder por outro. A separação de poderes desenvolveu-se no sentido da cooperação e da integração entre os Poderes, evolução compatível com a ampliação da esfera de atuação estatal. Aquela divisão rígida, há tempos defendida por alguns, está superada, se é que algum dia realmente logrou êxito no seio dos textos constitucionais. O que há atualmente é um arranjo mais flexível das funções do Estado entre os Poderes e sua atuação conjunta na persecução das finalidades estatais. Além da fiscalização de um Poder sobre o outro, admitem-se hipóteses em que um Poder desempenha atividade típica do outro, para melhor desincumbir-se da sua missão, e ainda a colaboração de dois Poderes na prática de um único ato.52 Cada Poder exerce uma atividade em caráter preponderante, prevalente e outras a título excepcional, secundariamente; os órgãos exercem funções próprias, típicas e, paralelamente, funções atípicas, próprias de outros órgãos. Na lição de Carlos Ayres Britto, o exercício das três funções básicas no âmbito de cada Poder atua como fator de independência política de todos, “pois que, se assim não fosse, cada poder interferiria nos negócios internos dos demais, a pretexto de exercer sua função específica”.53 O relativismo da tripartição vem ao encontro do próprio equilíbrio de Poderes que ela exige. Diante de uma separação absoluta, os Poderes Judiciário e Legislativo, por exemplo, precisariam recorrer ao Poder Executivo para a realização de todas as atividades 51 CLÈVE, 1993, p. 32. Cf. BASTOS, 1995, p. 80; CAVALCANTI, 1977, p. 292. 53 BRITTO, Carlos Ayres. Separação dos poderes na constituição brasileira. Revista de Direito Público, São Paulo, v. 14, n. 59-60, p. 115-127, jul./dez. 1981. Cf. p. 122. 52 29 administrativas necessárias ao funcionamento e ao bom desempenho de seus próprios serviços. Isso sim, seria contrário à autonomia preconizada pela doutrina da separação. Uma última crítica à teoria da separação de poderes é feita contra sua aplicação no universo jurídico-político atual, tendo em vista que seu nascimento foi determinado por circunstâncias econômicas, políticas e sociais de uma dada época histórica. Como é sabido, a teoria da separação de poderes surgiu como elemento de superação do absolutismo, em favor da garantia dos direitos e liberdades fundamentais do homem. A referida doutrina consolidou-se como um conceito liberal, fortaleceu-se na medida em que contribuiu para a formação de um Estado de mínima intervenção. A tripartição é contemporânea ao estabelecimento do Estado liberal de direito. Ocorre que este Estado se transformou, assumiu outras tarefas e responsabilidades, passou a intervir com maior ênfase no domínio econômico e social, ampliando enormemente seu campo de atuação. O Estado contemporâneo adquiriu uma feição social, não mais liberal. Em razão das novas exigências impostas ao Estado, alguns doutrinadores sustentam a decadência, o declínio da separação de poderes; afirmam que não corresponde mais à realidade, devendo ser abandonada ou ter sua importância reduzida. Os críticos da teoria asseveram que a mudança do contexto do Estado exige uma redistribuição de papéis e o sistema da tripartição é inadequado para acompanhar esta evolução. Paulo Bonavides afirma que a teoria da divisão de poderes é um princípio decadente, “em virtude das contradições e da incompatibilidade em que se acha perante a dilatação dos fins reconhecidos ao Estado e da posição em que se deve colocar o Estado para proteger eficazmente a liberdade do indivíduo e sua personalidade”.54 Para Dalmo de Abreu Dallari, a evolução da sociedade criou exigências novas que requerem um maior dinamismo e a presença constante do Estado na vida social, fenômeno 54 BONAVIDES, 1961, p. 67. 30 incompatível com a tradicional separação de poderes. Segundo o autor, a ampliação da participação do Estado impôs a necessidade de uma legislação mais numerosa e técnica, para atender, muitas vezes, a situações graves e urgentes, que um processo legislativo, nos moldes da separação de poderes, não tem condições de atender.55 Por outro lado, os defensores da doutrina de Montesquieu acreditam que a separação de poderes se mantém como um dos pilares do Estado moderno, representando uma conquista civilizatória que permanece com força e pode ser acomodada a novas realidades. Para estes, as críticas podem ser contornadas com adaptação. Consoante lição de Carlos Ayres Britto, nos dias de hoje, regime constitucional é, sobretudo, técnica de repartição de competência entre órgãos independentes e declaração dos direitos e garantias fundamentais da pessoa humana, o que confirma o prestigío desfrutado pelo mecanismo da separação de poderes no direito constitucional contemporâneo. Para o autor, a separação de poderes continua funcionando como garantia de respeito aos direitos do homem.56 Nesse mesmo sentido, Clèmerson Merlin Clève sustenta que, enquanto princípio rígido, a separação de poderes não funciona mais; entretanto, como técnica de organização do poder para garantia das liberdades, ainda não se encontra superada. A separação de poderes, como mecanismo de contenção do poder, segundo o autor, é uma conquista civilizatória, tal qual a sujeição do Estado ao Direito e o respeito aos direitos individuais.57 Sobre a separação de poderes, Celso Ribeiro Bastos afirma: É lógico que ela terá de se adaptar às tremendas mutações do Estado moderno, mas o que se vislumbra no horizonte institucional é mais esse movimento de acomodação da teoria clássica a novas realidades do que o seu abandono ou a sua superação radical por um outro modelo consagrador de repartições profundamente diversas.58 55 DALLARI, 2002, p. 220-221. BRITTO, 1981, p. 120 e 126. 57 CLÈVE, 1993, p. 39 e 41-42. 58 BASTOS, 1995, p. 82. 56 31 Diante das duas correntes sucintamente apresentadas acima, preferimos uma posição mais otimista em relação à separação de poderes. Seus críticos a repudiam no espírito da sua aplicação pelo liberalismo, ou seja, rechaçam-na na medida da sua conservação como dogma, como uma rígida separação formal. Entendemos que essa interpretação rígida está ultrapassada. A tripartição de poderes está contida em nosso sistema constitucional de forma mais flexível, sem que isso implique a violação do seu núcleo de independência e harmonia, garantia da contenção do poder. A limitação do poder pelo poder parece-nos ser uma idéia ainda não superada; ao contrário, o evolver da história a confirma e demonstra sua relevância. Para atender às crescentes demandas sociais que recaem, principalmente, sobre o Poder Executivo, é necessário conferir-lhe possibilidades de ação. Porém, simultaneamente, é indispensável fortalecer os mecanismos de controle desta atuação, sob pena de se por em risco a separação de poderes e as garantias subjacentes. A denominada hipertrofia do Poder Executivo, ocorrida nos Estados contemporâneos, também pode ser observada entre nós. Todavia, esta realidade não pode significar o abandono da separação de poderes, que está consagrada constitucionalmente como princípio fundamental de nosso Estado democrático de direito. Descurá-la levaria à ruptura de todo o ordenamento jurídico vigente. 3.3 A separação de poderes no ordenamento jurídico brasileiro Dada a evolução pela qual passou a teoria de Montesquieu, decorre que a separação de poderes dá-se atualmente de formas diversas, variáveis de um Estado para o outro. A 32 interação entre os Poderes pode dar-se de maneira mais ou menos intensa, através de diferentes técnicas e mecanismos. A separação de poderes preconizada pelo filósofo francês vem sendo acolhida pelo ordenamento jurídico brasileiro desde a primeira Constituição republicana. Na vigência da Carta anterior, o professor Carlos Ayres Britto apontou os mecanismos de equilíbrio entre os Poderes adotados pelo constituinte, que nos parecem continuar válidos em nossos dias. Consoante o referido doutrinador, são técnicas constitucionais assecuratórias da independência e harmonia entre os Poderes: o exercício das três funções básicas, no âmbito de cada Poder, uma em caráter preponderante e duas de forma secundária; a participação de mais de um Poder na nomeação de agentes para determinados cargos públicos ou na sua designação para funções estatais relevantes; a colaboração de dois ou mais Poderes para o desempenho de uma mesma função ou prática de um mesmo ato de importância capital na vida do Estado; e a outorga de competências direcionadas para a contenção de cada Poder nos limites da sua competência constitucional.59 Esse modelo de equilíbrio entre os Poderes, que enfatiza a interação, a colaboração e o controle, demonstra o modo pelo qual a teoria da separação de poderes foi acolhida para atender às vicissitudes de nosso Estado. Nem a distribuição das funções nem a independência dos Poderes é absoluta. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 2º, prescreve que “são Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário”. A separação de poderes está inscrita no texto constitucional como um de seus princípios fundamentais e constitui-se em cláusula pétrea, consoante o disposto no art. 60, parágrafo 4º, inciso III. A referida independência identifica-se, além da possibilidade de cada Poder exercer funções típicas e atípicas, com a impossibilidade de uma mesma pessoa exercer de forma 59 BRITTO, 1981, p. 125-126. 33 típica mais de uma função, com a impossibilidade do membro de um Poder ficar à mercê do arbítrio de outro Poder.60 A harmonia decorre do fato de que todos os Poderes exercem suas funções inspirados nos interesses do Estado, todos são elementos estruturais de uma mesma pessoa, que é o Estado. Em nome desta harmonia, estabelecem-se aqueles mecanismos de cooperação e fiscalização entre os Poderes. Segundo José Afonso da Silva, a hamonia “não significa nem o domínio de um pelo outro nem a usurpação de atribuições, mas a verificação de que, entre eles, há de haver consciente colaboração e controle recíproco para evitar distorções e desmandos”.61 Não apenas os dispositivos já referidos, que fazem menção expressa à separação de poderes, mas a própria distribuição explícita de competências e atribuições fundamentais do Estado, quando da organização dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, confirmam a adoção da técnica da tripartição pela Constituição Federal de 1988. Trata-se de um princípio básico de organização do Estado brasileiro. 3.4 A caracterização das três funções do Estado Há tempos, as atribuições do Estado são agrupadas em três categorias que, com o Estado de direito, foram distribuídas entre órgãos distintos e independentes. A consagração jurídica da construção política de Montesquieu consolidou a trilogia das funções na doutrina, embora existam propostas doutrinárias diversas, que reduzem ou incrementam o número de funções, com ou sem alteração da terminologia predominante. 62 60 61 Cf. DÓRIA, 1958, t. 1, p. 278-279. SILVA, 2005, p. 111. 34 Diante da realidade brasileira, interessa-nos aqui analisar as três funções clássicas, saber como se identificam estes conjuntos de missões, isto é, em que consistem e como se distinguem, em especial, a função administrativa. Nessa tarefa de definir e classificar, a doutrina utiliza critérios diversos. Por um critério orgânico ou subjetivo, identifica-se a função em razão do órgão ou Poder do qual emana, ou seja, a função legislativa seria a exercida pelo Poder Legislativo, e assim por diante. Tal critério, todavia, só se coaduna com uma separação rígida das funções entre os Poderes do Estado, que, como vimos, não ocorre. A possibilidade de cada Poder realizar atividades atípicas afasta de plano uma associação exata entre Poder e função. Órgãos legislativos, por exemplo, exercem função tipicamente administrativa, assim como os órgãos jurisdicionais, o que torna o elemento orgânico insuficiente para uma definição adequada das funções. Com o critério material procura-se colher o que seria essencial a cada função, algo de substancial, seus elementos intrínsecos. Tal parece ser a posição de Miguel Seabra Fagundes, quando define função legislativa como o estabelecimento de normas gerais, abstratas e obrigatórias, destinadas a reger a vida coletiva; função jurisdicional como a determinação de situações jurídicas individuais, pressupondo um conflito de direito e visando a removê-lo através da interpretação da lei; e função administrativa como aquela pela qual o Estado determina situações jurídicas individuais, concorre para sua formação e pratica atos materiais.63 Para Agustín Gordillo, atos materialmente legislativos estabelecem regras de conduta humana de forma geral e imperativa, atos materialmente jurisdicionais decidem com força de 62 Por exemplo, Otto Mayer acrescenta outras funções à conhecida trilogia, enquanto o professor Oswaldo Aranha Bandeira de Mello propõe uma classificação dual das funções, composta pela função administrativa, que englobaria a ação normativa e a executiva, e pela função jurisdicional. Cf. MAYER, Otto. Droit administratif allemand. Paris: V. Giard & E. Brière, 1903, t. 1, p. 9-12; MELLO. Oswaldo Aranha Bandeira de. Princípios gerais de direito administrativo. Rio de Janeiro: Forense, 1969, v. 1, p. 34-35. 63 FAGUNDES, Miguel Seabra. O controle dos atos administrativos pelo poder judiciário. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1957, p. 19-20 e 25. 35 verdade legal uma questão controvertida entre partes determinando o direito aplicável, e atos materialmente administrativos constituem manifestações concretas da vontade estatal.64 Sob um ponto de vista exclusivamente material, cada autor apresenta os elementos que consideram essenciais à definição de cada função; e dependendo das características apontadas, limitam ou restringem seu âmbito de aplicação. Em razão dessa constatação, não nos parece ser a busca de um conteúdo essencial das funções o melhor critério para defini-las e distingui-las, sob pena de divagarmos entre posições doutrinárias, sem chegarmos a um denominador mais preciso. Essa é a primeira crítica ao emprego de um critério material. Além disso, a definição de função administrativa normalmente decorrente da preferência por um aspecto substancial parece-nos falha. Materialmente, o ato administrativo seria sempre uma medida concreta e individual, em oposição ao ato legislativo, abstrato e geral. Ocorre que, nesses termos, estariam excluídos da função administrativa os regulamentos, atos reconhecidamente administrativos, mas que não são materiais, concretos ou individuais, assemelhando-se, neste aspecto, ao ato legislativo. De outro lado, em determinadas situações, o ato administrativo é produzido visando a solucionar determinada controvérsia preexistente, à semelhança do ato materialmente jurisdicional. O critério material demonstra-se, portanto, a nosso ver, inadequado para identificar todas as atividades que podem ser enquadradas sob o título da função administrativa. Alguns doutrinadores, reconhecendo o equívoco em se adotar somente o critério orgânico ou o critério material, optam por um critério misto, considerando elementos subjetivos e objetivos na composição de suas definições. 64 GORDILLO, Agustín. Tratado de derecho administrativo. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, t. 1, p. IX-7. 36 É o caso de Gabino Fraga65 e Agustín Gordillo. Entretanto, quanto à função administrativa, este último utiliza também um critério residual ou negativo, apesar de criticálo expressamente.66 Otto Mayer, ao definir as funções legislativa e jurisdicional, aponta dois fatores, um material e outro subjetivo, e sempre que um destes não está presente, a atividade recai para a esfera administrativa, por exclusão. No entanto, o doutrinador alemão afirma que uma noção negativa de Administração deve ser completada por um elemento positivo, o qual seria a submissão dela à ordem jurídica do Estado.67 Ressalvamos, todavia, que, num Estado de direito, todas as atividades estatais devem submeter-se ao ordenamento jurídico, não se tratando, portanto, de predicado especial da função administrativa, apesar de ser nesta categoria uma característica marcante. O autor germânico nos dá uma justificativa histórica para a definição negativa da função administrativa: inicialmente, todas as ações estatais estavam compreendidas sob a denominação governo e submetidas ao poder do Monarca; posteriormente, justiça e legislação destacaram-se daquele centro comum, e o termo administração passou a ser utilizado para designar tudo o que estava fora daqueles dois ramos da atividade estatal, ou seja, o que remanesceu nas mãos do Príncipe.68 No entanto, em rigor, uma definição serve para dizer o que algo é e não aquilo que não é, deve trazer elementos positivos, identificadores do objeto definido e distintivos de outras categorias de objetos. Por tal razão, acreditamos não ser o critério residual o melhor para se obter uma definição de quaisquer das funções do Estado. Segundo Francis-Paul Bénoit, em sentido científico, função é uma categoria homogênea de missões por seu regime e, em particular, pela atribuição a um órgão 65 FRAGA, Gabino. Derecho administrativo. 14. ed. México: Porrúa, 1971, p. 27. GORDILLO, 2003, t. 1, p. IX-5. 67 MAYER, 1903, t. 1, p. 9-10. 68 MAYER, 1903, t. 1, p. 2-3. 66 37 determinado. Para o autor francês, definir as funções estatais pelo regime jurídico é o único método cientificamente válido, pois é o único que leva em consideração o Direito positivo.69 Apesar de não utilizar tal critério, nem dizer qual seria o regime jurídico de cada função, Agustín Gordillo ressalta sua importância para a caracterização e conseguinte estipulação de uma definição para as funções do Estado, chegando a afirmar que só uma identificação ou descrição de acordo com ele seria útil como noção jurídica.70 Sucintamente, regime jurídico pode ser entendido como o conjunto de princípios e normas aplicado a determinado fato, que o qualifica perante o Direito, diferenciando-o dos demais fatos também jurídicos. Chamamos de formal o critério que parte da observação do Direito positivo, a fim de agrupar sob um mesmo título as atividades estatais que recebem um mesmo tratamento jurídico. Consoante o aspecto formal, cada função abrange um conjunto de atos, aos quais o sistema normativo atribui traços comuns, tornando-os passíveis de serem identificados e diferenciados de atos de outras categorias funcionais. Este é o critério que adotamos. Se uma definição pretende ser útil à ciência do Direito, deve tomar elementos que estejam presentes no sistema normativo. Somente tomando o Direito positivo como ponto de partida, as definições dotam-se de maior objetividade e precisão. Para nós, noção jurídica é aquela decorrente da observação do ordenamento jurídico. Tal é o posicionamento de Celso Antônio Bandeira de Mello: em Direito, uma coisa é o que é por força da qualificação que o próprio Direito lhe atribui, ou seja, pelo regime que lhe outorga e não por alguma causa intrínseca, substancialmente residente na essência do objeto” [...] “o critério adequado para identificar as funções do Estado é o critério formal, ou seja, aquele que se prende a características impregnadas pelo próprio Direito à função tal ou qual.71 69 BÉNOIT, 1968, p. 40. GORDILLO, 2003, t. 1, p. IX-9. 71 MELLO, 2004, p. 32-33. 70 38 Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, apesar de não adotar o critério formal em sua original proposta de dualidade de funções estatais, não ignora a relevância do regime jurídico, ao afirmar que cada ação do Estado (legislativa, executiva ou judicial) corresponde a um ato com valor formal próprio. Quando o autor discorre sobre o valor formal e a força jurídica de tais atos, fornece subsídios para uma caracterização formal das três funções.72 Por um critério formal, sucintamente, a função legislativa corresponde à atividade de inovar primariamente a ordem jurídica; e a função jurisdicional, à solução de controvérsias com caráter de definitividade. Este parece ser um entendimento predominante. Já quanto à função administrativa, grande parte dos doutrinadores aponta a dificuldade de defini-la, em razão da heterogeneidade das atividades em que se consubstancia, ou seja, em decorrência dos diversos conteúdos que pode assumir. Além de poder ser exercida por quaisquer dos Poderes do Estado, a função administrativa pode consistir, por exemplo, na solução de controvérsias em processos administrativos, na edição de normas gerais e abstratas, na emanação de atos jurídicos individuais e concretos. Ao lado das noções que denomina comuns, Renato Alessi apresenta noções jurídicas para cada uma das funções do Estado. Segundo os ensinamentos do jurista italiano: legislação é a expedição de atos de produção jurídica primários, fundados única e diretamente no poder soberano, mediante os quais o Estado regula relações estando acima e à margem delas; jurisdição é a emanação de atos de produção jurídica subsidiários dos atos primários, com o fim de obter sua concreção e atuação coativa, nos quais o Estado permanece acima e à margem das relações; e administração é a emanação de atos de produção jurídica complementares, em aplicação concreta dos atos primários, nos quais o Estado é parte das relações que tais atos regulam.73 72 73 MELLO, 1969, v. 1, p. 33. ALESSI, Renato. Instituciones de derecho administrativo. Barcelona: Bosch, 1970, t. 1, p. 7-8. 39 Consoante o referido doutrinador, a função administrativa está subordinada à função legislativa num sentido negativo, na medida em que encontra um limite insuperável na lei, e num sentido positivo, pois só pode fazer o que ela permite. Essa subordinação, na opinião do mestre italiano, decorre da natureza de mandato complementar da atividade administrativa, em relação ao mandato primário legislativo, e do fato de, no Estado moderno, só se admitir interferência no campo da liberdade individual nos casos permitidos em lei.74 Como vimos, Otto Mayer, igualmente, assevera que a função administrativa está marcada pela submissão integral à ordem jurídica, sendo esta idéia de subordinação o que permite defini-la num sentido positivo.75 A despeito de sua proposta inovadora, também encontramos nas lições de Oswaldo Aranha Bandeira de Mello a subordinação da ação executiva aos objetivos e parâmetros ditados pela ação legislativa. Nas palavras do professor, “a ação legislativa estabelece o escopo e as balizas da ação executiva, mais ou menos rígidas, e, dentro destas, segundo aquele, ela se move conforme maior ou menos liberdade que lhe é conferida”.76 Todos os doutrinadores acima citados apontam como elemento formal, caracterizador da função administrativa, sua estrita submissão aos ditames legais. Entretanto, tal não implica compreender a atividade administrativa como mera execução da lei, reduzindo, assim, o ato administrativo a uma simples operação automática de realização do comando legal. De acordo com Renato Alessi, a função administrativa não é simples execução da lei. Assevera o doutrinador que o diploma legislativo pode apenas estabelecer as linhas gerais da ação administrativa, assinalando de forma mais ou menos precisa os fins a alcançar e os meios a adotar, sem precisar os detalhes dessa atividade, dando espaço à discricionariedade administrativa.77 74 ALESSI, 1970, t. 1, p. 12-13. MAYER, 1903, t. 1, p. 13-14. 76 MELLO, 1969, v. 1, p. 19 e 35. 77 ALESSI, 1970, t. 1, p. 13. 75 40 Toda ação administrativa está voltada para a consecução dos interesses públicos previstos pelo ordenamento jurídico e o Direito é o único meio possível para alcançar tal objetivo. A função administrativa, para Renato Alessi, caracteriza-se também pela posição do Estado como parte da relação na qual intervém. Em outras palavras, o Estado é parte da relação jurídica estabelecida pelo ato decorrente do exercício da função administrativa. Entretanto, o autor ressalta que o Estado, apesar de atuar como parte da relação, o faz em situação de superioridade, enquanto portador de poder soberano, capaz de influir na esfera jurídica de terceiros. Trata-se de relação situada num plano vertical.78 No mesmo sentido, Marcello Caetano entende que, no exercício da função administrativa, o Estado toma a iniciativa da realização dos comandos legais e age como titular dos interesses previstos em lei, como parte nas suas relações com os particulares.79 Oswaldo Aranha Bandeira de Mello assevera que, na ação executiva, “o Estado-poder pratica os atos jurídicos como parte, isto é, em obra própria, espontânea, através da função pública que lhe compete”.80 Consoante lição de Celso Antônio Bandeira de Mello, nas relações com os particulares, o Estado encontra-se em situação sobranceira, em razão dos interesses públicos que encarna. Segundo o eminente professor, como decorrência da supremacia do interesse público sobre o privado, o poder público assume uma posição de autoridade perante o indivíduo, como condição necessária à administração dos interesses que tem o dever de resguardar.81 A partir dos ensinamentos dos autores acima colacionados, identificamos que a função administrativa se caracteriza pela subordinação estrita à lei e pela atuação do Estado como 78 ALESSI, 1970, t. 1, p. 8. CAETANO, Marcello. Manual de direito administrativo. Rio de Janeiro: Forense, 1970, t. 1, p. 13. 80 MELLO, 1969, v. 1, p. 35. 81 MELLO, 2004, p. 60-61. 79 41 parte das relações às quais dá origem no seu exercício, sempre em posição de superioridade perante os particulares, como conseqüência da supremacia do interesse público sobre o privado. Diante de nosso ordenamento jurídico, temos ainda como elemento formal característico da função administrativa a submissão de todos os seus atos ao controle de legalidade exercido pelos órgãos judiciais, fundamentada na legalidade exigida da conduta administrativa e no princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inciso XXXV). Ante o exposto, podemos definir a função administrativa como a atividade infralegal realizada pelo Estado ou por seus representantes, como parte interessada, em posição de superioridade, para a consecução do interesse público previsto em lei, submetida ao controle do Poder Judiciário. Observamos ainda que a função administrativa pode ser exercida por órgãos diversos, pertencentes ou não à estrutura do Poder Executivo, e visa a suprir os interesses públicos previstos pelo ordenamento jurídico, em última instância, através da prática de atos materiais; o que nem sempre se dá desta forma, pois, como vimos, trata-se de função heterogênea, consubstanciada em ações de naturezas distintas. 42 4 O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Historicamente, observamos que a concepção do Estado de direito surgiu relacionada à consagração de direitos fundamentais do homem, à doutrina da separação de poderes e ao princípio da legalidade, todos elementos inseridos na Constituição. O controle do poder pelo poder, com a distribuição das funções primordiais do Estado entre órgãos distintos, independentes e harmônicos, a submissão do Estado ao Direito por ele mesmo criado e à Constituição, considerada norma jurídica fundamental e superior às demais, foram instrumentos postos à proteção daqueles direitos fundamentais. Como vimos, o Estado de direito não se esgota no princípio da legalidade; entretanto, encontra nele sua marca, sua identidade. O Estado constitucional visa à preservação da liberdade do indivíduo perante o poder político e, nesse passo, a subordinação do Estado ao império da lei assegura o cidadão contra a arbitrariedade, o capricho, a opressão que pode advir de um governo sem peias ou limites, na medida em que objetiva o exercício do poder. Por isso, falamos que, no Estado de direito, quer-se um governo das leis e não dos homens. Alguns autores, todavia, salientam que não basta a existência de uma Constituição e de um conjunto de normas para qualificar um Estado como “de direito”. Afirmam que considerar o Estado de direito como aquele subordinado à lei é uma concepção insuficiente, pois, além daquela sujeição, é preciso haver também a sua submissão à jurisdição, a juízes e tribunais que protejam os direitos fundamentais frente à ação estatal. Segundo o mestre português Afonso Rodrigues Queiró, “o Estado de direito conduz à idéia do domínio de um sistema de normas controláveis jurisdicionalmente”.82 82 QUEIRÓ, Afonso Rodrigues. A teoria do desvio de poder em direito administrativo. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 6, p. 41-78, out./dez. 1946. Cf. p. 46. 43 Na lição de Geraldo Ataliba, para um Estado ser reputado como “de direito”, é preciso reunir a característica de subordinação à lei, a da submissão à jurisdição. E isso implica, para o referido autor: a sujeição do Estado, como qualquer outra parte, a uma jurisdição exercida por uma magistratura imparcial, independente e cercada de garantias, que deva aplicar a lei preexistente.83 De fato, de nada adiantaria submeter o Estado à lei, se esta subordinação não pudesse ser averiguada, controlada e efetivada por um órgão isento e protegido da influência daqueles incumbidos de obedecer-lhe. E a sujeição do Estado à jurisdição decorre da própria doutrina da separação de poderes, da idéia de que o poder só se contém pelo poder. De maneira sucinta, podemos dizer que, num Estado constitucional, a ação estatal deve estar prevista pelo legislador e pode ser revista pelos tribunais. 4.1. A lei como expressão da vontade geral O princípio da legalidade, no Estado de direito, representa a tese da soberania popular, encontrada no pensamento do filósofo Jean Jacques Rousseau. No Estado constitucional, o princípio da legalidade significa a submissão à lei, considerada como expressão da vontade geral do povo, titular único do poder. A lei é a manifestação da vontade popular, na medida em que constitui ato emanado dos representantes legítimos do povo, do seu órgão de representação. 84 Sobre a preponderância da lei, os doutrinadores espanhóis Eduardo García de Enterría e Tomáz-Rámon Fernández afirmam que “del hecho de que en ella se expresa la voluntad de 83 84 ATALIBA, Geraldo. República e constituição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1985, p. 94. Cf. MELLO, 2004, p. 41-42. 44 la propia comunidad, de que es una autodisposición de la comunidad sobre sí misma, le viene a la Ley esa cualidad específica, ese caráter de norma superior e irresistible”. Ainda na esteira dos referidos autores, temos que a técnica da representação imputa as determinações do representante ao representado, legitimando a decisão de criação do Direito como decisão irressistível e suprema, enquanto aceita como tal pelos próprios destinatários.85 Nas palavras do professor gaúcho Almiro do Couto e Silva: Para Rousseau, a lei há de ser geral num duplo sentido: geral porque é a vontade geral do povo e geral pela impessoalidade do seu enunciado. Na lei casam-se, pois, o dado democrático da sua elaboração com a afirmação plena do princípio da isonomia, da igualdade dos indivíduos perante o Estado em qualquer hipótese, mesmo diante da mais alta manifestação do seu poder e da sua vontade, que é a lei.86 Ante o exposto, o princípio da legalidade, expressando a tese da soberania popular, além de preservar a liberdade do indivíduo, assegura a igualdade dos cidadãos perante a ação do Estado. Isso porque a lei se aplica, com a mesma supremacia, aos exercentes do poder, afastando arbitrariedades e caprichos dos governantes; e, dada a impessoalidade com que atua, impede perseguições e favoritismos. Nesse sentido é a lição de Celso Antônio Bandeira de Mello, para o qual, o princípio da legalidade pretende garantir a igualdade de todos de par com a segurança jurídica, na medida em que, sob sua vigência, as pessoas só podem ser atingidas por normas previamente dispostas em lei, diploma produzido pelo corpo representativo eletivamente constituído pelos cidadãos, cujas características de generalidade e abstração evitam a concessão de tratamento desigual.87 No Estado de direito, portanto, a lei é elemento de garantia e de segurança para o cidadão. Confere a garantia de que a liberdade individual só será molestada por decisão da 85 ENTERRÍA, Eduardo García, FERNÁNDEZ, Tomás-Rámon. Curso de derecho administrativo. 12. ed. Madrid: Civitas, 2004, t. 1, p. 115-116. 86 SILVA, Almiro do Couto e. Princípios da legalidade da administração pública e da segurança jurídica no estado de direito contemporâneo. Revista de Direito Público, São Paulo, v. 20, n. 84, p. 46-63, out./dez. 1987. Cf. p. 49. 87 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Regulamento e princípio da legalidade. Revista de Direito Público, São Paulo, v. 24, n. 96, p. 42-50, out./dez. 1990. Cf. p. 42. 45 vontade geral da comunidade, igualmente válida para todos, e não pela decisão de um só, e ainda torna previsível para o cidadão as condutas que lhe são impostas e a possível atuação estatal. Essa supremacia da lei, veiculada pelo princípio da legalidade, atinge todas as atividades estatais e não apenas as atividades administrativas, apesar de serem estas o objeto de nosso interesse. A garantia representada pela legalidade para o cidadão faz-se presente perante qualquer ação do Estado. Consoante Miguel Seabra Fagundes, “o Estado, nascido de um ato institucional limitativo de sua atividade e tendo por finalidade a edição e realização do direito, tem necessariamente de conformar à ordem jurídica o desenvolvimento da sua ação”.88 Conforme a doutrina de Renato Alessi, no Estado de direito, o Direito objetivo deve regular toda exteriorização da vida e da atividade estatal, pois o poder do Estado não pode ser concebido como um mero poder de fato, baseado na força, senão como um poder jurídico, fundado no Direito objetivo e exercido dentro de seus limites.89 No mesmo sentido, manifesta-se a professora Cármen Lúcia Antunes da Rocha, para a qual, o princípio da legalidade vincula todas as funções desempenhadas pela pessoa estatal, obrigando o Estado a atuar pelo Direito, segundo o Direito, conforme o Direito e estabelecendo limites de atuação ao poder do Estado.90 Na esteira das lições colacionadas, nenhuma ação do Estado está acima ou fora do Direito, assim como os indivíduos, o Estado é objeto de normas jurídicas e a elas se submete. Desta forma, voltamos à afirmação inicial de que o Estado de direito é aquele submetido ao Direito por ele mesmo criado, traço distintivo de superação das antigas práticas do absolutismo. 88 FAGUNDES, 1957, p. 114. ALESSI, 1970, t. 1, p. 181. 90 ROCHA, 1994, p. 80. 89 46 4.2 A crise da supremacia da lei A concepção originária do princípio da legalidade, vinculado à separação de poderes, traduz a preponderância do Poder Legislativo e a supremacia da lei, como expressão da vontade geral do povo, sobre os demais atos estatais. Noção que assume o sentido de garantia, certeza jurídica e limitação do poder, ao objetivar o seu exercício. Entretanto, desde a consolidação dessas idéias, o Estado passou por grandes transformações, e fatores diversos contribuíram para se falar em uma crise da lei, com a crítica àquela confiança inicial nas suas qualidades. Consoante lição de Odete Medauar, são aspectos que interferem naquela noção original de legalidade: a atual predominância do Poder Executivo sobre o Legislativo; o fato de que a lei votada pelo Legislativo deixou de expressar a vontade geral para ser a vontade de maiorias parlamentares, em geral controladas pelo Poder Executivo; a ampla função normativa assumida pelo Executivo, como autor de projetos de lei, como legislador direto, como legislador por delegação, como emissor de decretos, portarias e circulares que afetam direitos dos indivíduos.91 Celso Ribeiro Bastos reconhece um processo de relativa perda da importância da lei, na medida em que certos atos, sem contestarem sua supremacia formal, roubam sua importância primitiva, como regulamentos, instruções, portarias, que “acabam por incidir na vida real das pessoas de uma maneira mais aguda e pungente do que a própria lei, com a qual passam a rivalizar”.92 A denominada hipertrofia do Poder Executivo, característica dos Estados contemporâneos, apontada anteriormente por parte da doutrina como causa da crise e da 91 92 MEDAUAR, Odete. Direito administrativo moderno. 9. ed. São Paulo: Revista dos tribunais, 2005, p. 142. BASTOS, 2002, p. 328. 47 decadência da teoria da separação de poderes, também surge como um dos fatores de deterioração da importância da lei no atual estágio do Estado de direito. É inegável o agigantamento do Poder Executivo, com a intensificação da intervenção do Estado no domínio econômico e social, assim como a necessidade de o Estado se servir de instrumentos hábeis ao atendimento das exigências postas pela sociedade. Todavia, da mesma forma como essa realidade, a nosso ver, não implica a superação da doutrina da separação de poderes por uma nova fórmula de arranjo do poder; o papel da lei, como manifestação por excelência da vontade do Estado, como forma de garantia para o cidadão, parece-nos manterse. Antônio Carlos de Araújo Cintra assevera: apesar de imperfeita, a representação política com assento nos parlamentos, traduz, em certa medida, que pode ser perfeitamente aceitável, a adesão e o consentimento popular à regra legislativa elaborada em procedimento público, com a oportunidade do debate e com o afastamento, da surpresa e unilateralidade das medidas tomadas nos recessos dos gabinetes executivos.93 Para a professora Odete Medauar, apesar das modificações verificadas, a legalidade permanece com o sentido de garantia, certeza e limitação do poder.94 No mesmo sentido, manifesta-se Celso Ribeiro Bastos: o primado da lei subsiste, pois, quer em nível teórico, no sentido de que a Constituição o proclama solenemente, quer do ponto de vista de um ideal sempre acalentado, ante o qual as violações sofridas não são senão uma série de pecadilhos que devem ser extirpados.95 A ampliação do campo normativo deixado ao Poder Executivo não pode de modo algum significar a abdicação da competência legislativa constitucionalmente conferida ao Legislativo. A regra continua sendo a manifestação da vontade do Estado sobre a liberdade dos cidadãos através de lei, entendida como o ato geral e abstrato emanado dos representantes 93 CINTRA, Antônio Carlos de Araújo. Motivo e motivação do ato administrativo. São Paulo: Revista dos tribunais, 1979, p. 20-21. 94 MEDAUAR, 2005, p. 141. 95 BASTOS, 2002, p. 328-329. 48 escolhidos pelo povo, na forma estabelecida pela Constituição. A lei permanece com justificado prestígio, em razão da garantia e da segurança que ainda representa. O princípio da legalidade eleva a lei à condição de veículo supremo da vontade do Estado, figura que, em nosso ordenamento jurídico, pode apresentar a forma de emenda constitucional, lei ordinária ou lei complementar, elaboradas pelos órgãos legislativos de representação popular. São esses atos que denominamos de lei em sentido formal. Ao lado de tais diplomas legislativos, nossa Constituição prevê ainda atos equiparados à lei, atos dotados de força de lei, quais sejam, as leis delegadas (art. 68) e as medidas provisórias (art. 62); normas jurídicas infraconstitucionais, que inovam originariamente, não sendo, porém, provenientes dos órgãos legislativos. Tais hipóteses, entretanto, só podem ser concretizadas, se forem atendidos os requisitos constitucionais; seu campo de atuação é restringido pela Constituição. Os referidos atos normativos estão taxativamente dispostos pelo texto constitucional e só possuem força inovadora obrigatória, limitados no seu âmbito de alcance e observados os estritos pressupostos constitucionais. A nosso ver, exatamente porque não oferecem as mesmas garantias contidas na lei, emanada pelos representantes da comunidade, fruto da deliberação aberta de um colegiado; na medida em que são oriundos de um único autor, decorrentes de uma vontade unipessoal, a Constituição impõe aos referidos atos equiparados expressos limites e restrições. E apesar de leis delegadas e medidas provisórias serem elaboradas pelo Presidente da República, reserva-se ainda relevante papel ao Congresso Nacional. As medidas provisórias devem ser submetidas à sua apreciação e, se não forem convertidas em lei no prazo estipulado, perdem sua eficácia (art. 62, caput e § 3º). Enquanto a delegação de competência legislativa ao Presidente da República assume a forma de resolução do Congresso Nacional, que especifica seu conteúdo e os termos do seu exercício (art. 68, caput e § 2º), sendo possível 49 que a própria resolução determine a deliberação do Congresso Nacional sobre o projeto da lei delegada (art. 68, § 3º). Infelizmente, a despeito de sua natureza precária e excepcional, dos pressupostos e limites claramente impostos pelo texto constitucional, a medida provisória vem sendo abusivamente empregada pelo Poder Executivo. A medida de exceção parece passar à regra, em razão de sua prática reiterada e descontrolada, facilitada pela ausência de adequada fiscalização por parte daqueles a quem esse dever constitucional se impõe.96 Aludido fato, sem dúvida, contribui para o enfraquecimento da legalidade e da supremacia da lei, pois medida provisória não é lei; por isso mesmo, o constituinte cunhou a expressão “com força de lei”, e só se torna lei quando convertida pelo Congresso Nacional. Feitas as devidas ressalvas, observamos que todas e apenas as espécies normativas acima mencionadas, leis formais e atos a elas equiparados, podem inovar originariamente a ordem jurídica, com força obrigatória, perante indivíduos e Estado. É o que extraímos de nosso Direito constitucional positivo. Quaisquer outros atos normativos, tais como, regulamentos, resoluções, portarias, instruções e circulares, não podem inovar da mesma forma a ordem jurídica, não possuem a mesma força perante o ordenamento brasileiro. Devem ser infralegais, isto é, precisam fundarse em preceitos legais para poderem impor seu conteúdo. Sua obrigatoriedade não decorre de virtude própria, mas de sua conformidade com a lei.97 96 Cf. COMPARATO, Fábio Konder. A questão política nas medidas provisórias. In: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CONSTITUCIONALISTAS DEMOCRATAS. Cadernos de soluções constitucionais. São Paulo: Malheiros, 2003, v. 1, p. 78-93. Segundo Fábio Konder Comparato (2003, p. 89): “Em política, como em tudo mais, a reiteração de um abuso acaba por fazê-lo entrar na normalidade da vida. É o que se dá com o poder, atribuído pela Constituição ao Presidente da República, de editar medidas provisórias. Trata-se, a todas as luzes, de uma competência excepional, e não ordinária. Mas a prática brasileira acabou por transformar o abuso manifesto em costume pacífico e consagrado, sob as vistas complacentes do órgão judicial incumbido de zelar pela guarda e conservação do sistema constitucional”. Neste sentido: Cf. ROCHA, 1994, p. 90; MELLO, 2004, p. 120. 97 Cf. ATALIBA, 1985, p. 99. 50 De maneira alguma, portanto, atos normativos de tal modo inferiores e subordinados podem sobrepor-se ao conteúdo da lei ou obscurecê-lo, tampouco pretender impor-se aos indivíduos com a mesma intensidade e com a mesma soberania. Observamos que aquela ampliação da participação do Poder Executivo na atividade normativa do Estado, fator apontado para a denominada crise da supremacia da lei, todavia, por vezes, é feita às custas de violações ao princípio da legalidade, como a expedição de regulamentos ultra legem ou de medidas provisórias fora da previsão constitucional. E a constatação repetida de tais situações viciadas, assim como de outros desvios perpetrados contra o Estado de direito, não as tornam menos antijurídicas à luz de nosso ordenamento, devendo ser, ainda com maior razão, criticadas e combatidas. 4.3 Princípio da legalidade e reserva de lei Aspecto relevante acerca do tema da legalidade diz respeito à distinção feita pela doutrina entre princípio da legalidade e reserva de lei. José Afonso da Silva leciona que, enquanto o princípio da legalidade “significa a submissão e o respeito à lei, ou a atuação dentro da esfera estabelecida pelo legislador”, a reserva de lei “consiste em estatuir que a regulamentação de determinadas matérias há de fazer-se necessariamente por lei formal”.98 98 José Afonso da Silva (2005, p. 423-424) distingue ainda a reserva constitucional absoluta e a relativa. A primeira exclui qualquer fonte infralegal da disciplina da matéria reservada, ocorre quando a Constituição diz, por exemplo, que “a lei regulará” ou “a lei disporá”; enquanto a última admite parcialmente a disciplina da matéria por outra fonte diversa da lei, desde que sejam observados os requisitos ou condições estabelecidos pela mesma, ocorre quando a Constituição utiliza, por exemplo, as seguintes expressões: “nos termos da lei” ou “na forma da lei”. 51 Consoante Eduardo García de Enterría e Tomáz-Rámon Fernández, a afirmação de que certas matérias especialmente importantes devem ser objeto exclusivo de regulação por lei, recai normalmente sobre as liberdades fundamentais ou declarações de direitos, mais especificamente sobre a liberdade e a propriedade. Afirmam os doutrinadores que tal fato encontra justificativa na filosofia liberal: Asegurar la propriedad e la libertad serían los fines centrales del Estado, de modo que cualquier limitación de las mismas, siempre excepcional y circunscrita, no puede venir más que por la norma soberana y en modo alguno por disposiciones abiertas e ilimitadas del Rey.99 No mesmo sentido, a professora Cármen Lúcia Antunes da Rocha assinala: o princípio da reserva de lei define uma esfera material de atuação específica e exclusiva por uma espécie de norma: aquela que se expressa em lei formal [...] tem a sua expressão mais acabada quando se cuida de definição dos direitos constitucionais fundamentais dos indivíduos.100 Entrentanto, apesar de disseminada entre nós a utilização da expressão, em rigor, não há porque se falar em reserva de lei no Direito brasileiro. Não existe partilha de competências legislativas entre os Poderes a justificar a identificação de uma reserva de lei em oposição à atribuição da tarefa de disciplinar determinadas matérias a outra espécie de ato estatal. Tudo está sujeito à regulação emanada dos órgãos legislativos, desde que obedecidos os procedimentos constitucionais previstos. Não há matéria proibida ao legislador. O constituinte previu a universalidade da legislação. A lei é necessária e exclusiva quando se trata de inovar originariamente a ordem jurídica, podendo o legislador disciplinar de forma completa e exaustiva determinado aspecto da vida social ou optar por uma regulação que dê margem à atuação normativa secundária e complementar do Poder Executivo. 99 ENTERRÍA; FERNÁNDEZ, 2004, t. 1, p. 241-242. ROCHA, 1994, p. 85-86. 100 52 Entretanto, quanto mais intensa for a interferência na liberdade dos cidadãos, com maior força se impõe a elaboração da disciplina normativa pelos órgãos de representação popular. A Constituição brasileira enuncia que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei” (art. 5º, inciso II). Sucintamente, tal preceito implica que o Estado não pode unilateralmente interferir na esfera de liberdade jurídica do cidadão, senão em decorrência de autorização de lei, vedando qualquer ingerência estatal que não seja para o fim de executar os comandos legais. Sobre a garantia em causa, Geraldo Ataliba assevera: aparece como a conjugação do princípio da supremacia da lei e da exclusividade da lei como forma inovadora e inaugural da vontade estatal. Em conseqüência, nenhuma expressão de vontade estatal será compulsória se não amparada em lei. Se só a lei obriga, tudo que não seja lei não obriga, salvo as exceções expressas, que devem ser restritivamente interpretadas.101 Nesses termos, quando o dispositivo constitucional em questão fala em lei, quer dizer lei em sentido formal, ato inovador e inaugural da ordem jurídica, emanado do orgão legislativo de representação popular. Francisco Campos assinala que a fórmula constitucional se traduz na necessidade indeclinável da forma de lei para que o Estado possa impor aos cidadãos encargos, ônus, obrigações, ou de qualquer modo restringir ou modificar o gozo dos direitos em que se encontram.102 Essa é a lição de José Afonso da Silva, segundo o qual, “a palavra “lei” para a realização plena do princípio da legalidade, se aplica, em rigor técnico, à lei formal, isto é, ao ato legislativo emanado dos órgãos de representação popular e elaborado de conformidade com o processo legislativo previsto na Constituição”.103 101 ATALIBA, 1985, p. 97. CAMPOS, Francisco. Lei e regulamento: direitos individuais. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 80, p. 373-382, abr./jun. 1965. Cf. p. 381. 103 SILVA, 2005, p. 421. 102 53 No entanto, o mencionado constitucionalista enuncia a regra e aponta a exceção, ao afirmar que a Constituição não exclui a possibilidade de regulação por leis delegadas e medidas provisórias, limitadas obviamente à configuração que lhes foi traçada pelo próprio texto constitucional.104 São as exceções expressas, mencionadas por Geraldo Ataliba, em passagem anterior. Na mesma linha, de acordo com Maria Sylvia Zanella Di Pietro, o art. 5º, inciso II, dispõe que os atos restritivos de direitos devem ter previsão em lei formal ou em atos normativos dotados da mesma força de lei, como a medida provisória ou a lei delegada e, nesse caso, há legalidade estrita.105 Já observamos que, ao lado das leis formais, o ordenamento jurídico brasileiro prevê, sempre de forma restrita e excepcional, leis delegadas e medidas provisórias como espécies normativas equiparadas às primeiras, dotadas da mesma força inovadora e obrigatória. O que só vem confirmar a lei, emanada dos órgãos legislativos, como regra para a regulação da esfera de liberdade dos indivíduos.106 Fixada a compreensão do termo “lei”, indispensável para a exegese do preceito constitucional citado de início, é igualmente necessário tentar delimitar o alcance da expressão “em virtude de lei”. Para José Afonso da Silva, a locução em comento significa que todos os elementos essenciais da providência impositiva devem constar de lei. Acrescenta o autor que “só a lei 104 SILVA, 2005, p. 421. DI PIETRO, 2001, p. 60. No mesmo sentido: Cf. FERREIRA FILHO, 1995, p. 235. 106 Adotando posição diversa, com a qual não compartilhamos, Eros Roberto Grau entende que o art. 5º, inciso II, da Constituição Federal enuncia uma reserva de norma e não reserva de lei, norma que tanto pode ser legal, quanto regulamentar, ou regimental. Para o autor, o princípio da legalidade restará acatado ainda quando as definições de obrigações ou de direitos se operem no exercício de função normativa do Executivo. Nas palavras do doutrinador: “Voltando ao art. 5º, II, do texto constitucional, verificamos que, nele, o princípio da legalidade é tomado em termos relativos, o que induz a conclusão de que o devido acatamento lhe estará sendo conferido quando – manifesta, explícita ou implicitamente, atribuição para tanto – ato normativo não legislativo, porém regulamentar (ou regimental), definir obrigação de fazer ou não fazer alguma coisa imposta a seus destinatários”. Eros Roberto Grau afirma que há reserva de lei quando a Administração está vinculada às definições da lei e não quando está vinculada às definições decorrentes de lei, isto é, fixadas em virtude dela. O autor aponta como exemplo de reserva de lei o art. 5º, inciso XXXIX, o art. 150, inciso I e o art. 170, parágrafo único. Cf. GRAU, Eros Roberto. O direito posto e o direito pressuposto. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 246-247. 105 54 cria direitos e impõe obrigações positivas ou negativas, ainda que o texto constitucional dê a entender que só estas últimas estão contempladas no princípio da legalidade”.107 Celso Antônio Bandeira de Mello leciona que, para o princípio da legalidade ser cumprido, cabe à lei definir as condições ou requisitos necessários ao nascimento do direito material ou ao nascimento da obrigação, dever ou restrição à liberdade.108 Para nós, a expressão examinada implica que direitos e obrigações só são válidos quando, em razão unicamente do disposto em lei, é possível afirmar a sua ocorrência diante do caso concreto. Em outras palavras, a lei deve ser condição necessária e suficiente para a identificação do direito ou da obrigação no plano dos fatos, sem haver a necessidade de recorrer a uma regulação complementar. Qualquer outra norma que a pretenda completar não pode ampliar ou restringir o já disposto sobre aquele direito ou aquela obrigação; do contrário, geraria uma indesejada insegurança jurídica. Como dissemos, nenhum ato normativo inferior pode sobrepor-se ao enunciado em lei ou obscurecê-lo, pois, em regra, esta só cede diante de outra manifestação igualmente soberana do Estado. 109 4.4 A legalidade administrativa O que até então dissemos a respeito do princípio da legalidade, aplicável a toda e qualquer atuação do Estado, cabe, por certo, a propósito da sua atividade administrativa. 107 SILVA, 2005, 421. MELLO, 2004, p. 326. 109 Para Eros Roberto Grau (2005, p. 250), em decorrência da interpretação que confere ao art. 5º, inciso II, se a imposição de obrigação tiver decorrido de uma atribuição de poder normativo ao Executivo, contida em ato legislativo, terá surgido “em virtude de lei”, não sendo necessário que tal obrigação se opere diretamente no texto legal. 108 55 Alguns doutrinadores, inclusive, apontam o princípio da legalidade da Administração Pública como o fundamento ou como o traço mais manifesto do Estado de direito.110 A necessidade de conferir segurança e proteção ao indivíduo, ante o poder do Estado, sem dúvida, revela-se de forma mais clara e enfática no exercício da função administrativa. E isso ocorre porque é através da atividade administrativa que o Estado se relaciona de maneira direta e imediata com o cidadão, interferindo no seu dia-a-dia, principalmente por meio de atuações concretas. A submissão da Administração Pública à lei impossibilita autoritarismos e caprichos indesejados por parte dos administradores e viabiliza o controle da atividade administrativa pelo judiciário, estabelecendo a lei o parâmetro de conduta para o gestor da coisa pública. Assim, o princípio da legalidade resguarda a autoridade do Estado e a liberdade dos indivíduos. Ruy Cirne Lima, em conhecida passagem, afirma que, em Direito público, a administração é “a atividade do que não é senhor absoluto”, pois “o fim – e não a vontade – domina todas as formas de administração”. Das lições do referido autor, temos que o administrador público não pode agir segundo seu arbítrio, estando vinculado a uma finalidade cogente, normalmente fixada em lei. Desta forma, a Administração Pública jaz debaixo da lei, não existindo vontade nem liberdade na atividade administrativa, apenas o dever de perseguir uma finalidade protegida pela ordem jurídica.111 Nas palavras de Hely Lopes Meirelles: “Na Administração Pública, não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo o que a lei não proíbe, na Administração Pública só é lícito fazer o que a lei autoriza”.112 110 Cf. QUEIRÓ, 1946, p. 48; STASSINOPOULOS, Michel D. Traité des actes administratifs. Athènes: Librairie Du Recueil Sirey, 1954, p. 18. 111 LIMA, Ruy Cirne. Princípios de direito administrativo. 4. ed. Porto Alegre: Livraria Sulina, 1964, p. 21-22. 112 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 22. ed. São Paulo: Malheiros, 1997, p. 82. 56 No mesmo passo, os professores Sérgio Ferraz e Adilson Abreu Dallari enunciam que, enquanto os particulares agem com ampla liberdade, apesar de desprovidos de qualquer prerrogativa ou poder, a Administração Pública detém poderes e prerrogativas, porém, não possui qualquer liberdade para agir, vinculada que está às determinações da lei.113 Não há liberdade no manejo de poderes e prerrogativas, porque a Administração Pública realiza função, “atividade exercida no cumprimento do dever de alcançar o interesse público mediante o uso de poderes instrumentalmente necessários conferidos pela ordem jurídica”. Só se justificam tais prerrogativas na medida em que são indispensáveis ao atendimento do interesse público, conforme o consagrado em lei. Por isso, Celso Antônio Bandeira de Mello fala em dever-poder, enfatizando a subordinação do poder ao dever administrativo.114 Há tempos, a doutrina mais abalizada afirma e enfatiza a subordinação completa da atividade administrativa às disposições legais como característica inarredável do Estado de direito, inclusive como decorrência da própria natureza da função administrativa. Para Miguel Seabra Fagundes, a submissão da Administração Pública à lei é conseqüência da natureza da função administrativa. Nas palavras do doutrinador:” sendo a função administrativa, que constitui o objeto das atividades da Pública Administração, essencialmente realizadora do direito, não se pode compreender seja exercida sem que haja texto legal autorizando-a ou além dos limites deste.115 No capítulo antecedente, vimos que apenas no exercício da função legislativa o Estado pode inovar primariamente a ordem jurídica, criando o Direito, enquanto, no exercício da função administrativa, age submetendo-se ao Direito por ele mesmo criado, a fim de alcançar 113 FERRAZ, Sérgio; DALLARI, Adilson Abreu. Processo administrativo. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 55. MELLO, 2004, p. 27 e 62. 115 FAGUNDES, 1957, p. 113. 114 57 o interesse público albergado pelo ordenamento. Deste modo, a única via possível à Administração Pública é a aberta pela lei.116 Observamos, então, que a distribuição das funções entre órgãos distintos e o princípio da legalidade entrelaçam-se, concorrendo para a realização dos valores consagrados pelo Estado de direito. 4.4.1 A forma de submissão da Administração Pública à lei Ninguém nega que o princípio da legalidade tem cabimento quando do exercício da função administrativa. É incontestável a sujeição da Administração Pública à lei num Estado constitucional. Entretanto, essa submissão pode assumir formas diversas, em graduação e intensidade variadas, de acordo com o sistema jurídico analisado. Ao abordar o tema da natureza ou conteúdo da relação de legalidade dos atos administrativos, Charles Eisenmann leciona que ela pode ser compreendida segundo uma noção mínima ou conforme uma noção máxima. No mínimo, significa uma relação de nãocontrariedade ou de compatibilidade, ou seja, que a Administração Pública não deve fazer nada contrário às normas legislativas vigentes, não deve contradizer ou infringir dispositivo de lei. No máximo, trata-se de uma relação muito mais estrita, uma relação de conformidade, no sentido de que a Administração Pública só pode praticar os atos previstos e autorizados pela legislação.117 116 Não podemos esquecer, todavia, que o direito constitucional brasileiro confere, excepcionalmente, à Administração Pública, competência para a elaboração de atos normativos equiparados ao ato legislativo, consubstanciando atividade atípica. 117 EISENMANN, Charles. O direito administrativo e o princípio da legalidade. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 56, p. 47-70, abr./jun. 1959. Cf. p. 54-56. 58 Nesses termos, enquanto a relação de compatibilidade é uma relação negativa, que apenas delimita negativamente a ação administrativa, sem impor meio, fim ou conteúdo, a relação de conformidade é uma relação positiva e rigorosa, em razão da qual a atuação administrativa só pode realizar o que for, como for e quando for previamente permitido por lei. Diante da afirmação categórica de Hely Lopes Meirelles, mencionada anteriormente, observamos, desde logo, que, entre nós, a Administração Pública não se sujeita à lei como qualquer outro sujeito de direito. A legislação não se impõe ao administrador público da mesma forma que se apresenta ao indivíduo. O princípio da legalidade aplica-se diferenciadamente para o particular e para a Administração Pública. Segundo Carlos Ari Sundfeld, o que a lei não concede expressamente, nega implicitamente à Administração Pública, a qual não dispõe de liberdade, tal como os indivíduos, mas de competências hauridas e limitadas na lei.118 É o que se extrai da lição de Miguel Seabra Fagundes: O procedimento administrativo não tem existência jurídica se lhe falta, como fonte primária, um texto de lei. Mas não basta que tenha sempre por fonte a lei. É preciso, ainda, que se exerça segundo a orientação dela e dentro dos limites nela traçados. Só assim o procedimento da Administração Pública é legítimo.119 Michel D. Stassinopoulos sustenta que a lei não é apenas um limite para o ato administrativo, mas sua condição e sua base, do que decorre a conhecida afirmação de que a Administração Pública não pode atuar nem contra legem, nem praeter legem, mas sempre secundum legem.120 No mesmo sentido, Afonso Rodrigues Queiró assinala: “A atividade da Administração é uma atividade de subsumpção dos fatos da vida real às categorias legais”.121 118 SUNDFELD, Carlos Ari. Direito administrativo ordenador. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 29. FAGUNDES, 1957, p. 113. 120 STASSINOPOULOS, 1954, p. 69. 121 QUEIRÓ, 1946, p. 53. 119 59 Ante o exposto, observamos que a regra de compatibilidade é a regra geral, aplicável a todos os indivíduos, impedindo a prática de atos contrários à lei, a violação da lei. Nesse caso, a legislação funciona apenas como limite à ação dos particulares; assim, onde não há lei, não há proibição. Diversamente, para a Administração Pública, vale a regra da conformidade, a legalidade não exige apenas a não contradição, mas uma relação de subsunção entre a atividade administrativa e a lei. Ao mesmo tempo em que não pode editar atos ou tomar medidas contrárias à lei, o administrador público deve ter habilitação legal para adotar tais atos e medidas, justificando cada decisão por uma disposição legal, apontando a base legal de sua atuação. Essa habilitação legal pode expressar um vínculo mais ou menos estrito entre o conteúdo do ato e o conteúdo da norma: quanto maior for a repercussão da medida nos direitos dos cidadãos, mais estrita a vinculação da medida ao conteúdo da norma.122 Além de ser limite, a lei também se impõe como fundamento da ação administrativa. Não vige para o administrador público a liberdade geral que aproveita enquanto indivíduo, com base no princípio da legalidade administrativa, sua conduta deve estar previa e hipoteticamente autorizada em lei. 4.4.2 A ampliação da legalidade administrativa A submissão da Administração Pública à lei realizou-se com o advento do Estado de direito, porém o princípio da legalidade administrativa nasceu com uma feição diversa da 122 Cf. MEDAUAR, 2005, p. 143-144. 60 noção atual. É corrente a afirmação de que o princípio da legalidade conduz à formação de uma relação de legalidade, cujos termos são, de um lado, a atividade administrativa e, do outro, a lei. Todavia, o conteúdo dessa relação, a esfera da atuação administrativa atingida por ela, e a própria significação dada ao termo “lei” sofreram variações com o tempo. No período do Estado liberal de direito, consoante as lições da professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro, ao lado da atividade administrativa vista como simples execução da lei, a discricionariedade era considerada como uma esfera de atuação da Administração Pública isenta de vinculação legal. Em conseqüência, o princípio da legalidade administrativa era entendido de forma restritiva, significando apenas uma vinculação negativa da Administração Pública, de forma que esta “podia fazer não só o que a lei expressamente autorizasse, como também tudo aquilo que a lei não proibisse”.123 Segundo Eduardo García de Enterría e Tomáz-Rámon Fernández, a doutrina da vinculação negativa compatibilizava-se com a concepção da discricionariedade como expressão de uma liberdade absoluta de determinação da Administração Pública, exercitável em todos os casos não regulados pela lei. Assim, a lei operaria apenas como um limite externo a uma liberdade básica de determinação.124 Nesse momento inicial do Estado de direito, a legalidade administrativa era tomada como uma regra de não-contradição ou de mera compatibilidade, conferindo ampla liberdade à Administração Pública, à custa da segurança jurídica e proteção do cidadão contra as arbitrariedades do governo. Quando da consolidação do Estado social de direito, assevera Maria Sylvia Zanella Di Pietro que já não se falava mais em vinculação negativa, prevalecendo então a doutrina da vinculação positiva. Deixou de existir uma esfera de atuação livre da Administração Pública, e a discricionariedade passou a ser vista como um poder limitado pela lei. Para a atividade 123 124 DI PIETRO, 2001, p. 26-27. ENTERRÍA; FERNÁNDEZ, 2004, t. 1, p. 445-446. 61 administrativa, a lei já não era mais apenas uma barreira externa, pois fora do quadro por ela delimitado nada poderia ser feito.125 Eduardo García de Enterría e Tomáz-Rámon Fernández assinalam que, com a doutrina da vinculação positiva, deixou-se de admitir uma zona dentro da qual a Administração Pública podia agir com liberdade e arbítrio, e a ação administrativa passou a ser válida somente quando houvesse uma cobertura legal prévia.126 Operou-se uma transformação na concepção da legalidade administrativa, com a ampliação de seu alcance, atingindo agora toda a atividade da Administração Pública, e com a alteração do conteúdo da relação de legalidade, que passou a implicar uma estreita relação de conformidade com a lei. Mediante a submissão positiva da atividade administrativa à lei, o poder tornou-se objetivado. Obedecer à Administração Pública passou a ser o mesmo que obedecer à lei e não à mera vontade da autoridade. Todavia, Maria Sylvia Zanella Di Pietro alerta que, se por um lado, tal fato representou um avanço, sob o aspecto da evolução sofrida pela própria idéia de lei, houve um retrocesso. Isso em razão do crescimento do papel do Poder Executivo na produção de normas jurídicas e da promulgação de leis em sentido apenas formal, desvinculadas da idéia de justiça.127 Com a mesma preocupação, Odete Medauar salienta: a própria sacralização da legalidade produziu um desvirtuamento denominado legalismo ou legalidade formal, pelo qual as leis passaram a ser vistas como justas, por serem leis, independentemente do conteúdo.128 125 DI PIETRO, 2001, p. 38. ENTERRÍA; FERNÁNDEZ, 2004, t. 1, p. 448. 127 DI PIETRO, 2001, p. 38. 128 MEDAUAR, 2005, p. 142. 126 62 A fim de superar tal contexto, ampliou-se um dos termos da relação de legalidade, e, atualmente, o princípio da legalidade administrativa é compreendido de forma predominante, não apenas como a submissão à lei em sentido formal, mas a todo o ordenamento jurídico. Segundo Maria Sylvia Zanella Di Pietro, com o Estado democrático de direito, propugnou-se pelo retorno ao Estado de direito, em substituição ao Estado legal, formalista e desvinculado da idéia de justiça. Nas palavras da eminente professora: Além da parte introdutória da Constituição, onde se afirmam os seus princípios fundamentais, em vários outros dispositivos se revela a preocupação com determinados valores a serem observados no desempenho da função estatal e, dentro desta, da função administrativa a cargo da Administração Pública. Esta já não está mais submetida apenas à lei, e sentido formal, mas a todos os princípios que consagram valores expressos ou implícitos na Constituição, relacionados com a igualdade, segurança, desenvolvimento, bem-estar e justiça.129 No mesmo sentido, Lucia Valle Figueiredo assinala que o princípio da legalidade não pode ser compreendido de maneira pobre, sendo ele bem mais amplo que a mera sujeição à lei, abrangendo todo o ordenamento jurídico, incluídas assim as normas e os princípios constitucionais.130 Consoante a conclusão de Odete Medauar, “hoje, a concepção de Estado de direito liga-se a um contexto de valores e à idéia de que o direito não se resume na regra escrita”. Afirma a professora que “buscou-se assentar o princípio da legalidade em bases valorativas, sujeitando as atividades da Administração não somente à lei votada pelo Legislativo, mas também aos preceitos fundamentais que norteiam todo o ordenamento”.131 Assim, quando o art. 37, caput, da Constituição Federal elenca a legalidade como princípio da Administração Pública, devemos entender que ele abrange não apenas a lei formal ou as espécies normativas a ela equiparadas, mas também os princípios e valores constitucionais, assim como os atos normativos infralegais editados pela própria Administração Pública, que recaem igualmente sobre a conduta administrativa. 129 DI PIETRO, 2001, p. 46. FIGUEIREDO, Lucia Valle. Curso de direito administrativo. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 42. 131 MEDAUAR, 2005, p. 28 e 142. 130 63 Assinala Celso Antônio Bandeira de Mello: a expressão legalidade deve, pois, ser entendida como conformidade à lei e, sucessivamente, às subseqüentes normas que, com base nela, a Administração expeça para regular mais estritamente sua própria discrição, adquirindo então um sentido mais extenso.132 Essa interpretação mais ampla dada ao princípio da legalidade administrativa implica necessariamente um controle judicial também mais amplo sobre a atividade administrativa, na medida em que as balizas tomadas para aferir a validade da conduta do agente público tornam-se mais extensas, não se resumindo apenas a um texto específico de lei. Desta forma, o princípio da legalidade deixa de representar um culto cego à lei em sentido estrito e formal, enaltecendo preceitos fundamentais, na tentativa de evitar que o ordenamento acolha medidas injustas, incompatíveis com valores albergados pela Constituição, simplesmente por remeterem a normas jurídicas emanadas do Poder Legislativo. Constatamos que o princípio da legalidade, como vinculação da Administração Pública, passou da lei formal ao ordenamento jurídico. Contudo, consideramos ser necessário ainda abordar alguns aspectos da legalidade administrativa para não dar margem a interpretações equivocadas. Tudo o que falamos anteriormente sobre a supremacia da lei formal, como expressão da vontade do Estado por excelência, acerca do primado da lei, compatibiliza-se com a atual concepção da legalidade administrativa apresentada acima. A ampliação da vinculação da atividade administrativa a todo o ordenamento jurídico não implica o abandono das idéias desenvolvidas de início. De fato, o administrador público, ao agir, deve observar todas as normas legitimamente inseridas no sistema jurídico: normas e princípios constitucionais, leis formais, leis delegadas e medidas provisórias, assim como todos os atos normativos infralegais, incluídos os editados pela própria Administração Pública. Entretanto, quando a sua atuação 132 MELLO, 2004, p. 67. 64 significar interferência na esfera de liberdade do indivíduo, seja para efetivar direitos, ou para impor obrigações, só poderá ser realizada com fundamento em lei formal ou, excepcionalmente, em atos normativos equiparados à lei. Diverso não é o entendimento de Maria Sylvia Zanella Di Pietro: A legalidade é estrita quando se trata de impor restrições ao exercício dos direitos individuais e coletivos e em relação àquelas matérias que constituem reserva de lei, por força de exigência constitucional. Em outras matérias, pode-se falar em legalidade em sentido amplo, abrangendo os atos normativos baixados pelo Poder Executivo e outros entes com função dessa natureza. Para referida autora, a legalidade estrita equivale à lei formal ou atos normativos com a mesma força de lei, como medida provisória e lei delegada.133 Cármen Lúcia Antunes da Rocha prefere chamar de juridicidade o que chamamos de princípio da legalidade administrativa, em razão da Administração Pública não estar subordinada apenas à lei formal, mas à integralidade do ordenamento jurídico, tal como expusemos. 134 Segundo a autora, a legalidade representa apenas uma parte da juridicidade administrativa, presente quando há reserva de lei; neste caso, a juridicidade exige uma fundamentação mais específica para a conduta administrativa, só se satisfazendo com a disposição de lei formal.135 Ante o exposto, entendemos que a inteligência dada ao art. 5º, inciso II, da Constituição Federal aplica-se integralmente ao exercício da função administrativa, quando da intromissão da atuação estatal no campo de liberdade jurídica reservado ao cidadão. Exige-se, nesses casos, uma vinculação mais estreita da Administração Pública, como garantia para o indivíduo. 133 DI PIETRO, 2001, p. 64. ROCHA, 1994, p. 69-70. 135 ROCHA, 1994, p. 86. 134 65 Quanto à supremacia da lei, como instrumento de manifestação da vontade soberana do Estado, implica que o administrador público, na sua atuação, deve pautar-se pelo ordenamento jurídico, considerando-o, não como um amontoado de normas, mas como um sistema normativo hierarquicamente organizado. Desta forma, submeter-se à ordem jurídica significa, antes de tudo, reconhecer que nem todas as normas possuem a mesma força jurídica, havendo uma graduação a ser respeitada. 4.4.3 Discricionariedade e legalidade administrativa Aspecto inafastável da legalidade administrativa e que em alguns momentos ainda gera polêmica na doutrina é o da discricionariedade. Interessa-nos salientar que a compreensão do princípio da legalidade não exclui a liberdade característica da prática dos atos ditos discricionários.136 No capítulo antecedente, quando procuramos caracterizar a função administrativa, afirmamos que sua estrita submissão à lei não implica compreender o ato administrativo como uma mera operação mecânica de concretização do comando legal. Isso porque o administrador público pode atuar dentro de uma certa esfera de livre movimentação, sem violar a legalidade. 136 Observamos que pode haver discricionariedade em relação a apenas um ou a vários aspectos da conduta administrativa. Falando em termos de estrutura do ato administrativo, pode haver discricionariedade quanto ao motivo, ou ao conteúdo, por exemplo, mas nunca poderá haver em se tratando da competência, pois esta é sempre atribuída pela norma jurídica. Nestes termos, a doutrina faz certas ressalvas ao emprego da expressão “ato discricionário”, porque, em verdade, não há ato administrativo totalmente discricionário. O que há é ato praticado no exercício de competência discricionária quanto a um ou a alguns aspectos, sempre haverá um ou outro elemento vinculado pela norma jurídica, ao lado de aspectos discricionários. Feito este aparte, apesar de reconhecermos a inexistência de atos totalmente discricionários, continuaremos utilizando a expressão “ato discricionário”, por ser a mais comumente empregada, em oposição aos atos vinculados. 66 A expressão discricionariedade é comumente empregada quando queremos referir-nos a uma margem de liberdade, a um espaço de atuação da Administração Pública, dentro do qual ela tem a possibilidade de ponderar as circunstâncias fáticas e proferir a decisão que, segundo sua convicção, melhor atenda ao interesse público no caso concreto. Contrariamente, dizemos que há vinculação quando a Administração Pública tem sua conduta determinada de antemão pela lei e diante do caso concreto não possui outra alternativa, senão cumprir integralmente os ditames legais. Entretanto, é preciso ressalvar que tal liberdade, num Estado de direito, em momento algum pode ser entendida como liberdade perante a lei, como ausência de norma jurídica a regular a conduta administrativa. Observamos anteriormente que a Administração Pública se subordina a disciplina rigorosa, mantendo com a lei uma relação de conformidade, de subsunção, e não apenas de compatibilidade. A professora Weida Zancaner leciona: esta possibilidade de atuar mediante a utilização de critérios subjetivos é uma forma de atribuição concedida ao administrador pela legalidade, não podendo portanto ser entendida como uma faculdade extralegal, marginal ou anterior ao Direito, livre, sem peias e sem cerceios, visto que será válida e relevante a apreciação subjetiva do administrador, se exercitada estritamente dentro da margem de liberdade concedida pela lei.137 Para Miguel Seabra Fagundes, nas hipóteses de discricionariedade, não há quebra da submissão à ordem jurídica, trata-se apenas de uma submissão adstrita a limites diversos dos comuns, mas regulada e admitida pelo Direito.138 Nesse mesmo sentido, Lucia Valle Figueiredo acentua que “atos administrativos são todos, quer vinculados, quer discricionários, atos jurídicos, atos legais, portanto, debaixo estritamente da lei e que perseguem finalidades por esta traçadas”.139 137 ZANCANER, Weida. Da convalidação e da invalidação dos atos administrativos. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 1993, p. 48. 138 FAGUNDES, 1957, p. 117. 139 FIGUEIREDO, 2004, p. 202-203. 67 Assim, mostra-se equivocada a idéia de que discricionariedade corresponde à ausência de norma jurídica a pautar a ação administrativa, como se fosse uma exceção à legalidade administrativa. Da mesma forma, é errônea a associação estabelecida entre legalidade e vinculação de um lado e oportunidade e discricionariedade do outro, ou a afirmação de que a discricionariedade existe apesar da legalidade. Discricionariedade e legalidade não são conceitos antagônicos. Discricionariedade não equivale à arbitrariedade. Segundo Maria Sylvia Zanella Di Pietro, “a arbitrariedade coloca-se do outro lado da linha que demarca o limite da discricionariedade, aquela é a liberdade de ação que ultrapassa os limites da lei; esta é a liberdade de ação exercida nos limites da lei”.140 De acordo com Celso Antônio Bandeira de Mello, no Estado de direito, “comportamento administrativo que careça de tal supedâneo (ou que contrarie a lei existente) seria pura e simplesmente arbítrio, isto é, abuso intolerável, pois discricionariedade e arbitrariedade são noções radicalmente distintas”.141 Toda competência administrativa pressupõe uma norma jurídica. Ao atribuir competências, a norma jurídica pode optar por disciplinar de forma completa e minuciosa a conduta administrativa, ou por deixar um espaço no qual o administrador tem certa liberdade de apreciação, de estimação das circunstâncias fáticas para agir. Essa liberdade pode ser maior ou menor, dependendo da opção feita pelo legislador. Discricionariedade e vinculação são formas diversas de atribuição legal da competência administrativa. Se há alguma liberdade de apreciação, esta é conferida pela lei e deve ser exercida dentro dos limites em que é concedida. Quando atua discricionariamente, o agente público não se encontra à margem da lei, mas nos estreitos limites dela. Não age de forma totalmente livre, muito menos arbitrária. 140 DI PIETRO, 2001, p. 67. MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Discricionariedade e controle jurisdicional. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 13. 141 68 Portanto, a afirmação de que a discricionariedade administrativa é uma válvula de escape142 à legalidade ou um autêntico cavalo de Tróia no seio do Direito administrativo mostra-se equivocada. Não se coaduna com a atual concepção de discricionariedade, que evoluiu desde o período em que se opunha legalidade à oportunidade. 4.5 Exceções ao princípio da legalidade O princípio da legalidade é excepcionado em algumas hipóteses previstas pelo próprio texto constitucional. Já apontamos anteriormente as medidas provisórias143 e as leis delegadas, espécies normativas constitucionalmente atribuídas ao chefe do Poder Executivo e equiparadas às leis formais. Tais atos normativos se caracterizam por inovarem originariamente a ordem jurídica de forma obrigatória, sendo elaboradas pelo Presidente da República e não pelo Parlamento. São também apontados pela doutrina como restrições ao princípio da legalidade o estado de defesa e o estado de sítio144, instrumentos previstos pela Constituição Federal para assegurar ou restaurar a normalidade do sistema jurídico ameaçada ou violada, protegendo, conseqüentemente, os valores consagrados pelo Estado democrático de direito. 142 GRAU, 2005, p. 181. Cf. FIGUEIREDO, 2004, p. 72; MELLO, 2004, p. 96; ROCHA, 1994, p. 89. 144 Cf. MELLO, 2004, p. 96; ROCHA, 1994, p. 129; SILVA, 2005, p. 761. 143 69 Segundo José Afonso da Silva, medidas provisórias e leis delegadas são as mais marcantes exceções ao princípio da separação de poderes145. Trata-se de exercício de atividade atípica pelo Poder Executivo, restrita, portanto, ao quadro traçado pelos respectivos dispositivos constitucionais. Em verdade, tais espécies normativas são exceções à legalidade específica, na medida em que esta exige lei formal para a imposição de restrições a direitos e liberdades públicas fundamentais; mas não à legalidade genérica, pois, como vimos, esta implica a obediência a todo o ordenamento jurídico. Como atos normativos que são, medidas provisórias e leis delegadas compõem o quadro da legalidade. Nas hipóteses de estado de defesa e estado de sítio, segundo Celso Antônio Bandeira de Mello, o princípio da legalidade sofre transitória constrição em decorrência de circunstâncias excepcionais, anômalas, ante as quais, a Constituição autoriza o Presidente da República a adotar providências igualmente incomuns e particularmente enérgicas.146 Dos ensinamentos de José Afonso da Silva, extraímos que o estado de defesa e o estado de sítio servem à manutenção ou ao restabelecimento da normalidade constitucional, visam à estabilização e à defesa da Constituição, assim como à defesa do próprio Estado, diante de situações de crise. Segundo o doutrinador, trata-se de estados de exceção, de instituições emergenciais, nas quais a legalidade normal é substituída por uma legalidade extraordinária, regida pelos princípios da necessidade e da temporariedade.147 Em verdade, as hipóteses de estado de defesa e estado de sítio somente podem ser consideradas como restrições aparentes ao princípio da legalidade. Isso porque são exceções apenas em relação à normatividade regularmente adotada, pois o Direito aplicado deixa de ser 145 SILVA, 2005, p. 111. Ver também Fábio Konder Comparato (2003, p. 90). MELLO, 2004, p. 96. 147 SILVA, 2005, p. 761. 146 70 o prevalente nos momentos de normalidade; porém, a normas que passam a incidir também são previstas pelo sistema jurídico. 148 Logo, mesmo nos momentos de crise, o agente público não atua segundo a sua vontade, mas conforme uma normatividade excepcional, antevista para situações igualmente extraordinárias. 148 Cf. ROCHA, 1994, p. 128. 71 5 A COMPETÊNCIA REGULAMENTAR A função administrativa, como afirmamos linhas atrás, é realizada mediante atividades que podem assumir formas e apresentar conteúdos diversos, caracterizando-se pela sua heterogeneidade. Dentro dessa multiplicidade, encontramos a figura do regulamento como produto do exercício da aludida função. Apesar de se tratar de norma geral e abstrata, à semelhança da lei, entre nós, não se sustenta a inclusão do regulamento no âmbito da função legislativa, pois, a despeito dessa afinidade, muitas são as diferenças entre os dois referidos atos estatais. Desde logo, apontamos que o ato regulamentar não inova originariamente a ordem jurídica, característica principal dos atos legislativos. Não é ato de produção jurídica primário, mas ato de produção jurídica complementar, possuindo, como objetivo último, a aplicação concreta dos primeiros, segundo doutrina de Renato Alessi.149 Situa-se o regulamento numa posição intermediária, intercede entre o comando da lei e o ato de aplicação concreta desta150, coloca-se entre a lei e o ato concreto e individual de execução151, sem se confundir com nenhum dos dois, como veremos adiante. O fato de consubstanciar uma atuação normativa não refuta a afirmação de que a competência regulamentar representa a prática de função típica pelo Poder Executivo. O regulamento está subordinado à ordem jurídica e sujeito ao controle do Poder Judiciário, o Estado expede-o como parte interessada da relação à qual o mesmo dará origem e em posição 149 ALESSI, 1970, t. 1, p. 7-8. Cf. ATALIBA, Geraldo. Poder regulamentar do executivo. Revista de Direito Público, São Paulo, v. 14, n. 57-58, p. 184-208, jan./jun. 1981. Cf. p. 188. 151 Cf. CARRAZA, Roque Antônio. O regulamento no direito tributário brasileiro. São Paulo: Revista dos tribunais, 1981, p. 16. 150 72 de superioridade diante dos seus destinatários, ou seja, é fruto do exercício da função administrativa. Outro aspecto relevante é a inclusão ou não do regulamento no conceito de ato administrativo. Sobre conceitos jurídicos, tomamos as lições do mestre argentino Agustín Gordillo, para o qual, a expressão “ato administrativo” possui um emprego convencional, tal como as demais palavras. Atribuir à referida locução um sentido mais amplo ou mais restrito é uma questão de preferência, definida com base na maior ou menor utilidade e praticidade de cada sentido para quem vai aplicá-la. Essa escolha se fundamenta em razões didáticas e metodológicas, objetivando facilitar a compreensão do tema analisado. Não há uma definição verdadeira, excluindo-se todas as demais.152 Diante da complexidade de atos praticados no âmbito da função administrativa, a doutrina procura agrupar sob um título comum aquela categoria de atos emanados de forma predominante. Dá-lhes o nome de ato administrativo. São estes atos normalmente identificados como declarações jurídicas unilaterais, individuais e concretas expedidas no exercício da função administrativa. Esse é um emprego restrito da expressão “ato administrativo”, que exclui, por exemplo, os atos jurídicos bilaterais (contratos administrativos) e os gerais e abstratos (regulamentos). Com base nessa opção, alguns autores deixam os regulamentos de fora da definição de ato administrativo. Todavia, também é possível considerar a referida locução num sentido mais amplo, incluindo os regulamentos naquela definição, considerando-os como atos administrativos qualificados pela generalidade e abstração. Para nós, nada impede que se faça um duplo uso do termo “ato administrativo”, desde que se esclareça de antemão. Consideramos atos administrativos lato sensu todos os atos jurídicos unilaterais ou bilaterais, individuais ou gerais, concretos ou abstratos, expedidos no 152 GORDILLO, 2003, t. 3, p. IV-2. 73 exercício da função administrativa. Enquanto atos administrativos stricto sensu são aqueles atos jurídicos unilaterais, individuais e concretos, que constituem a maior parte da atividade administrativa. Segundo Agustín Gordillo, adotar uma definição mais restrita serve a uma finalidade metodológica, mas não se pretende com isso negar o caráter de atos aos contratos e regulamentos, nem que eles sejam de índole administrativa.153 Tampouco pretendemos negar a natureza administrativa de atos unilaterais e gerais, a exemplo dos editais de licitação ou de concurso público, destinados à regulação de situações concretas e específicas. Como gênero, o ato administrativo abarca o regulamento; como espécie, o exclui. Ao mesmo tempo que há semelhanças que os aproximam, há diferenças de regime jurídico que os afastam, justificando, nestes termos, uma separação terminológica. O regulamento é, portanto, para nós, ato administrativo geral e abstrato, expedido no exercício da função administrativa. Fixadas essas premissas, procuraremos diferenciá-lo de outras figuras igualmente administrativas e da lei, tarefa que nos permitirá identificar algumas importantes características do ato regulamentar. 5.1 Diferenças entre o regulamento e o ato administrativo em sentido estrito O principal traço distintivo entre o ato administrativo regulamentar e o ato administrativo stricto sensu, também denominado pela doutrina de ato executivo, é a generalidade e a abstração característica daquele ato, enquanto este último singulariza-se 153 GORDILLO, 2003, t. 1, p. X-8. 74 normalmente pela individualidade e concreção. Outras diferenças encontráveis decorrem dessa separação inicial. Tal como o regulamento, o ato executivo é doutrinariamente considerado como norma jurídica, só que se trata de uma norma concreta; assim, em rigor, ambos são atos normativos. Entretanto, reservaremos aqui a expressão ato administrativo normativo aos atos gerais e abstratos expedidos pela Administração Pública. A abstração diz respeito às hipóteses abrangidas pelo ato regulamentar. O regulamento é abstrato, pois se dirige a todas as hipóteses concretas por ele definidas abstratamente. Na medida em que as situações concretas se enquadrem no modelo definido previamente, dá-se sobre elas a produção do efeito jurídico previsto. Destina-se, assim, a uma série indeterminada de hipóteses concretas. Conforme Clèmerson Merlin Clève, o comando inscrito no ato administrativo é abstrato quando abarca uma “série indeterminada de atos que deverão se repetir no tempo sempre que a hipótese categorial, abstratamente prevista, se realizar no plano fático”.154 A generalidade refere-se aos indivíduos atingidos pelo ato regulamentar. O regulamento é geral, pois alcança um número indeterminado de indivíduos, incidindo sobre todos aqueles que praticarem as condutas abstratamente por ele descritas. O aludido ato não precisa se dirigir necessariamente a um grande número de pessoas. Pode ter sua aplicação limitada a um certo local ou por um determinado lapso de tempo, alcançando quantidade reduzida de indivíduos.155 O regulamento é impessoal; “na sua edição, abstrai o editor qualquer pessoa particular, fixando-se na contemplação abstrata de um modelo ou padrão dos fatos suscetíveis de ocorrerem”, não se inspirando na consideração de casos individuais.156 154 CLÈVE, 1993, p. 222-223. Cf. BASTOS, 2002, p. 602; STASSINOPOULOS, 1954, p. 65; FERRAZ, Sérgio. 3 estudos de direito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1977, p. 112. 156 ATALIBA, 1981, p. 188. 155 75 Enquanto isso, o ato administrativo stricto sensu não é dotado de abstração, nem se caracteriza pela impessoalidade. O ato executivo visa a situações previamente particularizadas, trata de hipóteses fáticas concretas. Afirma Hely Lopes Meirelles que tais atos provêem hipóteses específicas e concretas, criam situações jurídica particulares para indivíduos determinados.157 A abstração, generalidade e impessoalidade são da essência do regulamento. O ato administrativo regulamentar estabelece regras objetivas de conduta que integram o ordenamento jurídico. É reconhecidamente fonte de Direito, vinculando a atuação da Administração Pública, por imposição do princípio da legalidade administrativa. Nas palavras de Eduardo García de Enterría e Tomáz-Rámon Fernández: La distinción más obvia entre el Reglamento y el acto es que aquél forma parte del ordenamiento jurídico, en tanto que el acto es algo “ordenado”, produzido en el seno del ordenamiento y por éste previsto como simple aplicación del mismo. El Reglamento innova el ordenamiento (deroga otro Reglamento anterior, crea normas nuevas, habilita relaciones o actos hasta ese momento no previstos), el acto se limita a aplicar el ordenamiento a un supuesto dado o por dicho ordenamiento previsto.158 Na lição de Michel D. Stassinopoulos, por criar regra de Direito, o conteúdo do ato regulamentar não se exaure numa única aplicação, tendo força para engendrar novas aplicações, em casos futuros e indetermináveis.159 Os efeitos do regulamento podem ser produzidos repetidamente, durante sua vigência. Os efeitos do ato executivo exaurem-se com a sua aplicação. Para que sejam produzidos novamente os mesmos efeitos, é preciso editar-se um novo ato. O regulamento mantém-se integrado ao ordenamento, permitindo sucessivos cumprimentos, ao passo que o ato administrativo stricto sensu é consumido com sua própria aplicação, “não se incorpora com vocação de permanência ao ordenamento jurídico”.160 157 MEIRELLES, 1997, p. 147. ENTERRÍA; FERNÁNDEZ, 2004, t. 1, p. 187. 159 STASSINOPOULOS, 1954, p. 65. 160 GORDILLO, 2003, t. 3, p. IV- 19. 158 76 Da natureza do regulamento decorre sua precedência sobre o ato administrativo concreto. Apesar de serem ambos atos administrativos, há uma gradação entre o ato regulamentar e o ato executivo; existe uma relação de subordinação. Ao editar um ato específico, o agente público deve obediência ao disposto pelo regulamento, mesmo que ele próprio o tenha expedido. Se contrariar a norma regulamentar, o ato executivo é inválido, pois a Administração deve acatar suas próprias normas. 161 Além das distinções acima descritas, outras mais podem ser enumeradas com fundamento em nosso Direito positivo. Quanto à competência, de acordo com o art. 84 de nossa Constituição Federal, os regulamentos são editados pelo Presidente da República. Também podem ser expedidos pelos Governadores e Prefeitos, chefes dos executivos estadual, distrital e municipal, em decorrência do princípio da simetria. Por sua vez, os atos executivos são expedidos por qualquer agente público. Em relação à forma, os regulamentos são veiculados sob a forma de decreto, que é o revestimento normalmente dado aos atos do chefe do Poder Executivo. Já os atos executivos assumem as mais diversas formas, sejam estas solenes ou não. Impõe-se também como requisito formal dos regulamentos a referenda ministerial, consoante o preceituado pelo art. 87, inciso I, da Constituição Federal, o que não é normalmente exigido para os atos executivos. No que tange à publicação, é sempre necessária para os regulamentos, enquanto os atos executivos podem ter publicação resumida ou serem simplesmente notificados aos seus destinatários.162 161 Cf. MEIRELLES, 1997, p. 147; OLIVEIRA, Régis Fernandes de. Ato administrativo. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1992, p. 56. 162 Cf. GASPARINI, Diógenes. Poder regulamentar. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982, p. 9-10; CLÈVE, 1993, p. 232. 77 Por serem normas jurídicas, os regulamentos só se tornam obrigatórios com a publicação. É a forma pela qual são levados ao conhecimento dos administrados e dos órgãos e agentes da Administração Pública. Normalmente, entram os regulamentos em vigor na data de sua publicação, salvo se, de modo expresso, seu texto determinar outro momento. Diversamente, Diógenes Gasparini sustenta que, por ser ato normativo material igual à lei, aplicam-se ao regulamento os mesmos princípios de vigência previstos pela Lei de Introdução ao Código Civil. Assim, para o professor, se o regulamento nada dispuser sobre sua entrada em vigor, esta deve dar-se após o período de 45 dias, previstos para a vacatio legis. Justifica o autor afirmando que “o órgão incumbido de sua execução pode necessitar de prazo para equipar-se”.163 Oswaldo Aranha Bandeira de Mello entende que a vacatio legis só se aplica às leis formais. Segundo o doutrinador, se o regulamento serve para dar melhor aplicação à lei, e muitas vezes para torná-la aplicável, é preferível que se torne obrigatório na data de sua publicação, salvo disposição em contrário. É a posição que preferimos e a verificada usualmente na prática administrativa.164 Por último, podemos também destacar que regulamentos e atos administrativos em sentido estrito diferem quanto ao processo de impugnação contenciosa. Como o regulamento é ato abstrato, dificilmente lesiona um direito individual e, conseqüentemente, dá ensejo à abertura de processo judicial. Contrariamente, os atos executivos sempre podem ser diretamente atacados perante o Poder Judiciário, pois atingem concretamente a esfera jurídica de seus destinatários. 163 GASPARINI, 1982, p. 100. MELLO, 1969, v. 1, p. 364. No mesmo sentido: FERREIRA, Sérgio de Andréa. Direito administrativo didático. Rio de Janeiro: Forense, 1981, p. 60. 164 78 Até o momento, podemos afirmar que, no Direito brasileiro, regulamento é o ato administrativo geral e abstrato, expedido pelo chefe do Poder Executivo, mediante decreto, com referenda ministerial, no exercício da função administrativa. Registramos que o quadro comparativo exposto acima é apenas exemplificativo, pois outras diferenças ainda podem ser enumeradas com base na melhor doutrina. Procuramos elencar aquelas que compreendemos de maior expressão, para observarmos a diferença entre o regime jurídico dos regulamentos e dos atos administrativos em sentido estrito, que passaremos a denominar simplesmente atos administrativos. Algumas das características regulamentares já apontadas serão retomadas em tópicos posteriores. 5.2 Diferenças entre o regulamento e outros atos administrativos gerais e abstratos Ao lado dos regulamentos, a Administração Pública edita outros atos igualmente gerais, abstratos e impessoais. Apesar de dotados da mesma natureza geral e abstrata, a doutrina aponta diferenças entre estes atos e os atos regulamentares quanto à competência, à forma, à posição hierárquica. Em relação à competência, já observamos que os regulamentos são editados pelo chefe do Poder Executivo Federal, Estadual, Municipal ou Distrital, enquanto os demais atos administrativos normativos são ditados por autoridades administrativas a ele subalternas, conforme competência atribuída pela lei. A forma do regulamento é sempre o decreto, ao passo que os demais atos normativos assumem formas diversas, tais como portarias, instruções, regimentos, resoluções, deliberações. 79 Quanto à hierarquia, estes outros atos administrativos gerais e abstratos situam-se em posição inferior ao regulamento. Consoante Clèmerson Merlin Clève, isso decorre do fato de o chefe do Poder Executivo exercer a direção superior da Administração Pública (art. 84, inciso II, da Constituição Federal).165 Os atos normativos ditados por autoridades hierarquicamente inferiores à autoridade máxima do Poder Executivo são formas subordinadas ao ato por ele expedido, que é o regulamento. Muitas vezes, são utilizados inclusive para iniciar a própria execução dos regulamentos. Todavia, segundo Diógenes Gasparini, isso não impede que tais atos não regulamentares sirvam à execução direta da própria lei, o que não os torna formalmente equiparados aos regulamentos.166 É o caso, por exempo, das instruções ministeriais, previstas pelo art. 87, inciso II, da Constituição Federal, para a execução de leis, decretos e regulamentos. Algumas autoridades administrativas podem igualmente expedir normas gerais e abstratas destinadas a assegurar a correta execução das leis. Entretanto, trata-se de atos normativos inferiores àqueles expedidos pelo chefe do Poder Executivo mediante decreto. A par das diferenças apontadas, os demais atos normativos ditados pela Administração Pública possuem as mesmas limitações dos regulamentos: não podem inovar originariamente a ordem jurídica, não podem criar direitos e obrigações aos particulares, consubstanciam comandos complementares à lei, visando derradeiramente à sua correta aplicação. Nas lições do professor Celso Antônio Bandeira de Mello: Tratando-se de atos subalternos e expedidos, portanto, por autoridades subalternas, por via deles o Executivo não pode exprimir poderes mais dilatados que os suscetíveis de expedição mediante regulamento.167 165 CLÈVE, 1993, p. 231. GASPARINI, 1982, p. 120. 167 MELLO, 2004, p. 337. 166 80 Se o regulamento, expedido pela autoridade máxima da Administração Pública, é subordinado à lei, com maior razão, são-nos os atos normativos ditados por autoridades investidas de poderes menores, que se encontram em posição jurídica inferior. 5.3 Diferenças entre o regulamento e a lei Lei e regulamento assemelham-se quanto a generalidade, abstração, impessoalidade e obrigatoriedade, além de integrarem o ordenamento jurídico, consubstanciando fonte de Direito e compondo um dos termos da relação de legalidade administrativa, aquele que vincula os atos da Administração Pública a comandos preexistentes. A proximidade, no entanto, pára neste ponto, e grande torna-se a distância entre a lei e o regulamento, quando analisados seus respectivos regimes jurídicos. Primeiramente, podemos apontar uma diferença quanto à origem. A lei é ato típico do Poder Legislativo, produto do exercício da função legislativa, ao passo que o regulamento é ato do Poder Executivo, fruto do exercício da função administrativa. Trata-se de competências específicas e distintas. A respeito do processo de elaboração de cada ato estatal, enquanto a lei é criada conforme um processo constitucionalmente traçado, o regulamento não exige maiores solenidades para sua emanação, não há normalmente um processo formalizado, exigindo-se apenas a forma de decreto. Em decorrência desse processo de formação, a lei proporciona aos indivíduos garantias democráticas superiores àquelas oriundas da mera generalidade e abstração dos regulamentos. Tal é o motivo pelo qual nosso ordenamento jurídico atribui à lei, e não ao 81 regulamento, ou a outros atos administrativos normativos, a tarefa de definir a esfera de liberdade jurídica dos cidadãos. Afirmamos em passagem anterior que, mesmo aqueles atos equiparados às leis, dotados de força de lei, justamente por não oferecerem essas mesmas garantias, estão constitucionalmente submetidos a limites e restrições. Enquanto o regulamento decorre da vontade unipessoal do chefe do Poder Executivo, representando a decisão de uma só pessoa, a lei é fruto da deliberação de um colegiado, do debate entre as várias correntes de pensamento presentes na sociedade. Além disso, consoante os ensinamentos de Celso Antônio Bandeira de Mello, o processo de formação das leis permite uma maior fiscalização por parte da sociedade, na medida em que todo o seu trâmite é acessível aos cidadãos, que podem saber antecipadamente as disposições que poderão vir a afetá-los. Ao contrário, os regulamentos são elaborados sem publicidade, expedidos da noite para o dia, sem a possibilidade de qualquer controle social.168 Em referência à área de atuação, a lei pode dispor sobre qualquer assunto. Na esfera federal, compreende em seu âmbito todas as matérias de competência da União, segundo o art. 48 da Constituição Federal. Não há, entre nós, partilha de competências legislativas entre Executivo e Parlamento, tal como ocorre no sistema constitucional francês.169 Nesse sentido, manifesta-se Luciano Ferreira Leite: “No nosso direito, todas as matérias fundam-se na lei, não havendo, portanto, que se falar quer em reserva regulamentar, quer em reserva da lei. Deve-se falar em primado da lei”.170 168 MELLO, 2004, p. 336-337. A Constituição Francesa de 1958, em seu art. 34, enumera taxativamente as matérias de domínio da lei, de competência do Parlamento. E em seu art. 37 determina que as matérias remanescentes, não previstas pelo artigo anterior, possuem caráter regulamentar, pertencem à competência normativa do Governo, que pode estatuir sobre elas com a mesma liberdade do legislador. Existe um domínio da lei e um domínio do regulamento, no qual o legislador não pode incursionar. Assim, na França, faz sentido falar-se em reserva de lei e reserva regulamentar. Cf. RIVERO, Jean. Direito administrativo. Coimbra: Almedina, 1981, p. 68-69; FERREIRA FILHO, Manuel Gonçalves. A autonomia do poder regulamentar na constituição francesa de 1958. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 84, p. 24-39, abr./jun. 1966. Cf. p. 32. 170 LEITE, Luciano Ferreira. O regulamento no direito brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1986, p. 69. 169 82 Quanto ao regulamento, dirigido à execução das leis, consoante determinação constitucional contida no art. 84, cuida da matéria administrativa relacionada com seu mister de dar cumprimento aos comandos legais. Cármen Lúcia Antunes da Rocha assinala: o regulamento cuida de matéria administrativa, compreendendo as relações internas ou a sua dinâmica para o atendimento do interesse dos cidadãos em sua vinculação com a Administração Pública [...] no exercício desta competência a Administração Pública debruça-se sobre os seus domínios e competências e organiza-se para cumprir melhor os seus fins.171 A maior ou menor amplitude do regulamento, bem como sua própria existência, dependem da forma pela qual se dá a regulação de determinado tema pela lei. Um aspecto da lei que seja objeto de regulamento pode ser posteriormente regulado por lei, e não poderá mais o regulamento alterá-lo. Não há um específico regulamentar, dentro do qual o legislador não pode atuar. Porém, o inverso ocorre; há um específico legal vedado ao regulamento, protegido das suas disposições, que diz respeito às liberdades fundamentais asseguradas aos cidadãos. Na pirâmide normativa, o regulamento é hierarquicamente inferior à lei. E esta assume inquestionável posição de supremacia sobre o ato regulamentar, considerado de menor força jurídica. O regulamento encontra na lei seu fundamento de validade. Em razão da superioridade da lei, o regulamento, em hipótese alguma, pode contrariála. Trata-se de ato menor, que cede ante os comandos legais. Deve haver entre lei e regulamento uma relação de compatibilidade. Conforme doutrina de Clèmerson Merlin Clève, vigora entre a lei e o regulamento o princípio da primazia ou preeminência da lei, segundo o qual, a lei está hierarquicamente acima do regulamento, que não pode contrariá-la. Enquanto o regulamento não pode revogar a 171 ROCHA, 1994, p. 94. 83 lei, cuja modificação ou extinção só é possível por outra lei; esta não encontra no regulamento qualquer limite.172 Diferença crucial, apontada por toda doutrina, refere-se ao conteúdo. A lei, por ser ato típico praticado no exercício da função legislativa, detém a característica formal que identifica essa função, qual seja, a força de inovar originariamente a ordem jurídica. Já o regulamento, na medida em que é fruto do exercício da função administrativa, possui natureza complementar em relação à lei, sem ter força suficiente para modificar primariamente o ordenamento jurídico. Na lição de Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, só a lei pode inovar originariamente a ordem jurídica, enquanto o regulamento não a altera; é uma fonte secundária do Direito, ao passo que a lei é fonte primária.173 A novidade não basta para diferenciar lei e regulamento. Isso porque todo ato jurídico, incluindo-se desta forma o ato administrativo, modifica situação jurídica preexistente. Assim como a lei, o regulamento cria, modifica ou extingue situações jurídicas gerais. Se não pudessem inovar, seriam os regulamentos meros atos repetitivos da lei.174 O que distingue lei e regulamento é o fato de apenas o ato legislativo inovar de modo originário, primário, absoluto a ordem jurídica, enquanto o regulamento inova de forma secundária, subordinada. Isso significa que só a lei pode criar direitos e obrigações novas para os indivíduos, estando o regulamento limitado às suas disposições. As possibilidades de estatuição do ato regulamentar só existem dentro do quadro traçado pela lei. 172 CLÈVE, 1993, p. 235. MELLO, 1969, v. 1, p. 357. 174 Cf. GASPARINI, 1982, p. 37-38; FAGUNDES, 1957, p. 35-36; FRAGA, 1971, p. 107. 173 84 O regulamento decorre de uma competência derivada da lei, é ato normativo secundário, a normatividade que veicula é de segundo grau, sem a primariedade que caracteriza o ato legislativo.175 Este último traço distintivo faz do regulamento, além de uma norma hierarquicamente inferior à lei, uma norma dependente da lei. Eduardo García de Enterría e Tomáz-Rámon Fernández lecionam: Como todos los productos administrativos, el Reglamento es una norma necesitada de justificación, caso por caso, condicionada, con posibilidades limitadas y tasadas, libremente justiciable por el Juez. Su submisión a la Ley es absoluta, en varios sentidos: no se produce más que en los ámbitos que la Ley le deja, no puede intentar dejar sin efecto los preceptos legales o contradecirlos, no puede suplir la Ley allí donde ésta es necesaria para producir un determinado efecto o regular un cierto contenido.176 Os preceitos regulamentares, além de subordinados aos legais, são deles derivados, dependentes. Trata-se de fato decorrente de seu caráter administrativo. Apesar de não ser ato executivo, no sentido de ato concreto, específico, individual, o regulamento é ato menos geral e abstrato que a lei e corresponde a sua execução. Objetiva o regulamento a concreção dos comandos legais, tal como os demais produtos administrativos. Essa posição subordinada e dependente do regulamento vai naturalmente ao encontro do que afirmamos acerca dos princípios da separação de poderes e da legalidade e da sua relação com a esfera administrativa. Dissemos anteriormente que a única via possível à Administração Pública é a aberta pela lei. O ato legislativo é, ao mesmo tempo, limite e fundamento da ação administrativa; daí a afirmação de não poder ser o regulamento expedido contra legem, extra legem ou praeter legem, mas apenas intra legem, secundum legem. 175 Cf. LEITE, 1986, p. 26; ROCHA, 1994, p. 94; VELLOSO, Carlos Mário da Silva. Do poder regulamentar. Revista de Direito Público, São Paulo, v. 16, n. 65, p. 39-50, jan./mar. 1983. Cf. p. 41. 176 ENTERRÍA; FERNÁNDEZ, 2004, t. 1, p. 182. 85 As relações estabelecidas acima entre lei e regulamento servirão ao desenvolvimento do controverso tema das espécies regulamentares identificadas doutrinariamente e da sua aceitação pelo nosso sistema jurídico. 5.4 Natureza da competência regulamentar Freqüentemente, encontramos na doutrina a utilização da expressão “poder regulamentar”. O próprio texto constitucional emprega a referida locução em seu art. 49, inciso V. Surge, então, o questionamento acerca da natureza dessa atuação administrativa de expedir regulamentos. Nossos doutrinadores discutem se se trata de poder, faculdade ou atribuição. Para Diógenes Gasparini, não é poder como são Poderes o Legislativo, o Executivo e o Judiciário; nem no sentido de poder político, pois este é uno, indivisível e exercitado por aqueles conjuntos de órgãos mediante as funções legislativa, executiva e judicial.177 Como tivemos a oportunidade de constatar, a Administração Pública exerce função, no sentido de que tem o dever de atuar, a fim de atingir o interesse público assinalado pelo ordenamento jurídico, recebendo, para tanto, prerrogativas e poderes ditos instrumentais, pois só se justifica seu emprego para a consecução de seu mister. Nesses termos, não nos parece preciso falar em “poder regulamentar”, seja pelas razões apontadas pelo doutrinador acima colacionado, seja por não se tratar simplesmente de um poder, ou de uma prerrogativa, mas, verdadeiramente, de um dever-poder, como enfatiza o professor Celso Antônio Bandeira de Mello. 177 GASPARINI, Diógenes. Direito administrativo. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 112. 86 Na lição do referido autor, o chamado “poder regulamentar” é apenas uma das “competências administrativas conferidas ao Executivo para outorgar precisões maiores ao que conste de lei, a fim de cumprir a tarefa de concretização progressiva do direito”.178 Diante do conceito de função pública, tampouco nos parece exato falar em uma “faculdade regulamentar”. O que há é um dever, a obrigatoriedade de perseguir finalidades impessoais predeterminadas e não uma prerrogativa atribuída a alguém, para ser exercida ao seu talante. Cármen Lúcia Antunes da Rocha salienta: a norma de competência é sempre impositiva e obrigatória, suscitando o comportamento estatal necessário ao atingimento da finalidade a que se destina no preciso momento em que as condições, expressa ou implicitamente previstas no sistema legal, apresentarem-se na realidade social [...] a Administração Pública não tem uma faculdade de expedir ou não o regulamento, quando a hipótese legal o prever e a efetividade da lei dele depender.179 Assevera Diógenes Gasparini que a locução “faculdade regulamentar” carece de perfeição técnico-jurídica, na medida em que traduz um juízo de liberdade ou de permissão para optar, enquanto ao chefe do Poder Executivo não cabe escolher entre regulamentar ou não uma lei, se esta o exige. Segundo o autor, o titular da atribuição regulamentar não possui uma faculdade, dada a obrigatoriedade de seu exercício, sob pena de ser responsabilizado por negligência.180 Não há faculdade regulamentar, mas o dever de regulamentar, sempre que for necessário à implementação da integral eficácia de determinada lei. Ao chefe do Poder Executivo cabe dar execução às leis e não procrastinar ou impedir que elas produzam os efeitos aos quais foram predestinadas.181 178 MELLO, 1990, p. 45. ROCHA, 1994, p. 95-96. 180 GASPARINI, 1982, p. 18-19. 181 Todavia, entendemos que pode a autoridade administrativa exercer competência regulamentar, diante de leis administrativas que não dependem de regulamento para a produção plena de seus efeitos, a fim de aprimorar, melhorar, facilitar a aplicação da lei às situações fáticas concretas, detalhando-a sem restringir, ampliar ou 179 87 É de uso corrente na doutrina, jurisprudência e legislação a locução “poder regulamentar”. A nosso ver, entrentanto, a expressão mais adequada para designar o objeto de que estamos tratando é “competência regulamentar”, na medida em que evoca a idéia de dever, de responsabilidade, natural ao exercício da função administrativa num Estado democrático de direito. 5.5 Fundamento político da competência regulamentar A doutrina denomina fundamento ou justificativa política, prática ou material as razões pelas quais o Direito positivo prevê a competência regulamentar, ou seja, os motivos que reclamam a sua existência. Recordamos que o regulamento é um ato geral e abstrato que se interpõe entre a lei e o ato administrativo individual e concreto, a fim de auxiliar correta execução daquela. As respostas dadas pelos doutrinadores são variadas e se complementam. Diógenes Gasparini justifica a competência regulamentar na conveniência e oportunidade de se conferir ao Poder Executivo a possibilidade de dotar a lei de certos pormenores, acerca da estrutura da Administração Pública ou sobre determinadas matérias, a respeito das quais está melhor aparelhado do que o Poder Legislativo. Ademais, segundo o professor, este não pode prever tudo, sob pena de abdicar da sua própria posição de legislador.182 Odete Medauar assevera: a lei não pode abrigar todas as minúcias da matéria que disciplina, só o Executivo tem conhecimento pleno dos mecanismos e meios administrativos, necessários à fiel execução da lei; por vezes é necessária a extrapolar o conteúdo dos comandos legais. Nessas situações, há o exercício de competência discricionária quanto à expedição ou não de regulamento e não o dever de fazê-lo. 182 GASPARINI, 2001, p. 112-113. 88 indicação, adaptação ou criação de órgãos administrativos para o cumprimento da lei; em outras, a execução da lei depende de procedimentos administrativos, da elaboração de formulários, etc.183 Por sua vez, Sérgio Ferraz assinala: o progresso tecnológico, diariamente conquistado, e a crescente complexidade dos fenômenos sociais, tornam, realmente, indesejável e praticamente impossível que na lei possa exaurir-se o objeto da atuação normativa [...] Cedo se revelaria de insuportável fixidez, divorciada da realidade fática, a lei que descesse a minúcias, de hábito, regulamentares.184 Por sua vez, Celso Antônio Bandeira de Mello considera que a competência regulamentar vem atender a uma exigência derivada do princípio da igualdade, pois o regulamento impõe aos órgãos e agentes administrativos “padrões de conduta que correspondem a critérios administrativos a serem obrigatoriamente observados na aplicação da lei aos casos particulares”, favorecendo, assim, o tratamento uniforme dos indivíduos submetidos a situações parificadas.185 Das lições colacionadas, podemos arrolar os seguintes fundamentos práticos para a competência regulamentar: é impossível ao Poder Legislativo prever todas as situações fáticas possíveis e antever todas as necessidades que poderão surgir quando da execução das leis; em certas situações e em relação a determinadas matérias, o Poder Executivo está em melhores condições de prever os pormenores necessários à execução da lei; por vezes, o regulamento é necessário para assegurar tratamento isonômico aos administrados quando da aplicação da lei; a atual complexidade das relações sociais e a celeridade com que estas se modificam exige um conhecimento mais especializado e maior flexibilidade para uma regulação satisfatória, tornando indispensável a competência regulamentar, dada sua maior facilidade de adaptação e o aparelhamento técnico do Poder Executivo. Diante dessas motivações, o legislador pode optar por disciplinar determinado fato ou situação, de modo a criar a possibilidade ou a necessidade de uma regulação pormenorizada a 183 MEDAUAR, 2005, p. 133. FERRAZ, 1977, p. 115. 185 MELLO, Celso Antônio Bandeira de Mello. Ato administrativo e direito dos administrados. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1981, p. 93. 184 89 ser feita pela Administração Pública, responsável pela execução das leis. Obviamente, desde que não deixe ao preceito regulamentar a tarefa de instituir direitos ou obrigações novas para os indivíduos, em razão da vedação imposta pelo princípio da legalidade. Desta forma, reiteramos a afirmação de que, além de subordinado, o regulamento é dependente da lei. 5.6 Fundamento jurídico da competência regulamentar Além das justificativas políticas, possui a competência regulamentar um fundamento jurídico ou formal. Parte da doutrina extrai tal fundamento diretamente da Constituição. Nas palavras de Eduardo García de Enterría e Tomáz-Rámon Fernández: la Administración no puede ejercitar más potestades que aquellas que efectivamente le han sido concedidas [...] se ésta detenta un poder reglamentario independiente es porque se lo ha otorgado la Constituición [...] se reconoce a la Administración un poder reglamentario propio y general, no surgido como tal de delegaciones legislativas.186 Nesse passo, o legislador constituinte outorga ao Poder Executivo a competência regulamentar. Nossa Carta Magna a prevê expressamente em seu art. 84, como atribuição do Presidente da República. Trata-se de competência constitucional originária, de modo que não necessita o Poder Executivo de autorização ou delegação do Poder Legislativo para o seu exercício. Alguns doutrinadores apontam como justificativa formal o fato de ser a atividade regulamentar natural ao exercício da função administrativa, atribuída predominantemente ao Poder Executivo. Consoante Roque Antônio Carraza, não é apenas em decorrência da Constituição Federal que os regulamentos devem ser expedidos, pois a Administração Pública, a fim de 186 ENTERRÍA; FERNÁNDEZ, 2004, t. 1, p. 185-186. 90 cumprir sua tarefa, às vezes precisa tomar providências regulamentares. Com isso, o professor sustenta que a competência regulamentar pode surgir como exigência inafastável do exercício da função administrativa. 187 Seguindo os ensinamentos de Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, temos que, em princípio, a competência regulamentar cabe ao Poder Executivo, pois a este incumbe dar execução às leis, e o regulamento constitui o primeiro momento dessa execução. Assim, para o autor, mesmo se nada disser a Constituição, independentemente de qualquer texto expresso, a atividade regulamentar é atribuição do Poder Executivo, já que a este compete garantir a execução da lei.188 Para nós, sustentar que o fundamento jurídico da competência regulamentar do Poder Executivo é a Constituição, ou defender que é o fato de ser a atividade regulamentar um componente natural da função administrativa, parece ser mais uma questão terminológica do que de fundo. Isso porque, se é a Constituição que distribui as funções estatais entre os Poderes, é ela quem atribui predominantemente ao Poder Executivo o exercício da função administrativa e, em conseqüência, a atividade regulamentar como parte desta função. Podemos ainda observar que, quando confere competências administrativas, a Constituição impõe um dever de agir; assim, implicitamente, também atribui os meios necessários para o cumprimento desse dever. Em outras palavras, a Constituição determina a execução da lei como dever do Poder Executivo e confere-lhe os “poderes” necessários à consecução desse mister; dentre eles, a atividade regulamentar. Nesses termos, consideramos ser possível afirmar que, no Direito brasileiro, de modo imediato, a competência regulamentar do Poder Executivo fundamenta-se formalmente nos 187 188 CARRAZA, 1981, p. 14. MELLO, 1969, v. 1, p. 359. 91 respectivos dispositivos constitucionais e, de modo mediato, no princípio da separação de poderes agasalhado pela Constituição. Parcela de nossa doutrina fundamenta a competência regulamentar conferida especialmente ao chefe do Poder Executivo em seu poder hierárquico. É a posição dos professores Geraldo Ataliba e Celso Antônio Bandeira de Mello.189 Conforme Geraldo Ataliba, a competência regulamentar do Presidente da República, possui de forma imediata, assento constitucional e, mesmo se não existisse cláusula constitucional, não se poderia negar a sua existência, pois se trata de atividade conatural “à função de cabeça do “ramo executivo do governo” e inerente ao seu poder hierárquico (bem como correspectivo de sua responsabilidade política e funcional)”. Para o autor, o princípio hierárquico e a responsabilidade do chefe do Executivo pela execução das leis são os fundamentos sistemáticos da sua competência regulamentar.190 Por ser a autoridade máxima do Poder Executivo, responsável pela sua direção superior, detém o Presidente da República poder de comando, de instrução sobre os demais agentes públicos e, em contrapartida, torna-se o principal responsável pela execução das leis. Para poder desempenhar bem seu papel, é preciso, então, atribuírem-se-lhe os instrumentos necessários, entre os quais, a atividade de regulamentar as leis. Nesses termos, observamos que o poder hierárquico justifica a atribuição da competência regulamentar ao Presidente da República, aos Governadores e aos Prefeitos, pois, cada qual, em sua respectiva esfera de atuação, é o responsável maior pela condução da Administração Pública no cumprimento de sua função. Trata-se de fundamento para a titularidade da competência regulamentar ser conferida, no direito brasileiro, em princípio, ao chefe do Poder Executivo, fato que não ocorre em outros sistema jurídicos. 189 190 MELLO, 1981, p. 91. ATALIBA, 1981, p. 187 e 193. 92 5.7 Espécies de regulamento Os regulamentos podem ser classificados segundo critérios diversos. As classificações são formas de sistematização que procuram facilitar o conhecimento de determinado objeto, não havendo, portanto, uma classificação “verdadeira”, e sim aquela mais ou menos conveniente a determinada abordagem. Classificaremos os regulamentos de acordo com a sua relação com a lei. Nesse sentido, nossa doutrina colhe, na experiência jurídica estrangeira, as seguintes espécies de regulamento: delegados ou autorizados ou habilitados, independentes ou autônomos, executivos ou de execução. Interessa-nos, principalmente, saber se todas essas figuras doutrinárias são admitidas por nosso ordenamento jurídico e em que medida. 5.7.1 Regulamentos delegados O regulamento delegado decorre de disposição de lei, que lhe confere a possibilidade de dispor sobre matéria determinada, normalmente reservada à disciplina legislativa, estatuindo normas por ela não contempladas, todavia, nos termos e limites daquela autorização. Essa é a sua definição doutrinária corrente, extraída da experiência jurídica de outros países. 93 Conforme Clèmerson Merlin Clève, os regulamentos delegados são o produto da ampliação da atividade normativa do Poder Executivo, em virtude da delegação de função legislativa pelo próprio legislador ordinário.191 Assevera Diógenes Gasparini que “a autorização legislativa supre a ausência da competência originária ou constitucional do Executivo para regulamentar, pois a matéria demarcada no texto legal autorizativo está inserida entre as chamadas reservas de lei”.192 A elaboração desta espécie de regulamento fica limitada à matéria e aos contornos previamente fixados pela lei habilitante; por outro lado, esta permite, respeitadas as limitações, a incursão do Poder Executivo em áreas constitucionalmente excluídas da sua atividade normativa. A doutrina critica a atribuição do qualificativo “delegados” a esta categoria de regulamentos, pois não há, em rigor, uma delegação de competência regulamentar do Poder Legislativo ao Executivo. Nem poderia haver, já que, como vimos, a competência regulamentar é atribuída originariamente ao Poder Executivo e não se pode delegar algo que não se possui. O professor Márcio Cammarosano critica a expressão: Só pode delegar determinada competência quem seja titular. Ora, o Legislativo não é titular da competência regulamentar, mas sim o Chefe do Executivo, e privativamente. Destarte, a impropriedade da denominação “regulamento delegado”, na correta acepção do termo, é absoluta.193 Dessa forma, o que é objeto de delegação não é a competência regulamentar, mas a competência para disciplinar matéria originariamente reservada ao Poder Legislativo, por força de suas próprias disposições. Não se trata de autorização para regulamentar, e sim para dispor com a mesma força da lei, ou seja, derradeiramente, para legislar, podendo inovar a ordem jurídica, nos limites da habilitação. 191 CLÈVE, 1993, p. 249-250. GASPARINI, 1982, p. 73-74. 193 CAMMAROSANO, Marcio. Regulamentos. Revista de Direito Público, São Paulo, v. 10, n. 51-52, p. 126138, jul./dez. 1979. Cf. p. 132. 192 94 Segundo Vitor Nunes Leal, num regime em que não há proibição de delegação de poderes, esta categoria de regulamentos é possível, bastando que eles se contenham dentro dos limites da lei delegante, para poderem inovar primariamente a ordem jurídica. Contrariamente, se há essa proibição, para o referido autor torna-se necessário avaliar, caso a caso, se as disposições legais, genéricas, vagas ou omissas não envolvem uma delegação disfarçada e vedada do poder de legislar.194 Como vimos em capítulo antecedente, a tripartição de poderes, tal como acolhida pelo nosso ordenamento jurídico, não representa uma divisão rígida e estanque de funções, mas caracteriza-se pela colaboração e harmonia entre os Poderes, permitindo a cada um a realização de atividades próprias dos outros, ao lado de sua função típica. A Constituição Federal é quem delega as funções típicas e atípicas aos Poderes constituídos e não estes entre si. Podemos afirmar que nosso sistema jurídico adota o regime de proibição da delegação de poderes. Toda delegação deve decorrer da vontade do constituinte. Não pode, portanto, a lei atribuir ao regulamento a tarefa de definir as situações que deixou de disciplinar. Nesse sentido, Celso Antônio Bandeira de Mello leciona: sendo certo e indiscutido que os três Poderes existem precisamente para apartar as funções que lhe são correspondentes, se pudessem delegar uns aos outros as que lhes são próprias, a tripartição proclamada pela Lei Maior não estaria nela ou por ela assegurada.195 A Carta Magna anterior vedava expressamente, em seu art. 6º, a delegação de poderes, a atual não contém dispositivo semelhante, todavia, por óbvio, isto não siginifica que a delegação está autorizada. De nada adiantaria fixar como princípio fundamental e cláusula pétrea a separação de poderes ou estabelecer que os poderes são harmônicos e independentes 194 LEAL, Vitor Nunes. Problemas de direito público. Rio de Janeiro: Forense, 1960, p. 100-101. No mesmo sentido: MELLO, 1969, v. 1, p. 347; CARRAZA, 1981, p. 12-13; GASPARINI, 1982, p. 74. 195 MELLO, 2004, p. 324. 95 entre si, se se admitisse, sem qualquer restrição, a delegação de funções entre os Poderes. Esta prática levaria ao esvaziamento daquele princípio. Consoante Márcio Cammarosano, “admitir que a lei possa conferir ao Executivo atribuição para desenvolvê-la, exercendo, destarte, uma atividade legislativa subsidiária, só seria possível se houvesse previsão constitucional”.196 Portanto, entendemos que a separação de poderes, albergada pela Constituição Federal, apresenta-se como um primeiro obstáculo à admissão dos regulamentos delegados em nossa prática jurídica. Já dissemos que a possibilidade de inovar originariamente a ordem jurídica é qualidade dos atos emitidos no exercício da função legislativa, atribuída preponderantemente ao Poder Legislativo. O Poder Executivo só está autorizado a praticar atos de tal envergadura quando o texto constitucional o dispuser; é o caso da medida provisória e da lei delegada, por exemplo. O legislador ordinário não pode criar espontaneamente novas exceções, em casos específicos. Surge igualmente como barreira à acolhida dos regulamentos delegados o princípio da legalidade. Se ninguém está obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, não se pode permitir que o legislador confira ao chefe do Poder Executivo a competência para criar direitos e obrigações através de regulamento, mesmo que seja em relação a matéria determinada e dentro de parâmetros delimitados. Tomamos de empréstimo as palavras do professor Celso Antônio Bandeira de Mello: Se à lei fosse dado dispor que o Executivo disciplinaria, por regulamento, tal ou qual liberdade, o ditame assecuratório de que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei perderia o caráter de garantia constitucional, pois o administrado seria obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa ora em virtude de regulamento, ora em virtude de lei, ao líbito do Legislativo, isto é, conforme o legislador ordinário entendesse decidir. É obvio, entretanto, que, em tal caso, este último estaria 196 CAMMAROSANO, 1979, p. 132. 96 se sobrepondo ao constituinte e subvertendo a hierarquia entre Constituição e lei.197 Além disso, como último argumento, temos o art. 25 do Ato das disposições constitucionais transitórias, que revogou “a partir de cento e oitenta dias da promulgação da Constituição, sujeito este prazo a prorrogação por lei, todos os dispositivos legais que atribuam ou deleguem a órgão do Poder Executivo competência assinalada pela Constituição ao Congresso Nacional, especialmente no que tange a: ação normativa”. O teor desse dispositivo demonstra claramente a intenção do constituinte em não tolerar mais a prática das delegações legislativas. Ante o exposto, não podemos aceitar a existência de regulamentos delegados no Direito brasileiro, tal como são concebidos no direito alienígena, pois as matérias reservadas ao Poder Legislativo estão, em regra, vedadas às incursões normativas do Poder Executivo. A separação de poderes e o princípio da legalidade atuam como barreiras a sua admissão.198 Em relação às matérias que não são privativas de lei, fica a cargo do legislador optar entre discipliná-las de maneira completa, exaurindo seu âmbito de regulação, ou permitir a atuação normativa secundária da Administração Pública. Neste último caso, não há delegação no sentido em que viemos combatendo, pois a lei não deixa ao regulamento a tarefa de inovar primariamente a ordem jurídica. Esse serve precípuamente à aplicação dos dispositivos legais, como primeiro passo para sua execução. Alguns doutrinadores afirmam que admitem regulamentos delegados, porém, na verdade, não estão referindo-se a esta categoria, tal como a definimos inicialmente, mas a um exemplo de regulamento de execução. Cármen Lúcia Antunes da Rocha assinala: os regulamentos delegados ou autorizados são editados pelo titular do Poder Executivo para atender a uma determinação legal expressa, que, ao cuidar de 197 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. “Poder” regulamentar ante o princípio da legalidade. Revista Trimestral de Direito Público, São Paulo, n. 4, p. 71-78. 1993. Cf. p. 77. 198 Contrariamente, manifestam-se Eros Roberto Grau (2005, p. 252) e Sérgio Ferraz (1977, p. 122). 97 uma matéria, chama o administrador público para o exercício da competência regulamentar no espaço por ela deixado. A autora, todavia, não admite que esta espécie de regulamento prescreva matérias incluídas na reserva legal.199 Não passa, pois, de um regulamento de execução, com a especificidade de ter sido exigido pela lei regulamentada; regulamento que busca sua justificativa imediata numa disposição legal específica. Oswaldo Aranha Bandeira de Mello também admite os regulamentos autorizados, porém entende que eles são expedidos sempre intra legem, em desenvolvimento dos preceitos constantes da lei de habilitação, do arcabouço legislativo gizado na lei, inovando apenas segundo as disposições legais. Nas palavras do autor, “não podem os regulamentos autorizados ou delegados ser elaborados praeter legem, porquanto seu campo de ação ficou restrito à simples execução de lei”.200 Não se trata, portanto, da mesma figura que expusemos de início, mas de um tipo diferenciado de regulamento de execução. Entendemos que aquela noção de regulamento delegado, expedido praeter legem, para completar a disciplina legislativa, não é cabível entre nós. 199 200 ROCHA, 1994, p. 99. MELLO, 1969, v. 1, p. 354. 98 5.7.2 Regulamentos independentes Como o próprio nome diz, tais regulamentos são emanados sem referência a qualquer texto de lei, não visam a regulamentar determinada lei, mas dispor sobre matéria não regulada pelos seus preceitos. Normalmente, a doutrina coloca, ao lado desta espécie regulamentar, os regulamentos de necessidade. Entretanto, tomando por critério classificatório a relação do regulamento com a lei, em rigor, os regulamentos de urgência também podem ser considerados independentes em relação a qualquer lei anterior. Eles não se referem a qualquer dispositivo legal preexistente, disciplinam de forma autônoma para socorrer um estado de necessidade, por isso preferimos incluí-los neste tópico reservado aos regulamentos independentes. Os regulamentos de urgência servem ao atendimento de situações excepcionais, emergenciais, diante das quais, o Poder Executivo vê-se compelido a expedir normas com força de lei, para as quais, normalmente, não tem competência. Roque Antônio Carraza define: regulamentos de necessidade são aqueles por meio dos quais o Chefe do Poder Executivo, para atender a uma situação de fato grave, se apropria das faculdades do Poder legislativo, cuidando de matérias que só poderiam ser veiculadas mediante lei. Para o autor, em verdade, não são regulamentos, mas medidas tomadas para fazer frente a uma situação anormal e urgente, inclusive contra disposição legal.201 Na lição de Sérgio Ferraz, tais regulamentos são normas ditadas por Poder não investido de competência legislativa. Representam uma usurpação de poder, justificada pelas circunstâncias fáticas. Por esse motivo, segundo o doutrinador, constituem mera situação de 201 CARRAZA, 1981, p. 13. 99 fato, manifestações políticas que só adquirem legitimidade se convalidadas posteriormente pela ordem jurídica.202 Em relação à lei, esta espécie de regulamento é ato equiparado, possui sua mesma força inovadora, pode regular as matérias a ela porventura reservadas e inclusive contrariar suas disposições, se necessário, fundamentada no status necessitatis. Entre nós, não se admitem regulamentos dessa natureza. Nosso ordenamento jurídico previa a figura do decreto-lei e atualmente prevê a medida provisória, que exerce papel semelhante, podendo ser adotada pelo Poder Executivo quando houver a necessidade de disciplinar determinada situação em caráter de urgência, com força de lei. Consideramos os regulamentos de necessidade como uma categoria especial de regulamentos independentes. Passaremos agora a analisar os regulamentos normalmente considerados pela doutrina como autônomos. O regulamento independente pode criar Direito novo, constituindo, na verdade, exercício de função legislativa pelo Poder Executivo, tal como ocorre nos regulamentos delegados, só que estes se fundamentam em lei, enquanto aqueles retiram sua força diretamente da Constituição. Os regulamentos autônomos são atos ditados pelo Poder Executivo com base em competências próprias, estabelecidas na Constituição, para as quais não se prevê a interferência do Poder Legislativo. Para Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, essa competência para expedir regulamentos autônomos pode decorrer expressamente da Constituição, de costume constitucional ou de construção do texto constitucional “que confere ao Poder Executivo a faculdade de legislar, isoladamente, sem participação do Poder Legislativo, e competência alheia a qualquer lei ordinária da qual seja complemento”.203 202 203 FERRAZ, 1977, p. 122. MELLO, 1969, v. 1, p. 342-343. 100 Esta espécie de regulamento atua onde não há lei. Aproxima-se dos regulamentos delegados quanto à possibilidade de inovar originariamente a ordem jurídica, e diferencia-se destes, pois atua sem qualquer apoio em lei anterior. Criam direito novo independentemente da existência de lei a respeito. Podem ser editados praeter legem, ou seja, para preencher as lacunas da construção legislativa, vazios ou omissões deixados pelo legislador ordinário. Há possibilidade de serem expedidos contra legem, quando o Direito Constitucional reserva determinadas matérias ao Poder Executivo, criando um âmbito especificamente regulamentar, dentro do qual o legislador não pode atuar, tal como ocorre no Direito francês. A doutrina brasileira divide-se em torno da discussão sobre a admissibilidade dos regulamentos autônomos em nosso ordenamento jurídico. Tentaremos apresentar sucintamente um quadro com os principais argumentos doutrinários, favoráveis e desfavoráveis à aceitação desta espécie de regulamento no Direito brasileiro, para depois nos posicionarmos sobre o tema. Apesar de alguns autores terem desenvolvido o tema antes da alteração do art. 84, introduzida pela Emenda Constitucional nº 32/2001, ou mesmo à luz da Constituição anterior, acreditamos que suas lições podem ser validamente invocadas, a título de argumentação, diante do sistema atual. 5.7.2.1 Corrente favorável aos regulamentos independentes Sérgio Ferraz, Sérgio de Andréa Ferreira e Hely Lopes Meirelles admitem a existência de regulamentos independentes em termos semelhantes. Para os autores, os regulamentos 101 autônomos são expedidos para disciplinar matéria ainda não regulada por lei, servindo para suprir as omissões do legislador, nas áreas não afetas à reserva de lei, até que seja elaborada disciplina legislativa, quando o regulamento se torna, então, revogado. Ante o exposto, são regulamentos praeter legem e não contra legem.204 Diferentemente, Eros Roberto Grau admite a possibilidade de que esta espécie de regulamento crie obrigações de fazer ou de não fazer alguma coisa. Assevera o autor que os regulamentos autônomos se justificam, na medida em que são necessários para viabilizar a atuação do Poder Executivo, no desenvolvimento de sua função administrativa.205 Assumindo posição peculiar, Clenício da Silva Duarte sustenta que o fundamento dos regulamentos independentes não é a Constituição, mas a competência discricionária da Administração Pública. Nas palavras do autor: O regulamento independente se justifica onde a lei deixa à Administração uma certa gama de livre atividade, originando-se da competência discricionária, que nada mais é do que um juízo de conveniência e oportunidade, entregue à exclusiva apreciação da autoridade administrativa competente, tendo em vista a finalidade do ato a praticar-se. Por outro lado, não admite o doutrinador que o regulamento disponha sobre as matérias de competência exclusiva do legislador.206 Observamos que, mesmo entre aqueles favoráveis ao reconhecimento dos regulamentos independentes, há divergência quanto ao seu alcance e fundamento. Apenas Eros Roberto Grau admite a possibilidade de tais regulamentos criarem direitos e obrigações novas para os particulares, como ocorre no direito estrangeiro. Os demais também reconhecem regulamentos independentes no direito pátrio; todavia, não com a 204 MEIRELLES, 1997, p. 112; FERREIRA, 1981, p. 63; FERRAZ, 1977, p. 110 e 119. GRAU, 2005, p. 252-253. 206 DUARTE, Clenício da Silva. Os regulamentos independentes. Revista de Direito Público, São Paulo, v. 4, n. 16, p. 89-95, abr./jun. 1971. Cf. p. 93 e 95. 205 102 mesma amplitude. Para esses, são atos que, a despeito de não regulamentarem qualquer lei, produzem a disciplina necessária à execução de competências administrativas. 5.7.2.2 Corrente desfavorável aos regulamentos independentes Opostamente, a doutrina apresenta como principais argumentos desfavoráveis à aceitação de regulamentos autônomos entre nós: o princípio da separação de poderes; a inexistência de um âmbito regulamentar, tal como há reserva de lei; a previsão constitucional expressa dos regulamentos de execução e o princípio da legalidade. Para Daniele Coutinho Talamini, o princípio da separação de poderes prejudica a aceitação dos regulamentos autônomos: ao se admitir a possibilidade de o Poder Executivo ditar regulamentos autônomos, estar-se-ia conferindo-lhe a capacidade de legislar, função que pertence ao Poder Legislativo e não aceita delegação, a não ser nas hipóteses excepcionais que a própria Constituição prevê.207 É o mesmo argumento empregado para afastar a admissão dos regulamentos delegados, na medida em que estes implicam uma delegação entre Poderes decorrente de lei e não da Constituição Federal. Geraldo Ataliba salienta: se, nem por ato de vontade expresso e inequívoco, o legislador pode delegar atribuições, com maior razão o exercício de competência normativa inaugural pelo Executivo é vedado mais evidentemente, quando não seja invocado expressamente pelo legislador, mas, desempenhado a título de sanar-lhe omissão ou suprir-lhe lacuna.208 207 TALAMINI, Daniele Coutinho. Regulamento e ato administrativo. Revista Trimestral de Direito Público, São Paulo, n. 21, p. 65-88, 1998. Cf. p. 81-82. 208 ATALIBA 1981, p. 197. 103 Outro argumento é o de que a Constituição só prevê os regulamentos de execução quando dispõe, em seu art. 84, inciso IV, que compete privativamente ao Presidente da República “expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução”. Conforme Geraldo Ataliba, a dicção do dispositivo é restritiva e visa a delimitar e restringir a competência regulamentar à finalidade de assegurar a fiel execução das leis administrativas. Para o autor, por determinação constitucional, cabe ao Poder Executivo somente a atribuição de executar fielmente as leis.209 Sobre o referido dispositivo, Celso Antônio Bandeira de Mello leciona: revela que a função regulamentar, no Brasil, cinge-se exclusivamente à produção destes atos normativos que sejam requeridos para “fiel execução” da lei”, não havendo lugar senão para os regulamentos que a doutrina estrangeira designa como “executivos”.210 Por fim, a doutrina aponta como impediente à admissão dos regulamentos autônomos entre nós o princípio da legalidade, tal como ocorre com os regulamentos delegados, conforme observamos linhas atrás. Segundo esse argumento, os regulamentos independentes não podem ser aceitos porque, de acordo com o referido princípio, a criação de direitos e obrigações só pode ser feita por lei e nunca por ato de autoridade administrativa. A inovação primária da ordem jurídica é matéria reservada à lei, e os regulamentos autônomos, da forma como se apresentam na doutrina estrangeira, também a inovam originariamente. Nas palavras de Carlos Mário da Silva Velloso: Também não tem guarida, no direito brasileiro, o regulamento praeter legem, que é o editado para preencher o espaço vazio da lei, também chamado de regulamento independente, que cede, todavia, diante da lei. Laborando no vazio, inova a ordem jurídica, impondo obrigações e estabelecendo limitações à liberdade individual, não previstas em lei. Destarte, por aplicação estrita do princípio da legalidade, deveriam ser rejeitados por inconstitucionalidade.211 209 ATALIBA, 1981, p. 187. MELLO, 2004, p. 313. 211 VELLOSO, 1983, p. 46. 210 104 Para Celso Antônio Bandeira de Mello, a Constituição, estatuindo o princípio da legalidade, “não quis tolerar que o Executivo, valendo-se de regulamento pudesse, por si mesmo, interferir com a liberdade ou propriedade das pessoas”. Conforme o entendimento do professor, pelo referido princípio, o regulamento é ato estritamente subordinado e dependente de lei, pois “o que, por lei, não está antecipadamente permitido à Administração está, ipso facto, proibido, de tal sorte que a Administração, para agir, depende integralmente de uma anterior previsão legal que lhe faculte ou imponha o dever de atuar”.212 Nossa doutrina manifesta-se predominantemente de forma contrária à admissão de regulamentos independentes no Direito brasileiro. 5.7.2.3 Crítica Primeiramente, não podemos admitir a existência de regulamentos autônomos sem que se possa extrair seu fundamento da Constituição Federal, mormente por consubstanciar o exercício de função legislativa atípica pelo Poder Executivo. O constituinte deve atribuir a referida competência regulamentar à autoridade administrativa; do contrário, esta não encontrará base jurídica para sua atuação. Assim, não concordamos com Clenício da Silva Duarte quando sustenta que os regulamentos autônomos não decorrem da Constituição, mas do exercício de competência discricionária. 212 MELLO, 2004, p. 312 e 314. 105 Além disso, discordamos da noção de discricionariedade encampada pelo autor, pois não se trata, a nosso ver, de gama de livre atividade da Administração Pública, como se esta pudesse atuar livremente na ausência de lei. Dissemos anteriomente que discricionariedade não se confunde com liberdade perante a lei, com ausência de norma jurídica a pautar a conduta do agente público. A discricionariedade não é uma exceção à legalidade administrativa, mas uma forma de atribuição da competência, a ser exercida nos limites em que é concedida. A competência para expedir regulamentos autônomos precisa advir da Constituição, e isso pode dar-se de forma expressa, como ocorre com os regulamentos executivos na nossa Carta Magna, ou implicitamente, conforme entendimento de Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, por costume constitucional ou construção do texto constitucional.213 Nesse sentido, pode ser afastado o argumento, segundo o qual, não são admitidos regulamentos autônomos no Direito brasileiro, porque o texto constitucional só prevê expressamente os regulamentos de execução.214 Entretanto, é preciso ainda verificar se realmente nossa Constituição Federal acolhe, mesmo que implicitamente, os regulamentos autônomos. Em caso positivo, tais regulamentos implicam o exercício atípico de função legislativa pelo Poder Executivo, não se inserem no âmbito da função administrativa, não são atos administrativos lato sensu, nem mesmo regulamentos, no rigor da expressão. Consoante Sérgio Ferraz, quando a Constituição atribui um dever de agir à Administração Pública, confere-lhe implicitamente os poderes necessários ao desempenho deste dever.215 213 MELLO, 1969, v. 1, p. 343. Segundo Márcio Cammarosano (1979, p. 135), “o fato de a Constituição prever, expressamente, os regulamentos de execução não nos autoriza concluir que está a excluir, automaticamente, os regulamentos autônomos”. 215 FERRAZ, 1977, p. 108. 214 106 Assim, poder-se-ia falar em regulamento autônomo, na medida em que o texto constitucional atribuísse competências próprias à Administração Pública, passíveis de serem executadas apenas mediante ato normativo com a sua natureza, já que expressamente não há preceito que o preveja. Em outras palavras, para Márcio Cammarosano, o problema é saber se o constituinte atribui ou não, em termos privativos, competências que só podem ser desempenhadas por regulamentos autônomos.216 Observando o art. 84 da Constituição Federal, que atribui competências privativas ao Presidente da República, podemos apontar como situações que exigem providência normativa mediante decreto: a intervenção federal (inciso X), o estado de defesa e o estado de sítio (inciso IX). Perante o texto constitucional anterior, Diógenes Gasparini apontou o decreto de intervenção e o decreto instituidor do estado de sítio como hipóteses de decreto regulamentar autônomo, por se tratar de competências hauridas expressa e diretamente da Constituição e que permitem ao Presidente da República estabelecer direitos e obrigações aos indivíduos para a execução de medidas extraordinárias.217 De fato, em tais ocasiões, assim como no estado de defesa, a autoridade administrativa emite ato geral e abstrato sob a forma de decreto, fundamentada em dispositivo constitucional, podendo impor restrições à propriedade e à liberdade dos particulares, sem referir-se a qualquer texto de lei. A expedição de ato desta natureza é necessária ao exercício da competência constitucional. Todavia, o decreto de intervenção, do estado de sítio ou do estado de defesa não se confunde com o decreto regulamentar autônomo. 216 217 CAMMAROSANO, 1979, p. 135. GASPARINI, 1982, p. 136 e 140. 107 Na lição de Márcio Cammarosano, os referidos decretos submetem-se a um regime jurídico distinto dos regulamentos independentes, na medida em que se sujeitam à apreciação do Congresso Nacional (conferir arts. 36, §1º, 136, §4º, e 137, parágrafo único) e são expedidos para vigorar por prazo determinado. Enquanto os regulamentos autônomos não dependem de qualquer autorização ou aprovação do Parlamento e são expedidos para vigorar indeterminadamente, até serem revogados por lei ou por outro regulamento.218 Em nenhum destes casos há o exercício de atividade normativa pelo Poder Executivo, de forma autônoma e sem a participação de outro Poder, como ocorre nos sistemas que acolhem os regulamentos autônomos. Além disso, os regulamentos autônomos, quando admitidos pelo sistema constitucional, destinam-se, normalmente, a disciplinar o funcionamento regular da Administração Pública, ao atendimento de questões práticas cotidianas, e não para acudir situações emergenciais, para dar solução a momentos de crise. Descartadas essas hipóteses, resta, como competência privativa do Presidente da República, passível de discussão quanto à configuração de regulamento autônomo: “dispor, mediante decreto, sobre: a) organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos; b) extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos” (art. 84, inciso VI). Esse dispostivo foi alterado pela Emenda Constitucional nº 32/2001. Anteriormente, conferia ao chefe do Poder Executivo competência para “dispor sobre a organização e o funcionamento da Administração Federal, na forma da lei”. Diante dessa redação, a doutrina afastava a possibilidade de haver regulamentos autônomos entre nós, sob o argumento de que os regulamentos de organização acolhidos pelo dispostivo deveriam ser expedidos “na forma da lei”e não independentemente de lei. 218 CAMMAROSANO, 1979, p. 135. 108 Hoje, a doutrina discute se, com aquela alteração, foi criada a possibilidade de produção de regulamentos autônomos para “organização e funcionamento da administração federal” e para “extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos”. A dúvida reside nessas hipóteses apenas. Não acompanhamos a posição dos autores favoráveis aos regulamentos independentes que defendem a existência de uma competência genérica para expedi-los, na ausência de lei. A Constituição Federal não atribui ao chefe do Poder Executivo competência regulamentar com tal amplitude. Defender uma posição favorável aos regulamentos autônomos em nosso direito só é cabível em relação às situações específicas estabelecidas pelo art. 84, inciso VI, que consubstanciam decretos de organização da Administração Pública. Nesse ponto, todavia, impõe-se o princípio da legalidade como barreira, a nosso ver, intransponível à admissão de regulamentos independentes no Direito brasileiro. O art. 5º, inciso II, como já reiteramos, impede que, por regulamento, criem-se direitos e obrigações novas para os particulares. Assim, não admite o texto constitucional, estabelecida esta reserva, a inovação primária da ordem jurídica com base no art. 84, inciso VI. De início, definimos os regulamentos autônomos como aqueles emanados sem referência a qualquer texto de lei, para disciplinar matéria não regulada pelos seus preceitos, podendo criar Direito novo. Nesse sentido, não se pode falar em regulamentos independentes no Direito brasileiro, em razão do óbice encontrado no princípio da legalidade. A posição defendida por Eros Roberto Grau, que admite os regulamentos em questão, na seara reservada constitucionalmente à lei, para nós, torna-se insustentável. A competência prevista pelo art. 84, inciso VI, deve, portanto, ser satisfeita sem a inovação originária da ordem jurídica, característica dos regulamentos autônomos encontrados no direito estrangeiro. 109 Sobre a questão, Lucia Valle Figueiredo sustenta que não se pode entender a possibilidade de regulamentos autônomos por força da Emenda Constitucional nº 32/2001. Para a autora, a competência dada pela alínea a “é de mera reorganização interna, que necessariamente deverá ser por decreto, porque os atos administrativos do Presidente da República deverão necessariamente ter essa forma”; quanto à alínea b, a competência “é bastante limitada, pois somente se os cargos estiverem vagos será possível ao Presidente da República sua extinção”.219 No mesmo sentido, tomamos de empréstimo as palavras de Celso Antônio Bandeira de Mello: Logo, o que o art. 84, VI, faculta é que o Executivo proceda, no interior dos esquemas já legalmente traçados de maneira genérica, quer no que atina a competências, quer no que atina à organização básica na lei formulada, a ulteriores subdivisões, isto é, partições na intimidade dos mesmos órgãos, de tal sorte que as atribuições, já estatuídas em lei para aquele órgão, sejam internamente distribuídas, pois não pode criar órgãos novos nem extinguir os preexistentes. A novidade está em que pode extinguir cargos ou funções, desde que vagos.220 Os professores parecem concordar em que a atribuição conferida pela alínea a do dispositivo em comento destina-se ao rearranjo de competências criadas por lei, dentro da estrutura de órgãos também criados por lei, bem como à reorganização interna dessa mesma estrutura. Contrariamente, para Maria Sylvia Zanella Di Pietro, com a alteração do art. 84, inciso VI, estabeleceu-se o regulamento autônomo para a hipótese específica da alínea a. Assinala a professora: A competência quanto à alínea a, limita-se à organização e funcionamento, pois a criação e extinção de Ministérios e órgãos da Administração Pública continua dependendo de lei, conforme art. 88, alterado pela Emenda Constitucional nº 32. Quanto à alíena b, não se trata de função regulamentar, mas de típico ato de efeitos concretos, porque a competência do Presidente da República se limitará a extinguir cargos ou funções quando vagos, e não a estabelecer normas sobre a matéria.221 219 FIGUEIREDO, 2004, p. 70. MELLO, 2004, p. 94-95. 221 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 17 ed. São Paulo: Atlas, 2004, p. 89. 220 110 Todavia, a autora não admite que, a título de regular a organização e o funcionamento da Administração Pública, imponham-se restrições à liberdade ou à propriedade dos particulares por meio de decreto. Essa não é a sua posição quando desenvolve o tema da legalidade administrativa, como tivemos a oportunidade de observar em capítulo anterior. Segundo José Afonso da Silva, “o sistema constitucional não admite o chamado regulamento independente ou autônomo, fora o regulamento de organização que a doutrina, às vezes, também considera um tipo autônomo”. Assevera o doutrinador que, da forma como é admitido no direito estrangeiro, o regulamento autônomo não encontra guarida em nossa Constituição, ela dá fundamento apenas ao regulamento de organização como uma forma limitada de regulamento autônomo.222 Nessa linha, Márcio Cammarosano reconhece que o princípio da legalidade veda, irremediavelmente, os regulamentos independentes externos, cujos comandos se dirigem aos particulares, impondo-lhes obrigações ou restringindo-lhes direitos; todavia, não obsta à existência de regulamentos internos independentes. Esses se destinariam não à execução de uma norma legal, mas de uma norma constitucional. Para o professor, tais regulamentos são do tipo orgânico e “podem tão-somente estabelecer balizas ao exercício de uma competência discricionária e fixar regras orgânicas e procedimentais para o exercício dessa mesma competência conferida ao Chefe do Executivo”.223 Entendemos que os regulamentos autônomos independem de lei e podem inovar originariamente a ordem jurídica. Se essas qualidades não se verificam, não podemos falar em regulamentos autônomos, segundo a noção que apresentamos. Por isso, não reconhecemos os regulamentos expostos por Maria Sylvia Zanella Di Pietro e Márcio Cammarosano como espécies de regulamento autônomo. 222 223 SILVA, 2005, p. 425-426. CAMMAROSANO, 1979, p. 136-137. 111 O regulamento expedido com base no art. 84, inciso VI, alínea a, não pode criar, transformar ou extinguir cargos, empregos ou funções públicas, nem criar ou extinguir Ministérios e órgãos da Administração Pública, pois tudo isso se faz por lei do Congresso Nacional, consoante o art. 48, incisos X e XI, da Constituição Federal, tampouco tem o poder de criar direitos e obrigações novas para os indivíduos. Ao normatizar a organização e o funcionamento da Administação Pública, deve este regulamento respeito à lei criadora do serviço e do organismo administrativo. Segundo Luciano Ferreira Leite, os regulamentos orgânicos são regulamentos de execução, sujeitos à preexistência de disposição legal que determine a competência e a organização dos órgãos por ela criados.224 O que ocorre em relação especificamente a estes regulamentos é que as suas possibilidades normativas são amplas perante a disciplina normalmente traçada pela lei; todavia, isso não implica a independência de lei. No dispositivo em questão, a Constituição Federal reconhece à Administração Pública o poder de auto-regulação de seu próprio funcionamento, de auto-limitação da sua atividade. A nosso ver, tais regulamentos não possuem a força jurídica típica dos atos legislativos, não são regulamentos autônomos, no rigor da expressão, mas um tipo de regulamento de execução, que se desenvolve intra legem. Depois do que dissemos a respeito de posição de inferioridade e dependência do regulamento em relação à lei, não podemos chegar a outra conclusão, senão à de que não se pode admitir a existência de regulamentos independentes ou autônomos no Direito brasileiro. Quanto à competência atribuída pela alínea b, ficamos com a professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro, quando afirma tratar-se de hipótese de ato de efeitos concretos, revestido da forma de decreto, e não de função regulamentar. 224 LEITE, 1986, p. 38 e 54. 112 Ante todo o exposto, acreditamos que em nosso sistema jurídico não há regulamentos autônomos ou independentes, mas apenas regulamentos de execução, praticados no exercício de função administrativa, pelo Poder Executivo. 5.7.3 Regulamentos executivos O regulamento executivo é um ato administrativo que veicula comandos gerais e abstratos, voltando-se para a aplicação de determinada lei. Esta espécie de regulamento contém uma normatividade secundária, subordinada aos preceitos legais, representando o primeiro passo para sua execução. Segundo Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, “os regulamentos executivos envolvem regras orgânicas e procedimentais destinadas a pôr em execução os princípios institucionais estabelecidos pela lei”.225 Não se trata de simples reprodução inócua da lei, mas de um complemento necessário a sua correta aplicação e a sua plena eficácia. Na lição de Roque Antônio Carraza, o regulamento não é simples cumprimento de comandos alheios; para executar a lei, agrega-lhe algo; do contrário, seria ato juridicamente irrelevante. Para o autor, apesar de não poder suprir, limitar ou retificar a lei, o regulamento “preenche seu arcabouço, revestindo-a da normatividade necessária para que seja bem aplicada, aos casos concretos”.226 225 226 MELLO, 1969, v. 1, p. 352. CARRAZA, 1981, p. 16. 113 Igualmente, para Sérgio Ferraz, o regulamento de execução não é “um ato de execução servil da lei, mas um meio para se chegar plenamente a essa execução”.227 Sobre a função de tais regulamentos, encontramos usualmente na doutrina as afirmações de que devem possibilitar, facilitar a execução das leis, ou disciplinar, especificar seu modo de aplicação, assim como conferir os meios, o aparelhamento necessário, melhor dizendo, criar condições para sua correta execução. Essas assertivas, a nosso ver, estão corretas; entretanto, é possível deixar mais claro, na prática administrativa, como os regulamentos podem exercer seu papel na execução das leis. Não é função do regulamento fixar o sentido e o alcance das normas regulamentadas, ou seja, interpretar a lei, tal como assevera Sérgio de Andréa Ferreira.228 O Poder Executivo não pode, a pretexto de regulamentar a lei, querer impor sua interpretação, na medida em que cabe constitucionalmente ao Poder Judiciário essa tarefa hermenêutica, com vistas à solução de conflitos concretos. Um regulamento com tal teor não obriga os órgãos judiciais, nem mesmo os particulares, que podem a este recorrer; a única interpretação cogente é a realizada por outra lei e, nesse caso, diz-se que, em rigor, há a formulação de uma nova norma jurídica, mais explícita.229 A afirmação de que o regulamento serve para desenvolver a lei, na opinião de Celso Antônio Bandeira de Mello, também não procede, se o termo é empregado para significar a expressão de algo que não está compreendido nas disposições legais, pois o regulamento só pode expedir comandos intra legem. Seria mais preciso, segundo o professor, considerar que desenvolver a lei consiste em deduzir os comandos já virtualmente nela abrigados.230 227 FERRAZ, 1977, p. 117. FERREIRA, 1981, p. 62. 229 Cf. GASPARINI, 1982, p. 64; FERRAZ, 1977, p. 117; LEAL, 1960, p. 75. 230 MELLO, 1981, p. 90. 228 114 Entendemos que os regulamentos se destinam a especificar os comandos legais, a regular de forma mais precisa as situações anteriormente previstas e disciplinadas pela lei, de modo a torná-la executável na prática pelos agentes administrativos. Tal como dispõe o art. 84, inciso VI, o regulamento pode dispor sobre órgãos e procedimentos necessários à prestação dos serviços públicos, criando toda uma estrutura e organização capazes de promover adequadamente a execução da lei. Segundo Daniele Coutinho Talamini, num primeiro plano, voltam-se os regulamentos à facilitação do processo de concretização da lei; por outro lado, visam também a fazer com que, na aplicação da norma jurídica, sejam protegidos outros valores consagrados pelo ordenamento jurídico, quais sejam, a isonomia e a segurança jurídica.231 O regulamento assegura a isonomia na execução da lei, ao harmonizar procedimentos administrativos, impedindo soluções executórias divergentes, formuladas pelos diversos agentes administrativos responsáveis pela aplicação da lei, ante as variadas condutas igualmente albergadas pela norma concessiva de discrição. A edição do regulamento procura garantir o tratamento igualitário a que fazem jus os administrados, o que não ocorreria se ficasse ao alvitre de cada aplicador, dada a liberdade de ação decorrente da discricionariedade administrativa. Daí decorre a especial relação que se estabelece entre o regulamento e as hipóteses de discricionariedade administrativa. O regulamento presta-se a restringir o campo de atuação do órgão aplicador da lei, reduzindo o número de soluções possíveis, simultaneamente agasalhadas pela norma jurídica que estabelece a competência discricionária. Sobre essa relação entre discricionariedade e regulamento, manifesta-se Oswaldo Aranha Bandeira de Mello: Quando as atribuições conferidas ao Executivo deixam a ele a discrição para praticá-las segundo conveniência e oportunidade públicas, cabe-lhe autolimitar-se, mediante regulamento, condicionando o exercício dessa 231 TALAMINI, 1998, p. 72-73 e 78. 115 discrição administrativa, traçando comportas aos agentes públicos. Ao contrário, se essas atribuições correspondem ao exercício de uma obrigação legal, não lhe será lícito estabelecer qualquer barreira a elas, mesmo por via regulamentar.232 Dentro da margem de liberdade conferida pela lei, a Administração Pública pode atuar através de regulamentos, disciplinando sua forma e momento de atuação, estabelecendo balizas ao exercício da competência discricionária. Nas hipóteses de vinculação da conduta administrativa, quando a lei já define com precisão a solução a adotar diante do caso concreto, não se verifica a necessidade de interposição de regulamento entre o comando legal e o ato de execução, para que este seja praticado com fidelidade ao intento da lei. Limitando a discricionariedade administrativa, além da isonomia, o regulamento protege também a segurança jurídica, pois permite ao administrado conhecer previamente a conduta a ser tomada pela Administração Pública em aplicação a determinado comando da lei. Tomamos de empréstimo as palavras de Daniele Coutinho Talamini: A partir da uniformização e da precisão dos conceitos normativos realizadas pelos regulamentos, o administrado tem condições de saber com antecedência qual a exigência que lhe é feita e desta forma planejar a sua conduta.233 A segurança jurídica faz-se presente quando, na regência da vida social, as normas jurídicas possibilitam que indivíduo saiba de antemão quais condutas estão permitidas, quais as proibidas e as obrigatórias, para que possa agir tendo consciência das conseqüências atribuídas aos seus atos. Na lição de Celso Antônio Bandeira de Mello, tendo por conteúdo situações em que cabe discricionariedade, o regulamento pode “dispor sobre o modo de agir dos órgãos 232 233 MELLO, 1969, v. 1, p. 361. No mesmo sentido: MELLO, 1981, p. 94; LEITE, 1986, p. 32. TALAMINI, 1998, p. 78. 116 administrativos, tanto no que concerne aos aspectos procedimentais de seu comportamento, quanto no que respeita aos critérios que devem obedecer em questões de fundo”.234 As formas pelas quais o regulamento pode limitar a discricionariedade administrativa estão diretamente relacionadas às causas determinantes da liberdade discricionária, pois é na sua origem que o regulamento vai atuar. Como a discricionariedade é liberdade concedida pela lei, a identificação de suas causas determinantes deve ser realizada através da observação da sua estrutura normativa. Reconhecemos os conceitos jurídicos indeterminados como um dos fatores que podem conferir discricionariedade à Administração Pública, ao lado da concessão expressa de uma faculdade de agir ou de um rol de medidas igualmente válidas, assim como da ausência de indicação do pressuposto de fato, da forma do ato e do momento de sua prática. Combinações variadas podem ser feitas na estrutura da norma jurídica para dar margem à discricionariedade.235 A partir dessa localização normativa da discricionariedade, é possível apreender as hipóteses de redução da liberdade de agir da Administração Pública através dos regulamentos. Quando a norma jurídica alberga uma relação de medidas igualmente válidas, o regulamento pode atuar estreitando, reduzindo essa pluralidade de soluções contempladas pela lei, diante de categorias de situações concretas. Se a norma jurídica confere uma faculdade de agir, ou não indica como o ato deve ser praticado, ou não define o momento em que deve ser realizado, cabe ao regulamento determinar o modo de agir do aplicador do comando legal. O ato regulamentar indica se o 234 MELLO, 1981, p. 91 e 92. Sobre as causas determinantes da discricionariedade administrativa acompanhamos Celso Antônio Bandeira de Mello (2003, p. 20). A posição adotada pelo professor, especialmente no que atina ao reconhecimento dos conceitos jurídicos indeterminados como fatores determinantes da discricionariedade, é contrariada pelos seguidores da doutrina de Eduardo García de Enterría e Tomáz-Rámon Fernandez (2004, t. 1, p. 459), para os quais, os conceitos vagos, apesar de se referirem a realidades que não admitem uma determinação precisa, por pretenderem delimitar um pressuposto concreto, podem ser precisados no momento da sua aplicação, em outras palavras: a indeterminação do enunciado não implica a indeterminação das aplicações do mesmo, as quais só permitem uma solução justa em cada caso, a que se chega mediante uma atividade de cognição e não de volição, para ou autores, ou se dá ou não se dá o conceito. 235 117 agente administrativo deve atuar, quando deve atuar e como deve atuar diante do caso concreto. Nesta hipótese, a norma regulamentar estabelece a forma procedimental de ação para a execução da lei. Outra forma de redução da discricionariedade administrativa através dos regulamentos refere-se às situações em que aquela decorre do emprego de conceitos jurídicos indeterminados pela norma jurídica concessiva de competência. Na referida hipótese, o regulamento confere maior precisão aos conceitos vagos, permitindo ao agente administrativo identificar os fatos abrangidos pelo comando legal, isto é, esclarecendo o âmbito de aplicação da lei. Nessa específica função parecem enquadrar-se os regulamentos contingentes, enunciados por Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, como aqueles que acertam a existência de fatos e condições para a aplicação da lei.236 Nas palavras de Celso Antônio Bandeira de Mello, servem os regulamentos para “caracterizar fatos, situações ou comportamentos enunciados na lei mediante conceitos vagos cuja determinação mais precisa deva ser embasada em índices, fatores ou elementos configurados a partir de critérios ou avaliações técnicas, segundo padrões uniformes”.237 Diferentemente, Clèmerson Merlin Clève distingue duas situações: um campo relacionado com a discricionariedade administrativa, em que o regulamento detalha os conceitos jurídicos imprecisos, vagos, ambíguos, explica categorias enunciadas de modo sintético pela lei; e outro pertinente à discricionariedade técnica, no qual o regulamento explica técnico-cientificamente os pressupostos de fato previstos pela lei, por meio da aplicação de regras próprias de outro ramo do saber e não do Direito.238 Para nós, em ambos os casos, recorrendo ou não à tecnologia ou a conhecimentos científicos especializados, o regulamento cumpre o mesmo propósito de limitar a liberdade 236 MELLO, 1969, v. 1, p. 350. MELLO, 2004, p. 333. 238 CLÈVE, 1993, p. 246. 237 118 discricionária do agente administrativo quando aplica a lei aos casos concretos, precisando seu sentido e seu âmbito de incidência. Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello, há também espaço para o exercício da competência regulamentar, desvinculado da existência de discricionariedade: quando o regulamento pura e simplesmente enuncia de modo analítico, é dizer, desdobradamente, tudo aquilo que estava enunciado na lei mediante conceitos de síntese [...] cumprindo a função de explicitar o que consta da norma legal ou explicitar didaticamente seus termos, de modo a facilitar a execução da lei.239 Nesse caso, o regulamento não se presta à redução de liberdade discricionária conferida pela lei, mas ao favorecimento da compreensão da lei por aqueles a quem cabe aplicá-la. Ante o exposto, aceitamos a afirmação de que as normas regulamentares possuem como destinatários os agentes administrativos, já que são eles os responsáveis pela execução da lei cujas diretrizes são traçadas pelo regulamento. Os administrados, não subordinados ao poder hierárquico do chefe do Poder Executivo, são atingidos pelos preceitos regulamentares indiretamente, quando têm de se relacionar com os agentes administrativos.240 5.8 Leis passíves de regulamentação Primeiramente, observamos que apenas leis administrativas podem ser objeto da competência regulamentar. Só matéria administrativa é passível de regulamentação. A 239 240 MELLO, 2004, p. 332-333. Cf. ATALIBA, 1981, p. 189-190. 119 aplicação da lei regulamentada deve exigir a interferência da Administração Pública. Mais especificamente, sua execução deve caber ao chefe do Poder Executivo. Acrescenta Geraldo Ataliba que não são todas as leis administrativas cuja execução cabe ao chefe do Poder Executivo, mas apenas aquelas cuja inexecução lhe acarreta responsabilidade. Nas palavras do autor: se a lei criar entidades autônomas (com base na Constituição) sem submetêlas à tutela do chefe do Executivo, este não terá responsabilidade pelo cumprimento das leis cuja execução venha a incumbir a essas entidades; nem, por isso mesmo, poderá disciplinar a forma pela qual cumprirão as leis, ou o modo pelo qual operarão. 241 Dessa forma, consoante referido professor, o chefe do Poder Executivo só é responsável pela execução das leis que disponham sobre atividade administrativa submetida à sua tutela, vigilância ou supervisão. Conseqüentemente, não podem ser objeto da competência regulamentar leis civis, comerciais ou processuais, por exemplo, pois não desafiam a atuação da Administração Pública para sua execução, mas dos particulares ou de outros órgãos estatais. A competência regulamentar volta-se precipuamente para as leis administrativas cuja disciplina carece de maior detalhamento a fim de que possam ser aplicadas integralmente à realidade, produzindo de modo pleno os efeitos aos quais se preordenam. A doutrina fala em leis auto-executáveis e leis não auto-executáveis, elegendo estas como o objeto por excelência da competência regulamentar. Entretanto, preferimos não empregar esta expressão, com base na crítica proferida por José Afonso da Silva à referida classificação. Segundo o autor, as normas ditas não auto-aplicáveis, em verdade, não são de eficácia nula, pois produzem efeitos ainda que reduzidos, não havendo normas totalmente ineficazes, mas normas cujos graus de eficácia são distintos. Para o doutrinador, o que se pode admitir é 241 ATALIBA, 1981, p. 194. 120 que a eficácia de certas normas não se manifesta na sua plenitude, enquanto não for emitida uma normatização complementar executória.242 Quando a lei administrativa, cuja execução exige a interferência da Administração Pública, depende do complemento de uma regulamentação posterior a fim de poder ter total eficácia, o exercício da competência regulamentar pela autoridade competente consubstancia um dever jurídico. A aplicação dos comandos do legislador não pode ficar à mercê da mera vontade do administrador público, cuja atuação, nesse caso, é obrigatória. Todavia, ao lado dessa hipótese, alguns doutrinadores entendem também ser possível a regulamentação de leis administrativas cuja plena eficácia não se subordina à expedição de regulamento, aplicáveis diretamente desde a sua vigência.243 Para Sérgio Ferraz, no caso aventado, o regulamento pode até ser considerado supérfulo e repetitivo, porém não poderá ser tachado de ilegítimo, se não ultrapassar os limites estabelecidos pela lei regulamentada, nem contrariar suas disposições. 244 Conforme Hely Lopes Meirelles, tanto as leis que dependem de regulamento quanto aquelas passíveis de aplicação imediata podem ser objeto da competência regulamentar, “com a só diferença de que nas primeiras o regulamento é condição de sua aplicação, e nas segundas é ato facultativo do Executivo”. Segundo o autor; “toda lei pode ser regulamentada se o Executivo julgar conveniente fazê-lo”.245 Nesse passo, ao mesmo tempo que pode decorrer de um dever, o exercício da competência regulamentar pode também ser facultado à autoridade competente quando não for indispensável à plena aplicabilidade da lei, mas destinar-se a favorecer, facilitar sua 242 SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982, p. 66 e 72. 243 Sobre aplicabilidade e eficácia, tomamos as lições de José Afonso da Silva (1982, p. 59 e 66): Eficácia e aplicabilidade são fenômenos conexos ou mesmo aspectos de um mesmo fenômeno. “Eficácia jurídica da norma é a qualidade de produzir, em maior ou menor grau, efeitos jurídicos, ao regular, desde logo, as situações, relações e comportamentos de que cogita”. Se a norma não dispõe de todos os requisitos para sua aplicação ao caso concreto, falta-lhe eficácia, não dispõe de aplicabilidade. 244 FERRAZ, 1977, p. 116. No mesmo sentido: Cf. GASPARINI, 1982, p. 53. 245 MEIRELLES, 1997, p. 113 e 163. 121 execução pelos agentes administrativos, conferindo maior operatividade aos seus comandos.246 Ante o exposto, verificamos sob vários aspectos a relação entre o regulamento e a discricionariedade administrativa: Além de ter por finalidade, em diversas situações, a limitação da discricionariedade administrativa e de seu conteúdo ser determinado de modo discricionário pela autoridade competente, o regulamento, quanto à sua expedição, em certos casos, envolve igualmente o exercício de uma competência discricionária. Mesmo que a lei administrativa discipline de forma suficiente as situações para as quais se dirige, permitindo sua incidência direta e imediata, pode ser possível e conveniente um maior detalhamento de seu processo de aplicação, a fim de garantir a correta execução. 5.9 Relação entre o regulamento e a lei dependente de regulamentação Por vezes, a própria lei administrativa remete à atuação regulamentar, declara expressamente a necessidade de uma regulação acessória subseqüente para completar sua disciplina, empregando normalmente, ao fim de seu texto, a expressão: “esta lei será regulamentada” ou “o Poder Executivo regulamentará esta lei”. Em outras hipóteses, fixa ainda a referida lei um prazo para a expedição de seu regulamento. 246 Nessa hipótese, a relação entre a lei plenamente aplicável e o regulamento se assemelha ao que ocorre com as normas constitucionais, classificadas pelos professores Celso Ribeiro Bastos e Carlos Ayres Britto (1982, p. 4445), como de mera aplicação regulamentáveis, ou normas constitucionais inintegráveis de operatividade reforçável e a legislação infraconstitucional. Segundo os doutrinadores, estas normas constitucionais incidem por si mesmas diretamente sobre os fatos regulados, conformam de maneira suficiente a matéria de que tratam, prescindindo de qualquer normação complementar para ter plena aplicação, não obstante, admitem uma legislação subsidiária, para impor medidas úteis à sua implementação, instrumentais à sua melhor aplicação. Trata-se de regramento ancilar que objetiva conferir maior perspectiva de funcionalidade aos comandos da lei, tendente a reforçar a expectativa de seu cumprimento. 122 De início, observamos que a lei não pode proibir sua regulamentação, pois a competência regulamentar possui fundamento constitucional, é conferida pela Constituição ao Poder Executivo, de modo que o legislador ordinário não pode dispor contrariamentente. Haveria, no caso, invasão de um Poder na esfera de competência do outro.247 Cabe ao chefe do Poder Executivo, responsável direto pela execução da lei administrativa, analisar a necessidade ou não de expedir regulamento. Se este se mostra indispensável para permitir a aplicação dos comandos legais às situações concretas, surge o dever de regulamentar a lei. Nessa hipótese, mesmo que o texto legal não preveja a edição de regulamento, deverá o Poder Executivo determinar sua expedição. Conforme já nos manifestamos, não sendo imprescindível o regulamento para a eficácia plena dos dispositivos legais, poderá também ser editado, se a autoridade competente julgar conveninente e oportuno, com vistas a uma melhor aplicação da lei, exercitando competência discricionária. É normal que, sem o regulamento, a lei dele dependente não produza plenos efeitos, indiferentemente de que a lei remeta à atividade regulamentar ou não. A lei promulgada e publicada entra em vigor, porém permanece ineficaz. Direitos e obrigações surgem com a publicação da lei, mas seu gozo ou a sua exigibilidade ficam à espera da regulamentação. Se a lei não faz menção à regulamentação ou o faz mas não fixa prazo para a edição do regulamento, a doutrina sustenta que os dispositivos legais independentes de regulamentação são imediatamente aplicáveis, produzindo a lei efeitos no que for possível.248 Contrariamente, se a lei estabelece um lapso de tempo para que a atividade regulamentar se efetive, condiciona sua eficácia total à regulamentação superveniente. De 247 Cf. CLÈVE, 1993, p. 237; GASPARINI, 1982, p. 54. Cf. FERRAZ, 1977, p. 116; MELLO, 1969, v. 1, p. 361; CLÈVE, 1993, p. 237. Diferentemente, para Odete Medauar (2005, p. 133) e Diógenes Gasparini (1982, p. 61), só podem ser invocados os dispositivos legais independentes de regulamento, não havendo fixação de prazo legal para a regulamentação, após lapso de tempo “razoável”, o qual, segundo a autora, corresponde de 40 a 60 dias, enquanto, para o professor, cabe ao Poder Judicário determinar se o “prazo razoável” já se esgotou. 248 123 modo que, apenas com a extrapolação do prazo aventado, produzirá a lei os seus efeitos, no que não depender do regulamento; somente após o termo fixado, os comandos em questão poderão ser invocados.249 Aspecto discutido pela doutrina envolve a constitucionalidade dos prazos legalmente fixados para que o Poder Executivo exerça sua competência regulamentar. Para Sérgio Ferraz, se o texto constitucional atribui ao Poder Executivo a competência regulamentar e não prevê qualquer prazo para seu exercício, nem permite ao legislador ordinário fazê-lo, o questionado prazo legal infringe a separação de poderes; representa a imposição de um encargo pelo Poder Legislativo ao próprio titular da atribuição, o que o desqualifica para tanto. 250 Não entendemos ser inconstitucional a fixação de prazo ao chefe do Poder Executivo pelo legislador ordinário porque, se por um lado, a atividade regulamentar é constitucionalmente a ele atribuída, por outro, não se trata simplesmente de um “poder”ou de um “direito” ao qual não se pode opor limites. Por sua própria natureza, se houver necessidade, o exercício da competência regulamentar consubstancia um dever de agir, cujo cumprimento não pode ser procrastinado ou ficar submetido ao arbítrio de seu titular indefinidamente. A nosso ver, procura-se apenas equilibrar a delicada relação, característica do Direito administrativo, que se estabelece entre a prerrogativa da autoridade, no caso, a atribuição regulamentar, e os direitos dos indivíduos, especialmente atingidos pela inércia do chefe do Poder Executivo. Por último, resta atentar para as conseqüências da omissão do Poder Executivo em exercer sua competência regulamentar quando esta for imprescindível à aplicabilidade da lei. 249 MEIRELLES, 1997, p. 113. No mesmo sentido: FERRAZ, 1977, p. 116; GASPARINI, 1982, p. 60-61; CLÈVE, 1993, p. 237; ROCHA, 1994, p. 96; MEDAUAR, 2005, p. 133-134. 250 FERRAZ, 1977, p. 117. No mesmo sentido: GASPARINI, 1982, p. 118-119. 124 Primeiramente, salientamos que, remeta ou não a lei à expedição de regulamento, fixe ou não prazo para a regulamentação, se se tratar de lei administrativa, cuja execução é de responsabilidade do chefe do Poder Executivo, dependente de regulamento para ter plena aplicabilidade, a omissão deste é conduta inconstitucional. Como dissemos, se a lei não fixa prazo, desde o início da sua vigência, os dispositivos independentes de regulamentação podem ser invocados pelos interessados, e cabe aos agentes públicos aplicá-los. O mesmo ocorre quando há fixação de prazo, após o decurso deste, pois a omissão do Poder Executivo não tem o condão de tornar inócuos os mandamentos do Poder Legislativo. No caso de negativa pela autoridade administrativa em executar os mandamentos legais, nos termos acima indicados, o indivíduo poderá socorrer-se do mandado de segurança. Entendemos que o mandado de segurança pode ser empregado quando a autoridade administrativa nega aplicação aos dispositivos legais não dependentes de regulamento. Tratase de ato omissivo capaz de ilegalmente impedir a fruição de benefícios assegurados aos administrados, enquanto o agente público tem o dever de dar execução às leis administrativas na medida do possível. O Poder Judiciário não pode impor a edição de regulamento; todavia, acreditamos que pode exigir o cumprimento da lei vigente, quanto às partes acima referidas. O controle judicial, no caso, não incide sobre o regulamento, pois este ainda nem existe, tampouco sobre a inércia da Administração Pública em emiti-lo, mas sobre a sua omissão em dar execução a comandos de lei que são imediatamente aplicáveis. 125 5.10 Limites da competência regulamentar Como as demais competências administrativas, a atribuição regulamentar encontra limitações no ordenamento jurídico, que se impõem sob pena de invalidação do produto de seu ilegítimo exercício, por inconstitucionalidade ou ilegalidade. A doutrina normalmente identifica duas espécies de limites ao regulamento: os formais e os materiais ou substanciais. 5.10.1 Limites formais Os limites formais são aqueles que dizem respeito, essencialmente, à competência e à forma do regulamento. Acerca da competência, observamos que a Constituição Federal, em seu art. 84, atribui privativamente ao Presidente da República a competência para regulamentar as leis. De modo paralelo, esta atribuição cabe, respectivamente, nas esferas estadual, distrital e municipal, aos Governadores e Prefeitos. Em alguns países, a competência regulamentar é distribuída entre órgãos diversos da Administração Pública, e o regulamento concebido como a norma jurídica emanada do Poder Executivo. Entre nós, regulamento é apenas o ato geral e abstrato produzido pelo chefe do Poder Executivo. Todavia, isso não impede a elaboração de atos normativos por outras autoridades administrativas, apesar de constitucionalmente não constituírem regulamentos, e sim atos que são, em regra, inferiores. 126 Dessa forma, um “regulamento” ditado por autoridade incompetente só pode ingressar validamente no ordenamento jurídico como outra espécie de ato normativo: instrução, portaria, etc.251 A competência regulamentar é atribuída originariamente ao Poder Executivo, como primeiro passo para a execução das leis. Nesses termos, não pode haver delegação de competência regulamentar a outros Poderes estatais, pois a tripartição de funções adotada pela Constituição Federal veda esse tipo de interferência entre os Poderes, salvo as exceções previstas em seu próprio texto. A delegação da competência regulamentar a outros órgãos do Poder Executivo é admitida em termos. De acordo com o parágrafo único do art. 84, apenas é delegável a competência para expedir regulamentos especificamente com base no inciso VI, enquanto a competência regulamentar geral, prevista pelo inciso IV, é indelegável, por interpretação a contrario sensu do referido parágrafo. A delegação só pode ser feita a Ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República e ao Advogado-Geral da União. Os chefes dos Poderes Executivos possuem competência para regulamentar apenas as leis que estejam dentro da sua esfera de atribuições fixada pela Constituição Federal. Não pode o Presidente da República pretender regulamentar lei municipal, ou o Prefeito expedir regulamento de lei estadual, por exemplo. A competência é exclusiva dentro do campo legislativo previsto para cada qual. Surge como limite à competência regulamentar a possibilidade de o regulamento referir-se apenas às disposições de leis administrativas, cuja aplicação couber precípuamente à Administração Pública. Não cabe regulamento de leis não administrativas, bem como de leis cuja execução não seja de responsabilidade direta do titular da competência regulamentar. 251 Cf. GASPARINI, 1982, p. 83. 127 Outra exigência é a necessidade de veiculação do regulamento por decreto, que é a forma pela qual se revestem os atos do chefe do Poder Executivo, sejam eles normativos ou não. Além disso, a Constituição Federal, conforme o art. 87, inciso I, impõe a referenda ministerial dos decretos presidenciais, entre estes, os regulamentares. O Ministro de Estado da área afeta à matéria regulamentada deve subscrever o decreto juntamente com o Presidente da República.252 Por último, temos a necessidade de publicação do decreto regulamentar, que, como norma jurídica geral e abstrata, deve ser levado ao conhecimento de seus destinatários para se tornar obrigatório. Sem a publicação, o regulamento não vincula a Administração Pública às suas disposições. 5.10.2 Limites materiais As limitações substanciais relacionam-se com a posição de inferioridade hierárquica e de dependência do regulamento em relação à lei, dada a exclusiva capacidade desta de inovar originariamente a ordem jurídica. Assim, além de limite externo, a lei impõe-se como fundamento do ato regulamentar. Francisco Campos define, com precisão, tais limites: O poder regulamentar tem por condição a lei, entre cujos limites terá de se mover, a cujas disposições não poderá opor disposições contrárias, e somente de acordo com cujos preceitos poderá editar regras destinadas à sua execução, assim como não poderá, igualmente, sob pretexto de completar a lei para tornar mais eficaz algum dos seus preceitos, exercer, quanto à escolha de instrumentos e de meios, uma opção de caráter formalmente 252 Cf. CLÈVE, 1993, p. 225. 128 legislativo, ou reservado constitucional e privativamente à discrição do Poder Legislativo.253 Por ser ato inferior à lei, deve manter o regulamento uma relação de compatibilidade com aquela, não podendo ir contra suas disposições; por isso, não se admite entre nós o exercício da competência regulamentar contra legem. Como ato menor, não pode o regulamento pretender violar ou obscurecer os comandos legais. De outra parte, por não poder inovar originariamente, mas apenas secundariamente a ordem jurídica, o regulamento está subordinado aos preceitos legais. O princípio constitucional segundo o qual “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei” traça o limite derradeiro do ato regulamentar, impedindo que o mesmo interfira de qualquer modo na liberdade dos indivíduos, sem o devido respaldo legal. Segundo San Tiago Dantas, será inaplicável “a disposição regulamentar que se puser em oposição ao comando do legislador, seja por contradizê-lo, seja por alargar ou reduzir o âmbito de suas palavras”.254 A possibilidade de modificar primariamente a ordem jurídica está reservada constitucionalmente à lei. O ato regulamentar não pode inovar por iniciativa própria, sem a existência de lei para fundamentá-lo. Isso significa a impossibilidade de o regulamento atuar extra ou praeter legem. Conforme Luciano Ferreira Leite, não há, no Direito brasileiro, a possibilidade de regulamentos integrativos ou de complementação, pois estes traduzem uma disfarçada delegação de atribuições, na medida em que podem acarretar restrições à esfera privada dos administrados só passíveis de serem veiculadas por lei, segundo nossa tripartição de poderes.255 253 CAMPOS, 1965, p. 376. DANTAS, F. C. de San Tiago. Problemas de direito positivo. Rio de Janeiro: Forense, 1953, p. 207. 255 LEITE, 1986, p. 40-41. 254 129 Se nem por ato expresso e inequívoco pode o Poder Legislativo delegar sua competência legiferante, pois as exceções ao princípio da separação de poderes são apenas as previstas pelo texto constitucional, com maior razão, é vedado o exercício de tal atribuição pelo Poder Executivo, sem qualquer invocação do legislador, no intuito de sanar-lhe omissão ou suprir-lhe lacuna.256 A lei pode regular determinada matéria de forma completa e detalhada ou preferir dar margem à disciplina secundária do regulamento. Trata-se de uma opção do legislador. O regulamento não serve para integrar ou complementar o texto legal, no sentido de criar direitos e obrigações, tal como a lei, nos espaços em que esta não se manifestou. O regulamento não pode atuar nos vazios deixados pela lei, não se presta a preenchê-los ou a corrigi-los, nem a suprir deficiências daquela; ao contrário, só tem o condão de inovar quando previamente a lei assim dispôs. Em conseqüência, podemos afirmar que, no Direito brasileiro, o regulamento, como produto do exercício da função administrativa, é admitido apenas secundum ou intra legem. 5.11 Controle da competência regulamentar A necessidade de haver equilíbrio entre os Poderes justifica a existência de mecanismos de controle de um Poder sobre o outro, de um sistema de freios e contrapesos, tal como preconizado por Montesquieu. De nada adiantaria a subordinação da Administração Pública ao Direito, se sua atuação não pudesse sofrer qualquer espécie de fiscalização. É preciso haver meios de fazer valer aquela vinculação na prática. Assim, a Administração 256 Cf. ATALIBA, 1981, p. 197. 130 Pública sofre controle por parte dos Poderes Legislativo e Judiciário, além de exercer ela mesma fiscalização sobre seus atos. Por isso, falamos em controle externo e controle interno. Esses mecanismos de fiscalização, albergados pelo ordenamento jurídico, podem contrastar a conduta administrativa com a lei ou com o dever de “boa administração”. Sua finalidade é garantir que a Administração Pública atue em consonância com a legalidade que lhe é imposta, assim como assegurar a conveniência e a oportunidade do comportamento administrativo na consecução dos interesses públicos. Daí a possibilidade de separarmos o controle de legalidade do controle de mérito. Tomando por critério o agente controlador, identificamos três espécies de controle: administrativo, legislativo e judicial. Eles recaem sobre o exercício da competência regulamentar, seja para proteger a própria atividade administrativa, seja em defesa dos direitos dos administrados. 5.11.1 Controle administrativo O controle administrativo é exercido pela própria Administração Pública e pode referir-se tanto a aspectos de legalidade quanto ao próprio mérito do ato fiscalizado, seja por sua iniciativa ou pela provocação dos administrados. O fundamento desta espécie de controle interno é a autotutela que a Administração Pública detém sobre sua atividade, que decorre, por sua vez, do princípio da legalidade ao qual ela se submete. Se há o dever de obediência e conformidade à lei, nada mais coerente do que permitir ao próprio ente obrigado a possibilidade de fiscalizar seu cumprimento.257 257 Cf. DI PIETRO, 2004, p. 625. 131 A autotutela é reconhecida pelas Súmulas 346 e 473, do Supremo Tribunal Federal. Significa que a Administração Pública pode revogar os atos inoportunos e inconvenientes e invalidar os atos ilegais, sem a necessidade de prévio pronunciamento judicial. Porém, a última decisão sobre a legalidade da conduta administrativa sempre será do Poder Judiciário, dada a inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inciso XXXV da Constituição Federal). De modo especial quanto ao regulamento, este pode ser invalidado ou revogado espontaneamente pelo próprio titular da competência regulamentar, bem como mediante provocação de seus subordinados ou dos administrados. Nestes últimos casos, o ato regulamentar pode ser posto em reexame mediante diversos instrumentos previstos pelo ordenamento jurídico, como o direito de petição, a representação, o recurso hierárquico, o pedido de reconsideração. A Administração Pública pode editar um novo regulamento em substituição, modificar o regulamento impugnado ou simplesmente retirá-lo do mundo jurídico, por razão de mérito ou legalidade. Observamos que se a lei administrativa depende do regulamento para ter plena aplicabilidade, não nos parece possível simplemente fazê-lo desaparecer com a revogação, sendo necessária a edição de um novo ato regulamentar. Isso porque, nesta hipótese, a regulamentação surge como um dever para o titular da competência. A invalidação decorre da violação dos limites formais ou materiais impostos à competência regulamentar, tal como desenvolvemos anteriormente. Quando há revogação, tais limitações são respeitadas, porém o regulamento não se mostra mais adequado à consecução do interesse público ao qual se dirige. Consoante Diógenes Gasparini, a atribuição regulamentar não se esgota ao ser exercitada em relação a determinada lei; a Administração Pública continua com competência 132 para dispor de modo diverso, respeitados os efeitos de direito já produzidos, permitindo, desta forma, a adaptação da lei à realidade cambiante.258 O regulamento pode ser revogado por lei ou por outro regulamento, mas nunca por ato normativo inferior. A revogação pode ser expressa ou tácita, total ou parcial, tal como ocorre com as leis. Nem mesmo a autoridade expedidora do ato regulamentar pode excepcioná-lo pela edição de um ato concreto posterior. A alteração que se pretender realizar no caso concreto deve ser precedida pela modificação do regulamento. O ato administrativo não pode desatender o regulamento sob o argumento de que quem pode regular, pode descumprir. O titular da competência regulamentar também deve obediência à norma que edita, enquanto não a alterar. A doutrina procura justificar essa inderrogabilidade singular dos regulamentos. Há quem a fundamente no princípio da isonomia, afirmando que o regulamento não pode ser excepcionado, por ser necessário conferir tratamento isonômico aos seus destinatários.259 Outros a explicam com o princípio da legalidade, pois, por estar a Administração Pública vinculada ao ordenamento jurídico, submete-se também ao regulamento que o integra.260 Este último nos parece ser o melhor fundamento, uma vez que o próprio regulamento pode admitir exceções para tratar desigualmente situações diferentes. O que não se admite é a criação de uma situação de desigualdade quando o regulamento não a prevê. E isso confirma a idéia de vinculação da Administração Pública às disposições regulamentares. 258 GASPARINI, 1982, p. 65. Cf. GASPARINI, 1982, p. 104; FERRAZ, 1977, p. 113. 260 Cf. ENTERRÍA; FERNÁNDEZ, 2004, t. 1, p. 210; GORDILLO, 2003, t. 1, p. VII- 19. 259 133 5.11.2 Controle legislativo O controle parlamentar é exercido especificamente em relação ao regulamento, com base no art. 49, inciso V, da Constituição Federal: “É competência exclusiva do Congresso Nacional: sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites da delegação legislativa”. Esse controle, segundo Maria Sylvia Zanella Di Pietro, permite ao Poder Legislativo “controlar mediante provocação ou por iniciativa própria, a legalidade dos atos normativos do Poder Executivo, sustando os seus efeitos independentemente de prévia manifestação do Poder Judiciário”.261 Para Diógenes Gasparini, aludido controle não implica a retirada do regulamento do ordenamento jurídico, apenas a suspensão de seus efeitos, permanecendo no sistema até ser retirado pelo procedimento legalmente previsto. Salienta o autor que o ato parlamentar de sustação produz efeitos erga omnes, a partir da sua publicação, e é ato de efeito concreto, passível de impugnação por mandado de segurança.262 O ato parlamentar de controle avalia a legitimidade do regulamento, sobrestando sua eficácia, quando a competência regulamentar não se contém dentro de seus limites. Todavia, os administrados atingidos por atos praticados com base em regulamento viciado não precisam aguardar a manifestação do Congresso Nacional, podendo sempre recorrer ao Poder Judiciário para se protegerem de seus efeitos lesivos. Diversamente, quanto à exclusão do regulamento ilegítimo do sistema jurídico, só pode ser efetuada por decisão judicial ou pela própria Administração Pública. 261 262 DI PIETRO, 2004, p. 637. GASPARINI, 2001, p. 762. 134 Não configura tal hipótese de controle invasão indevida de poder, mas um instrumento adequado e necessário de controle de um Poder pelo outro; fato natural num Estado de Direito como o nosso. 5.11.3 Controle judicial A Constituição Federal prevê em seu art. 5º, inciso XXXV, a inafastabilidade do controle judicial, dispondo que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Ante esse princípio, sujeita-se o regulamento ao crivo dos órgãos judiciais, sem a necessidade de esgotamento das vias de controle administrativo. Tradicionalmente, a doutrina afirma que o controle judicial atém-se apenas ao aspecto da legalidade da atuação administrativa, ficando reservado o campo do mérito à apreciação exclusiva do administrador. Entretanto, a preocupação da atual Constituição Federal com determinados valores, a serem observados no exercício das funções estatais, amplia as balizas tomadas para aferir a validade das condutas administrativas, aumentando as possibilidades do controle judicial. Nesse contexto, salientam-se a proporcionalidade, a razoabilidade, a segurança jurídica, a moralidade, a eficiência, como critérios empregados para a invalidação de atos da Administração Pública.263 263 Segundo Carlos Ari Sundfeld (2003, p. 32): “A Administração não age apenas de acordo com a lei; subordina-se ao que se pode chamar de bloco da legalidade. Não basta a existência de autorização legal: necessário atentar à moralidade administrativa, boa-fé, à igualdade, à boa-administração, à razoabilidade, à proporcionalidade – enfim, aos princípios que adensam o conteúdo das imposições legais”. 135 Em relação especialmente ao regulamento, a via judicial pode servir à impugnação do próprio ato regulamentar ou à apreciação dos atos administrativos concretos emanados em seu cumprimento. O exame judicial é iniciado sempre mediante provocação, e variadas são as medidas que o ordenamento jurídico põe à disposição dos indivíduos para reagirem ante eventual conduta da Administração Pública contrária ao Direito. Apresentaremos apenas um panorama dessa importante espécie de controle, com a objetividade que este trabalho nos impõe. 5.11.3.1 Controle da constitucionalidade Acreditamos que o decreto regulamentar pode ir de encontro a dispositivo legal ou preceito constitucional e, em conseqüência, assim como os demais atos normativos, sujeitarse ao controle de legalidade e de constitucionalidade realizado pelo Poder Judiciário. Em seu art. 102, inciso I, alínea a, a Constituição Federal prevê a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Entendemos, portanto, que inclui o ato normativo regulamentar. Todavia, esse não é o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, para o qual, não cabe recurso extraordinário ou ação direta de inconstitucionalidade contra decreto regulamentar, pois, se este extravasa os limites da lei regulamentada, incorre em ilegalidade e não em inconstitucionalidade. Em julgamento de recurso extraordinário, manifestou-se a Suprema Corte: “Se o regulamento vai além do conteúdo da lei, ou se afasta dos limites que esta lhe traça, comete ilegalidade e não inconstitucionalidade, pelo que não se sujeita, quer no controle concentrado, 136 quer no controle difuso, à jurisdição constitucional” (RE 189550/SP, rel. Min. Carlos Velloso, d.j. 27.06.1997, p. 30246).264 De acordo com a posição do Supremo Tribunal Federal, o regulamento não se sujeita a controle abstrato de constitucionalidade, nem pode sofrer a incidência de recurso extraordinário, por ofender apenas obliquamente ou por via reflexa a Constituição, quando referida Corte exige, em ambos os casos, conflito direto e frontal com o texto constitucional. 265 Para o Supremo Tribunal Federal, o regulamento não está, de regra, submetido a controle de constitucionalidade, suscitando questão de legalidade. Excepcionalmente, admite a impugnação do decreto regulamentar por inconstitucionalidade, quando não existir lei que o preceda, tratando-se de regulamento autônomo, nulo por suprir a lei onde a Constituição Federal a exige.266 5.11.3.2 Mandado de segurança Segundo o art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas 264 No mesmo sentido: RE 265297/ DF, rel. Min. Sepúlveda Pertence, d.j. 01.07.2005, p. 56. RE 349307/PR, rel. Min. Carlos Britto, d.j. 03.12.2004, p. 38. ADI 2155 MC/PR, rel. Min. Sydney Sanches, d.j. 01.06.2001, p. 76. ADI 561 MC/DF, rel. Min. Celso de Mello, d.j. 23.03.2001, p. 84. ADI 129/SP, rel. Min. Francisco Rezek, d.j. 28.08.1992, p. 13450. Cf. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Disponível em: http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/jurisp.asp. Acesso em: 15 dez. 2005. 265 No mesmo sentido: ADI 2006 MC/DF, rel. Min. Maurício Corrêa, d.j. 01.12.2000, p. 101. AI 135632 AgR/RS, rel. Min. Celso de Mello, d.j. 03.09.1999, p. 27. ADI 1347 MC/DF, rel. Min. Celso de Mello, d.j. 01.12.1995, p. 41685. Cf. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Disponível em: http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/jurisp.asp. Acesso em: 15 dez. 2005. 266 Cf. Alexandre de Moraes, Direito constitucional, 17. ed, São Paulo: Atlas, p. 664-665. No mesmo sentido: ADI 2792 AgR/ MG, rel. Min. Carlos Velloso, d.j. 12.03.2004, p. 36. ADI 2426 AgR/PR, rel. Min. Maurício Corrêa, d.j. 02.08.2001, p. 7. ADI 1968/PE, rel. Min. Moreira Alves, d.j. 04.05.2001, p. 2. Cf. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Disponível em: http://www.stf.gov.br/jurisprudência/jurisp.asp. Acesso em: 15 dez. 2005. 137 data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público”. Em princípio, não cabe mandado de segurança contra o regulamento, pois esta espécie de ação se destina à reprimir ou prevenir a produção de efeitos concretos prejudiciais aos direitos subjetivos dos indivíduos. O mandado de segurança é normalmente empregado para impugnar os atos administrativos ilegais, decorrentes da execução de regulamentos viciados. De acordo com a conhecida súmula 266, do Supremo Tribunal Federal, não cabe mandado de segurança contra a lei em tese, e a justificativa aplica-se ao regulamento. A lei, geral e abstrata, assim como o regulamento, não atinge diretamente a esfera jurídica dos indivíduos, e sim os atos praticados em sua execução; por isso, em regra, não dão ensejo à impetração de mandado de segurança.267 Todavia, essa interpretação foi abrandada, e atualmente se admite mandado de segurança contra leis de efeitos concretos, desprovidas do caráter de generalidade e abstração, e leis auto-executórias, independentes de atos administrativos para serem aplicadas aos casos concretos, como as que veiculam proibições. Tal entendimento se ajusta também aos regulamentos.268 Nestes termos, foi proferido o seguinte julgamento pela nossa Suprema Corte: “Se o ato normativo consubstancia ato administrativo, assim de efeitos concretos, cabe contra ele mandado de segurança. Todavia, se o ato – lei, medida provisória, regulamento – tem efeito normativo, genérico, por isso mesmo sem operatividade imediata, necessitando, para a sua individualização, da expedição de ato administrativo, então contra ele não cabe mandado de segurança, já que, admiti-lo implicaria admitir a segurança contra lei em tese: Súmula 266STF” (RMS 24266/DF, rel. Min. Carlos Velloso, d.j. 24.10.2003, p. 30.). 267 268 Cf. GASPARINI, 2001, p. 767. Cf. DI PIETRO, 2004, p. 666. 138 Assim, pode ser impetrado mandado de segurança contra o ato regulamentar quando este produzir efeitos concretos, acarretando a restrição de direitos individuais. 5.11.3.3 Ação popular Prevê o art. 5º, inciso LXXIII, da Constituição Federal que “qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao partrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência”. De acordo com a lei 4.717/65, que regula a ação popular, a prova da cidadania, para comprovação de legitimidade ativa, deve ser feita com a apresentação do título eleitoral ou documento correspondente. Trata-se de ação proposta individualmente, mas para a proteção de um interesse público e não pessoal, produzindo sua sentença eficácia erga omnes, nos termos do art. 18 da referida lei. Além da decretação da invalidade do ato lesivo, a sentença de procedência da ação condena ao pagamento de perdas e danos os responsáveis pelo ato e seus beneficiários, consoante o art. 11. O cidadão age na defesa da coletividade. Segundo José Afonso da Silva, “toda ação popular consiste na possibilidade de qualquer membro da coletividade, com maior ou menor amplitude, invocar a tutela jurisdicional a interesses coletivos”.269 269 SILVA, 2005, p. 462. 139 A lesão pode resultar de ato ou de omissão, desde que produza efeitos concretos. Da mesma forma que ocorre em relação ao mandado de segurança, não se admite ação popular contra lei em tese, a não se que seja auto-aplicável ou de efeitos concretos. Em julgamento de recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça manifestou-se: “A ação popular pode impugnar ato administrativo e lei de efeito concreto. Como ação erga omnes, não admite impugnação de lei em abstrato” (RESP 519356/SC, rel. Min. Eliana Calmon, d.j. 21.06.2004, p. 198). No mesmo sentido propugnou: “A ação popular visa anular ato administrativo lesivo ao patrimônio público. Tem como destinatário ato concreto, ilegal e lesivo ao patrimônio público. Não serve para agredir lei em tese” (RESP 337447/SP, rel. Humberto Gomes de Barros, d.j. 19.12.2003, p. 321). Nesses termos, o decreto regulamentar só pode ser impugnado mediante ação popular quando produzir diretamente o efeito lesivo, sem a necessidade de se praticar um ato administrativo em sua execução. 5.11.3.4 Controle da omissão Além dessas formas de controle do ato regulamentar em si, o ordenamento jurídico prevê instrumentos para a fiscalização e proteção dos administrados ante a inércia do Poder Executivo no exercício de sua competência regulamentar. São eles a ação direta de inconstitucionalidade por omissão e o mandado de injunção. Nos termos do art. 103, §2º, da Constituição Federal, “declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva norma constitucional, será 140 dada ciência ao Poder competente para a adoção das providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em trinta dias”. A omissão tanto pode ser do legislador quanto do administrador que não adotar as medidas necessárias para tornar efetiva a norma constitucional.270 Pode, portanto, ser objeto da referida ação o não exercício da competência regulamentar pelo Poder Executivo. O objetivo da ação direta de inconstitucionalidade por omissão é conferir plena eficácia e aplicabilidade às normas constitucionais, carentes de complementação infraconstitucional, reprimindo a inércia por parte dos Poderes competentes. Todavia, na prática, a referida ação não produz efeitos tão expressivos. Sobre os efeitos dessa ação, manifestou-se o Supremo Tribunal Federal nos seguintes termos: “A procedência da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, importando em reconhecimento judicial do estado de inércia do Poder Público, confere ao Supremo Tribunal Federal, unicamente, o poder de cientificar o legislador inadimplente, para que este adote as medidas necessárias à concretização do texto constitucional. Não assiste ao Supremo Tribunal Federal, contudo, em face dos próprios limites fixados pela Carta Política em tema de inconstitucionalidade por omissão, a prerrogativa de expedir provimentos normativos com o objetivo de suprir a inatividade do órgão legislativo inadimplente” (ADI 1458 MC/DF, rel. Min. Celso de Mello, d.j.20.09.2006, p. 34531). Segundo intepretação da Suprema Corte, não pode o Poder Judiciário, portanto, por meio de ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão, obrigar o Poder Público a adotar a medida faltante, tampouco produzi-la em seu lugar, mas apenas reconhecer formalmente a sua inação. O mandado de injunção é garantia prevista pelo art. 5º, inciso LXXI, da Constituição Federal, nos seguintes termos: “Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de 270 SILVA, 2005, p. 52. 141 norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania”. A referida ação pode ser ajuizada por qualquer particular que se veja prejudicado pela falta da norma regulamentadora de seu direito, liberdade ou prerrogativa. A omissão pode ser legislativa ou administrativa. A expressão “norma regulamentadora” é entendida em sentido amplo, abrangendo atos normativos emanados ou não do Poder Legislativo. Trata-se de medida necessária para tornar efetiva a norma constitucional, para possibilitar a concretização do direito nela previsto. Portanto, a ausência de regulamento também pode servir de fundamento para o mandado de injunção.271 A finalidade do instituto é “fazer com que a norma constitucional seja aplicada em favor do impetrante, independentemente de regulamentação, e exatamente porque não foi regulamentada”. Sua função é realizar concretamente o direito em favor de seu titular e não obter a regulamentação da norma constitucional, ou seja, não tem por objetivo pedir a expedição da norma regulamentadora à autoridade competente. O que o impetrante exige é uma solução para o seu caso concreto.272 Não obstante, apesar das críticas da doutrina, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal é no sentido de atribuir ao mandado de injunção a finalidade de ensejar apenas um reconhecimento formal da inércia do Poder Público. Essa intepretação torna impossível o estabelecimento, desde logo, de medidas viabilizadoras do exercício do direito, liberdade ou prerrogativa, conferindo ao instituto a função de uma ação pessoal de declaração de inconstitucionalidade por omissão, esvaziando-o de sentido.273 Vejamos sua manifestação no seguinte julgado: “O mandado de injunção nem autoriza o Judiciário a suprir omissão legislativa ou regulamentar, editando o ato normativo omitido, 271 Cf. DI PIETRO, 2004, p. 658. No mesmo sentido: MELLO, 2004, p. 839; MEIRELLES, 1997, p. 113; SILVA, 2005, p. 450. 272 SILVA, 2005, p. 450-451. 273 Cf. SILVA, 2005, p. 452. No mesmo sentido: DI PIETRO, 2004, p. 659; MORAES, 2005, p. 162; MELLO, 2004, p. 839. 142 nem, menos ainda, lhe permite ordenar, de imediato, ato concreto de satisfação do direito reclamado: mas, no pedido, posto que de atendimento impossível, para que o tribunal o faça, contém o pedido de atendimento possível para a declaração de inconstitucionalidade da omissão normativa, com ciência ao órgão compente para que a supra” (MI 168/RS, rel. Min. Sepúlveda Pertence, d.j. 20/04/1999, p.3047). Nesses termos, o mandado de injunção é uma garantia prevista constitucionalmente, para servir como meio de reação do indivíduo contra a omissão no exercício da competência regulamentar, diante de um caso concreto, possibilitando, assim, a efetivação de seu direito constitucional. Todavia, atualmente, em razão da via interpretativa adotada pela nossa Corte Suprema, a importância deste instituto na prática se perde. 143 6 A ATIVIDADE NORMATIVA DAS AGÊNCIAS REGULADORAS Diante do tema da competência regulamentar, parece-nos relevante analisar, ainda que sucinta e objetivamente, a natureza e os limites da atividade normativa realizada pelas agências reguladoras brasileiras. Nosso intuito não é discorrer aqui sobre o regime jurídico aplicável a essa figura de nosso Direito, o que por si só poderia ser objeto de outro trabalho, mas desenvolver apenas um dos vários aspectos que a envolvem, qual seja, sua atividade normativa. 6.1 A origem das agências reguladoras As agências reguladoras inserem-se no denominado movimento de Reforma do Estado, projeto político orientado para a modificação da forma de atuação estatal em determinados segmentos, com a desestatização e privatização de setores antes caracterizados pela intervenção direta do Estado. Nesse contexto, o Estado reduziu ou mesmo suprimiu sua presença direta na prestação de diversos serviços públicos, incentivando a iniciativa privada a assumi-los. Paralelamente a essa retirada e à inserção dos particulares na realização daquelas atividades de interesse geral, em regime de concorrência, introduziu-se o tema da regulação e a necessidade de criação das referidas agências. Floriano Azevedo Marques Neto salienta: aumenta a necessidade regulatória porque, deixando o Estado de ser ele próprio provedor do bem ou serviço de relevância social, tem ele que passar a exercer algum tipo de controle sobre esta atividade, sob pena de estar 144 descurando de controlar a produção de uma utilidade dotada de essencialidade e relevância.274 A intensificação da regulação estatal ocorreu, portanto, como contrapartida da retração de seu papel na entrega direta de bens e serviços à sociedade. O modelo de intervencionismo estatal direto vem sendo substituído pelo crescimento da intervenção indireta, mediante atividades de fomento, fiscalização, planejamento, regulamentação e controle dos agentes privados. Consoante Luís Roberto Barroso, a privatização não modifica a natureza pública do serviço delegado; assim, o Estado conserva a responsabilidade sobre a prestação adequada, assumindo as funções de planejamento, regulamentação e fiscalização das empresas prestadoras.275 O tamanho do Estado diminuiu. Com a delegação de tarefas estatais a particulares, ele deixou de executar e passou a regular mais intensamente. Através das privatizações, o Estado transferiu serviços públicos à gestão privada, porém reteve a supervisão sobre o exercício dessas atividades, em garantia dos usuários e do interesse público que representam. As agências foram instituídas para realizar essa atividade regulatória. Foram criadas porque se entendeu necessário órgão especializado para regular as atividades objeto de delegação a empresas privadas, a fim de assegurar a regularidade na prestação dos serviços, manter o equilíbrio da concorrência, resolver conflitos entre as prestadoras e entre estas e os usuários, isto é, adaptar o funcionamento das empresas às necessidades de interesse público. Assim, além de realizar o papel de poder concedente do serviço público privatizado, atuando no âmbito da concessão, a agência reguladora desempenha a função de mediadora 274 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. A nova regulação estatal e as agências independentes. In: SUNDFELD, Carlos Ari (Org.). Direito administrativo econômico. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 72-98. Cf. p. 75. 275 BARROSO, Luís Roberto. Apontamentos sobre as agências reguladoras. In: MORAES, Alexandre de (Org.). Agências reguladoras. São Paulo: Atlas, 2002. p. 109-131. Cf. p. 116-117. 145 nas relações entre as concorrentes empresas prestadoras do serviço, buscando resguardar o desenvolvimento ordenado do setor, garantindo a competição. A atribuição dessas tarefas estatais às agências conduz-se pelos princípios da especialidade e da eficiência, por serem dotadas de pessoal capacitado, de melhor aparelhamento e conhecimento técnico sobre a matéria que lhe foi atribuída. Criou-se, inicialmente, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) para fiscalizar e controlar a execução do serviço público de energia elétrica; e, posteriormente, a Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), com o mesmo objetivo regulatório, voltado para o serviço público de telecomunicações. Foram, todavia, também instituídas outras agências destinadas, não à regulação de serviços públicos delegados, mas ao controle e fiscalização da exploração, por empresas privadas, de atividades econômicas monopolizadas pelo Estado, bem como da realização de atividades econômicas não monopolizadas, de interesse da coletividade. Na primeira hipótese, temos a Agência Nacional do Petróleo (ANP), e no último caso, como exemplo, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 6.2 Os tipos de agências reguladoras e suas atribuições Diante do rol de agências já instituídas em nosso ordenamento jurídico, a doutrina procura agrupá-las em categorias, normalmente em razão da natureza da atividade regulada. Consoante Celso Antônio Bandeira de Mello, existem agências de regulação de serviços públicos propriamente ditos (ANEEL, ANATEL, ANTT, ANTAQ), agências de fomento e fiscalização de atividade privada (ANCINE), agências de regulação de atividades 146 realizadas pelo Estado (caso em que são consideradas serviços públicos) e facultadas aos particulares (ANVISA, ANS), agência de regulação de atividades econômicas integrantes da indústria do petróleo (ANP), agência reguladora de uso de bem público (ANA).276 De acordo com a sistematização feita por Antônio Carlos Cintra do Amaral, existem três tipos de agências : as que regulam atividade econômica; as que atuam especificamente sobre as atividades referentes à indústria do petróleo, monopolizadas pela União; e as reguladoras de serviços públicos.277 Podemos afirmar que existem agências cujo setor de atuação constitui um serviço público e outras voltadas para certas atividades econômicas. Entre estas, é possível fazer o desdobramento em atividades econômicas monopolizadas pela União e atividades econômicas não monopolizadas, mas cujo controle é de interesse da sociedade. Nesse sentido, Maria Sylvia Zanella Di Pietro define regulação, no âmbito jurídico, como o “conjunto de regras de conduta e de controle da atividade econômica pública e privada e das atividades sociais não exclusivas do Estado, com a finalidade de proteger o interesse público”.278 As agências reguladoras de serviços públicos assumem o papel de “poder concedente” nos contratos de concessão do serviço, assim como na permissão e autorização. O mesmo ocorre quando se trata da concessão de exploração de atividade econômica monopolizada, prevista pelo art. 177 da Constituição. De forma geral, nesse conjunto de atribuições, incluem-se: licitar a escolha dos concessionários ou permissionários, celebrar os respectivos contratos, outorgar autorizações, controlar a execução do serviço ou da atividade, definir tarifas e sua revisão, fixar e alterar 276 MELLO, 2004, p. 157-158. AMARAL, Antônio Carlos Cintra do. Observações sobre as agências reguladoras de serviço público. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 231, p. 1-3, jan./mar. 2003. Cf. p.1-2. 278 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Limites da função reguladora das agências diante do princípio da legalidade. In: ______. (Org.). Direito regulatório: temas polêmicos. Belo Horizonte: Fórum, 2003. p. 27-60. Cf. p. 30. 277 147 unilateralmente as clásulas regulamentares dos contratos, expedir normas para disciplinar os serviços ou atividades concedidas, impor sanções, encampar, intervir, decretar a caducidade e fazer a reversão de bens da concessionária ao término da concessão. Acumulam ainda os entes em questão as tarefas de fomentar a competitividade no setor, estimular a universalização dos serviços, arbitrar os conflitos entre prestadores, entre estes e os usuários dos serviços. Segundo Maria Sylvia Zanella Di Pietro, no contexto das agências, regular significa organizar determinado setor e controlar as entidades nele atuantes, intervenção que pode ser realizada através da concessão, permissão ou autorização, bem como de exercício típico de poder de polícia.279 Em razão dessa constatação, a professora distingue dois tipos de agências: as criadas para regularem atividades que constituem objeto de concessão, permissão ou autorização de serviço público, ou de concessão para exploração de bem público; e as que exercem poder de polícia, com base em lei, sobre áreas de atividade privada, impondo limitações administrativas, fiscalizando, aplicando penalidades.280 São exemplos deste último tipo de agências a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e a Agência Nacional de Saúde Complementar (ANS), que fiscalizam, respectivamente, atividades de interesse da saúde da população e a atuação de empresas prestadoras de serviços de assistência à saúde. Observamos que, nesses casos, os sujeitos controlados podem ser tanto agentes privados quanto entidades estatais, pois, no setor de saúde, Estado e iniciativa privada atuam conjuntamente. 279 280 DI PIETRO, 2004, p. 403. DI PIETRO, 2004, p. 403. 148 Mesmo antes da criação das agências, já existiam entidades com funções reguladoras similares, tais como o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), a Comissão de Valores Imobiliários (CVM), a Secretaria da Receita Federal e o Banco Central.281 Assim como os entes arrolados, as agências, ao regularem, estão exercendo, primordialmente, atividade de polícia administrativa, seja concedendo, permitindo, autorizando ou simplesmente impondo limitações às atividades dos particulares, com fundamento na lei. Consoante Maria Sylvia Zanella Di Pietro, a atividade regulatória abrange as já reconhecidas atividades administrativas de fomento, polícia e intervenção no domínio econômico. E, no exercício de poder de polícia, as entidades reguladoras expedem tanto determinações concretas e específicas quanto atos gerais e abstratos, subordinados à lei, a fim de reprimir ou prevenir condutas particulares contrárias ao interesse público em determinado setor econômico.282 Desse modo, constatamos que as agências reguladoras exercem uma gama de atividades típicas de Estado. Realizam atividade normativa, executiva, de solução de conflitos, de fomento, fiscalizadora e sancionatória. Controlam a execução de serviços públicos e atividades econômicas e o cumprimento das regras aplicáveis ao respectivo setor, de forma preventiva e repressiva. 281 Cf. MELLO, 2004, p. 158-159. No mesmo sentido: BARROSO, 2002, p. 117; DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na administração pública. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2005, p. 193-194. 282 DI PIETRO, 2003, p. 34-35. 149 6.3 As características comuns às agências reguladoras Em razão das áreas diversas que gerenciam, cada agência possui suas peculiaridades. Além disso, cada qual é instituída por lei específica, que confere atributos e competências próprias, não tendo sido seguido um modelo comum. É possível, entretanto, identificar determinados aspectos que permitem caracterizar as agências reguladoras, de uma forma geral, a partir da análise da legislação. Observamos, primeiramente, que as agências reguladoras são legalmente constituídas como autarquias, aplicando-se-lhes o regime jurídico próprio desse tipo de entidade administrativa. São, portanto, pessoas jurídicas de direito público, dotadas de patrimônio próprio, submetidas ao regime jurídico de direito público, integrantes da Administração Indireta, não subordinadas hierarquicamente à Administração Direta, porém vinculadas ao Ministério correspondente ao seu setor de atuação, dotadas de autonomia administrativa e financeira.283 Não escapam as agências reguladoras da direção superior da administração federal, realizada pelo Presidente da República, com o auxílio dos Ministros de Estado (art. 84, inciso II, da Constituição Federal). Também submetem-se, conseqüentemente, aos princípios constitucionais fixados para a Administração Pública e a todas as espécies de controle normalmente incidentes sobre a atividade administrativa: controle legislativo (art. 49, inciso X), controle do Tribunal de Contas (art. 70), controle judicial (art. 5°, inciso XXXV). 283 De acordo com o art. 5°, inciso I, do Decreto-lei 200/67, autarquia é “o serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, para executar atividades típicas da Administração Pública, que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada”. Segundo o art. 4° do referido decreto, as autarquias integram a Administração indireta e todas as entidades nela compreendidas “vinculam-se ao Ministério em cuja área de competência estiver enquadrada sua principal atividade”. 150 Consoante Alexandre Mazza, por serem funções próprias de Estado (poder de polícia, fomento, atribuições de poder concedente), as atividades exercidas pelas agências reguladoras estão sujeitas obrigatoriamente à incidência de regime de direito público. Desse modo, ou o Estado atribuía as competências em questão a órgãos da Administação Direta, sem personalidade jurídica e subordinados hierarquicamente, ou as conferia a pessoas jurídicas estatais autônomas em relação à Administração Direta, não submetidas ao seu poder hierárquico. Esta última foi a solução adotada, em razão da autonomia exigida pela atividade de regulação.284 As agências reguladoras só têm condições de desempenhar adequadamente suas atribuições se forem preservadas de ingerências externas, de influências indevidas, inclusive pelo poder público, seja quanto ao seu processo decisório, como no que diz respeito à sua capacidade financeira. É necessário que a atividade regulatória se desenvolva independentemente da interferência de interesses políticos ou de agentes econômicos. Os referidos entes administrativos são legalmente definidos como autarquias sob regime especial. São considerados especiais em relação às demais entidades autárquicas, por possuírem uma maior independência de atuação, já que todas as autarquias têm certa margem de autonomia em relação à Administração Central.285 O maior ou menor grau de autonomia depende da disciplina adotada pela lei instituidora da agência. O regime especial é determinado pela lei específica de cada autarquia, porém, normalmente, a independência, em relação ao Poder Executivo, reside, segundo a doutrina: 284 MAZZA, Alexandre. Agências reguladoras. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 83-84. Cf. MELLO, 2004, p. 160. No mesmo sentido: JUSTEN FILHO, Marçal. O direito das agências reguladoras independentes. São Paulo: Dialética, 2002, p. 390; ARAÚJO, Edmir Netto de. A aparente autonomia das agências reguladoras. In: MORAES, Alexandre de (Org). Agências reguladoras. São Paulo: Atlas, 2002, p. 45. 285 151 • na estabilidade dos dirigentes, que exercem mandato fixo e só podem perdê-lo segundo as hipóteses previstas expressamente, afastada a possibilidade de exoneração ad nutum; • no caráter final de suas decisões, as quais não podem ser apreciadas por outros órgãos ou entidades da Administração Pública. 286 Floriano de Azevedo Marques Neto e Luís Roberto Barroso acrescentam ainda, como fator que contribui para a maior autonomia das agências reguladoras, o estabelecimento de fontes próprias de recursos, geradas no exercício da atividade regulatória, como taxas de fiscalização e regulação ou participações em contratos e convênios.287 A lei 9.986, de 18 de julho de 2000, que dispõe sobre a gestão de recursos humanos das agências reguladoras, sistematizou o tratamento que já vinha sendo, de um modo geral, conferido pelas leis instituidoras aos seus diretores ou conselheiros. Segundo o art. 5° da referida lei, os dirigentes das agências devem ser escolhidos pelo Presidente da República e por ele nomeados, após aprovação pelo Senado Federal, na forma do art. 52, inciso II, alínea f, da Constituição. Preceitua o art. 6° que o mandato dos dirigentes terá o prazo fixado na lei de criação de cada agência. E, consoante o disposto pelo art. 9°, “os conselheiros e os diretores somente perderão o mandato em caso de renúncia, de condenação judicial transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar”, podendo a lei de criação da agência prever outras condições para a perda do mandato (parágrafo único). 286 Cf. DI PIETRO, 2004, p. 405. No mesmo sentido: ARAÚJO, 2002, p. 42; FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Reforma do Estado: o papel das agências reguladoras e fiscalizadoras, In: MORAES, Alexandre (Org.). Agências reguladoras. São Paulo: Atlas, 2002. p. 133-143. Cf. p. 139-140; SUNDFELD, Carlos Ari. Introdução às agências reguladoras. In:______(Org.). Direito administrativo econômico. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 17-38. Cf. p. 19. 287 MARQUES NETO, 2002, p. 88; BARROSO, 2002, p. 125. 152 A previsão de mandato com prazo fixo e a impossiblidade de exoneração ad nutum buscam proteger os responsáveis pela condução das agências de pressões e influências do poder político. Trata-se de garantia conferida para assegurar objetividade e tecnicidade na direção da atividade regulatória, que constitui o traço mais marcante do regime especial das agências.288 Quanto à definitividade das decisões proferidas, por óbvio, ocorre apenas no âmbito administrativo, estando elas sempre sujeitas ao controle judicial. A revisão não pode ser feita na esfera do Poder Executivo. Não há instância hierárquica supervisora dos atos expedidos pela agência reguladora. Trata-se de característica própria das autarquias, dada a inexistência de subordinação em relação à Administração Central.289 Observamos que a preconizada independência das agências reguladoras deve ser compreendida em termos. Trata-se de uma autonomia relativa, verificada especialmente em relação ao Poder Executivo, conforme as características apontadas acima. Diante dos demais Poderes, todavia, não há qualquer independência, mas sujeição aos controles constitucionalmente previstos. Consoante Marçal Justen Filho, as agências não podem ser uma forma de evitar a submissão do poder estatal ao esquema de controle do poder já existente. Este se aplica integralmente às agências, sem prejuízo da instituição de novas formas de verificação e limitação da sua atividade.290 Antônio Carlos Cintra do Amaral salienta que, apesar de as agências terem um importante papel a desempenhar e para isso precisarem de acentuado grau de autonomia, em 288 Lucia Valle Figueiredo (2002, p. 145) salienta que esta característica das agências reguladoras não é novidade, sendo comum a instituição de regime de mandato com prazo determinado em outras autarquias, como ocorre com o cargo de reitor nas universidades federais e com cargos de direção do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e da Comissão de Valores Imobiliários (CVM). 289 Segundo Edmir Netto de Araújo (2002, p. 52-53), não cabe recurso hierárquico próprio das decisões das agências, pois não há sua subordinação hierárquica à Administração Direta, tratando-se de pessoas jurídicas distintas; quanto ao recurso hierárquico impróprio, seria preciso que houvesse previsão legal, porém as leis instituidoras das agências não o contemplam, conferindo definitividade real às suas decisões no âmbito administrativo. 290 JUSTEN FILHO, 2002, p. 541. 153 nenhuma hipótese devem ser equiparadas ou sobrepor-se aos poderes constituídos, o que seria incompatível com o Estado de direito.291 6.4 A natureza e os limites da atividade normativa das agências reguladoras Entre suas múltiplas tarefas, realizam as agências reguladoras atividade normativa, produzindo regras jurídicas referentes a sua específica área de atuação. Quando tratamos da competência regulamentar, observamos que outras autoridades administrativas, diversas do Presidente da República, podem igualmente expedir normas orgânicas e procedimentais para assegurarem a correta execução da lei, as quais, todavia, não são consideradas regulamentos. Esses são apenas os atos gerais e abstratos elaborados pelo Presidente da República, veiculados por decreto, com a referenda de Ministro de Estado, para dar fiel execução às leis. Assumem posição de superioridade em relação às demais normas produzidas pela Administração Pública e com elas convivem. A atividade normativa do Poder Executivo não se resume à competência para emitir regulamentos. Assim, desde logo, salientamos que as normas produzidas no exercício da atividade regulatória das agências não são regulamentos. A rigor, tais entes não regulamentam as leis afetas ao setor regulado. Na regulação não se inclui a regulamentação, pois consideramos que esta é, em regra, competência efetivada pelo chefe do Poder Executivo. 291 AMARAL, 2003, p. 3. 154 Como estão, entretanto, integradas à Administração Indireta e exercem função administrativa, quanto à atividade normativa, as agências reguladoras não podem exercer mais do que qualquer outro órgão ou entidade da Administração Pública.292 Consoante Marçal Justen Filho, a criação das agências objetivou o exercício, por ente diferenciado e autônomo, de competências titularizadas pelo Poder Executivo; portanto, não lhe é dado fazer nada além ou diverso do que seria reconhecido ao Poder Executivo, em matéria de produção normativa.293 Nesses termos, em princípio, os limites que se impõem à atividade normativa das agências reguladoras são, no mínimo, os mesmos observados para a elaboração de qualquer regra jurídica oriunda da Administração Pública, incluindo-se os regulamentos. Não exercem as agências reguladoras função legislativa; suas normas não podem inovar originariamente a ordem jurídica, pois são hierarquicamente inferiores e dependentes de lei. A pretexto de regular determinado setor, não podem pretender integrar a legislação, preenchendo vazios, tampouco contrariar ou distorcer os mandamentos contidos em lei.294 A atividade normativa das agências é imperiosa e indispensável à adequada consecução de sua função reguladora; não obstante, o princípio da legalidade e a exigência da separação de poderes a elas se aplicam com a mesma amplitude e intensidade. Se nem ao chefe do Poder Executivo é possível admitir, a nosso ver, a expedição de regulamentos autônomos, também não podemos aceitar a elaboração de normas, com igual força, pelas agências reguladoras. 292 Cf. FIGUEIREDO, Marcelo. As agências reguladoras: o Estado democrático de direito no Brasil e sua atividade normativa. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 269. 293 JUSTEN FILHO, 2002, p. 540. 294 Cf. MELLO, 2004, p. 159. 155 De acordo com Marcelo Figueiredo, as atribuições dos entes reguladores são concedidas e delimitadas pelo legislador; conseqüentemente, qualquer norma jurídica que emitam deverá ter caráter secundário, atuando no âmbito demarcado pela lei.295 O fato de haver órgãos reguladores com previsão constitucional (ANATEL e ANP) não implica a delegação de competência legislativa. Em todo caso, entendemos que, constitucionalmente, estão as agências vocacionadas ao exercício de função administrativa. Logo, sua normatividade é de segundo grau; possui natureza administrativa, subordinada, secundária. Segundo Antônio Carlos Cintra do Amaral, a política geral para cada setor é feita por leis e regulamentos, cabendo às referidas entidades regular de acordo os aludidos diplomas.296 Entre as providências normativas que podem ser adotadas pelas agências reguladoras, encontram-se as regras de alçada do poder concedente, cuja função é traçar os parâmetros dos contratos de concessão, sempre amparadas em lei. Além da atividade normativa inerente aos contratos de concessão ou de permissão de prestação de serviços públicos ou de exploração de atividades relativas à indústria do petróleo, do mesmo modo que se reconhece a inúmeros órgãos e entidades administrativas, podem as agências regular sua própria estrutura e funcionamento, expedindo normas de efeitos internos, assim como especificar conceitos jurídicos indeterminados contidos nas leis e regulamentos. Esta última função possível às normas expedidas pelas entidades regulatórias coadunase com a natureza técnica e especializada da sua atividade, sem implicar inovação da ordem jurídica. 295 296 FIGUEIREDO, 2005, p. 277. AMARAL, 2003, p. 2. 156 Ante o exposto, constatamos que a atividade normativa permitida às agências reguladoras, no sistema constitucional brasileiro, só pode ser de natureza secundária, inerente à função administrativa que elas executam. 157 7 CONCLUSÕES O princípio da separação de poderes corresponde a um modelo de equilíbrio entre os Poderes do Estado que visa à contenção do poder pelo poder e à proteção das liberdades individuais. Um Poder fiscaliza o outro, e nada impede que um Poder realize atividade típica de outro nem que dois deles colaborem para a prática de um mesmo ato. Trata-se de princípio básico de organização do Estado brasileiro. Por um critério formal, a função legislativa corresponde à atividade de inovar primariamente a ordem jurídica; a função jurisdicional, à solução de controvérsias com caráter de definitividade; e a função administrativa, à atividade infralegal realizada pelo Estado ou por seus representantes, como parte interessada, em posição de superioridade, para a consecução do interesse público previsto em lei, submetida ao controle do Poder Judiciário. O princípio da legalidade limita o exercício do poder pelo Direito, almeja preservar a liberdade do indivíduo, conferindo-lhe segurança jurídica, e assegurar a igualdade de todos perante a ação do Estado. A denominada crise da supremacia da lei, por vezes, é feita à custa de violações ao princípio da legalidade e não retira da lei formal a condição de veículo por excelência da manifestação do Estado sobre a liberdade do cidadão, dada a garantia que ainda representa. Em rigor, não há porque se falar em reserva de lei no Direito brasileiro, pois tudo está sujeito à regulação emanada dos órgãos legislativos. Não existe partilha de competências legislativas entre os Poderes a justificar a identificação de uma reserva de lei em oposição à atribuição da tarefa de disciplinar determindas matérias a outra espécie de ato estatal. O termo “lei”, cunhado pelo art. 5º, inciso II, da Constituição Federal, engloba as leis formais, bem como, excepcionalmente, as leis delegadas e as medidas provisórias, enquanto a expressão “em virtude de lei” significa que direitos e obrigações só são válidos quando, em 158 razão unicamente do disposto em lei, é possível afirmar a sua ocorrência diante do caso concreto. A Administração Pública submete-se integralmente ao princípio da legalidade, como característica inarredável do Estado de direito e em decorrência da própria natureza da função administrativa. A Administração Pública deve manter com a lei uma relação de conformidade e não apenas de não contrariedade. Ao mesmo tempo que não pode editar atos ou tomar medidas contrárias à lei, o administrador público deve ter habilitação legal para adotar tais atos e medidas. A lei funciona como limite e fundamento da sua atuação. A noção de legalidade administrativa surgiu como a submissão de apenas uma parcela da Administração Pública à lei formal e evoluiu para a subordinação de toda a atividade administrativa ao ordenamento jurídico. É o que se denomina legalidade genérica. Quando, entretanto, a atuação administrativa implicar interferência na esfera de liberdade do indivíduo, com a criação de direitos ou obrigações, só poderá ser realizada com fundamento em lei formal ou, excepcionalmente, em atos normativos equiparados à lei. É o que se chama de legalidade estrita. A discricionariedade não é uma exceção à legalidade administrativa, pois não significa ausência de norma jurídica a pautar a conduta da Administração Pública, mas uma forma de atribuição legal de competência, que confere ao administrador certa liberdade de apreciação das circunstâncias fáticas para agir. As medidas provisórias e leis delegadas são consideradas exceções ao princípio da legalidade, porque inovam originariamente a ordem jurídica e não são elaboradas pelos órgãos legislativos, mas pelo Poder Executivo. Todavia, são exceções à legalidade estrita, mas não à legalidade genérica, pois esta engloba todo o ordenamento jurídico. 159 O estado de defesa e o estado de sítio são exceções aparentes ao princípio da legalidade, pois a disciplina normativa prevalente nos momentos de normalidade deixa de ser aplicada para serem utilizadas regras excepcionais que também estão previstas pelo ordenamento jurídico. O regulamento é ato administrativo geral e abstrato, expedido no exercício típico de função administrativa. É ato administrativo em sentido amplo. O regulamento distingue-se do ato administrativo em sentido estrito porque é geral, abstrato, impessoal, e seus efeitos podem ser produzidos repetidamente durante sua vigência, enquanto o ato executivo é individual, concreto, e seu conteúdo se exaure numa única aplicação. Além disso, o ato executivo deve obediência ao disposto pelo regulamento. Diferese também o regulamento do ato executivo quanto à competência, à forma, ao processo de impugnação contenciosa, à necessidade de publicação e de referenda ministerial. O regulamento diferencia-se dos demais atos administrativos gerais e abstratos em razão da competência, da forma e da sua posição hierárquica superior. Esses atos, todavia, podem servir também à execução direta da própria lei e submetem-se aos mesmos limites do regulamento. Distingue-se o regulamento da lei com base na competência, no processo de elaboração e nas suas garantias para o indivíduo, no âmbito de atuação de cada ato estatal, na posição hierárquica inferior do ato regulamentar e no conteúdo inovador da lei, que torna o regulamento ato subordinado e dependente. É mais adequado falar-se em competência regulamentar do que em poder ou faculdade regulamentar, pois a expressão preferida evoca a idéia de dever, natural ao exercício da função administrativa num Estado democrático de direito. A doutrina apresenta vários fundamentos políticos para a competência regulamentar, igualmente invocáveis pelo legislador para elaboração de uma disciplina normativa que crie a 160 possibilidade ou a necessidade de uma regulação pormenorizada a ser veiculada pelo regulamento. A competência regulamentar do Poder Executivo fundamenta-se juridicamente, de modo imediato, nos respectivos dispositivos constitucionais e, de modo mediato, no princípio da separação de poderes agasalhado pela Constituição. Enquanto a atribuição da competência regulamentar especificamente ao chefe do Poder Executivo fundamenta-se em seu poder hieráquico. Conforme sua relação com a lei, os regulamentos classificam-se em delegados, independentes e executivos. Em rigor, com base no critério classificatório adotado, os denominados regulamentos de urgência incluem-se entre os independentes, pois não se referem a qualquer lei anterior. O regulamento delegado decorre de disposição de lei, que lhe confere a possibilidade de dispor sobre matéria determinada, estatuindo normas por ela não contempladas, nos termos e limites daquela autorização. Tais normas consubstanciam o exercício atípico de função legislativa pelo Poder Executivo. Critica-se a atribuição do qualificativo “delegados” a esta categoria de regulamentos, pois não há delegação de competência regulamentar do Poder Legislativo ao Executivo, já que ela é atribuída originariamente ao Poder Executivo, e não se pode delegar algo que não se possui. Delega-se a competência para dispor com força de lei. A separação de poderes e o princípio da legalidade afastam a possibilidade de aceitação desta espécie regulamentar no Direito brasileiro. Não pode haver delegação de função entre os Poderes, nem inovação primária da ordem jurídica por ato diverso da lei formal, sem previsão constitucional. Além disso, o art. 25 do ADCT demonstra a intenção do constituinte de não tolerar mais a prática das delegações legislativas. 161 Os regulamentos independentes são emanados sem referência a qualquer texto de lei, não visam a regulamentar determinada lei, mas a dispor sobre matéria não regulada pelos seus preceitos. Os regulamentos de urgência servem ao atendimento de situações excepcionais, emergenciais, diante das quais, o Poder Executivo vê-se compelido a expedir normas com força de lei, para as quais, normalmente, não tem competência. Atendem a um estado de necessidade. Não há essa figura no Direito brasileiro, seu papel é preenchido pelas medidas provisórias. Os regulamentos autônomos constituem o exercício de função legislativa. São atos ditados pelo Poder Executivo com base em competências próprias, estabelecidas na Constituição, para as quais não se prevê a interferência do Poder Legislativo. Essa espécie de regulamento não se extrai nem explícita nem implicitamente do texto constitucional. O constituinte não atribuiu competências ao Poder Executivo que só possam ser desempenhadas por regulamentos autônomos. O decreto de intervenção federal, do estado de defesa e do estado de sítio não se confundem com o decreto regulamentar autônomo, pois se submetem à apreciação do Congresso Nacional; são expedidos para vigorar por tempo determinado e para acudir situações emergenciais, dando solução a momentos de crise. A competência prevista pelo art. 84, inciso VI, alínea a, deve ser satisfeita sem a inovação originária da ordem jurídica, por força do princípio da legalidade. O regulamento de organização previsto pelo referido dispositivo é um tipo de regulamento de execução, que se desenvolve intra legem, sem possuir a força jurídica dos atos legislativos. Quanto à competência atribuída pelo art. 84, inciso VI, alínea b, trata-se de hipótese de ato de efeitos concretos, revestido da forma de decreto, e não de função regulamentar. 162 Concluímos que no Direito brasileiro não se admite a existência de regulamentos independentes, mas apenas de regulamentos de execução, praticados no exercício de função administrativa. O regulamento de execução contém uma normatividade secundária, subordinada aos preceitos legais, representando o primeiro passo para a execução da lei. Veicula o complemento necessário à correta aplicação da lei. A função do regulamento executivo é especificar os comandos legais, regular de forma mais precisa as situações anteriormente previstas pela lei, de modo a torná-la executável na prática pelos agentes administrativos. Por outro lado, assegura o regulamento de execução a isonomia e a segurança jurídica na aplicação da lei, na medida em que reduz o espaço de liberdade deixado por ela, limitando a discricionariedade administrativa. São objeto de regulamento as leis que exijem a interferência da Administração Pública, cuja execução é de responsabilidade do chefe do Poder Executivo. Quando a lei depende do regulamento para poder ter plena eficácia, o exercício da competência regulamentar consubstancia um dever jurídico. Todavia, pode configurar uma faculdade, quando não for indispensável à plena aplicabilidade da lei, mas destinar-se a favorecer, a facilitar sua execução. A lei não pode proibir sua regulamentação, pois a competência regulamentar é conferida originariamente pelo constituinte ao Poder Executivo. Tampouco há necessidade de a lei remeter à regulamentação para que possa ser exercida a competência regulamentar. Os dispositivos legais independentes de regulamentação são imediatamente aplicáveis quando a lei não fixa prazo para o regulamento e, caso haja fixação de prazo, são aplicáveis após seu decurso. A fixação de prazo pela lei para o exercício da competência regulamentar não é inconstitucional, pois não se trata simplesmente de um “poder”ou de um “direito” ao qual não 163 se pode opor limites. Por vezes, consubstancia um dever de agir, cujo cumprimento não pode ficar submetido ao arbítrio de seu titular indefinidamente. Os limites formais são aqueles que dizem respeito, essencialmente, à competência e à forma do regulamento. As limitações substanciais relacionam-se com a posição de inferioridade hierárquica e de dependência do regulamento em relação à lei. Recaem sobre o exercício da competência regulamentar três espécies de controle: administrativo, legislativo e judicial. Quanto a este último, apresentam-se, como instrumentos de controle, o mandado de segurança, a ação popular, o mandado de injunção e a ação de inconstitucionalidade por omissão. O controle de constitucionalidade por ação sofre restrições segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. As agências reguladoras exercem uma gama de atividades típicas de Estado. São legalmente constituídas como autarquias, submetendo-se, portanto, à direção superior da Administração federal, aos princípios constitucionais fixados para a Administração Pública e a todas as espécies de controle normalmente incidentes sobre a atividade administrativa. Os limites impostos à atividade normativa das agências reguladoras são, no mínimo, os mesmos observados para a elaboração de qualquer regra jurídica oriunda da Administração Pública. Estando vocacionadas ao exercício de função administrativa, sua normatividade é de segundo grau, possui natureza administrativa, subordinada, secundária em relação à lei. 164 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ALESSI, Renato. Instituciones de derecho administrativo. Barcelona: Bosch, 1970. t. 1. AMARAL, Antônio Carlos Cintra do. Observações sobre as agências reguladoras de serviço público. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 231, p.1-3, jan./mar. 2003. ARAÚJO, Edmir Netto de. A aparente autonomia das agências reguladoras. In: MORAES, Alexandre de (Org.). Agências reguladoras. São Paulo: Atlas, 2002. p. 39-57. ATALIBA, Geraldo. Estudos e pareceres de direito tributário. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1978. v. 2. ATALIBA, Geraldo. Poder regulamentar do executivo. Revista de Direito Público, São Paulo, v. 14, n. 57-58, p. 184-208, jan./jun. 1981. ATALIBA, Geraldo. República e Constituição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1985. BARROSO, Luís Roberto. Apontamentos sobre as agências reguladoras. In: MORAES, Alexandre de (Org.). Agências reguladoras. São Paulo: Atlas, 2002. p. 109-131. BASTOS, Celso Ribeiro; BRITTO, Carlos Ayres. Interpretação e aplicabilidade das normas constitucionais. São Paulo: Saraiva, 1982. BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de direito constitucional. São Paulo: Celso Bastos, 2002. BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de teoria do Estado e ciência política. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1995. BÉNOIT, Francis-Paul. Le droit administratif français. Paris: Dalloz, 1968. BONAVIDES, Paulo. Do Estado liberal ao Estado social. São Paulo: Saraiva, 1961. BONAVIDES, Paulo. Teoria do Estado. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2001. BRITTO, Carlos Ayres. Separação dos poderes na Constituição brasileira. Revista de Direito Público, São Paulo, v. 14, n. 59-60, p. 115-127, jul./dez. 1981. CAETANO, Marcello. Manual de direito administrativo. Rio de Janeiro: Forense, 1970. t. 1. CAMMAROSANO, Márcio. Regulamentos. Revista de Direito Público, São Paulo, v. 10, n. 51-52, p. 126-138, jul./dez. 1979. CAMPOS, Francisco. Lei e regulamento: direitos individuais. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 80, p. 373-382, abr./jun. 1965. 165 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional. 5. ed. Coimbra: Almedina, 1991. CARRAZA, Roque Antônio. O regulamento no direito tributário brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1981. CAVALCANTI, Themístocles Brandão. Teoria geral do Estado. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1977. CINTRA, Antônio Carlos de Araújo. Motivo e motivação do ato administrativo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1979. CLÈVE, Clèmerson Merlin. Atividade legislativa do poder executivo no Estado contemporâneo e na Constituição de 1988. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993. COMPARATO, Fábio Konder. A “questão política” nas medidas provisórias. In: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CONSTITUCIONALISTAS DEMOCRATAS. Cadernos de soluções constitucionais. São Paulo: Malheiros, 2003. v. 1, p.78-93. DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do Estado. 23. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. DANTAS, F. C. de San Tiago. Problemas de direito positivo. Rio de Janeiro: Forense, 1953. DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 17. ed. São Paulo: Atlas, 2004. DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Discricionariedade administrativa na Constituição de 1988. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2001. DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Limites da função reguladora das agências diante do princípio da legalidade. In: ______. (Org.). Direito regulatório: temas polêmicos. Belo Horizonte: Fórum, 2003. p. 27-60. DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na administração pública. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2005. DINIZ, Maria Helena. As lacunas no direito. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. DUARTE, Clenício da Silva. Os regulamentos independentes. Revista de Direito Público, São Paulo, v. 4, n. 16, p. 89-95, abr./jun. 1971. DÓRIA, A. de Sampaio. Direito constitucional. 4. ed. São Paulo: Max Limonad, 1958. t. 1. EISENMANN, Charles. O direito administrativo e o princípio da legalidade. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 56, p. 47-70, abr./jun. 1959. ENTERRÍA, Eduardo García; FERNÁNDEZ, Tomás-Rámon. Curso de derecho administrativo. 12. ed. Madrid: Civitas, 2004. t. 1. FAGUNDES, Miguel Seabra. O controle dos atos administrativos pelo poder judiciário. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1957. 166 FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2003. FERRAZ, Sérgio; DALLARI, Adílson Abreu. Processo administrativo. São Paulo: Malheiros, 2003. FERRAZ, Sérgio. 3 estudos de direito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1977. FERREIRA FILHO, Manuel Gonçalves. A autonomia do poder regulamentar na Constituição francesa de 1958. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 84, p. 24-39, abr./jun. 1966. FERREIRA FILHO, Manuel Gonçalves. Do processo legislativo. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1995. FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Reforma do Estado: o papel das agências reguladoras e fiscalizadoras. In: MORAES, Alexandre de (Org.). Agências reguladoras. São Paulo: Atlas, 2002. p. 133-143. FERREIRA, Sérgio de Andréa. Direito administrativo didático. Rio de Janeiro: Forense, 1981. FIGUEIREDO, Lucia Valle. Curso de direito administrativo. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. FIGUEIREDO, Marcelo. As agências reguladoras: o Estado democrático de direito no Brasil e sua atividade normativa. São Paulo: Malheiros, 2005. FRAGA, Gabino. Derecho administrativo. 14. ed. México: Porrúa, 1971. GASPARINI, Diógenes. Direito administrativo. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2001. GASPARINI. Diógenes. Poder regulamentar. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982. GORDILLO, Agustín. Tratado de derecho administrativo. Belo Horizonte: Del Rey, 2003. GRAU, Eros Roberto. O direito posto e o direito pressuposto. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. JUSTEN FILHO, Marçal. O direito das agências reguladoras independentes. São Paulo: Dialética, 2002. LEAL, Vitor Nunes. Problemas de direito público. Rio de Janeiro: Forense, 1960. LEITE, Luciano Ferreira. O regulamento no direito brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1986. LIMA, Ruy Cirne. Princípios de direito administrativo. 4. ed. Porto Alegre: Livraria Sulina, 1964. MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. A nova regulação estatal e as agências independentes. In: SUNDFELD, Carlos Ari (Org.). Direito administrativo econômico. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 72-98. 167 MAYER, Otto. Droit administratif allemand. Paris: V. Giard & E. Brière, 1903. t. 1. MAZZA, Alexandre. Agências reguladoras. São Paulo: Malheiros, 2005. MEDAUAR, Odete. Direito administrativo moderno. 9. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 22. ed. São Paulo: Malheiros, 1997. MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Ato administrativo e direito dos administrados. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1981. MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Discricionariedade e controle jurisdicional. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2003. MELLO, Celso Antônio Bandeira de. “Poder” regulamentar ante o princípio da legalidade. Revista Trimestral de Direito Público, São Paulo, n. 4, p. 71-78. 1993. MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Regulamento e princípio da legalidade. Revista de Direito Público, São Paulo, v. 24, n. 96, p. 42-50, out./dez. 1990 MELLO, Oswaldo Aranha Bandeira de. Princípios gerais de direito administrativo. Rio de Janeiro: Forense, 1969. v. 1. MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional. 4. ed. Coimbra: Coimbra, 1997. t. 2. MONTESQUIEU. De l’esprit des lois. Paris: Ernest Flammarion, [19-?]. t. 1. MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 17. ed. São Paulo: Atlas, 2005. OLIVEIRA, Régis Fernandes de. Ato administrativo. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1992. QUEIRÓ, Afonso Rodrigues. A teoria do desvio de poder em direito administrativo. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 6, p. 41-78, out./dez. 1946. REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. 24. ed. São Paulo: Saraiva, 1999. REALE, Miguel. Teoria tridimensional do direito. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 1993. RIVERO, Jean. Direito administrativo. Coimbra: Almedina, 1981. ROCHA, Cármen Lúcia Antunes da. Princípios constitucionais da administração pública. Belo Horizonte: Del Rey, 1994. SILVA, Almiro do Couto e. Princípios da legalidade da administração pública e da segurança jurídica no Estado de direito contemporâneo. Revista de Direito Público, São Paulo, v. 20, n. 84, p. 46-63, out./dez. 1987. 168 SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982. SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. STASSINOPOULOS, Michel D. Traité des actes administratifs. Athènes: Librairie Du Recueil Sirey, 1954. (Collection de l’Institut Français d’Athènes, 82). SUNDFELD, Carlos Ari. Direito administrativo ordenador. São Paulo: Malheiros, 2003. SUNDFELD, Carlos Ari. Introdução às agências reguladoras. In: ______ (Org.). Direito administrativo econômico. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 17-38. TALAMINI, Daniele Coutinho. Regulamento e ato administrativo. Revista Trimestral de Direito Público, São Paulo, n. 21, p. 65-88. 1998. VELLOSO, Carlos Mário da Silva. Do poder regulamentar. Revista de Direito Público, São Paulo, v. 16, n. 65, p. 39-50, jan./mar. 1983. VILANOVA, Lourival. As estruturas lógicas e o sistema do direito positivo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1977. ZANCANER, Weida. Da convalidação e da invalidação dos atos administrativos. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 1993.
Baixar