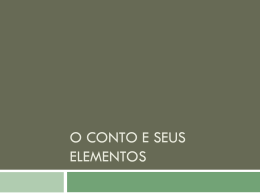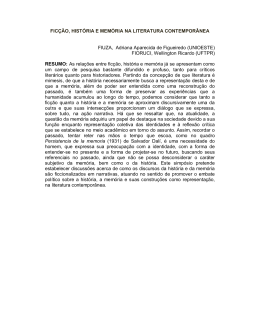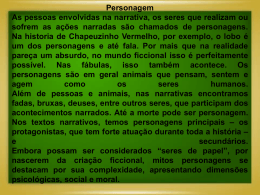UNIVERSIDADE DE LISBOA FACULDADE DE LETRAS O LIVRO ENCENADO Escrita e Representação na Obra de Ana Teresa Pereira Amândio Pereira Reis DISSERTAÇÃO PROGRAMA DE MESTRADO EM ESTUDO ROMÂNICOS LITERATURA PORTUGUESA 2014 Universidade de Lisboa Faculdade de Letras O LIVRO ENCENADO Escrita e Representação na Obra de Ana Teresa Pereira Amândio Pereira Reis Dissertação orientada pelo Prof. Doutor Fernando Guerreiro Programa de Mestrado em Estudos Românicos 2014 René Magritte, La Cascade, 1961, guache sobre papel (36,4 x 44 cm), colecção privada. ÍNDICE Resumo ................................................................................................................ v Abstract ...............................................................................................................vi Agradecimentos................................................................................................. vii Introdução I. Nota prévia (Ana Teresa Pereira em contexto e fora dele) ................................ 1 II. “Inventar um outro livro” ............................................................................... 11 Capítulo 1 O Fim de Lizzie ou o princípio da incerteza .................................. 19 1.1. Entre imagens e realidades, uma estética não-aristotélica ............................. 22 1.2. “Usar a arte como se fosse magia”: o delito do criador................................. 35 Capítulo 2 Livros paralelos e fantasmas eloquentes ....................................... 50 2.1. O naufrágio do discurso em O Verão Selvagem dos Teus Olhos ................... 52 2.2. A Outra: um “inconsciente do texto” em The Turn of the Screw................... 62 Capítulo 3 Livro, palco e mundo ................................................................... 71 3.1. Autores e actores em duas novelas teatrais: Inverness e A Pantera ............... 73 3.2. Alice do outro lado do Lago......................................................................... 94 Conclusão Das maquetas em literatura ........................................................ 112 Post scriptum.................................................................................................... 116 Bibliografia citada ............................................................................................ 117 RESUMO Esta dissertação propõe uma leitura de um conjunto de obras de Ana Teresa Pereira centrada nas relações entre escrita e representação. Estas obras são: O Fim de Lizzie e outras histórias (2008), O Verão Selvagem dos Teus Olhos (2008), Inverness (2010), A Outra (2010), A Pantera (2011) e O Lago (2011). Partindo da hipótese de que aquele binómio constitui um problema teórico importante na abordagem a estas obras, interroga-se as diversas instâncias em que ele se manifesta nos textos, tendo em conta a encenação do acto de escrita e de outros actos de criação, bem como o recurso a um campo semântico do domínio do teatro, com o qual a narrativa se confunde, pondo em evidência e em diálogo diferentes acepções do conceito de “representação”. A reflexão atenta essencialmente em três eixos: o pensamento sobre arte que atravessa estas narrativas, a figuração auto-reflexiva do texto e a forma como Ana Teresa Pereira desenvolve uma noção de teatralidade na articulação entre escrever e representar. Esta noção é também a que une ideias de livro, de palco e de mundo, gerando tensões consequentes entre ficção, realidade e literatura. PALAVRAS-CHAVE Escrita, Representação, Ficção, Teatralidade, Ana Teresa Pereira v ABSTRACT This dissertation offers a reading of several works by Ana Teresa Pereira focused on correlations between writing and representation. These works are: O Fim de Lizzie e outras histórias (2008), O Verão Selvagem dos Teus Olhos (2008), Inverness (2010), A Outra (2010), A Pantera (2011) and O Lago (2011). From the hypothesis that those two key concepts constitute an important theoretical problem when approaching the author’s work, the many ways in which they manifest themselves in the texts are put into question, considering the literary portrayal of writing and other creative actions, combined with the use of a semantic field related to the theatre, turned here into a narrative subject that points out and brings together the various possible meanings of the word “representation”. This study considers three essential aspects: the thoughts on art that pervade these narratives, the self-reflexive figuration of the text, and the way Ana Teresa Pereira develops her own notion of theatricality in the articulation between writing and representing (or writing and acting). This notion also connects different views on the book, the stage and the world, which in turn ask for a reflection on tensions between reality, fiction and literature. KEYWORDS Writing, Representation, Fiction, Theatricality, Ana Teresa Pereira vi AGRADECIMENTOS É difícil acabar de agradecer ao Professor Fernando Guerreiro, a quem eu e esta tese devemos tanto. Agradeço-lhe profundamente a orientação, tão verdadeira e atenta, e a prontidão e a generosidade com que acompanhou este trabalho desde o princípio. Ainda na qualidade de aluno, e por tudo o que com eles tenho aprendido, agradeço à Professora Clara Rowland e ao Professor Mário Jorge Torres. Os seus exemplos foram luzes inestimáveis no meu percurso. Deixo também aqui o meu reconhecimento à Fundação para a Ciência e a Tecnologia e ao Projecto Falso Movimento – Estudos sobre escrita e cinema (PTDC/CLE-LLI/1202 11/2010), no seio do qual, enquanto bolseiro e colaborador, desenvolvi uma parte importante da investigação cujo resultado aqui apresento. A Ana Teresa Pereira, agradeço a disponibilidade para um encontro a que secretamente regresso em tantas destas páginas. Agradeço à minha família o acompanhamento e o apoio decisivos. Ao meu pai, tenho de agradecer pelas minhas primeiras histórias. Agradeço-lhe também pelo Júlio Verne, onde, depois de ter ouvido, fui aprender a ler. Com a minha irmã, por quem estou grato, aprendi a recontar. Um agradecimento necessariamente geral – porque onde coubesse um nome teriam de caber demasiados – vai para todos os amigos que, de muitas maneiras, têm influenciado a minha vida e o meu trabalho. Com eles, Lisboa é uma casa bonita. Ao Zé, agradeço pela maior surpresa de todas e por tudo o que coube nela. Dedico-lhe também esta tese, que quando começou a ser escrita já era para ele. vii INTRODUÇÃO As oroilles vient la parole ausi come li vans qui vole Chrétien de Troyes Yvain, le Chevalier au Lion I. Nota prévia (Ana Teresa Pereira em contexto e fora dele) A associação de A.T. Pereira a correntes e famílias literárias surge como um problema maior em boa parte da bibliografia crítica que sobre ela se tem vindo a compor, e a especificidade do seu lugar no panorama da literatura portuguesa contemporânea chegou ao extremo de uma localização num “deserto” e numa “região polar” (Coelho 2006: 16). Nesta dissertação, a nacionalidade da autora não é um dado totalmente ignorado, porém, também não é nossa pretensão considerá-la segundo esse critério, por ele nos parecer pouco adequado ao tipo de abordagem que adoptamos, ancorada na leitura aproximada e na análise formal das obras em estudo, conduzidas por uma interrogação das tensões entre diversas formas de (auto-)representação da escrita e da literatura e uma ideia transversal de teatralidade integrada na ficção. A parte mais relevante da bibliografia crítica dedicada a A.T. Pereira é composta por artigos em periódicos impressos e electrónicos (JL, Público, Colóquio/Letras, Ciberkiosk), pelas mãos de, sobretudo, Eduardo Prado Coelho, António Guerreiro e Rui Magalhães. Objectos também importantes e diferentes deste conjunto, e que nos sugeriram algumas coordenadas de leitura fundamentais, são o volume teórico e filosófico O Labirinto do Medo, que reúne uma colecção de ensaios de Rui Magalhães 1 sobre a generalidade da obra publicada até 1999, e o posfácio de Fernando Guerreiro à segunda edição de O Fim de Lizzie, “O Mal das Flores (notas para Ana Teresa Pereira)”. Em anos recentes, a autora tem sido alvo de um número crescente de estudos académicos. Entre os trabalhos que conseguimos identificar, três dissertações de mestrado detêm-se essencialmente na exploração de tópicos generalistas e culturais1, enquanto outras duas trabalham sobre a verificabilidade e a aplicação de abordagens teóricas determinadas tematicamente, sob os signos da “ruína” e da “predação” 2, deixando espaço para a ponderação que agora apresentamos, mais orientada para a análise de características formais e literárias que ainda estão por sistematizar 3. 1 Anabela Sardo, A temática do amor na obra de Ana Teresa Pereira, U. Aveiro, 2001; Rosélia Fonseca, A personagem Tom: unidade e pluralidade em Ana Teresa Pereira, U. Católica, 2003; e Teresa Amaro, A Construção de Si: Ana Teresa Pereira e a Escrita como Edificação de um Universo Literário e Cultural, U. Nova de Lisboa, 2008. 2 Pedro Corga, Os lugares da ruína em Ana Teresa Pereira, U. Aveiro, 2010; e Patrícia Freitas, Do Escritor como Predador: Mistério e (Re)visões na Obra de Ana Teresa Pereira, U. Porto, 2011. 3 As duas teses de doutoramento dedicadas até ao momento à autora parecem-nos marcadas por imprecisões que solicitam uma reconsideração aprofundada de determinados aspectos. Duarte Pinheiro, o autor da primeira, incorre em afirmações categóricas que, ao contrário da sua própria argumentação, apresentam a obra de A.T. Pereira como se ela consistisse numa ficção de tipo naturalista: “Há dois temas fundamentais nas narrativas de Ana Teresa Pereira […]: o tema da identidade […], e o tema da solidão” (Pinheiro 2011: 30). A relevância de outras declarações em contexto dissertativo parece-nos também difícil de compreender: “[P]ensamos poder afirmar que Henry James está de facto presente em Ana Teresa Pereira, e tal não deve constituir algum tipo de pudor, pois é a própria autora funchalense a primeira pessoa a assumi-lo” (166). Outra tese, mais recente, repete formulações que carecem de objectividade; por exemplo: “Estamos, pois, perante uma obra cuja indivisibilidade labiríntica se entretece com a paixão obsessiva pela Arte” (Sardo 2013: 21); “a obra pereiriana apresenta também uma característica específica e crucial que leva a escritora a escrever […]: a questão da circularidade que se entretece com a paixão obsessiva pela Literatura” (293); ou ainda: “[A] obra pereiriana apresenta também uma singularidade específica e crucial que leva a autora a escrever, entre outros, livros tão belos e peculiares como O Verão Selvagem dos Teus Olhos e A Outra, nos quais a problemática da circularidade, circunscrita por uma indivisibilidade labiríntica, se entretece com a paixão obsessiva pela Literatura” (358-9). Anabela Sardo parece ler também de forma algo simplista, por exemplo, aquilo a que chama uma confissão da autora, oferecendo o que consideramos uma chave de leitura muito errónea: “Ana Teresa Pereira considera a sua obra autobiográfica, facto que confessa na entrevista dada no ano 2000 […]: «Os meus livros sou eu. (…) todos os meus livros são eu própria, o material de que sou feita. Portanto, tem a ver com a minha vida, com as minhas leituras, especialmente as de criança»” (38). 2 Os dois objectivos principais da nossa dissertação são: chegar a um entendimento renovado das narrativas de A.T. Pereira, tanto mais específico na verificação das suas particularidades quanto abrangente na perspectivação do seu lugar e da sua prática em relação a quadros maiores da história estética e literária; e propor uma reapreciação crítica deste modo de fazer ficções, entre outros modos com os quais ele comunica, e do que para a autora parece significar, na interface com outras artes, o literário. A nossa leitura, maioritariamente formal e parcialmente temática, será orientada por coordenadas de diferentes linhas de pensamento sobre arte e a literatura que se têm debruçado – especialmente na segunda metade do século XX – sobre a compreensão e a descrição de alterações nos paradigmas estéticos normalmente associadas, de forma explícita ou não, quer à Modernidade quer aos Modernismos, e à tradição que a partir deles tem sido descrita. Neste sentido, e também à luz ou sob a orientação das reflexões exercidas noutros contextos e com outros alvos, propomos no nosso estudo uma reconsideração do que nos parecem atributos literários tendencialmente ignorados na obra de A.T. Pereira. Propomos ainda evidenciar a solidez com que se tem vindo a construir esta obra, e a coerência com que ela segue e retrabalha determinados princípios, auto-estabelecidos ou recebidos na filiação a determinadas tradições artísticas – não entendidas com estanqueidade, mas sempre “a partir de uma perspectiva dinâmica”, de onde sobressai “o seu potencial dialógico” (Buescu 1995: 26) – e a determinadas ideias de literatura, isto é, vamos ater-nos ao seu carácter eminentemente teórico, para perceber com mais exactidão o que pode ser um programa de literatura entrelinhado na ficção, por vezes menorizado ou tomado por idiossincrasia narrativa que não carece de explicação mais 3 atenta4. No entanto, não nos referimos a um ‘programa literário’ em sentido tradicional, que presida à escrita e a pré-determine segundo uma ‘agenda estética’, mas a uma particular e desinteressada forma de teorizar (de olhar) que emana da autoconsciência da prática da escrita, como reflexão colateral desta, e, em última instância, apenas a ela dirigida e aplicável. Veremos que, em A.T. Pereira, a prática da escrita e o pensamento sobre essa prática são dimensões indissociáveis. Perspectivar A.T. Pereira no âmbito da literatura portuguesa enquanto disciplina é observar necessariamente a sua posição em órbita. No que é a um tempo reconhecer um descentramento comum e um parentesco com Jorge Luis Borges, A.T. Pereira inscreveu numa crónica a sua morada no universo anglo-saxónico5. Este enquadramento passa pelas linhas principais, de nenhum modo exclusivas, da literatura inglesa oitocentista (Jane Austen, as irmãs Brontë e Lewis Carroll) e dos americanos Edgar Allan Poe e Henry James, cultores de variantes problemáticas de real-naturalismo, bem como pelo cinema clássico (Alfred Hitchcock, Joseph L. Mankiewicz, Nicholas Ray, entre outros), contando ainda com a importância fundamental de um conjunto de autores populares de romance policial (John Dickson Carr, William Irish e Ellery Queen, entre outros). 4 Vimos a perfeita ilustração disto naquela que nos pareceu a mais interessante crítica a As Longas Tardes de Chuva em Nova Orleães, na qual o autor reconhece a dimensão auto-reflexiva de A.T. Pereira para depois a menorizar enquanto tal: “Diversas vezes, a escrita da autora reflecte sobre as suas próprias condicionantes, num jogo de espelhos, dissimulações e desfigurações que sustenta (ainda que em bases sempre instáveis) o seu próprio caminho, e o figura, em estruturas fantasmáticas – «Um escritor não tem mais do que dois ou três temas. E escreve variações sobre eles» (p. 45); «No caso de Tom, creio que só há um tema» (idem). Nestas afirmações, simples esboços teóricos – pistas falsas, como as que surgiriam nas histórias de mistério que fazem parte do cosmos da autora –, Ana Teresa Pereira não avança princípios sólidos: cria discretos marcos miliários para os mais atentos e mais perplexos” (Santos 2013, itálicos nossos). Salvo indicação em contrário, os itálicos em citações corresponderão sempre a ênfases já dadas no original. “É estranho que nunca nos tenhamos encontrado. Afinal, vivemos no mesmo lugar: uma infinita biblioteca de livros ingleses” (Pereira 2002: 75). 5 4 Acreditamos que, defendendo ela própria a sua genealogia literária estrangeira, A.T. Pereira não é alheia à profunda distância que, nas margens de onde escreve, a separa de um centro. Parecendo ter libertado o português inidiomático em que se expressa de quase todos os traços culturais mais vinculativos, a escritora apresenta, numa rara e extremamente sucinta referência à literatura portuguesa, uma contra-resposta directa à condição existencial propalada por António Vieira: “nós não somos o sal da terra. Nós não somos a luz do mundo” (Pereira 2011a: 108). Estamos em crer que, talvez mais do que uma posição político-filosófica, ou humanista, este poderá ser o sinal de uma preferência de A.T. Pereira pela exclusão, isto é, pela não-pertença e pela marginalidade, no que toca à arte e aos motivos da sua prática. Acresce a isto o facto de, numa interessante triangulação entre a obra e a vida de Cornell Woolrich, escritor de policiais, o “ensaio” de Francis M. Nevins sobre ele, e o seu próprio trabalho, a autora se opor criticamente a determinadas expectativas quanto à literatura e à sua normatização, preferindo uma forma particular de “escrever mal” em detrimento implícito do que António Guerreiro apelidou de “literatice” (Guerreiro 2012: 30): “Talvez [Woolrich] escrevesse mal. A sua escrita era uma corrida contra o tempo, contra a morte, onde por vezes se notava a falta de disciplina e a paixão levada ao extremo. Só espero, um dia, escrever tão mal como ele” (Pereira 2002: 37). Não obstante este quadro, pensamos ser possível estabelecer pontos de contacto entre a obra de A.T. Pereira e a de outros autores portugueses. A busca talvez tenha de acontecer em lugares inesperados, como seja o caso – mencionado, como todos os restantes, apenas a título de exemplo, sem outro critério de selecção que não o da nossa própria experiência –, da poesia de Herberto Helder, e da sua concepção revisiva e cumulativa da obra, que tende para reuniões sucessivas de fragmentos no todo de uma súmula ou palimpsesto (cf. Gusmão 2010: 362-6). 5 Este ‘deslaçamento ligado’ é uma espécie de qualidade paradoxal dos textos de A.T. Pereira, separados entre si por formas de contiguidade suspensa: cliffhangers (ou irresoluções que apontam para a iminência do passo seguinte) nos limites que os separam entre si e que também os unem. Esta característica é apenas identificável ao adoptar-se uma visão panorâmica – talvez a situação de leitura ideal – não da obra completa, um conceito eternamente adiável, parece-nos, mas da obra manifesta. Ou seja, ao reconhecer o carácter sumativo que é precisamente potenciado pela multiplicação, talvez se vislumbre uma espécie de horizonte da obra, ou de ponto ideal de convergência de todas as versões da história das histórias. Neste sentido, e recorrendo muito antes de nós a uma identificação fulcral da escrita de A.T. Pereira com o cinema, Rui Magalhães afirmou: Os textos de Ana Teresa Pereira são fragmentos de um filme impossível que contasse eternamente a mesma história. Eternamente porque a história é, naturalmente, infinita; não através de factos, nem de acontecimentos, mas de ambivalências exaustivamente repetidas e deslocadas. Toda a história residiria na interpretação dessas deslocações. Os factos são muito pouco para Ana Teresa Pereira; eles são apenas a imagem do que é suposto ser real. (1999b: 137-8) Por outro lado, pensamos que, também como Helder, e segundo Manuel Gusmão, a autora “constrói a sua alteridade e a sua singularização num processo de configuração da sua própria genealogia, e no modo como abre o seu caminho pelas margens das várias conjunturas poéticas que a sua obra atravessa” (Gusmão 2010: 372). Com Maria Gabriela Llansol, A.T. Pereira parece partilhar uma “evidência imagética” (Cantinho: § 17) trabalhada sobre a representação do espaço-tempo, ou “[d]o que [lhe] aparece como real” (§ 16), ou como “[o] que é suposto ser real” (Magalhães, ibid.), em cenas fulgor – o que para nós assumirá uma analogia muito directa, embora 6 de maneira nenhuma simplificada, com o conceito de cena no cinema e no teatro –, e na reconvocação a-histórica de elementos humanos (actores, actrizes, escritores e artistas inscritos na História), de personagens, animais, objectos e elementos arquetípicos, enquanto figuras do texto, para os “inserir numa outra ordem de significação”, através de uma “técnica visual de sobreimpressão” (§§ 17-8). Por fim, e sobre Luiza Neto Jorge e o seu lugar numa tradição moderna que é “uma poética do ver e da descrição”, Fernando Cabral Martins, voltando a descrever o poeta como um “fazedor de imagens”, que redesenha o mundo e a sua relação com ele, diz aquilo que gostaríamos de repetir agora em relação a A.T. Pereira: “A formidável impossibilidade de usar as palavras, que são comuns, para representar a experiência individual, que é única, é rasgada pela ponta de fogo de uma máquina de imagens” (2000: 242). “Máquina de imagens”, “máquina de produzir fantasmas” (Guerreiro 2011: 7) ou dispositivo visual são formulações possíveis para as ideias que exploraremos com recorrência no que toca a uma escrita feita de imagens ou baseada no acto de fazer imagens, que, quando qualificada como cinematográfica, tem muito mais do que uma relação íntima, temática ou formal com os géneros fílmicos. Por meio de uma sintaxe maioritariamente fundada numa concepção própria de montagem, ‘dando a ver’ os segmentos narrados e descritos muito mais do que entretecendo-os num texto lógicocausal de índole realista, esta escrita emula verbalmente a expansão da “imagem-movimento” numa luz reveladora (por outras palavras, o modo de representar – ou de se manifestar – próprio do Cinema), de tal maneira que descrever a visualização pode dar a uma tela de pintura o dinamismo de uma tela de cinema, afectando a nossa leitura do que, tomando em conta as implicações psíquicas do filme, Jean-Louis Baudry, pioneiro dessa corrente teórica, chamou “efeito-cinema” (1975: 66): 7 Sentou-se no chão em frente da tela. No centro, dois meninos. Iguais. Sentados com ar muito sério, como se posassem para uma fotografia. Mas à volta o quadro parecia enlouquecer. Havia pássaros e asas soltas, sangue… Um pássaro azul, enorme, perseguia uma figura que parecia um aborto… (Pereira 1996b: 116-17) Enquanto meio de captação do real, o aparato fílmico pode ser encarado como uma tecnologização da visão humana, aproximável, em termos fenomenológicos, ao processo de ver na Natureza, ao mesmo tempo que, tratando-se de uma representação “percepcionada” enquanto tal [représentation perçue] (Baudry 1975: 67) 6, ultrapassa esse processo. Na verdade, segundo Baudry, o modo alucinatório do sonho e do cinema origina um “real-mais-do-que-real”7. Tentaremos demonstrar adiante que a escrita de A.T. Pereira, em contacto íntimo com o cinema e figurando-se muitas vezes como prolongamento dele, também terá incorporado em si a exploração e a autocrítica da visualidade que lhe são inerentes. A selecção das obras incluídas neste estudo tem por base a proposta de que de O Fim de Lizzie (2008) a O Lago (2011) podemos circunscrever uma fase particular na escrita da autora, em que, atenuando certos traços até aí mais evidentes, determinados tópicos e referências recorrentes foram remetidos a um estatuto não mais do que vestigial. O esquema policial e a trama detectivesca, que na verdade foram sempre corrompidos por intersecções com outros géneros literários e cinematográficos, e pela escrita ‘supra-genológica’ de A.T. Pereira, quase desapareceram. Nas obras aqui em análise, a ficção concentra-se fundamentalmente, quando não em si mesma, em campos 6 Por uma questão de maior coerência e de economia de espaço, optámos por citar, sempre que nos foi possível (tendo em conta o conhecimento da língua e o acesso aos textos), as versões originais da bibliografia de apoio. “[L]a perception […] acquière en tant que perception le mode d’existence propre à l’hallucination, se remplisse du caractère de réalité spécifique que la réalité ne confère pas, mais que l’hallucination provoque: un réel-plus-que-réel” (id. 67). 7 8 semânticos e temáticos associados à criação artística e ao sistema da acção literária (no que se entende tanto a escrita como a leitura), em correlação essencial com o teatro e outras artes do palco. A escrita e o ofício do escritor surgem no conjunto de ficções que seleccionámos como um problema obsidiante, quando não o problema fundamental, e são objecto de tratamento tanto literal como alegórico, num texto ostensivamente metaficcional em que a porta para outras escritas, ou actos de significação, se encontra na Representação entendida em dois sentidos: como o modo de ‘re-apresentação’ do mundo (e da arte) na arte, e como a actividade de actores e autores, quer no mundo, quer na ficção. O corpus seleccionado nesta dissertação pretende acentuar o desenvolvimento gradativo de um processo. Considerando-se O Fim de Lizzie o ponto de partida, a obra em que a relação com um esquema de representação teatral e a actuação de uma figura pigmaliónica (de autor) começam a ser mais axialmente trabalhadas, parte-se para as publicações seguintes, dividindo-as em dois pares em variação e exponenciação daqueles aspectos: O Verão Selvagem dos Teus Olhos e A Outra (‘prequelas’ impuras de Rebecca, de Daphne du Maurier, e de The Turn of The Screw, de Henry James), e Inverness e A Pantera (novelas de enredo e temática teatrais). O ponto de chegada da nossa análise será O Lago, novela bipartida em que tanto o pendor fantasmático e ‘guionístico’ das prequelas quanto a problematização dramática e teatral das novelas ‘de bastidores’ se reúnem em iguais proporções, sincretizando-se numa súmula formal. Através do encontro com o cinema e com o teatro, colocaremos uma hipótese de teorização literária para A.T. Pereira que terá por vezes em conta certas (con)fusões categoriais, nomeadamente, entre o escritor e o encenador, as personagens e os actores, o texto narrativo e uma forma textual híbrida, aproximada do drama pelo reconhecer das 9 qualidades ‘performáticas’ do texto, tornado visível por uma acção da linguagem sobre o pensamento: nos termos de Baudry, o “efeito-sonho” e o “efeito-cinema”. Resumidamente, a reflexão que propomos aqui fazer atentará no desenvolvimento ficcional de uma hipótese lançada na epígrafe de A Última História (1991), atribuída a Sigmund Freud: “as palavras de um escritor são acções”. 10 II. “Inventar um outro livro” Metamorfosear (mais tarde, direi fulgurizar) é um acto de criação. E criar é sempre criar Alguém. E este Alguém não é um exclusivo do humano. Maria Gabriela Llansol O Senhor de Herbais A ficção de A.T. Pereira dedica-se desde cedo à descrição de situações de escrita que denunciam estratégias de sobreposição entre o livro que se lê, isto é, aquele a que o leitor tem acesso, e o livro ou o texto que está a ser escrito, ou já foi no passado, enquanto objecto do enredo8, e que parece constatar, no seio da ficção, a imanência literária do real, como uma forma de potência da escrita9. Estes elementos contribuem para a formação de um campo semiótico centrado numa ideia de grafia. A etimologia permite-nos inclusivamente recuperar o verbo grafar como indicador de qualquer acto de representação de formas legíveis numa superfície, que inclui ao mesmo tempo os conceitos de escrever e pintar, já que, em última instância, “l’écriture est une figuration” (Zumthor 1987: 138)10. O nosso conceito de ‘escrita’ terá pois de equivaler mais rigorosamente a inscrição, sendo esta noção de inscrição (registo 8 “«Mas eu estou a escrever isto», pensou” (Pereira 1993: 30). “«Se eu ainda escrevesse», pensou, «podia nascer tanta coisa desta porta fechada»” (Pereira 1989: 74). 9 Na mesma passagem, o autor observa que: “L’ancien français escrire signifie aussi bien «dessiner» ou «peindre» que tracer des lettres […]. Et ce qui nous apparaît comme un flottement sémantique est profondément motivé dans les mentalités de ce temps: le grec byzantin graphein référe, lui aussi, à l’inscription e à l’image, au récit et à la fresque” (138-9). Embora não faça referência à obra de Zumthor no seu estudo sobre a écfrase, João Adolfo Hansen explora nele uma ideia semelhante: “[N]os textos gregos o verbo graphein significa tanto escrever quanto pintar, assim como o substantivo graphé significa escrita e pintura. A equivalência de escrita e pintura no grego graphein permite propor não a identidade da poesia e da pintura, por exemplo, mas a homologia dos procedimentos miméticos aplicados a uma e outra” (Hansen 2006: 91). 10 11 materializador de um escrito num espaço susceptível à arte, análogo do papel em branco ou da tela) explorada nestes textos como imagem transversal da Criação. Também o termo ‘escrever’ sofrerá em A.T. Pereira uma dilatação de limites para passar a abarcar e a mediar todo o acto (plástico) de criação-significação. Será por isso que para a intérprete de Tarot do conto “Forget-me-not” – que “[c]omo noutros tempos dispunha as cartas […] agora escrevia versos soltos no caderno branco tentando ler nas palavras obscuros sinais” –, “[e]screver era como mergulhar as mãos em argila”, “criar formas que depois voltavam à massa amorfa” (Pereira 1997: 13, 17). O fenómeno aparentemente simples da representação em literatura de actos de criação interessar-nos-á por abrir à nossa leitura o espaço de tensão entre o que é escrito e quem é escritor, e por ser ao mesmo tempo um dado à partida diegético, do domínio da trama, mas também um processo auto-reflexivo em que o texto ‘performatiza’ a sua própria natureza. Iluminando o que viemos a encontrar em A.T. Pereira, Rosa Maria Martelo desenvolveu o seguinte argumento num breve estudo sobre “cenas de escrita” na poesia portuguesa: A asserção “j’assiste à l’éclosion de ma pensée: je la regarde, je l’écoute”, de Rimbaud, pode servir como referência para o distanciamento meta-reflexivo do qual as cenas de escrita são uma espécie de efeito secundário, digamos assim. E não é por acaso que uso aqui a palavra cena, com tudo o que ela tem de alusão ao teatro, pois a especularidade da escrita que absorve o acto de se escrever, ou que o figura, tem algo de cenografia, de uma ceno-grafia. Quando um poema se transforma em cena de escrita, o que nos é dado ver é sempre a poética que lhe está subjacente, numa situação que lhe dá corpo, espessura e concreção – naquele mesmo sentido em que, como faz notar Patrice Pavis, hoje, a cenografia se apresenta como um dispositivo que tem em vista “iluminar” o texto, “figurar uma situação de enunciação”, estabelecendo um intercâmbio entre um espaço e um texto. […] Nada é inocente nas cenas de escrita, e elas são concebidas – e lidas, também – nesse pressuposto. (2010: 323-5) 12 A.T. Pereira identificou o “grito” como o seu género preferencial: “Num ensaio de Francis M. Nevins lê-se que existe uma arte em que a forma não é o romance nem o conto, mas o grito; e nessa arte William Irish [pseudónimo de Cornell Woolrich] era um mestre. O meu mestre” (Pereira 2002: 37)11. Não se tratando este “grito” de uma denominação de género minimamente fundamentada, ou sequer sustentável quando transposta para o nosso discurso crítico, ele parece-nos precisamente a reivindicação de um certo desprendimento formal e intelectual, em favor do qual são desprezadas determinadas expectativas em relação à ficção literária, e através do qual A.T. Pereira parece chegar a uma estetização do espontâneo e do subjectivo. Assim, colocamos a hipótese de as ficções de A.T. Pereira estarem mais próximas da poesia e da expressão lírica (a “massa amorfa” ou a “forma informe” [Martelo 2010]), do que da prosa romanesca construída com base na verosimilhança e na determinação aristotélicas, Regressando à sistematização taxonómica dos actos de fala de John Austin, e reformulando-a nalguns pontos relativos à linguagem literária, Jonathan Culler observou que, não sendo sujeita aos valores de “verdadeiro” ou “falso”, mas também não, como argumentara o filósofo da linguagem, aos de “bem sucedido” ou “mal sucedido”, uma obra literária “performatively brings into being what it purports to describe” (2006: 144). Esta afirmação de Culler vem ao encontro do antes exposto, especialmente recuperando a citação de Freud, ao alinhar-se com uma tradição de pensamento sobre a actuação e o poder originador da matéria verbal (“brings into being”), que enfatizou na obra literária uma qualidade performática, passando a encarar o seu ‘inscritor’ – Curiosamente, Rosa Maria Martelo dedicou um subcapítulo da sua tese à “Estética do Grito” na poesia portuguesa neo-realista, na qual detecta justamente a “vigência de uma componente expressionista” (1996: 127). 11 13 enunciador figurado12 – como performer ficcionalizado retroactivamente: “The performative utterance automatically fictionalizes its utterer when it makes him a mouthpiece for a conventionalized authority” (148). A autoridade convencional do narrador e da sua voz enunciativa será então, figurativamente, o vaso em que se verte a voz de um autor que sabemos ser real e humano. No entanto, defrontamo-nos nestas obras com a particularidade de termos de falar também de autores ficcionais, que cumprem funções numa fábula. Uma vez que criar seja um desígnio atribuído, aquele que cria está a tornar-se, no cumprimento do seu papel, criatura. A distinção entre o plano da ficção e o plano da realidade esbate-se quando o juízo de ficção emana dela própria. O plano da realidade (exterior) sofre uma explicitação no plano fictício, de tal modo que ser ‘de faz-de-conta’ se torna a realidade da obra: Tivera várias vezes a sensação de que se tratava de uma farsa, que ninguém ali falava espontaneamente, que tudo obedecia a um plano prévio. [Q]uando estava no jardim, o mundo parecia imobilizar-se do outro lado da rua. “Como se fosse um cenário. Uma tela. E não houvesse nada por detrás”. As descrições de Tom eram extremamente secas […]. As suas páginas eram visíveis, os cenários tinham três dimensões, as personagens tinham carne, sangue… e medo. […] Era quase como ver um filme. (Pereira 1993: 43, 108, 122) À equivalência entre escrever e pintar, escrever e encenar, escrever e representar, subjaz uma tarefa comum de realização, isto é, de transformação em realidade de uma espécie de texto primordial inacessível, em infinita reescrita. O resultado de o que está a ser escrito ter já sido prescrito são sucessivas narrativas de encenação da escrita de 12 Remetemos aqui para a expressão de Pavis, citado em Martelo 2010: 325, segundo o qual a cenografia (ceno-grafia) pretende “figurar uma situação de enunciação”. 14 textos em segundo grau, manifestações hipotéticas de um ‘arquitexto’ maior, versões parcelares, repetições que são “[c]omo uma aproximação infinitamente diferida que sempre que estivesse prestes a tocar o seu destino este se deslocasse infinitesimalmente” (Magalhães 1999a: 2). Como se fossem ensaios teatrais, os diferentes textos produzem efeitos de reactualização sistemática daquela pré-escrita original, o que, em última análise, é estruturalmente semelhante ao processo de interpretação literária. Por vezes, e no limite, as equivalências sugeridas desdobram-se em escrever e ser – e ser lido e escrito –, resvalando para um ensaísmo da identidade, em sentido teatral, que parece responder à comparação de Paul Ricoeur entre personagem e humano com base na imitação da acção que, deixa o autor implícito, é comum aos dois13. Também Antonin Artaud, no primeiro manifesto do seu “Teatro da Crueldade”, sublinhou uma confluência aqui relevante, com a qual ele substituiu a velha dualidade, entre “l’auteur et le metteur en scène, remplacés par une sorte de Créateur unique, à qui incombera la responsabilité double du spectacle et de l’action” (Artaud 1985: 144). Segundo Artaud, para quem “il n’y a rien d’existant et de réel,/ que la vie physique extérieure” (Artaud 1974: 110), caberão ao Criador as tarefas de projectar no abstracto as palavras ou ideias, e de organizar no espaço, materialmente, as acções, para formar enfim e sequenciar os signos de uma linguagem unificada, fisicamente concretizável. O seu tratado em verso sobre o “teatro da crueldade” diz: “La terre se peint et se décrit/ sous l’action d’une danse terrible” (id. 115). A missão desta forma de “Les personnages de théâtre et de roman sont des humains comme nous. Dans la mesure où le corps propre est une dimension du soi, les variations imaginatives autour de la condition corporelle sont des variations sur le soi et son ipséité. […] La Terre est ici plus et autre chose qu'une planète : c’est le nom mythique de notre ancrage corporel dans le monde. Voilà ce qui est ultimement présupposé par le récit littéraire en tant que soumis à la contrainte qui en fait une mimèsis de l’action. Car l’action «imitée», dans et par la fiction, reste elle aussi soumise à la contrainte de la condition corporelle et terrestre” (Ricoeur 1990: 178). 13 15 teatro é então “achever de construire la réalité./ Car la réalité n’est pas achevée,/ elle n’est pas encore construite” (id. 110). Parece-nos pertinente ler os contos e as novelas de A.T. Pereira, adoptando esta linha de análise, enquanto objectos literários dotados de uma hiperconsciência da sua própria poiesis, ou da construção da (sua) realidade. Como já referido, lidamos na argumentação que orienta este trabalho com uma acepção dupla do termo ‘representação’: enquanto uma acepção generalizada da imitação ou mimesis clássica; e enquanto função atribuída aos actores, a acção de representar ou de interpretar. A par desta segunda acepção estará também o que, em “Turning the Screw of Interpretation”, Shoshana Felman (1982: 94-207) classificou como o “acting out” do texto, uma ideia de figuração do discurso, inspirada na novela de Henry James, que poderemos localizar no cerne da prática literária de A.T. Pereira 14. Ao citar nesta introdução apenas as obras iniciais da autora, a nossa intenção é constatar a genealogia possível de uma problemática. Vejamos que, no primeiro caso (Matar a Imagem [1989]), o início da narrativa coincide já com o fim de uma escrita (“Terminara o livro” [9]). Isto quer dizer que a protagonista concluiu no início daquele livro a escrita de um outro livro. O primeiro bloco de texto faz-se, depois, de pequenas meditações sobre o sucedido: tratou-se de uma entrega sacrificial (“um vampiro visitara-a todas as noites e sugara-lhe o sangue até ao amanhecer”); ela tinha estado “muito longe”, “[n]a quinta dimensão”; a ficção tinha passado a integrar a sua realidade, mas fora finalmente banida para o espaço do papel (“As personagens com as quais vivera ultimamente tinham partido e ela estava só”), e, mais do que banida, “a história ficava aprisionada, já não podia fugir, desaparecer no ar” (9-10). Além de abrir caminho a este conjunto de (im)possibilidades epistemológicas, escrever pode prolongar-se para uma forma terrífica de ontologia (“havia nela um medo 14 Este ponto e uma leitura do texto de Felman são abordados no subcapítulo 2.2. 16 feroz da escrita, de cair no poço sem fundo que era ela própria”), e desperta a necessidade de repetição da experiência e recuperação do convívio com os “seres fantasmagóricos”, regressando ao esquema de vampirismo: “Era preciso começar de novo, inventar um outro livro” (11-2), como se a realidade, sem a ficção, permanecesse incompleta. O diálogo com Der Himmel über Berlin (1987) dita claramente a posição da protagonista desta novela no espaço interdimensional: “O anjo da biblioteca, o da solidão, o narrador... ela mesma” (20). É também do filme de Wim Wenders que vem um dilema aparentemente crucial: “Havia dois caminhos, talvez: ser um poeta no mundo da palavra ou ser um poeta na vida”. Crucial, no entanto, é que em qualquer dos casos, no “mundo da palavra” ou na “vida”, o caminho seja ser poeta, indiferenciando, em última análise, literatura e vida. Além destes exemplos, há que referir o caso representativo de As Personagens (1990), novela em que, lembrando os pressupostos críticos em relação a Henry James e ao “texto actuante” elaborados por Shoshana Felman, A.T. Pereira recorre ao motivo da carta enquanto pedra-de-toque da ficção e do livro. Resumidamente, as personagens que aqui encontramos são convocadas para o texto e reunidas numa mesma casa através de cartas-convite que as chamam a cumprir determinados papéis, sob contrato, numa peça não identificada. Entre elas está, por exemplo, um escritor que responde à proposta de interpretar o papel de um escritor, ou, mais especificamente, de um argumentista. As personagens mostram-se perturbadas ao aperceberem-se de que, uma vez reunidas na ‘casa-texto’ e sem quaisquer instruções sobre o que deverão fazer, há num quarto vazio uma máquina de escrever que expele com sistematicidade e autonomia páginas que descrevem cada um dos seus movimentos pela casa. Sabemos pouco antes do fim que “[o]s jogos e as personagens preexistem” (92), e que o texto subjuga à sua 17 prescrição o escritor contratado para o escrever, ele próprio tornado objecto da máquina indómita e auto-suficiente. Sobre a ideia de construção literária que está no centro desta parábola, Rui Magalhães já havia detectado que: Há em Ana Teresa Pereira qualquer coisa que não se compadece com a facilidade do literário, que recusa, por exemplo, aquele artifício tão literário, que consiste em sugerir. Ana Teresa Pereira não sugere, enuncia, constrói situações, mesmo quando essas situações se assemelham quase perigosamente a estereótipos. (1999b: 32) Nos termos de Magalhães, A.T. Pereira adopta uma concepção literária no âmbito da qual toda a realidade é encarada como poesia, e toda a poesia é uma forma de realidade que, como uma máquina de escrever em rebelião, a primeira constrói à sua medida, por um efeito activo e constante. Afinal, “[o] livro não dorme enquanto está fechado, transforma-se noutra coisa, o tempo todo” (Pereira 1990: 112). Como veremos, a arte para A.T. Pereira não parece aspirar à imitação da natureza, mas à inclusão na natureza, sendo a natureza entendida como o Todo, o pré-existente e o inventado. Disse Todorov que “[l]’art n’a pas à représenter la vie, dans ce qu’elle a de plus essentiel, il doit l’être” (1971: 223). A ficção não é entendida como alternativa ao mundo, mas sim como uma dimensão aumentativa dele. A realidade da ficção é tão contingente quanto a realidade do real, e prende-se, muitas vezes, com questões de construção da autoria e da identidade. Recordando a lição de Narciso, o reflectido e o reflexo existem em dependência mútua. Cancelar a visão e aquilo a que ela dá acesso significa nestes textos, ‘edipianamente’, matar a imagem de si mesmo 15. “À volta dos olhos começavam a surgir rugas pequeninas. Fechou-os com força, matando a imagem que detestava profundamente” (Pereira 1989: 11). 15 18 CAPÍTULO 1 O Fim de Lizzie ou o princípio da incerteza An unhappy alternative is before you, Elizabeth. Jane Austen Pride and Prejudice A arrumação em tríptico de “Numa manhã fria”, “O fim de Lizzie” e “O sonho do unicórnio”16 oferece especial evidência ao sistema de ‘intra-referencialidade’ que atravessa a produção literária de A.T. Pereira, que tende a ser apresentada, também pela própria autora, como um caudal narrativo incessável e refringente, ou “[c]omo um longo livro inacabado. Fragmentos de um palimpsesto” (Pereira 2008b: 28). As três histórias do conjunto, com os mesmos narrador, ponto de vista e personagens, e ainda enredos comunicantes, acabam por ser tão ‘inter-exclusivas’ quanto são, paradoxalmente, complementares. Elas desmentem-se e complementam-se na medida em que, se a primeira for aceite como a ‘verdadeira’ história, a segunda não pode ser, acontecendo o mesmo com a terceira, sem que isso desfaça, todavia, a verdade rizomática formada na justaposição das três histórias divergentes. Tendo em conta esta características, podíamos referir-nos a uma estruturação ‘lynchiana’ da narrativa, um apresentar histórias e tecer narrativas que, sem ser propriamente surrealista, é independente de regimes estritos de verosimilhança e de causa-efeito. Utilizamos a edição de 2009 (O Fim de Lizzie e outras histórias, Relógio D’Água), que acrescenta à edição de 2008, da Biblioteca Editores Independentes, um terceiro conto, intitulado “O sonho do unicórnio”. A maleabilidade deste conjunto ternário atesta-se ainda no facto de “Numa manhã fria” ter aparecido antes, isoladamente, na antologia Histórias Policiais (1996). 16 19 Žižek escreveu sobre o problema das várias leituras possíveis dos filmes de David Lynch – que, sendo diferentes e até contrárias, não têm de se anular – resvalando para termos que parecem retomar implicitamente a visualização onírica de Baudry, e optando por uma abordagem psíquica da recepção que já para este tinha sido fundamentalmente importante no princípio dos anos 1970. Os termos a que o filósofo recorre ajudam-nos a completar a aproximação entre A.T. Pereira e Lynch, esclarecendo o que, na ficção desta, é também uma “lógica do sonho” que não conhece a contradição entre elementos opostos, e que é conceptualmente reforçada no substantivo composto, ele próprio de certa forma oximorónico, “dream-logic”17. Neste ponto, pensamos ser pertinente estabelecer na obra de A.T. Pereira uma analogia entre livro e objecto pictural que se fundamenta sobretudo nesta problemática da visualidade, bem como na constatação de efeitos de especularidade na construção literária e na representação da escrita, que ora denotam a necessidade de decifração (literária), ora advogam a percepção (imaginária, ou figural) de um intérprete que se tem de constituir a um tempo como legente e observador. Na senda de uma identificação ao que parece primeva entre livro – ou escrita – e pintura – em sentido “emblemático”, mais do que como nome de arte –, esta ideia pode ser definida a partir da seguinte consideração de Paul Zumthor: Omnis mundi creatura/ quasi liber et pictura… (“la création entière nous est comme livre et peinture…”): ces vers célèbres d’Alain de Lille nous interdisent de dissocier liber de pictura, repris ensemble, à la ligne suivante, par le mot speculum (“miroir”). De ce point de vue, l’écriture tends moins, en sa fonction primaire, à noter les paroles prononcées qu’à fonder une visualité emblématique; elle lit, sur la page, l’univers. Celui-ci se souvient – “The two main alternative readings of Lost Highway can thus be interpreted as akin to the dream-logic in which you can «have your cake and eat it too,» like in the «Tea or coffee? Yes, please!» joke: you first dream about eating it, then about having/ possessing it, since dreams do not know contradiction. The dreamer resolves a contradiction by staging two exclusive situations one after the other” (Žižek 2000: 38, itálico nosso). 17 20 même si la chute d’Adam lui ravi cette vertu – d’avoir été l’idéogramme tracé par Dieu pour l’homme. (1987: 138) A ligação de elementos opostos acontece em A.T. Pereira numa espécie de ‘intratexto’ organizado em unidades léxico-semânticas cristalizadas (a repetição, o leitmotiv, a citação, o refrão, a imagem, a canção, o feitiço, entre outras), que tanto se podem corroborar como excluir mutuamente, e que tanto podem ser provenientes dos modelos da autora como resultar do que é uma – lembrando Helder, ‘poeticamente contínua’ – autoficção, evidenciada na relação assimilativa entre as três histórias. Num plano mais superficial, o que vemos nos vários textos são personagens que ressurgem para ocupar diferentes máscaras (personae), imagens obsidiantes e enredos parecidos no essencial, que se desdobram e são cortados ou amplificados. Aqui, uma ideia, uma frase, uma personagem, é a mesma e é também outra em simultâneo, num exercício aparentemente inacabável de emenda, acrescento e reformulação, e talvez mais acertadamente de reescrita, incluído na escrita e simultâneo desta, que aumenta o cômputo das hipóteses na formação de verdades ficcionais pluralizadas. “Noutros termos” – disse Fernando Guerreiro em Teoria do Fantasma –, trata-se de “um novelo de ser(es) simulacro(s)” (2011: 15). Esta proposta de leitura vai ao encontro do que A.T. Pereira declarou em relação à primeira versão de O Fim de Lizzie: “Há duas realidades possíveis e nunca sabemos qual delas tem a ver com o mundo exterior. Eu mesma não o sei […]. Posso continuar a escrever estas histórias indefinidamente” (Pereira 2008c: 11). 21 1.1. Entre imagens e realidades, uma estética não-aristotélica Ah! si nous avions d’autres organes qui accompliraient en notre faveur d’autres miracles, que de choses nous pourrions découvrir encore autour de nous! Guy de Maupassant Le Horla A epígrafe de “Numa manhã fria”, a partir de um poema de Poe ligeiramente alterado18, dá conta de um paradigma de percepção visual que é a um tempo o meio de acesso a um todo sensível, ao mundo da superfície e das percepções (“All we see, and all we seem”), e um índice duplamente deceptivo, do que se vê e do que se mostra, já que nos chega por um canal eminentemente onírico, preso na analogia entre sonho e visão (o sentido de onde parece decorrer a alucinação). A visão enganadora, ou, mais rigorosamente, a visão turva e inviável, tão recorrente na obra de A.T. Pereira, pode conhecer as suas mais fortes inspirações nas sombras do film noir, e nas pistas falsas, nos buracos de fechadura e nos relances de olhos dos policiais que alicerçam o seu imaginário, mas também na atmosfera enublada de certa literatura gótica, e, mais especificamente, nos episódios desse teor que encontramos nos labirintos de The Turn of the Screw (1898), de Henry James: o vulto de Peter Quint, ou de outro – não sabemos –, à janela e no cimo da torre de Bly. A menção a um tipo de literatura ‘gótica’ permite-nos, por outro lado, abordar um tema da obnubilação que remonta ao texto bíblico, reapropriado por Sheridan Le Fanu “All we see, and all we seem,/ are but a dream./ A dream within a dream” (9). O refrão original do poema de Poe diz, primeiro afirmativa e por fim interrogativamente: “All that we see or seem/ Is but a dream within a dream”, e “Is all that we see or seem/ But a dream within a dream?” (Poe 1984: 97). 18 22 em In a Glass Darkly (2008)19. Na verdade, esta colectânea do autor irlandês veio a público em 1872, não muito antes de Le Horla (1887), de Guy de Maupassant (1986: 35-80), uma narrativa paradigmática de questionação da dimensão visível das coisas e de evidenciação da falibilidade perceptiva do homem, que, segundo, Henry James, emula e imita (mal) Edgar Allan Poe20. Ainda neste particular, e para referir outro texto fundamental para a compreensão do universo literário de A.T. Pereira, notamos um efeito correlato ao que vem sendo descrito, embora a um nível mais sensorial e emotivo, no tratamento do que muitas vezes não é mais do que pressentido ou entrevisto nas deambulações de Jane por Thornfield Hall (a figura desconhecida que caminha de noite pelos corredores, a silhueta que se insinua à janela do quarto proibido no sótão), no romance de Charlotte Brontë, Jane Eyre (1847). Kevin, o narrador intradiegético (“narrador-rolo, palimpsesto, matéria ao mesmo tempo sensível e inteligente da história” [Guerreiro 2009: 216]), entra num ‘sonho transporte’ provavelmente inspirado no da protagonista de Rebecca (1938), de Daphne du Maurier. A abertura de “Numa manhã fria” (“A noite passada sonhei que tinha voltado à casa do avô” [11]) ecoa inequivocamente o romance: “Last night I dreamt I went to Manderley again” (Maurier 2003: 1). Esta declaração, por sua vez, associa-se à voz que, replicando as mesmas palavras, desencadeia o flashback e a entrada no sonho no filme de Hitchcock, Rebecca (1940). 19 O versículo a que Le Fanu se reporta no título, na versão que o mesmo terá consultado, encontra-se na epístola ao Coríntios: “For now we see through a glass, darkly; but then face to face: now I know in part; but then shall I know even as also I am known” (Cor. I, 13:12, The English Bible, King James Version, 364-5). “Le Horla […] is not a specimen of the author’s best vein – the only occasion on which he has the weakness of imitation is when he strikes us as emulating Edgar Poe” (James 1894: 267). 20 23 Convém sublinhar neste ponto que sob o ‘real lynchiano’ da obra de A.T. Pereira persiste uma relação estruturante com o cinema de paradigma clássico de Hitchcock, que não só se manifesta na evidente apropriação das narrativas e da imagética do cineasta, como chegou em tempos a uma espécie de recriação intermedial, com a ‘falsificação’ literária (talvez, melhor dizendo, realização literária) de um suposto filme do realizador inglês (cf. Reis 2013: 25-38). A entrada de Kevin na ficção dá origem a sobreposições irresolúveis no que toca à sua localização espacial e temporal. “[D]espertei” – e lembremo-nos de que, segundo o poema de Poe, este não é o despertar para a realidade mas apenas a transição de um sonho para outro –, “e com uma sensação de irrealidade percebi que estava mesmo na casa do avô”, e “o jardim estava mergulhado em nevoeiro, como no sonho” (12-14). Se é de notar que o sonhado e a situação admitida como concreta coincidem num plano de indeterminação, o estado de alma de Kevin corrobora ainda um princípio de confluência e de permeabilidade entre categorias de real e irreal. É “com uma sensação de irrealidade” que ele experiencia o despertar do sonho, e com esse sentimento inquietante apercebe-se do que é factual (“estava mesmo”)21. O sonho corresponderá aqui, então, a um estado infantil da consciência. Traduzindo e complementando Poe, diz-se que “[s]onho é tudo o que vemos e pensamos, desde a infância” (17). O sonho arrasta consigo um manancial de fenómenos entre os quais se destacará a recuperação sistemática, mais cognitiva e sensorial do que nostálgica, do tempo infantil, fase onírica, ou, pelo menos, própria do onirismo e da crença: “tempo em que acreditávamos em seis coisas impossíveis antes do almoço” (11). A ‘sobrenaturalização’ do sujeito sonhador – isto é, o solapamento de fronteiras visuais e espacio-temporais por parte do narrador e protagonista da história – era já um traço importante no texto de Daphne du Maurier, que foi cinematograficamente replicado na cena de abertura do filme de Hitchcock: “Then, like all dreamers, I was possessed of a sudden with supernatural powers and passed like a spirit through the barrier before me” (Maurier 2003: 1). 21 24 Em vez de surgir como revisitação imaginária do passado, a memória anamnésica é a forma de manifestação e prolongamento daquele num espaço já atemporal. A memória é o ponto de contacto entre um sonho e outro sonho que nunca acabou: “Às vezes tenho a impressão... de que somos ainda aquelas crianças. E de que tudo o que aconteceu depois não foi mais do que um sonho” (116). Como o “I would prefer not to” de Bartleby, as ladainhas e as recordações não redimem aqui o que terá acontecido na infância, mas representam o regresso à possibilidade de um passado que na verdade não foi nem deixou de ser, devolvido à “potenza di non essere” (Agamben 1998: 79). “Impressão”, “sensação” e “imagem” são palavras-chave do dispositivo visual deste texto, e denotam ainda a desconfiança das personagens em relação à sua própria ‘percepção alucinatória’ da realidade, que, como sugerido na introdução deste capítulo, é eminentemente cinematográfica, e foi de certo modo ‘re-conceptualizada’ por Deleuze em L’Image-temps poucos anos antes de A.T. Pereira começar a publicar 22. Utilizando termos que ecoam os de Deleuze, a reflexão de Helena Carvalhão Buescu sobre o “inflacionado enchimento dos tempos que convergem tumultuosamente para o instante do presente” (2005: 35) convida-nos a ler os textos do nosso estudo também como eflúvios de um conjunto de práticas e formas artísticas que se tem vindo a (re)definir como “Modernidade”, marcado por uma fluidez imagética, perceptiva e constitutiva, que, em última análise, desemboca numa reponderação-em-relação do que possa significar a nossa contemporaneidade, e do lugar que nela ocupam escritores como A.T. Pereira. Buescu desenvolve a ideia de que: “On touche là au plus vif la réalité du cinéma. «Hallucination» est aussi le mot que retient Gilles Deleuze pour son évocation de «la perception dans les plis». […] [D]ans Le Pli, que Deleuze a forgé le modèle, psychique-corporel, d’une «perception hallucinatoire»” (Bellour 2009: 114). 22 25 [E]ste carácter historicamente saturado do presente […] explica a sua transitoriedade e a sua representabilidade paradoxal através de imagens cristalizadas: as “imagens que passam pela retina” (Pessanha) são tudo aquilo a que o sujeito acede. Por um lado nelas se concentra a acção histórica dos tempos que foram e serão; por outro lado elas não podem não passar pela retina, precisamente. Cristalizá-las, encontrar através do discurso modos de sua representação pelos quais esses “charcos” se possam transformar em “lagoas de brilhantes” (Cesário) será, no fundo, a tarefa daquele a quem Baudelaire chamava já (e repare-se na metáfora visual) “o pintor da vida moderna”. (id. ibid.) A inquietação das personagens de A.T. Pereira parece resultar precisamente da consciência, ou, pelo menos, da desconfiança, de uma diferença axial entre planos do real fictício e outros reais imaginados ou pressentidos. Poderíamos dizer que, de certo modo, todas elas são assombradas pelo seu próprio Horla. A origem do dilema epistemológico das personagens, da história que é “demasiado confusa” (15) – e enfrentando o problema do flashback/analepse tanto no filme Rebecca como no conto “Numa manhã fria” –, reside na apresentação “cristalina” de uma visão do mundo, de uma ‘mundi-vidência’, que já é “dupla por natureza”23. Em última instância, admitir que a escrita de A.T. Pereira produz algo da ordem da alucinação cinematográfica implica admitir a alteração que isso reproduz no acto de leitura. O leitor de um texto construído dentro destes moldes terá de se colocar a si mesmo numa situação de alucinação, forçado a activar a sua própria ‘performatividade’ de leitor, de maneira a reconstituir em si imagens que correspondam às que estão codificadas, e já não ilustradas ou “anotadas” – citando Derrida quando este se refere a “[L]’indiscernabilité [de l’image-cristal] constitue une illusion objective; elle ne supprime pas la distinction des deux faces, mais la rend inassignable, chaque face prenant le rôle de l’autre dans une relation qu’il faut qualifier de présupposition réciproque, ou de réversibilité. En effet, il n’y a pas de virtuel qui ne devienne actuel par rapport à l’actuel, celui-ci devenant virtuel sous ce même rapport: c’est un envers et un endroit parfaitement réversibles. […] L’indiscernabilité du réel et du imaginaire, ou du présent et du passé, de l’actuel et du virtuel, ne se produit donc nullement dans la tête ou dans l’esprit, mais est le caractère objectif de certaines images existantes, doubles par nature” (Deleuze 1985: 94, itálicos nossos). 23 26 Artaud –, numa nova “escrita teatral”: “écriture hiéroglyphique, écriture dans laquelle les éléments phonétiques [e, acrescentamos, os elementos gráficos] se coordonnent à des éléments visuels, picturaux, plastiques” (Derrida 1967: 353). Não estamos distantes, neste ponto, daquilo que Mário Avelar sintetizou como uma capacidade central da palavra ecfrástica: “permitir ao leitor visualizar um signo ausente” (2006: 92). A cinefilia destas personagens parece ter acima de tudo um papel didáctico e cognitivo: a aprendizagem da vida, ou, mais especificamente, de uma forma de replicação daquilo a que “[as pessoas] chamam vida” (56). Kevin exemplifica: “Há uma certa nobreza em aceitar a derrota. Nós tínhamos aprendido isso, como quase tudo o que sabíamos na vida, num filme. The Browning Version” (id. ibid.). No seguimento desta ideia, a ontogénese das personagens parte dos filmes que elas vêem e das imagens que recebem e mimetizam, em detrimento de uma experiência empírica ou de um relacionamento com o mundo dito ‘real’ em primeira mão. O seu universo é quase exclusivamente fabular: “falámos de livros de aventuras, de filmes a preto e branco, de histórias de piratas, de histórias de fantasmas” (33). O irreal e o real ocorrem como categorias contíguas e reversíveis dentro de possibilidades infinitas de apreensão e representação do mundo24. Tudo se subordina a um regime de “experiência visceral” que, parece, advirá da concepção de literário da própria autora25. Rui Magalhães expôs eloquentemente esta dinâmica: “A história do real torna-o mais forte do que o próprio real, i.e., a sua definição. A história do real acrescenta-se ao real, tornando-se quase a sua única definição possível. A história do real (história real ou imaginária) é a história da sua continuidade e a história da suspeita de que essa continuidade só existe na palavra que a define” (1999b: 23). 24 “[N]ão separo a vida da literatura. Não me interessam os exercícios literários mas uma experiência visceral” (Pereira 2008b: 29). 25 27 A vivenda em que as quatro crianças (Kevin, John, Lizzie e Miranda) cresceram chamava-se Wistaria Hall26 e estava impregnada das características de outra mansão: Manderley, em sobreimpressão com os cenários de Hitchcock. O nome da preceptora das crianças vem também de Rebecca: Miss Winter (como Rebecca de Winter). Contudo, nas enigmáticas relações que esta mantém com o “avô”, lembra a preceptora anónima de The Turn of the Screw e o “tio” das crianças, ainda com a especial roupagem dada pela convocação do corpo de Deborah Kerr, da adaptação fílmica de Jack Clayton (The Innocents, 1961): Miss Winter era parecida com Deborah Kerr, uma inglesa alta e de traços perfeitos, com um ar frio e olhos que exprimiam coisas muito distantes da frieza. Era loura, de olhos azuis, e quando nos vinha chamar à noite para nos irmos deitar, com um roupão verde-escuro e o cabelo solto, tinha uma beleza inesperada. Miss Winter parecia-se com Deborah Kerr, uma bonita preceptora inglesa numa antiga casa de campo inglesa. (31) Devemos pois ultrapassar a constatação de uma relação inspiradora entre o cinema e o tipo de literatura que A.T. Pereira nos apresenta, para notar um elo mais importante entre eles: uma aproximação, para utilizar os termos de Aguiar e Silva, dada ao nível da “intersemioticidade”. Encontramos uma explicitação desta ideia na crítica de John ao romance de Kevin, em “Numa manhã fria”: “É um livro muito cinematográfico. Os estados de alma representados em imagens” (53, itálicos nossos). Por outro lado, e tendo em conta o papel que atribui ao advento do nouveau roman e a autores como Alain Robbe-Grillet e Claude Simon, a reflexão de Aguiar e F. Guerreiro nota: “Como em Wuthering Heights, de Emily Brontë (as duas mansões, Wuthering Heights e Wistaria Hall, encontram-se substancialmente ligadas pela partilha dessas duas primeiras maiúsculas, WH), é desse apego ao antes do nome (identidade, biografia) que vem o lado selvagem [...], animal ou inumano [...], dos personagens de Ana Teresa Pereira” (2009: 216). 26 28 Silva, porquanto sucinta e embutida de terminologia semiológica27, pode oferecer pistas, cum grano salis, para uma tentativa de circunscrição de género, ou, pelo menos, de delineamento de um parentesco das obras de A.T. Pereira em contraponto com uma corrente literária pujante na segunda metade do século XX e certamente relevante para o nosso estudo28. No caso que nos ocupa, o nó górdio da “transcodificação intersemiótica” para um modo visualista da narrativa, que seria próprio da imagem em movimento, reside precisamente numa “focalização” narrativa convertida em estrita subjectividade visual, ao contrário do que fora previsto por Aguiar e Silva. Excluímos à partida o princípio discutível de que a câmara de filmar tenha por regra uma “visão neutral”. Kevin – narrador, lente e participante – é quem, paradoxalmente, (re)apresenta estas histórias segundo o “ponto de vista superior dos pássaros, ou do destino sobre os homens” (Guerreiro 2009: 216). No entanto, o mesmo sistema de sobreposições que dá forma à memória e à experiência da vida das personagens através de imagens modelares estende-se à pintura, ela própria dinamizada no voo rasante de um olhar focal (um olhar de leitor). A imagem “Alguns escritores têm cultivado um subgénero narrativo que se poderá designar por cineromance e que se caracteriza por construir as personagens, as situações e os eventos narrativos em conformidade com a gramática do cinema, de tal modo que os seus textos se configuram como que pré-organizados para a sua transcodificação fílmica. [...] A câmara cinematográfica ensinou o escritor de textos narrativos a converter a focalização em estrita objectividade visual. Tal como a câmara cinematográfica recolhe e fixa, sem comentários e interpretações, os objectos, as coisas, a exterioridade, os movimentos e os actos das personagens, [...] uma narrativa como que «não-narrada», uma narrativa como que entretecida e ordenada pela visão neutral de uma câmara de filmar («camera eye style»). [...] A gramática e a sintagmática do texto fílmico influenciaram profundamente a gramática e a sintagmática do texto narrativo literário e esta influência traduziu percepções e visões novas do real possibilitadas e originadas pelo discurso cinematográfico. [...] [A] transcodificação intersemiótica da textualidade fílmica para a textualidade narrativa literária alcançou um elevado nível índice de complexidade técnico-compositiva e estilística e como ela co-envolve a problemática da construção de novas visões da realidade” (Silva 2008: 178-9). 27 28 No subcapítulo 2.2 (p. 64), consideraremos uma aproximação à obra polimorfa de Marguerite Duras e à noção de “réécriture” trabalhada por Marie-Claire Ropars-Wuilleumier. 29 de Lizzie no jardim lembra a Kevin um quadro de Monet (Femme en blanc au jardin [1867])29; e a recordação de uma paisagem de infância corresponde às telas de Kokoschka – “A paisagem agreste e rochosa e o mar, onde mesmo nos dias calmos se adivinhava uma corrente subterrânea [...]. Os quadros que Oskar Kokoschka pintou em Polperro fazem-me lembrar desse tempo” –, Polperro I e II, de 1939. Sendo Kevin pintor, a relevância e a simbiose destas paisagens pictóricas na câmara da sua mente, convertidas em discurso, foi explicitada numa entrevista com a autora: “Gosto muito de Oskar Kokoschka. Acho que a mente de Kevin se parece com aquelas pinturas. Rothko, a certa altura. Whistler” (Pereira 2008c: 11). Portanto, esta também é uma atribuição de afinidades, porventura iluminantes, entre determinada obra de arte, a rede de associações que ela concentra em si, e a psicologia da personagem. Depois de estabelecer uma equivalência perfeita entre literatura e pintura, retomando a debatida formulação horaciana, Henry James declara em “The Art of Fiction”, a propósito da mentalização da experiência sensível: Experience is never limited […]; it is an immense sensibility, a kind of huge spider-web of the finest silken threads suspended in the chamber of consciousness, and catching every air-borne particle in its tissue. It is the very atmosphere of the mind; and when the mind is imaginative […] it takes to itself the faintest hints of life, it converts the very pulses of the air into revelations. (1984: 52) Todavia, um dos marcos de O Fim de Lizzie é exactamente o afastamento em relação ao que poderíamos chamar um paradigma de ‘escrita-pintura’ que conduzira a obra da autora até então, de sentido figurativo, narração estática, quase sempre 29 “Uma mulher no nevoeiro. Uma mulher no jardim. Femme au jardin” (79). 30 heterodiegética e no pretérito30, no sentido de um paradigma de ‘escrita-cinema’, de narração problematicamente focalizada (o ponto de vista, subjectivo, é afinal o “das gaivotas” [133]), quase sempre intradiegética e eternamente contemporizável. A tónica na escrita permite-nos falar da dimensão figural, mais do que figurativa, deste paradigma de representação, no qual “la pure figure fait sens sans faire histoire”, e “quelque chose […] ne peut se dire mais seulement se montrer” (Schefer 1999: 916)31, orientando o leitor e a sua interpretação para fora da narrativa escrita, ou seja, para uma forma de excrita que o inclui32. Muitas páginas depois da primeira ocorrência deste conceito operativo em Corpus, Jean-Luc Nancy descreve uma nova condição vibrátil da “escrita” que aqui que nos interessa particularmente: “[l]’écriture ne vaut pas comme une débandade ou comme un chaos de la signification: elle ne vaut que dans la tension à même le système signifiant” (2000: 74). Esta inflexão será sobretudo determinante no nosso estudo para as reflexões em torno da (auto-)representação do texto e do livro, da figuração da entidade autoral no interior da ficção e do entendimento da prática literária como forma de criação. Em O Mar de Gelo podemos ler, por exemplo: “Kate e Clive encontravam-se nos Kensington Gardens numa manhã de Novembro. Ainda não fazia muito frio e ambos vestiam camisolas de malha sobre os jeans; o casaco dele servia-lhes de cobertor porque chovera de noite e a relva estava húmida. Katie sentara-se de encontro a um velho castanheiro e Clive deitara-se no chão, de olhos fechados, a cabeça nos seus joelhos” (Pereira 2005: 11). 30 31 Schefer relembra no mesmo artigo que a incompatibilidade que se pudesse interpor entre o figural e a linguagem literária – portanto, à partida verbal e não visual – está, já muito depois de Discours, figure, de François Lyotard (1971), completamente ultrapassada: “[L]’analyse de Lyotard consiste […] à renverser plutôt qu’à les dissocier les termes de ce rapport: c’est le lisible (le texte, l’écriture) qui est à voir, qui se donne à voir comme une réalité spatiale et sensible […]. «L’écriture, à la différence de la parole, institue une dimension de visibilité, de spatialité sensible»” (916). Usamos este neologismo com o sentido que lhe atribui Jean-Luc Nancy: “L’excription de notre corps, voilà par où il faut d’abord passer. Son inscription-dehors, sa mise hors-texte comme le plus propre mouvement de son texte: le texte même abandonné, laissé sur sa limite. […] [I]l n’y a plus qu’une ligne in-finie, le trait de l’écriture elle-même excrite, à suivre infiniment brisé, partagé à travers la multitude des corps, ligne de partage avec tous ses lieux: points de tangence, touches, intersections, dislocations” (Nancy 2000: 14). 32 31 Kevin vai formular uma poética da realização, ou da concretização pela arte, espoletada pelos retratos de Lizzie que começa a pintar, em referência directa a O Banquete, de Platão: “Aproximar-se, a palavra mais misteriosa do mundo. Quando faço um retrato de Lizzie estou a torná-la mais real. Não imagens de beleza, mas realidades” (124). Nancy, por seu turno, havia dito: “Écrire: toucher à l’extrémité” (2000: 12). O passo citado, um marco a reter no pensamento sobre a criação que percorre O Fim de Lizzie e que se estende para as obras seguintes, parece ter origem numa fala da sacerdotisa Diotima em diálogo com Sócrates: Ou não sentes que somente a esse, quando olha o Belo pelos meios que o tornam visível, será dado gerar, não já imagens de virtude (pois não é já a uma imagem que se apega), mas a virtude verdadeira, uma vez que é ao real que está apegado? Mais, não achas que o facto de gerar e alimentar a virtude verdadeira lhe permite ser querido aos deuses e que, se há alguém entre os homens que possa tornar-se imortal, será esse, precisamente? (Platão 2001: 84, § 212b, itálicos nossos)33 Note-se que, conservando a ênfase na capacidade puramente gerativa, divina, que Diotima descreve, a formulação de A.T. Pereira substitui a “virtude” pela “beleza”, isto é, rejeita quaisquer ideias de fundo moral para considerar apenas a dimensão estética da criação. A adversativa que revoga e reformula o paradigma ético-poético de Platão, baseado na Beleza, já não se faz entre “imagens de beleza” e beleza verdadeira, mas entre, apenas, “imagens” e “realidades”. Curiosamente, os termos do grego εἴδωλα αρετῆς [eidola aretês] encontram-se diversamente traduzidos como “simulacros de virtude” [simulacres de vertu] (Platon 1992: 71); “fantasmas de virtude” [fantômes de vertu] (Platon 1964: 73); e “imagens de virtude” [images of virtue] (Plato 1997: 494). O conceito de ídolo, termo primordial traduzível quase indiferenciadamente por imagem, simulacro ou fantasma, dá assim azo a um campo semântico e lexical variado, de absoluta relevância na leitura de A.T. Pereira. 33 32 Aquele criador, dotado de um órgão especial (o nous, ou actividade intelectiva), que – como viria a ser noutros termos sugerido em Le Horla – o capacita para ver além do imanente, é nada menos do que um criador de realidade, ou, mais rigorosamente, de realidades. Ele próprio localiza-se num texto que “são várias hipóteses de texto”, “com diversas camadas (fenoménicas) de objectividade” (Guerreiro 2011: 15). Por outro lado, o desvio da “verdade” e da “beleza” para o enfoque no processo que vai da representação (imagem) à realização sugere no texto de A.T. Pereira um distanciamento desse ideal aristotélico de Beleza para a adopção de um outro, fundado na enargeia, ou na expressão criativa, como se o órgão de que fala Diotima passasse aqui a não ter a qualidade de lente (que torna o Belo visível), mas a de motor (sopro, segundo Derrida), de sintetizador da energia que confere realidade à representação, por conseguinte, ‘irrepresentando-a’. À luz da reformulação do primado platónico, podemos avançar que A.T. Pereira, na senda de Nietzsche e de Artaud, e de princípios românticos, certamente reconfigurados, está, usando os termos de Derrida, a romper com “le concept imitatif de l’art. Avec l’esthétique aristotélicienne en laquelle s’est reconnue la métaphysique occidentale de l’art” (344). O filósofo transcreve depois no mesmo texto a seguinte declaração de Artaud (que, na verdade, vem funcionando como uma espécie de eixo comum em torno do qual giram muitos dos autores aos quais temos aqui recorrido): “L’Art n’est pas l’imitation de la vie, mais la vie est l’imitation d’un principe transcendant avec lequel l’art nous remet en communication” (id. ibid.). Encontramos pois aqui o princípio de uma religação (religião) com o universo através de uma arte que visa o que está “mais fundo” do que as palavras, o seu lado de 33 lá – os seus “rostos” e “vozes” 34, visão e audição, o seu cinema – , e que também promove, em jeito parcialmente modernista, “uma ideia de poesia [digamos, poética] que autonomiz[a] o acto poético da sua concretização verbal” (Martelo 2012: 15). Em última instância, estamos a referir-nos a um tipo de “estética não-aristotélica”, que implica uma relação entre arte e vida que prescinda de hierarquia e cisão entre elas, baseando-se na sensibilidade (isto é, sendo sensorial) e na força (Campos 2006 e Cappa 2004), e comparável, como proposto pelo heterónimo de Pessoa, às geometrias não-euclidianas, na medida em que ambas são “abstracções de vários tipos da mesma realidade objectiva” (Campos 2006: 106). Caracterizando a arte clássica e suas “derivadas”, para as quais “a beleza é o fim”, e afastando-se delas, como A.T. Pereira veio a fazer, o poeta explica: Creio poder formular uma estética baseada, não na ideia de beleza, mas na de força – tomando, é claro, a palavra força no seu sentido abstracto e científico […]. A arte, para mim, é, como toda a actividade, um indício de força, ou energia […]. [A] arte, como é feita por se sentir e para se sentir – sem o que seria ciência ou propaganda –, baseia-se na sensibilidade. A sensibilidade é pois a vida da arte. […] Assim, ao contrário da estética aristotélica, que exige que o indivíduo generalize ou humanize a sua sensibilidade, necessariamente particular e pessoal, nesta teoria o percurso indicado é o inverso: é o geral que deve ser particularizado, o humano que se deve pessoalizar, o “exterior” que se deve tornar “interior”. […] O artista verdadeiro é um foco dinamogéneo […]. (id. 107-11) 34 Cf. p. 40, Nota 40. 34 1.2. “Usar a arte como se fosse magia”: o delito do criador This is indeed Life itself! Edgar Allan Poe The Oval Portrait Veremos adiante que ao processo de formação de “realidades” a partir de “imagens de beleza”, de que a figura de Lizzie, uma descendente de Galateia 35, é aqui o paradigma, subjaz um fenómeno de desumanização pela arte que redunda na ‘artificação’ do humano. A transferência pictural entre a natureza e a arte, que transporta a realidade para a segunda vampirizando-a da primeira, é decerto uma recriação de A.T. Pereira da situação central de “The Oval Portrait”, de E.A. Poe. Em relação íntima com o autor americano, mas também com The Picture of Dorian Gray, de Oscar Wilde, que, tendo contornos substancialmente diferentes (e uma dinâmica aparentemente inversa entre o retrato e o retratado), passa por questões semelhantes, “O fim de Lizzie”, e, em variação, cada uma das histórias do tríptico parece incorporar a premissa de que a vida é morte e a arte é vida. Desde o momento em que Kevin faz uso daquilo que em certas instâncias do pensamento sobre a arte se considera o “poder mágico de transubstanciação de que [o artista] é dotado” (Bourdieu 1996: 199), ao pintar os retratos de Lizzie, ao recriá-la, ao torná-la mais real, investido de “uma capacidade demiúrgica que tal” (id. ibid.), ele está a actuar sobre ela, logo, a fazer obra sua e a incorrer numa insolência de índole Sobre o valor de ideal de Lizzie, leia-se: “Ainda hoje não sei se era Lizzie, o seu duplo, ou uma mulher que se parecia vagamente com ela. Talvez àquela hora da noite todas as mulheres se parecessem com Lizzie” (113). 35 35 prometeica que, como o próprio revela, não o deixa impune: “Eu quis usar a minha arte como se fosse magia, e os deuses não me perdoaram” (137). O conjunto de actividades profissionais a que cada personagem se dedica sintetiza as linhas de interesse e de trabalho mais importantes na obra de A.T. Pereira: a psicologia e a psicanálise, a escrita, a filosofia, a pintura e a representação. O seu tratamento em O Fim de Lizzie mostram claramente que elas constituem uma cadeia permutável entre as personagens de ‘disciplinas-funções’ que guardam na raiz um princípio comum, ou seja, que têm algo de semelhante ou de totalmente equivalente. Veja-se, por exemplo, a seguinte consideração de Kevin, anterior à primeira alusão ao “[s]eu livro”: A psicanálise interessava-me muito, particularmente Freud, Melanie Klein, Otto Rank e Bruno Bettelheim. Os autores contemporâneos deixavam-me indiferente. Acho que para mim a psicanálise era acima de tudo uma forma de ficção, talvez um ramo da literatura fantástica: a interpretação dos sonhos, a concepção animista do universo, a inquietante estranheza, o retorno constante da mesma coisa, o poder mágico das palavras, o duplo e a sua ligação com o reflexo na água e nos espelhos. (42) Além do leque de temas da própria autora enumerados por este escritor ficcional, é de reter aqui sobretudo o entendimento da psicanálise enquanto “forma de ficção”, que remete para Borges e para os metafísicos de Tlön, que, como Kevin, “no buscan la verdad [em sentido comum] ni siquiera la verosimilitud: buscan el asombro” e “[j]uzgan que la metafísica es una rama de la literatura fantástica” (Borges 1986: 20). Será este um dos principais afluentes da “arqui-ficção” (Guerreiro 2009: 221) em que consiste o universo destas personagens36. Leia-se, por exemplo: “Nós acreditávamos em Deus devido a Sherlock Holmes, e fumávamos por fidelidade a um filme de Nicholas Ray, e aprendêramos a contar histórias com Eudora 36 36 Em “O fim de Lizzie”, reconhece-se a parecença entre Kevin e John, o seu duplo, na figura comum de “[u]m deus que vagueava pelo nevoeiro. Um deus a quem rezava todas as noites porque no fundo tinha medo dele” (164). Os dois homens são então deuses proscritos e escritores. Kevin pode oferecer ao outro o seu corpo oco, esvaziado pela escrita “dinamogénea”37 do livro que “[o] matara por dentro” (169), e John é, como Sherlock Holmes, o fantasma que o pode possuir, “[u]ma personagem que passava de um corpo para outro. No seu lado mais negro, […] um vampiro que sugava a vida dos actores, depois de sugar a vida do criador” (179). Esta é então a condenação de Kevin, um ser ambíguo, personagem e autor: “sonhar os sonhos das personagens” e perder-se no ‘livro-labirinto’ que o próprio ergue em seu redor na tentativa de “saber quem [é]” (176). A palavra ‘livro-labirinto’ traduz uma justaposição efectuada por ele próprio: “Um labirinto é um lugar onde alguém se perde ou alguém se encontra; era nesses termos que eu pensava no livro que acabara de escrever” (156). A presença de Borges é novamente evidente. Por um lado, no seu percurso enquanto criador de Lizzie, Kevin replica o sonhador de “Las ruinas circulares”, cujo fito era “soñar un hombre […] con integridad minuciosa e imponerlo a la realidad” (1986: 54, itálicos nossos). Tal como este eremita, Kevin será confrontado com um desfecho que inverte toda a situação, e que o levará a suspeitar de que ele próprio também era uma aparência (o “sonho dentro de um sonho” de Poe). Por outro lado, Kevin segue a lição de construção literária de Ts’ui Pen, o antepassado do autor da declaração encaixada em “El jardín de senderos que se bifurcan”, e que teria dito uma vez: “Me retiro a escribir un libro”, e outra vez: “Me retiro a construir un laberinto” Welty (as mulheres que vinham do mercado ao fim da manhã e contavam tudo o que tinham visto)” (204). 37 Cf. p. 34 (Campos 2006: 107-11). 37 (1986: 99). No conto de Borges, “[t]odos imaginaran dos obras” (id. ibid.), mas livro e labirinto eram um único objecto, e é com o conhecimento desse facto, já de certo modo apriorístico, que devemos ler o conto de A.T. Pereira. No centro da primeira narrativa, numa posição estrategicamente medial, Kevin afirma, na qualidade de autor e storyteller, que “[a] história ainda não acabou” (45). Na verdade, a história acabará apenas quando ele a der por terminada, dando simultaneamente por terminado o (seu) livro, o que está simbolizado no fecho de um manuscrito que implica o cessar da narração. Lê-se exactamente no fim de “Numa manhã fria”: “De passagem, fecho o caderno que está em cima da secretária” (86). A partir daqui existirá dentro das histórias – remetendo para fora delas, para o universo do leitor e daquilo a que ele acede, originando um comprometimento ‘tlönico’ da distinção entre o que são objectos do real e elementos da ficção –, um livro real que se confunde irresoluvelmente com um livro fictício, a tal ponto materializado que se torna citável: “Uma frase de um livro: «ninguém tinha os olhos mais azuis, a cintura mais fina, as pernas mais bonitas»” (93), diz o narrador logo no primeiro capítulo da segunda história38, referindo-se ao livro que seguramos. Portanto, quando lidas em relação, as histórias de O Fim de Lizzie reconhecem-se entre si como partes de um livro, sem que isso prejudique a fábula, que inclui em si mesma esse desdobramento para fora, para a materialidade literária. A primeira fase do trânsito do texto é resumível num esquema em quiasmo entre as duas primeiras histórias: há um livro, que Kevin escreve (O Fim de Lizzie), dentro de um sonho (“Numa manhã fria”), lembrado dentro de outro sonho (“O fim de Lizzie”), 38 Esta trata-se da descrição recorrente da figura de Lizzie, também associada à de Miranda, que surge efectivamente e pela primeira vez em “Numa manhã fria”, o “livro” citado na abertura do segundo conto, nos seguintes termos: “Ninguém tinha os olhos tão azuis, como os miosótis à beira dos riachos que atravessam a charneca. Ninguém tinha a cintura tão fina, tão incrivelmente fina, ninguém tinha as pernas tão bonitas. A não ser Miranda, claro” (18). 38 que está dentro de um livro (O Fim de Lizzie). Na terceira volta ao parafuso que vem dar “O sonho do unicórnio”, o conjunto das narrativas é inexoravelmente absorvido pelo onirismo, e comparado a “[u]ma maldita história de urze e nevoeiro, como o sonho de uma escritora do século XIX”. O seu narrador mitificado – Heathcliff e “unicórnio” –, pode apenas regressar, no fim, ao princípio, sonhando continuamente consigo mesmo, para concluir: “A noite passada sonhei com um unicórnio” (210). A “maldita história”, os deuses que “não perdoaram”, a casa que “parecia existir num dos seus malditos livros” (129), os escritores que “devem estar todos no inferno” (id. ibid.), e mesmo a proximidade fonética entre “Inverno” (espaço-tempo transversal aos três contos) e “inferno”, qualificam e simbolizam a actividade sacro-profana da escrita, ao mesmo tempo que prenunciam a maldição aplicada aos que ambicionam criar. As analogias mais frequentes, porquanto implícitas, aplicadas a Kevin/John fazem-se ora com Deus (“maker [...] of all that is, seen and unseen” [119]), ora com um assassino (“capaz de matar” [id. ibid.]). Em “Numa manhã fria”, ele dormia com um revólver “debaixo da almofada” (65); em “O fim de Lizzie”, matava Lizzie “aos poucos” enquanto a desenhava (117-18), ou seja, enquanto se aproximava dela na esfera ideal, para a fazer depois prisioneira da realidade39; em “O sonho do unicórnio”, frustrado ante a impossibilidade de, mesmo sob a sua acção pigmaliónica, Miranda (a que “existia” [200]) ser realmente Lizzie (que era “mais um fantasma do que outra coisa” [188]), ele culmina como enunciador e assassino, usando a palavra com o valor reverso ao da criação, e aniquila o corpo de Miranda através de um acto de fala literalmente performativo, uma sentença de morte: “Morre, meu amor” (201). “Aproximar-se, a palavra mais doce do mundo. Acho que me aproximo dela mais do que antes, e mesmo o seu reflexo no espelho ou na água é muito mais real. [...] E neste momento é isso que conta. A única coisa que conta. Dar-lhe realidade, não a deixar ir embora” (124). 39 39 Assim, faz sentido que Kevin tivesse desde cedo “a intenção de tornar-[se] um psicólogo criminal”, para atingir um domínio intelectualizado – artístico, se, como a psicanálise, a psicologia for uma “forma de ficção” – da criminologia, sendo certo que “também pensava ser escritor”, “mas não [lhe] parecia que as duas profissões fossem incompatíveis” (23-4, itálicos nossos). A compatibilidade das profissões, uma de inspiração divina e outra versando o demoníaco, reflecte-se na dupla natureza das duas principais intervenientes na acção: Lizzie e Miranda. A primeira é uma personagem romanesca e um ideal da narrativa sentimental, uma mulher angélica, espírito assumidamente furtado ao “romance de Jane Austen”40; a segunda é uma personagem dramática e uma actriz (Miranda, “como na Tempestade” [110], de Shakespeare), um corpo material possuído na representação da primeira, e, por isso, demoníaco, ou, em oxímoro, endemoninhado por um anjo 41. Se o epílogo de “Numa manhã fria” veio responder à resolução de Kevin: “Um final feliz, pensei”, “[n]ós tínhamos direito a um final feliz” (81), ele sofre um efeito de inversão (“Todos os epílogos são tristes” [198]), e é retomado no penúltimo capítulo da última história: “Começava a anoitecer quando fechei o caderno e me ergui do sofá. [...] Escrevo a primeira versão com uma esferográfica azul, num caderno liso ou em folhas soltas. O conto estava quase terminado, só faltava escrever o epílogo” (id. ibid.). De certa forma, é como se o que ficou entre a primeira situação epilogal e a segunda não passasse de uma grande elipse, de um intervalo delirante entre parar de escrever e continuar a escrever, e a compilação das histórias fosse a própria história 40 Mais tarde, Lizzie dá sinais da sua pertença a esse outro microcosmo já esbatido na sua memória, oferecendo pistas do rapto literário: “Ao serão, [...] li em voz alta o primeiro capítulo de um romance de Jane Austen. Lizzie ouvia-me com os olhos muito abertos, como se tentasse reconhecer as palavras. Ou talvez algo mais fundo do que as palavras. O rosto das personagens. As suas vozes” (135). Em Num Lugar Solitário, por exemplo: “Os anjos são ambivalentes. É impossível separar a beleza do terror, a vida da morte. Como escreveu Rilke: «Todo o anjo é terrível»” (1996b: 77). 41 40 intermitente dessa escrita, acção continuada, ou, do ponto de vista exclusivo de Kevin, a narrativa in(de)terminável da sua narração. Nos mesmos moldes, o romancista oriental de Borges não havia conjecturado “otro procedimiento que el de un volumen cíclico, circular. Un volumen cuya última página fuera idéntica a la primera, con posibilidad de continuar indefinidamente” (1986: 99-100). Note-se que o segundo epílogo prolonga e leva a um extremo a recursividade linguística do que nas artes visuais se conhece como efeito Droste – uma imagem que se repete dentro de si mesma –, que fora instaurado no primeiro, e remete tanto aos contos anteriores como ao fim iminente deste livro, numa confusão de sentidos que neutraliza qualquer sequencialidade lógica da escrita, e, no fundo, assume um “aleatório princípio de «eterno retorno»” (Guerreiro 2009: 218): “As folhas manuscritas amontoam-se na secretária, no meio dos livros. Não estão numeradas, mas acho que isso não tem importância. Dois contos terminados42. No fim da última página escrevo to be continued” (209). As páginas inumeradas do livro de Kevin fazem parte de uma dimensão caótica da ficcionalidade que já havia sido sugerida na persistência do “nevoeiro” que surge em determinados momentos, como um aviso, envolvendo os espaços e as pessoas da criação. Este nevoeiro das narrativas de A.T. Pereira representa o caos ‘pré-genesíaco’, “um factor de embranquecimento: espiritualização (com passagem para outro plano) do real (o seu estatuto é semelhante ao do éter [Poe, Eureka…])” (Guerreiro 2010: 58). Citando Poe, ele é “the great medium of creation” (Poe 1984: 825). Análogo da palavra bíblica, o nevoeiro antecede o momento da formação e da revelação das coisas, e regressa ciclicamente a cada nova manhã da (re)criação. Repare-se no seguinte trecho de “Numa manhã fria”, repetido ipsis verbis em “O fim de Lizzie” (121): 42 Podemos inferir que se trata de “Numa manhã fria” e “O fim de Lizzie”. 41 No princípio era o nevoeiro. Nós assistíamos ao início da criação todos os anos: o mundo era feito de nevoeiro, e um dia, quando menos esperávamos, Deus afastava as nuvens, como se afastasse um véu, e a terra revelava-se com as cores e os cheiros, e uma luz inesperada… (29) Nas três histórias, é fundamental a relação do nevoeiro com a casa – como em “The Fall of the House of Usher”, de Poe, e como na adaptação de Jean Epstein – na charneca onde Kevin se dedica a escrever: um nevoeiro “muito denso. Como se estivesse concentrado à volta da casa. Como se quisesse entrar na casa” (77). Interromper a segurança desta casa, bem entendida como scriptorium, é dar passagem ao elemento intangível subitamente insuflado pelo acto da escrita: “Abri a porta que dava para o jardim e o nevoeiro envolveu-me quase imediatamente” (79). O nevoeiro era uma matéria volátil que descia sobre o contador de histórias, que “chegava de repente e transformava o mundo num lugar estranho, incompreensível” (92). Em síntese, é atribuída ao nevoeiro a função de fazer “desaparecer o tempo, a realidade”, e de confundir as identidades: “E nem sequer sabemos quem somos” (118), conduzindo à demência e à dissociação identitária sob um lema: “loucos de bruma e de neve” (189), que se repete, como num “poema de Yeats que [Kevin] recordava vagamente”43 (207). Este vapor que exsuda das florestas do sonho terá de ser lido, antes de tudo, como manifestação colateral da ficcionalidade, tanto como matéria-prima como excrescência do acto de criar. A nossa leitura tem em conta o desejo de ubiquidade de Lizzie (“estar ao mesmo tempo em vários quartos da casa, em vários cantos do jardim” [89]), sendo ela própria nebulosa, “feita da matéria dos sonhos de Inverno [de Kevin]” (98). Os seus cabelos, “húmidos, revoltos, cheiravam a nevoeiro” (81). Lizzie é a personificação de um ideal 43 “Mad as the Mist and Snow” (Yeats 1994: 316). 42 artístico que nunca se completa devido ao choque com a imanência: Miranda44; ou o símbolo antropomórfico de uma ideia maior de ficção, Galateia interrompida 45. Em “O anjo esquecido”, A.T. Pereira escreve sobre uma relação “com o invisível. Em toda a parte, como uma escrita” (2003: 120), isto é, de uma dimensão invisível do mundo que existe em permanente devir literário, e da escrita como matriz atómica e (in)inteligível do universo. Em “O sonho do unicórnio”, por outro lado, o escritor (Kevin) e a actriz (Miranda) dialogam sobre a semelhança entre o que fazem: – Imaginas o que é… transformar-se noutra pessoa todas as noites? – Acho que sim. – Sim. Tu és escritor. – Eu também ganho a vida a mentir. (170) “Ganhar a vida a mentir” pode ser entendido em sentido literal. Repare-se nas elucubrações de Kevin um pouco depois: “para nós a única coisa que fazia sentido era entregarmo-nos a uma personagem”, e “[q]uando não estou a trabalhar sinto-me completamente irreal” (182-3). São a representação e a escrita, o trabalho, que acabam por surgir como vias de acesso ao real. As duas personagens realizam – ela um papel, o de Lizzie, e ele um texto, a história de contar a história dessa “mentira” –, e, na confluência das duas acções (agir, actuar, indo à polissemia do verbo inglês to act), realizam-se, e coincidem com uma realidade imaginada através da sua representação em sonhos (“Se me lembro dos sonhos, então devo ser real” [183]). 44 Na cena de disjunção entre os duplos de Lizzie e de Miranda que conduz à revelação da segunda em “O sonho do unicórnio”, Kevin vê precisamente o corpo carnal de Miranda, pela primeira vez, como “um vulto magro a desprender-se do nevoeiro” (168), isto é, vê-a recuperar a realidade que a encarnação da fantasia (Lizzie) até então havia ocultado. 45 Significativamente, no último capítulo da terceira história, Kevin lê Lament for a Maker, de Michael Innes (207). 43 A encenação da memória é também um critério de “realidade” aprendido com os replicantes do romance de Philip K. Dick, aos quais é providenciado um “synthetic memory system” (Dick 2009: 97) que colapsa ao ser posto em questão pela mesma criatura antropomórfica confundida por ele: “When one thinks it’s human” (id. ibid.). As personagens de A.T. Pereira também acontecem como sobreposição de vozes e de imagens, como participantes na mise en scène de um texto dramático prescrito: – Mas não me interessa fazer nada além de representar. – E não me interessa fazer nada além de escrever… […] – É tudo o que eu quero… – disse com firmeza. – Escrever. Não me interessa ser rico, mas quero ganhar a vida com o meu trabalho. E quero que os meus livros fiquem. Ela olhava para longe. – Entrar num palco todas as noites. Saber quem sou todas as noites. – Sim. Saber quem sou durante uns meses ou uns anos. – Entrar num palco todas as noites. E depois dormir e sonhar os sonhos das personagens. […] – E apaixonar-me por pessoas que não existem. – E apaixonar-me por pessoas que não existem. (176) Jean-Pierre Sarrazac descreveu a “teatralidade”, associada ao “vazio da cena moderna” (Sarrazac 2009: 16), em termos que sintetizam grande parte das nossas questões, e que guiam a nossa própria abordagem a este assunto, na medida em que, quando utilizamos aquele substantivo, ainda que metaforicamente, estamos a pensar especialmente na definição deste autor: “teatralidade… Mudança de regime no teatro, que se liberta do espectacular associando o espectador à produção do simulacro cénico e ao seu desenvolvimento” (17). Esta forma de arte poética moderna – “um elemento de criação, não de realização [cénica]” (Barthes apud Sarrazac 2009: 32) a que se junta a ideia de um regresso ao real através da ficção – justifica uma aproximação às teorias de Artaud e do seu “teatro da crueldade”, que, lido por Derrida, passa pela renúncia, importante nas leituras que aqui 44 fazemos, de “un certain modèle de parole et d’écriture: parole représentative d’une pensée claire et prête, écriture […] représentative d’une parole représentative” (Derrida 1967: 286, itálicos nossos). Estamos então a lidar em A.T. Pereira com um novo modelo de “escrita” de que O Fim de Lizzie é porventura a melhor configuração na obra da autora: a passagem do enunciado ao acto, ou de uma linguagem verbal a uma linguagem teatral, “[u]n langage qui n’est pas séparé de son avenir, de sa propre création”, e cujo pólo de atracção, em vez da Ordem, é o Caos (Todorov 1971: 214-5)46. Reverberando o que, segundo Maria Cristina Ferraz, é um princípio poético da Grécia arcaica, podemos afirmar que estes textos estão escritos fora do modelo da “palavra-diálogo” (da linguagem verbal), em favor do uso da palavra num “contexto mítico-religioso, representado por três personagens: o rei de justiça, o adivinho e o poeta” (da linguagem simbólica), conforme coloca a estudiosa num ensaio dedicado à mimesis e ao fingimento poético na antiguidade. A recuperação de um “contexto mítico-religioso” no uso da palavra será um ponto fundamental na nossa leitura de A Pantera, no subcapítulo 3.1. A mesma autora explica que: A partir do momento em que fosse articulada, [a palavra] tornava-se, de imediato, uma potência, uma força, uma acção. Submetida às leis da physis, era percebida como algo vivo, como uma realidade natural que, como todas as demais, também brotava e crescia. […] Dotado de um dom de vidência, o poeta da Grécia arcaica pronunciava uma palavra eficaz que instituía, por sua virtude própria, um mundo simbólico-religioso que se confundia com o próprio real. (2010: 32-3) 46 Também Blanchot (1969: 432-8) interpreta o texto de Artaud como uma teoria da arte em geral (ou como uma arte poética), não exclusivamente aplicada ao teatro. 45 Por outros termos, Fernando Guerreiro nota que “a escrita (ou a linguagem) em Ana Teresa Pereira possu[i] o poder instaurador de uma primeira nomeação que cria conjuntamente o nome com a coisa” (2009: 215), e que se manifestará, acrescentamos, na ‘dicção-grafia’ sempre original da palavra enquanto actuação. É por isto que Kevin pode afirmar: “Azul, bruma, neve. Inverness. Acontecia-me de tempos a tempos, quando estava a escrever: escrever uma palavra pela primeira vez” (162). O ‘contador de histórias’ foi já anteriormente descrito como mago, criador e herege: John era um grande contador de histórias, que nos hipnotizava durante o serão inteiro. Como um bom mágico (que fazia crescer uma laranjeira em poucos segundos, fazia as borboletas esvoaçar, transformava um homem em dois, em quatro, em muitos), acreditava na sua magia, deixava-se envolver pelo mundo que imaginara. (104) Envolvido numa acção demiúrgica mas simultaneamente impotente, Kevin é levado a questionar: “De onde é que me viera aquela ideia?” (158). Se ele escrevesse pelo mesmo punho que Derrida, teria a resposta: Soufflée: entendons du même coup inspirée depuis une autre voix, lisant elle-même un texte plus vieux que le poème de mon corps, que le théâtre de mon geste. [Il] est l’inspiration elle-même: force d’un vide, tourbillon du souffle d’un souffleur qui aspire vers lui et me dérobe cela même qu’il laisse venir à moi et que j’ai cru pouvoir dire en mon nom. (1967: 262-3) Não por acaso, Kevin é assombrado no final do livro por uma voz do alto, não identificável, que “parece a de alguém sentado nos [seus] ombros” (210), e que lhe vem explicar a sua história e questionar os seus intentos. Esta voz omnisciente e reivindicativa da palavra que lhe fora “furtada” pelo narrador escritor, reafirma o poder inescapável da ficção (“Qual delas sonhava realmente com um unicórnio. «As duas 46 sonhavam com um unicórnio», disse a voz, trocista” [207]), mesmo em relação ao seu autor, que, como em As Personagens, é feito prisioneiro perpétuo na ‘casa-livro’: “Há muitos dias que estou sozinho em Wistaria Hall. […] Mesmo que quisesse, não poderia ir embora. «Ir embora para onde», pergunta a voz” (209). Tal como acontece com as personagens femininas, criaturas do seu artifício, o narrador pode apenas reencenar o seu papel, regressar ao princípio do livro e ao sonho, vendo-se já completamente desprovido de realidade e reduzido a uma operação da memória: “A noite passada sonhei com um unicórnio” (210). Repare-se que as epígrafes do tríptico, se lidas em sequência, são elas mesmas um programa literário. Do “sonho dentro de um sonho” inspirado por Poe – ou seja, de um movimento inicial para dentro da alucinação, aqui, como se viu, equivalente a ficcionalização que constitui o Todo ou o Universo (“All”) –, passa-se em “O fim de Lizzie”, a novela epónima do conjunto, a um novo estado, o do ser fantasmático, da espectralização da personagem antes sonhada e agora dotada de uma existência sublinhadamente vestigial, dada pelos indícios da sua passagem: “pegadas de uma mulher na lama” (89). Na última história, com o consolidar deste processo, dá-se a encarnação da arte (ou a ‘artificação’ da carne, tendo em conta a circularidade do efeito): um contágio da carne pelo artifício, que os torna comuns, juntos em inquietante familiaridade, e elementos de um sistema circulatório entre-mundos, capaz de produzir “as mais estranhas formas”. A epígrafe é atribuída a Sherlock Holmes: “Art in the blood is liable to take the strangest forms” (141). Também em Artaud encontramos uma sistematização destes problemas que preconiza uma união entre corpo e pensamento, em que o primeiro, inclusivamente, e como observa Guy Scarpetta identificando precisamente aquilo que considera “o que se 47 deve reter” de Artaud, deriva do segundo como uma das suas dimensões, “active, dérobée, enfouie” (1973: 276)47, estabelecendo “le bond dialectique incessant, de la matière à l’esprit, du corps à la pensée, et de la pensée au corps, dans un procès illimité” (id. ibid.). Podemos pois confirmar que, estruturalmente, esta é uma autoficção, espoletada pela ficção ela mesma, quando nasceu para dentro de si com a forma do sonho da personagem que um autor imaginou. Através do sonho, a relação destas narrativas com a adaptação cinematográfica de Ridley Scott, Blade Runner (1982), do romance de Dick torna-se premente, especialmente na polissemia do título da última história, que retoma uma inovação do filme em relação ao romance: a agudização da suspeita, não mais do que ironicamente aflorada no livro, de que o protagonista possa ser ele mesmo um andróide. Cinematograficamente, isto traduziu-se na revelação não comentada, isto é, sem intervenção da linguagem verbal, de um sonho48. Associar o último conto de O Fim de Lizzie a esta rede de significações obriga-nos a fazer uma pergunta que, não tendo como objectivo uma resposta definitiva, mas antes a enfatização da impossibilidade de resposta que caracterizava já as perguntas de Philip Trata-se do que Scarpetta definiu como “le procès de surgissement organique” que marca o texto de Artaud, a emergência de “un corps qui soit une idée” [Artaud apud Scarpetta], uma saída do “mentalismo” que pretende ultrapassar sistematicamente a relação hierárquica entre espírito e corpo imposta pela ideologia religiosa (1973: 275). 47 48 A certa altura vemos o protagonista, Deckard, debruçado sobre um piano. Esta cena corta para outra em que é mostrado um unicórnio. Depois, Deckard acorda; era um sonho ou uma alucinação. No entanto, no fim do filme, um outro detective da empresa para a qual o protagonista trabalhava faz um unicórnio em origami que Deckard depois vê no chão. Ele apanha-o e há um grande plano do unicórnio em origami. A questão levantada é que, não havendo antes qualquer comunicação entre eles, o outro não podia saber que Deckard sonhara com um unicórnio, nem há qualquer outra referência a um unicórnio ao longo do filme. Isto constitui uma sugestão muito persuasora de que Deckard é um replicante (um andróide), e as suas memórias (e os seus sonhos) foram implantados. Todo ele estava predeterminado à partida, e a sua vida (e os seus sonhos) prescritos. Como Kevin, ele é uma criatura de arte: ambos foram “escritos” (criados) pelos deuses (humanos) com os quais se confundem. O desfecho projectado para ambos (lembrando Borges) consiste em eles perceberem que, em vez ou além de estarem a sonhar, foram sonhados. 48 K. Dick e Ridley Scott: o “sonho do unicórnio” é um sonho no qual figura este animal mitológico (como o sonho de Deckard, em Blade Runner) ou é o sonho que um unicórnio, já ele sonhado por “Alguém” (Llansol 2002:191), sonha por sua vez (o andróide, Deckard, e o narrador em primeira pessoa, Kevin – imitações de humanos – a sonharem a fantasia de si mesmos)? A.T. Pereira apresenta-nos ainda, para lá do fim da história, um explicit em inglês: “to be continued”. A promessa, utilizada no final de episódios intercalares de uma série televisiva e por vezes até em longas-metragens, surge como se em vez de palavras aquelas fossem imagens projectadas numa tela, inscritas por um dispositivo de construção de ficções. Este dispositivo de ficcionalização corresponde às alucinações de um contador de histórias moribundo, no intervalo de um precipício – cliffhanger – entre o fim de um sonho e o princípio de outro, num “mundo [que] começa inúmeras vezes” (151). Em boa verdade, este livro já tinha começado antes de começar, no sonho de uma outra personagem, em Quando Atravessares o Rio (Pereira 2007): “[Katie] comprara um caderno de apontamentos. Talvez escrevesse um romance policial. Algumas imagens soltas. A ideia para uma história. O Fim de Lizzie” (108). 49 CAPÍTULO 2 Livros paralelos e fantasmas eloquentes Numa ágil manobra de prestidigitador, o fabulador deu de facto acesso ao lugar da fábula, mas de uma fábula diferente, dramaticamente incompatível com aquela real e antiga terra das fábulas, certificada pelo áureo círculo de uma coroa. Giorgio Manganelli Pinóquio: um livro paralelo Entre O Fim de Lizzie, em 2008, e A Pantera, em 2010, A.T. Pereira publicou uma novela e um conto, O Verão Selvagem dos Teus Olhos e A Outra, semelhantes na estrutura e com um esquema narrativo de base idêntico. Trata-se de releituras e recriações, algures entre a prequela e o que poderíamos chamar, inspirando-nos em Manganelli, ‘livro paralelo’ de textos-fonte (Rebecca, de Daphne du Maurier, e The Turn of the Screw, de Henry James) aos quais estas regressam pela reconvocação da voz de personagens mortas na origem (Rebecca e Miss Jessel), estabelecendo ainda uma ponte com adaptações cinematográficas dos textos originais. São estas Rebecca, de Alfred Hitchcock, e as transposições de The Turn of the Screw, por Jack Clayton, em The Innocents (1961), e por Michael Winner, em The Nightcomers (1971), tendo este último a particularidade de, tal como o conto de A.T. Pereira, apresentar essencialmente uma história antes da história do conto de Henry James. Sob a forma de relatos póstumos de fantasmas de personagens, recuperadas de textos em que estavam desprovidas de eloquência e onde auferiam presença discursiva apenas em diferido (isto é, em ausência, por descrição), estas histórias representam exercícios da narração enquanto possibilidade de ‘exumação’ pela fala, uma estratégia 50 narrativa encontrada também em obras como Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, ou Sunset Boulevard (1950), de Billy Wilder. Veremos ainda que estes monólogos interiores, formados em torno do problema de base de estas personagens não-mortas terem de, de alguma maneira, cumprir o papel que tinham em vida, quando entendidos em sentido meta-literário e na sua teatralidade (a qualidade ‘ficcionalizante’ da intriga), são desenvolvimentos específicos do que, reportando-se a Nietzsche, Maria Cristina Franco Ferraz chamou a “potência ontológica da máscara e do artifício” (2007: 74). 51 2.1. O naufrágio do discurso em O Verão Selvagem dos Teus Olhos The fire that stirs about her, when she stirs, Burns but more clearly. O she had not these ways When all the wild Summer was in her gaze. William Butler Yeats The Folly of Being Comforted Mas, porque não compreendia as outras pessoas, e tinha de viver no meio delas, tornei-me uma actriz. Eu sempre gostei de teatro. O meu pai levava-me ao teatro, em Londres. Uma vez, passámos duas semanas em Stratford-upon-Avon, quando lá decorria um festival. E quase não perdíamos um filme: filmes russos, americanos, alemães, ingleses. Quando era miúda, sonhava vagamente ser actriz. Depois percebi que tinha mesmo de sê-lo, mas que só havia um papel para representar, o papel da minha vida, o papel de Rebecca. E a primeira vez que pensei nisso a ideia apaixonou-me totalmente, era tão bom como ser Hamlet, era melhor do que ser Hamlet, porque em mim não havia grandes indecisões, eu queria tirar da vida tudo o que ela pode oferecer. (Pereira 2008d: 25-6) Para a Rebecca de A.T. Pereira, ser é apenas conjugado na afirmativa. Isto não acontece por um efeito de simplificação do dilema shakespeariano, como parece estar sugerido, mas porque a exclamação existencial da personagem que se tem de auto-representar (“o papel da minha vida”) transporta em si, por inerência, a interrogação e a dualidade: a cisão que lhe permite referir-se na terceira pessoa (“o papel de Rebecca”). Para se efectivar no mundo e “viver no meio das pessoas” – para ser social –, a personagem, cada vez mais confundida por A.T. Pereira com a entidade performativa do actor49, tem de, paradoxalmente, fazer de conta que é ela própria, para fingir a verdade de um ser unificado: “só um papel”. Em resumo, esta Rebecca tem de cindir consigo mesma para poder ser-se com mais rigor e realidade. “É como se trabalhasse com um pequeno número de actores: dou-lhes papéis diferentes, os cenários mudam um pouco” (Pereira 2008b: 28). 49 52 Nos termos de Pirandello, ela terá de “ganhar consciência da sua vida, ou seja, da sua essência de personagem”, e viver, não no sentido abstracto e fugaz, mas de facto, “enquanto espírito” (Pirandello 2009: 96). Pirandello resume do seguinte modo o processo de construção de personagens, generalizando para toda a “arte” uma forma teatral que lhe está aparentemente na base: “Cada fantasma, cada criatura da arte, para existir, deve ter o seu drama, ou seja, um drama de que seja personagem e pelo qual o é. O drama é a razão de ser da personagem: é a sua função vital, necessária à sua existência” (95). À luz desta explicação, percebemos por que a Rebecca de O Verão Selvagem dos Teus Olhos se autodefine enfaticamente como “criatura”, corrigindo qualquer confusão com a espécie humana: “A mais bela criatura que ele tinha visto na sua vida. Não a mais bela mulher. A mais bela criatura” (12). O drama desta personagem é justamente o de ser o que é: uma “criatura” de ficção. Ela já se “separou do seu «papel»”, auferindo vida, e é agora assolada pelo conhecimento de que a única forma de vida possível é a persecução desse mesmo papel, que, por sua vez, a conduzirá à morte. Assim, Rebecca é um espírito em sentido ‘pirandelliano’. Tal como os “espíritos” do autor italiano, e como será esclarecido em O Lago, os fantasmas de A.T. Pereira são invariáveis de sentido que se manifestam em infinitas variantes (ao serem representadas, ao serem personificadas), e que subsistem ao fim desse acto, ou seja, à separação do intérprete (personagem/actor) do papel (espírito/fantasma) que interpreta50. A autora escreve em A Pantera que “[os] teatros são lugares assombrados [pelos espíritos das personagens]” (46)51, fazendo depois uma inflexão quase imperceptível para a literatura, “As peças de teatro passavam, uma atrás da outra… mas as personagens ficavam e voltariam talvez, com outros corpos, com outros rostos…” (O Lago, 36). 50 Encontráramos já uma imagem idêntica em Inverness: “[O]s teatros são assombrados pelas personagens que os actores abandonaram ao ir embora” (22). 51 53 que tem tanto de Pirandello quanto de Frankenstein e do seu “Prometeu moderno”: “Enquanto um autor está a trabalhar na personagem, ela continua com ele. Mas, quando está completa, tem a sua vida para viver e desprende-se daquele que a criou” (id. ibid.). Este é um modo-de-ser ficcional liberto dos dualismos platónicos entre “essência” e “aparência”, e “verdadeiro” e “falso”, e assente, em contrapartida, num grau absoluto da kosmetike, actividade da mulher, do actor e do pintor, originadora de um tipo “perverso” de realidade, em “total autonomia quer em relação ao real quer frente à natureza”: a nietzschiana e anti-platónica realidade da arte (Ferraz 2007: 73). No passo citado inicialmente, Rebecca utiliza a palavra “teatro” com o sentido que ela tem em inglês, theatre, em que está incluída também a sala de cinema. O relato que faz quase sugere uma relação de causa-efeito entre ver filmes – ver a Rebecca de Hitchcock(?) – e a epifania de que é uma actriz e tem um papel a representar: “o papel da [sua] vida, o papel de Rebecca”. Esta formulação ecoa e mantém a ambiguidade que se adivinha desde o início na novela: a possibilidade de se ler o “papel da vida” como, tautologicamente, o papel dela mesma (aquele que já representa antes de decidir representar). Já no romance de Du Maurier e no filme de Hitchcock, nos quais a personagem de Rebecca não está viva, faz parte do passado e é uma figura absolutamente ausente, eliminada ainda antes do início da história, ser ou não ser Rebecca apresenta-se como o grande problema da protagonista. A substituta que Du Maurier concebeu para a falecida Mrs. de Winter oferece-nos regularmente descrições da sua emulação e episódios em que exuma através de si, uma personagem de que não conhecemos o nome próprio, e da sua movimentação em Manderley, a memória e o corpo da Mrs. de Winter original. Num desses passos, ainda antes do seu casamento com Max de Winter e perante a notícia de que tinha havido no 54 passado outra mulher, entretanto desaparecida, já a jovem fantasia a existência da outra, e parece compreender de imediato, se não mesmo impor-se, a sua condição de suplente. Note-se a sugestão de uma preparação literalmente cosmética que inicia o delírio: And we were busy then with powder, scent and rouge, until the bell rang and her visitors came in. I handed them their drinks, dully, saying little […]. […] It was not I that answered, I was not there at all. I was following a phantom in my mind, whose shadowy form had taken shape at last. Her features were blurred, her colouring indistinct, the setting of her eyes and the texture of her hair was still uncertain, still to be revealed. She had beauty that endured, and a smile that was not forgotten. Somewhere her voice still lingered, and the memory of her words. […] In my bedroom, under my pillow, I had a book that she had taken in her hands, and I could see her turning to that first white page, smiling as she wrote, and shaking the bent nib. Max from Rebecca. (Maurier 2003: 47, itálicos nossos) A prevalência literária da personagem de Rebecca é veiculada naquele livro, oferecido ao seu marido, no qual, através da dedicatória e da assinatura, ela parece firmar a um tempo a posse dele e a perpetuidade da sua própria existência, ambas figuradas no perfil caligráfico da mensagem. A dedicatória e a assinatura de Rebecca devem aqui ser entendidas como o símbolo daquela que ganha vida em literatura, por inscrição. A assinatura e a mensagem de posse são ingredientes do presentificar daquela entidade verbal no seu processo de ser. Rebecca, a única personagem que não pode falar porque já morreu, é aquela que, não obstante, exerce sobre as outras o poder da palavra, violentamente: “Max was her choice, the word was her possession; she had written it with so great a confidence on the fly-leaf of that book. That bold slanting hand, stabbing the white paper, the symbol of herself, so certain, so assured” (id. ibid., itálicos nossos). Literalizando visualmente a separação de Pirandello entre personagem (aquela a que Joan Fontaine oferece um rosto) e o papel que está a ser representado, a adaptação 55 fílmica de Hitchcock traz outra interveniente ao drama: a actriz que interpreta uma personagem que tem de (não) ser ela mesma imitando Rebecca. Em boa verdade, e aqui está o paradoxo da construção de A.T. Pereira, Rebecca, ou o aglomerado de traços que podemos identificar como “Rebecca”, é sempre, necessariamente, uma ‘não-presença’ e um disfarce, jogo de faz-de-conta e “como-se ficcional” (Ferraz 2007: 75). A condição multifacetada da personagem ganha especial evidência neste ‘livro paralelo’. Em Verão Selvagem, Rebecca já surge como a actriz (de Hitchcock), a representação ideal do ser-in-progress. Não nos referimos à pessoa de Joan Fontaine, mas ao seu corpo em acção, participante visível, figurado, do filme, trazendo à personagem uma identidade em excesso – já que a consciência de si, em termos pirandellianos, a acusa de ser ao mesmo tempo mais do que uma Rebecca, a sua substituta e a sua actriz – por via da concretização da sua função de simulacro. Daniel Sibony afasta-se em Entre dire et faire das metáforas teatrais e diplomáticas do verbo “representar”, para fazer notar a subtileza semântica e o sentido diferenciador do prefixo re- com que ele se forma, encarando-o mais na sua acepção prospectiva e processual, que enfatiza a eterna novidade inerente a “re-apresentar”, e menos nos habituais sentidos repetitivo e retrocessivo 52. Pierre Klossowski parece convergir com Sibony na ideia de que a representação (a que vem acresentar o conceito de “simulação”) se baseia fundamentalmente na ‘presentificação’ – de uma ausência original e da atracção que o centro vazio desperta (o “irrepresentável” e o obsessivo) – como efeito da actividade mimética, no qual esta, em “Parfois, le seul désir de représenter, de ne pas être en proie à une présence déferlante et sans recours. Re-présenter, remettre en présentation, c’est ré-actualiser ce qui est de l’ordre de la présence, du don de l’être. La pré-sence c’est l’être offert, l’être devant; et l’ab-sence c’est l’être loin (le “sence” de pré-sence est le gérondif de l’être, de l’esse, comme dans “essence”). Le présent lui-même est comme un gérondif de l’être offert (et on l’a vu, gérondif est l’acte de gérer: il implique le geste d’assumer et de mettre en acte l’être en tant que placé devant; on est confronté à lui)” (Sibony 1989: 241). 52 56 termos performativos, se completa: “Le simulacre au sens imitatif est actualisation de quelque chose d’incommunicable en soi ou d’irreprésentable: proprement le phantasme dans sa contrainte obsessionelle” (Klossowski 2001: 131). Encontrando no colapso das categorias do tempo a possibilidade da sua realização material, a imitação ‘presentificante’ do fantasma depende da reiteração do presente e da obediência às convenções associadas à legibilidade e à ‘receptividade’ dos seus espectadores, no que se subentende um acordo entre a fabricação de simulacros e a sua recepção interpretável, isto é, a sua performance reorganizadora (“exorcizante”) que produz ‘re-comunicabilidade’ e presença: Pour en signaler la présence – faste ou nefaste – la fonction du simulacre est d’abord exorcisante; mais pour exorciser l’obsession – le simulacre imite ce qu’il appréhende dans le phantasme. Dans cette double fonction relativement à ce qu’il tend à reproduire soit l’indicible ou l’immontrable selon la censure sociale, religieuse ou morale, comment le prononce-t-il imitativement? En emprutant, pour les retourner au profit de son imitation, les stéréotypes institutionnels donc conventionels du dicible et du montrable. (id. ibid.) Por contraponto ao que acontece com a caligrafia muda no romance de Du Maurier, a presença de Rebecca nesta novela é curiosamente demonstrada através da figuração da voz, “o Outro da escrita” (Zumthor 1987: 135). O próprio livro é estruturado em duas continuidades discursivas intercaladas nos capítulos ímpares e pares: a voz da protagonista, uma morta eloquente, paradoxalmente conjugada no presente do indicativo e contemporânea da trama que encontramos no romance de Du Maurier53; e a narrativa na terceira pessoa do passado da personagem, contada por um narrador heterodiegético, da chegada a Manderley até à sua morte. “Digo baixinho o meu nome, muitas vezes seguidas, o que também me tranquiliza um pouco. […] Rebecca de Winter” (13). 53 57 O regresso de Rebecca, nunca explicitado na novela de A.T. Pereira, está inteiramente contido no título do primeiro capítulo: “Je reviens”, anúncio que activa na primeira pessoa o “regresso” e a presença da personagem narradora. “Je reviens” é ainda o nome com que Du Maurier baptizou o pequeno veleiro em que Rebecca encontraria a sua morte54. Esta intitulação tem o efeito de transformar o livro numa espécie de Barca de Caronte, e trazer Rebecca de volta, revertendo através do seu discurso subjectivado – que vem substituir a primeira pessoa gramatical da ‘substituta’ no romance de Du Maurier – os efeitos do naufrágio, literal e metafórico, naquele outro fluxo discursivo em que ela fora subsumida (o romance original). Comparando a novela de A.T. Pereira e o romance de Du Maurier, a primeira e a segunda Mrs. de Winter são figuras simetricamente opostas, que ganham a identidade e o ‘ser-em-história’ pelos mesmos mecanismos de rememoração e relato na primeira pessoa. A memória é nos dois casos a condição sine qua non da manifestação, a paisagem onde o simulacro apreende os marcadores da ficção e recolhe os objectos do setting literário em que se move e existe, e onde assiste ao refluxo imagético que eterniza o ensaio da sua existência, ou seja, onde pode ser continuamente “re-presentado”. Verão Selvagem parece ser um texto fortemente inspirado, pelo menos no que toca à sua estrutura narrativa e ideia de base, na ‘prequela’ que Jean Rhys escreveu para Jane Eyre, intitulada Wide Sargasso Sea (1966), que recupera, pela voz da sua protagonista, 54 A ironia e o jogo do texto de A.T. Pereira em relação aos tópicos do romance de Du Maurier tornam-se mais claros em confronto com o seguinte passo do ‘original’: “«Je Reviens». What a funny name. Not like a boat. Perhaps it had been a French boat though, a fishing boat. Fishing boats sometimes had names like that; «Happy Return», «I’m Here», those sort of names. «Je Reviens» – «I come back.» Yes, I suppose it was quite a good name for a boat. Only it had not been right for that particular boat which would never come back again” (171, itálicos nossos). 58 o passado de uma mulher substituída no romance de Charlotte Brontë por outra. A simpatia de A.T. Pereira pela primeira figura foi evidenciada numa crónica em que a nova versão da história, oferecida pela boca da condenada, é entendida como uma oportunidade de redenção semelhante ao que ela própria viria a fazer aqui: Jean Rhys não se limitou a escrever um romance belíssimo sobre o amor, o desejo, a loucura, a condição da mulher no século XIX, o medo da natureza e da mulher identificada com a natureza, ela libertou uma personagem do seu pesadelo”. (Pereira 2002: 25) Além de uma experiência com as possibilidades redentoras e exumadoras da literatura, recuperar Rebecca é uma “encenação de pesadelo” (119) e um exercício sobre a memória da leitura: Não me quero esquecer. De nada. Das coisas importantes. Eu sou uma mulher que perdeu o contacto com as coisas não essenciais. Uma frase de um livro, de uma peça de teatro talvez. E, como se rezasse, tento lembrarme das coisas essenciais. (13) E pergunto a mim mesma se a eternidade será isto, recordar uma e outra vez, um vestido, um beijo, um dia de Outono, a primeira neve, os meus cães. As coisas essenciais. O nome das rosas e as frases dos livros, o tempo em que alguém nos amou, o jardim que fizemos com as nossas mãos. (108) Na versão de A.T. Pereira de uma cena de crise durante o baile de máscaras – em que a segunda mulher de Max de Winter, sem o saber, se disfarça de Rebecca usando uma cópia do vestido que esta tinha usado no último baile, por sua vez modelado a partir de um retrato de Caroline de Winter, uma tia de Max havia muito desaparecida –, a única mulher de carne e osso da história é precisamente a que mais se ‘espectraliza’ ao oferecer no seu corpo uma representação do fantasma, ou, nos termos de Klossowski, ao “mostrar” o “imostrável”. 59 Perante isto, a imagem icónica (pictural) e fixa da tia de Max é a única dotada de realidade no momento do encontro ao cimo das escadas entre a jovem mascarada de Rebecca e a Rebecca mascarada de Caroline: Três mulheres com vestidos iguais, […] e a única de nós que tem alguma realidade é Caroline. (109) Estamos as três aqui e tenho de novo a impressão de que só Caroline é real, nós somos outra coisa, um ser que ainda não existe e um que se recusa a deixar de existir. E, meu deus, como a mulher do quadro é a mais autêntica, com os seus grandes olhos tranquilos e as mãos pousadas no regaço, sorrindo ao de leve para o pintor, sorrindo ao de leve para nós duas. (111)55 Quando se trata de arte, parece estar a dizer-nos A.T. Pereira em Verão Selvagem, só a própria arte pode ser entendida como real, e a realidade como uma dimensão contingente e efémera, afectada pelo esquecimento (daí a importância da memória que a ficção inscreve). “Os livros”, diz-nos, “têm uma existência própria mesmo quando ninguém os lê, ninguém os folheia, ninguém os cheira” (12). Coalescem em frente do retrato de Caroline de Winter, na novela de A.T. Pereira, duas figuras ou cópias de Rebecca já antes multiplicadas entre o romance de Du Maurier e o filme de Hitchcock, onde se tornam literalmente visíveis pela qualidade simulacral – figural – do cinema. Convém explicitar que utilizamos aqui os termos “figuras” ou “cópias” à luz dos sentidos que Auerbach encontrou para elas num passo, fundamental para o nosso estudo a vários níveis, de “Figura”: A special variant of the meaning “copy” occurs in Lucretius doctrine of the structures that peel off things like membranes and float round in the air, his Democritean doctrine of the “film images” (Diels), or eidola, which he takes in a materialistic sense. These he calls simulacra, imagines, effigies, and 55 Cf. episódio análogo em Maurier 2003: 238 et seq. 60 sometimes figurae; and consequently it is in Lucretius that we first find the word employed in the sense of “dream image,” “figment of fancy,” “ghost.” (1984: 17) Para regressar à leitura de Maria Cristina Ferraz de Para Além do Bem e do Mal e da “aposta niezschiana na potência do falso”, podemos dizer que aquela coalescência de figuras “convoca o procedimento da mise en abîme, caro ao pictórico, que remete, por trás das máscaras, sempre a outras máscaras, e assim indefinidamente” (2007: 73). Nestas “perspectivas significativamente retiradas do campo da ficção, o teatro e a máscara” – e lembremo-nos do papel (espírito por encarnar) que Rebecca, desde o início, simultaneamente desempenha e é, gerando entre personagens diferentes, de obras e media diferentes, um complexo sistema de homonímia – “surgem como a própria condição de possibilidade da experiência ontológica da multiplicidade, na sempre arriscada aventura de outrar-se” (Ferraz 2007: 76), ou seja, são meditações sobre o que pode significar ser e existir em ficção. Em Do Androids Dream of Electric Sheep?, para sublinhar a ligação entre o protagonista de Verão Selvagem e o narrador de “O sonho do unicórnio”, a mesma questão é colocada de outra maneira, alegorizada na figura de Wilbur Mercer, uma “archetypal entity from the stars” (55), um deus tecnológico fabricado para controlar o pensamento dos seres (que podem ser humanos ou andróides)56. Rick Deckard, o protagonista do romance de Dick, pondera: “Mercer [Kevin e Rebecca, dizemos nós] isn’t a fake […]. Unless reality is a fake” (186, itálicos nossos); para entrar depois na contradição que são aqui todas as personagens: “I’m afraid […] that I can’t stop being Mercer. Once you start it’s too late to back off” (id. ibid.). O acesso a este ‘deus’ acontece através de uma “empathy box”, uma espécie de realidade virtual que, paradoxalmente, oferece ao indivíduo que nela entra sensações e experiências reais. 56 61 2.2. A Outra: um “inconsciente do texto” em The Turn of the Screw L’imagination est la reine du vrai, et le possible est une des provinces du vrai. Elle est positivement apparentée avec l'infini. Charles Baudelaire La reine des facultés A construção narrativa do conto A Outra (Pereira 2010) parte de um segmento de texto inicial que inaugura o livro “sem que ninguém lhe tivesse tocado” (9). É assim que, num novo exemplo da analogia entre a casa e o livro, deslizam para dentro de uma “casa”57 folhas de árvore, e nós percorremos, simultaneamente, as primeiras folhas do livro, em representação alegorizante do acto de leitura: “A porta abriu-se sem que ninguém lhe tivesse tocado. O vento trouxe as folhas para dentro de casa, num movimento suave, com algo de musical”. A passagem citada corresponde à primeira parte de um encadeamento ritmado (“com algo de musical”) que atravessa a organização paratáctica do conto, inaugurando todos os capítulos com a repetição plena das duas frases iniciais, e acrescentando a cada vez um novo bloco de informação àquela fórmula fixa, num processo de acumulação que reescreve e completa o texto na mesma medida em que este se desenrola. O leitor vê-se confrontado com o facto de ter de reaprender sucessivamente um mesmo que nunca é o mesmo porque vai sendo amplificado em pequenas porções que o reconfiguram no seu todo, a cada nova (re)leitura. Reler, portanto, não significará aqui 57 Num passo de The Turn of the Screw encontramos uma analogia semelhante, de onde esta poderá ter surgido: “Wasn’t it just a story-book over which I had fallen a-doze and a-dream? No: it was a big, ugly, antique but convenient house” (James 1996: 645). 62 ler outra vez, mas sim ler mais, e, por conseguinte, ler a mesma/outra coisa de maneira diferente, à luz de um conhecimento renovado. O confronto entre a novela de James e o conto de A.T. Pereira evoca, embora com diferenças irredutíveis, o que Marie-Claire Ropars chamou “obra em estado duplo” (Ropars-Wuillemier 1990: 172), referindo-se à coexistência de versões cinematográficas e literárias de obras de Marguerite Duras. No caso aqui em análise, a dinâmica acontece entre obras literárias de autores diferentes; não obstante, o nexo entre A Outra e o seu texto de partida (The Turn of the Screw) parece provir de “un même geste qui à la fois écrit et récrit le texte” (id. ibid.), ou seja, a escrita de A Outra é já uma reescrita. Por outro lado, a nossa autora parece partilhar ainda com Duras uma determinada concepção de “forma gráfica” na apresentação do livro, que retomaremos adiante no nosso estudo. Ropars descreve-a do seguinte modo: [D]es textes courts, des frases brèves, souvent nominales, et sourtout, entre les phrases ou les groupes de frases, des espaces blancs de deux types, étendu et restreint, qui découpent la page tout en donnant à l’oeuvre l’allure d’une suite de versets. (id. 175) Estamos pois perante um livro que traz instalado em si o seu dispositivo de reconstrução e releitura, num jogo que sublinha o estatuto gráfico do texto, e que, em determinados aspectos, é uma readaptação do “acting out” que Shoshana Felman identificou em The Turn of the Screw: “Through its very reading, the text, so to speak, acts itself out. As a reading effect, this inadvertent «acting out» is indeed uncanny: whichever way the reader turns, he can but be turned by the text, he can but perform it by repeating it” (Felman 1982: 101). Portanto, a expectativa de uma narrativa em “primeira mão” que resolvesse enfim a dúvida epistemológica deixada pela novela anterior dissolve-se. Repetir o texto de A Outra não é mais do que recriar a alucinação 63 de um fantasma, fora do tempo, que narra a sua própria história e finge falar de onde ele próprio não está (na vida, no texto original). A primeira analepse do conto revela a disjunção egótica da protagonista, ao mesmo tempo que convoca o motivo trágico do auto-reconhecimento: Eu penso que tudo começou no dia em que me vi, de corpo inteiro, no espelho do meu quarto em Bly. […] Assim, posso dizer que foi em Bly que me vi pela primeira vez. Nos primeiros instantes, aquela mulher pareceu-me uma estranha. Aos poucos, fui-me familiarizando com ela. (10) Temos assim um momento de dupla identificação: Miss Jessel “reconhece-se” a si mesma e o leitor também a identifica como a personagem de The Turn of the Screw. No entanto, esta identificação é tripla, uma vez que há que manter activa a memória do texto de James, no qual, em moldes semelhantes, a segunda preceptora sofrerá o mesmo espanto: “the long glasses in which, for the first time, I could see myself from head to foot, all struck me” (James 1996: 643). A réplica do gesto sugere então uma identificação directa entre Miss Jessel e a segunda preceptora de James. Porém, prosseguindo, veremos a identificação volver-se ainda quádrupla, com referência ao ideal de mulher inspirado nas “mulheres pintadas por Dante Gabriel Rossetti” (10). A Miss Jessel de A.T. Pereira chega a Bly após uma determinada dieta de leituras; mas é na referência fundamental a Jane Eyre que nos vamos ater: O meu livro preferido nos longos serões de Inverno, quando o vento da charneca chegava à aldeia e uivava do outro lado da janela, o meu livro preferido nas calmas noites de Verão quando o cheiro a madressilva do muro e o cheiro das flores do cemitério entravam pelo meu quarto, era Jane Eyre. (13) 64 Também a preceptora de James indicia muito subtilmente ter conhecimento do romance, numa provável alusão à personagem de Bertha Mason: “Was there a «secret» at Bly – […] an insane, an unmentionable relative kept in unsuspected confinement” (654-5, itálicos nossos). No entanto, mais do que uma evidência da partilha de identidades entre Miss Jessel e a segunda preceptora, esta referência ilustra o percurso e a caracterização da primeira, passando por uma atitude declarada de paralelismo e de emulação em relação a Jane Eyre e à sua história: [S]entia que tinha muito em comum com ela. A história da jovem preceptora que chega a um velho casarão, e se apaixona pelo dono da casa… havia alguma coisa de familiar nessa história. […] Eu sabia que mais tarde ou mais cedo chegaria a minha vez […]. E se Jane, que não tinha grande encanto, conseguira o amor de Mr. Rochester, eu podia sonhar com algo parecido, eu com o meu cabelo cor de cobre e os olhos azuis… E quando respondi ao anúncio do jornal que pedia uma jovem culta e com boas referências para ser a preceptora de duas crianças, tive a sensação vertiginosa de que chegara o meu momento… (13) O desdobrar das personagens de A.T. Pereira é manifestação das suas próprias obsessões, que as levam a entrar em circuitos infinitos de espelhos refractários, em que se vão descobrir gradualmente “o outro do eu e a negação do eu” (Magalhães 1999a: 1), para entrar numa espécie de ‘performativização’ incessante da identidade. A dimensão performática desse processo surge de forma mais contundente quando a jovem conhece Mrs. Grose: Quando me aproximei da mulher, tive uma vaga ideia de que eu podia ser assim daí a muitos anos. Magra e com rugas no rosto, o cabelo grisalho. O vestido era parecido com o meu. No entanto, sentia que o meu papel não era aquele. Como nas peças de teatro que nunca vi, há personagens principais e personagens secundárias. Aquela mulher era nitidamente uma personagem secundária. 65 Essa era a grande diferença entre nós. Eu era jovem e bonita e não nascera para um papel secundário. Não era da sua família mas da família das heroínas dos romances que lera nos últimos anos. (23) Miss Jessel reconhece a sua ascendência especial de “heroínas dos romances”; ela afirma o seu parentesco com personagens, e é justamente nessa consanguinidade que encontra o seu molde trágico. O seu percurso, cada acção sua, estão inscritos num guião que lhe é anterior e que não depende da sua escolha seguir ou não, decorar ou ignorar, porque se trata da própria matéria que lhe dá forma e lhe permite ser. Miss Jessel é “eu”, e “eu” é “a outra”, numa relação em que livro e identidade se cosem, sendo este livro, lembremos, um relato seu, no qual ela se projecta igualmente como narradora e narrada, fechando-se no círculo da enunciação. A partir daqui, a aproximação à teatralidade é sistemática, como se a cada novo momento do conto “começasse a cena seguinte de uma peça” (24). O narrador de James advertira-nos de que “nothing was more natural than that these things should be the other things they absolutely were not” (669), e A.T. Pereira, no desenvolvimento deste drama de actos e de personae, parece seguir fielmente o preceito de nos confrontar com coisas que são o que “absolutamente não são”. A este propósito, será útil averiguar em que trâmites é apresentada a personagem de Peter Quint. Em The Turn of the Screw ele é “like nobody”, e quando aparece à nova preceptora o seu semblante transmite-lhe “a sort of sense of looking like an actor” (662). Em A Outra, Peter Quint surge no cimo da mesma torre, suscitando o mesmo erro de percepção de um episódio da primeira novela. Inicialmente, ele é tomado por outro (“Por instantes, pensei que era ele [isto é, o tio das crianças]” [35]), numa pressuposição em que, igualmente tolhida pela obsessão pelo “Master” inominado, a sua substituta 66 viria a incorrer, para desiludir-se: “the man who met my eyes was not the person I had precipitately supposed” (653). Depois do choque, Miss Jessel pensa que aquela figura, na verdade, “parecia um actor”, “quase como alguém”, “[s]ó quase” (36). Não obstante, convém recordar uma distinção essencial entre as duas situações: quando aparece à segunda preceptora, na descrição de James, Quint já havia morrido, e portanto, a ser algo, só podia ser um fantasma; enquanto que no tempo de que nos fala a Miss Jessel de A.T. Pereira ele vive. A similitude dos episódios torna-o aqui um ‘fantasma’ de tipo diferente. Isto complexifica-se com o posterior encontro físico entre ele e a preceptora: Eu também tinha um guarda-roupa que não sentia como inteiramente meu. Como uma actriz. […] Mas, se ambos estávamos vestidos como actores, que peça diabólica nos preparávamos para representar? (36) A “peça diabólica” é uma em que, após um período de idílio durante o qual os dois “actores” se encontram, caracterizados, para jantar, como se estivessem num palco, se envolvem amorosamente – “Peter Quint e Miss Jessel gostavam de estar juntos, tal como Miles e Flora gostavam de estar juntos” (48) 58 –, e cuidam das crianças, num “mundo criado por [eles]”, no qual Miles e Flora “[se] sentiam protegidos, e felizes” (49). Peter Quint vai assumindo o seu papel de duplo na cauda da aprendizagem, da parte de Miss Jessel, da “importância dos substitutos”: “Eu continuava a lembrar-me do homem de Londres. […] Mas estávamos no Verão, e eu aprendera a importância dos substitutos” (47). 58 Em The Turn of the Screw: “The four, depend upon it, perpetually meet” (692). 67 Se a relação de Miss Jessel com Peter Quint se construíra sobre esta ideia, o pedido de casamento que ele lhe faz parece introduzir um curto-circuito na comutação, para a “desaprendizagem” que a leva a reconhecer a substituição como um mecanismo falho: Naquela noite, Peter pediu-me para casar com ele. […] Lembrei-me das minhas primeiras fantasias, e de como seria diferente se tivesse sido o amo a pedir-me em casamento. Afinal, isso acontecera a Jane… […] E nem saberia que existiam substitutos… Mas Peter Quint era só um criado que vestia as roupas do amo. Como um actor… Um criado que tomava o lugar do dono da casa quando estava ausente… que tomara o lugar do dono da casa na minha cama. (55) A.T. Pereira declarou numa recensão, seis anos antes da publicação de A Outra: “Eu sempre achei que havia uma terceira leitura da novela, uma outra volta no parafuso: o ponto de vista não é o da preceptora mas o do menino” (2004a, s.p.). Mas o que vemos aqui é ainda “uma outra volta no parafuso”, com contornos substancialmente diferentes. O ponto de vista é o de Miss Jessel, que fala depois da sua morte, recordando o passado e o seu reflexo nos espelhos quando ele ainda era “inteiro”, até que quem ela vê nesse mesmo espelho é já outra mulher: Ela nunca se tinha visto de corpo inteiro num espelho […] A princípio recuou, como se tivesse visto outra pessoa no quarto… Tem a mesma altura do que eu, mas é mais magra. O cabelo castanhoclaro, os olhos um pouco mais escuros. Os traços correctos, a boca bem desenhada. O seu vestido é castanho. Tem um ar tão gasto como o meu ao chegar a Bly. Pergunto a mim mesma se ele lhe terá dito para comprar outros vestidos. Pergunto a mim mesma se ele lhe terá pegado na mão. Entre os livros que ela colocou na estante, há um exemplar de Jane Eyre. (62) 68 Miss Jessel sabe perfeitamente que é uma quimera: “Ela começou a sentir-nos, depois a ver-nos” (65); como sabe que “depois, há a história dos substitutos” (66). O que ela não sabe, ou o que, provocatoriamente, pergunta, é “[p]or quem está apaixonada a preceptora de cabelo castanho?” (id. ibid.). A própria autora disse que “a resposta […] não é de forma alguma a mais óbvia” (2004a, s.p.). Walter Benjamin escreveu sobre A fraude ou A águia branca, de Leskov, que: O extraordinário e o miraculoso são narrados com a maior exatidão, mas o contexto psicológico da acção não é imposto ao leitor. Ele é livre para interpretar a história como quiser, e com isso o episódio narrado atinge uma amplitude que não existe na informação. (Benjamin 1985: 203) Lembremo-nos, em articulação com esta ideia, da ambiguidade da carta que em The Turn of the Screw a nova preceptora de cabelos castanhos viu (ou alucinou) Miss Jessel escrever, sentada na antiga secretária que havia entretanto passado para si e onde – tal como a nova Mrs. de Winter fazia com os objectos de Rebecca – ela imitava os gestos da anterior proprietária, “possuindo”, por meio do seu corpo de carne, aquele fantasma feito de memória plástica e cenográfica: “Seated at my own table in the clear noonday light I saw a person whom […] had applied herself to the considerable effort of a letter to her sweetheart” (705). Esta carta pode ser a que agora, pela mão de A.T. Pereira e pela narração de Miss Jessel, lemos; por outras palavras, este livro. Igual liberdade interpretativa permite-nos ler de pelo menos duas maneiras a declaração enigmática de Miss Jessel: “Nós rondamos a casa como se fôssemos fantasmas” (65). Quando Miss Jessel diz isto, já a nova preceptora chegou, e “eles” só podiam ser fantasmas. Todavia, ela recorre a uma comparação em que os dois termos coincidem: “como se fossem” o que já são. Podemos acreditar que ela não tinha 69 consciência da sua condição de fantasma. No entanto, o vocabulário que usa desmente-o: “Ela começou a sentir-nos, depois começou a ver-nos” (id. ibid.). Numa segunda hipótese, podemos aceitar que Miss Jessel e Peter Quint não fossem sentidos nem visíveis, mas que também não fossem fantasmas, mas fossem apenas “como” eles, “quase como alguém”; isto é – e para concluirmos na mesma nota de inconclusividade em que nos deixa Henry James –, eles podem não ser mais do que personagens imaginadas pela nova ocupante de Bly, ela também uma personagem (o “sonho de um sonho”). Eles são o que está no inconsciente da segunda preceptora, e, em última análise, o que está no “inconsciente do texto” de The Turn of the Screw, materializado nesta novela: James fala do “segredo” que o autor vai tecendo no próprio corpo do texto, o fio no qual estão enfiadas as pérolas, enfim a verdadeira história que, se o romance ou conto tiver vida, está em todas as partes, e é contada por cada palavra, por cada sinal de pontuação. Claro que se existe um inconsciente do texto, e eu não tenho dúvidas de que existe, o autor pode ser o último a saber ou até nunca saber. (Pereira 2004a: s.p.) O próprio texto de A.T. Pereira constitui-se como o simulacro de uma ficção, isto é, como a figuração do fantasma que assombra outro texto. A sua relação indissociável (palimpséstica) e no entanto antagónica com a novela de Henry James pode ser mais bem compreendida recuperando o tratamento de Ropars de uma certa ideia de “reescrita” com a qual iniciámos a nossa reflexão: “Dans l’horizon de la réécriture, le palimpseste n’est rien d’autre que le paradoxe d’un texte dont l’avènement suppose et recuse en même temps l’antériorité d’un autre texte” (1990: 178). 70 CAPÍTULO 3 Livro, palco e mundo En la literatura de este hemisferio […] abundan los objetos ideales, convocados y disueltos en un momento, según las necessidades poéticas. Los determina, a veces, la mera simultaneidad. Jorge Luis Borges Tlön, Uqbar, Orbis Tertius Se estabelecemos antes uma ligação formal entre a escrita de A.T. Pereira e um determinado modo lírico da tradição moderna, viramo-nos agora para uma outra, já naquele momento sugerida por Rosa Maria Martelo (como “ceno-grafia”), entre uma concepção lata de poética e o modo ‘dramatizante’ da prosa da autora. Inverness (2010) e A Pantera (2011) formam um par de novelas que, justificando uma leitura conjunta, se apropriam de temas e cenários teatrais para a construção de narrativas dramáticas em duplo sentido (localizadas narrativamente na esfera do teatro, e exploratórias, a um nível mais reflexivo e poetológico, da sua estética, em permanente tensão com as ideias de texto, livro e estrutura romanesca), a partir de elementos e motivos cooptados do universo do palco. Ao nível do enredo, as novelas giram essencialmente em torno de encontros entre escritores e actrizes, e escritoras e actores, e do problema nuclear de representar, acabando por evocar, também por isso, muitos ‘dramas de bastidores’ que pontuaram a história do teatro e do cinema, pensando em certos filmes de Cukor, Mankiewicz e Cassavettes (A Double Life [1947], All About Eve [1950] e Opening Night [1977]), e peças de Pirandello ou Shakespeare (Sei personaggi in cerca d’autore e Hamlet), que 71 são, para usar a terminologia fundadora de Lionel Abel (1963), exemplos mais ou menos representativos de “metateatro” a que muitas vezes a autora alude. No último subcapítulo, veremos, a partir da sua primeira identificação por Rui Magalhães, a “questão do «esgotamento» e da «repetição»” nas narrativas de A.T. Pereira (Magalhães 2000: 1), entre a epígrafe de O Lago, de Rudolf Nureyev, e o conceito de Maurice Blanchot e Pierre Klossowski de “ressassement”, mas também em articulação com uma ideia de “surgimento” ou “emergência” da arte (Henry James, Robbe-Grillet e Peter Brook). Na nossa leitura, O Lago constituirá um ponto de confluência dos problemas principais que temos vindo a explorar. Veremos, então, como a própria estruturação formal do livro permite interpretá-lo alegoricamente como obra de síntese de toda a ficção de A.T. Pereira, lendo-o também, um pouco mais especificamente, como novo “ponto culminante” de uma fase da escrita da autora que Rui Magalhães havia identificado como uma longa série de narrativas “em que os mitos ainda estão enunciados, mas reduzidos ao seu esqueleto […]; mais apresentados do que enunciados”, isto é, mais vistos do que lidos, “e isto muito para além do carácter cinematográfico da história” (id. ibid.). 72 3.1. Autores e actores em duas novelas teatrais: Inverness e A Pantera “You can’t play a part until you’ve lived it.” Bryan Forbes The L-Shaped Room (1962) No primeiro volume de Temps et récit, Paul Ricoeur defende que “le lecteur est l’operateur par excellence qui assume par son faire l’action de lire” (1983: 86). Enquanto participante central de uma hermenêutica da mimese, o leitor não é para Ricoeur uma testemunha da obra mas o seu operador por excelência, isto é, não o que imagina a acção, mas o que “assume a acção” de imaginar (ler). Para este tipo de leitor, só ficcionalizando o real é que a literatura o pode decifrar e recriar, atribuindo-lhe de antemão uma refiguração temporal e passando-o pelo mesmo processo de semiose que a afecta: “Si, en effet, l’action peut être raconté, c’est qu’elle est déjà articulée dans des signes, des règles, des normes: elle est dès toujours symboliquement médiatisée” (90). No tratamento que Barthes dera a esta problemática, alguns anos antes, a literatura já era uma forma de acção independentemente daquilo a que ele, no paradigmático ensaio sobre a “morte do autor”, chamou “Dieu et ses hypostases, la raison, la science, la loi” (1984: 68). O seu scripteur é munido de um “imense dictionnaire où il puise une écriture qui ne peut connaître aucun arrêt” (id.ibid.) Scripteur é uma designação formada a partir do latim (scriptor), através da qual Barthes recupera precisamente o valor agencial do nome dado ao que desempenha a acção de escrever. O leitor barthesiano, precursor do leitor operativo de Ricoeur, tem de terminar em si a escrita. Para Barthes, o leitor tem a dimensão de um lugar da escrita, “l’espace même où s’inscrivent […] toutes les citations dont est faite une écriture” (69). 73 Estes prolegómenos têm o objectivo de orientar a leitura das obras em estudo neste último capítulo no sentido de uma conceptualização específica da literatura, classificada por Barthes como a escrita moderna, em que o texto passa a ser entendido como “un tissu de citations” (67), num tempo em que “la vie ne fait jamais qu’imiter le livre, et ce livre lui-même n’est qu’un tissu de signes, imitation perdue, infiniment reculée” (68). Esta afirmação serve-nos ainda de pretexto para a recuperação de um dos temas mais recorrentes na obra de A.T. Pereira e neste estudo: a repetição. Num artigo que já antes citámos, Rui Magalhães aborda directamente esta questão, dando sinais de se querer afastar do seu “sentido meramente superficial”59. Este afastamento, para o que seria um sentido mais profundo e criticamente relevante da questão, pode dar-se justamente na direcção do “tecido de signos infinitamente recuado” com que Barthes identifica o livro. Numa citação anterior, o mesmo autor falava de uma escrita moderna que é – traduzamos assim – “sem paragem” (1984: 68). Em termos semelhantes, tomámos antes conhecimento dos planos de Borges para um “volume cíclico”, que pudesse “continuar indefinidamente” 60, assim como veremos no próximo capítulo que Martin Gardner encontrou nos sonhos de Alice uma forma de “infinite regress”61; e, embora de modo menos explícito, esta ideia já era importante no conceito de “re-presentação” de Daniel Sibony62. Assim, entre a estrutura regressiva de O Fim de Lizzie e a prospecção para o infinito de O Lago (que trataremos adiante), podemos enquadrar A.T. Pereira numa poética da ‘eterna repetição’ que conheceu uma “A obra de Ana Teresa Pereira atingiu com Rosas Mortas e O Rosto de Deus, um ponto culminante. Tratava-se, a partir daí, de saber qual seria o caminho a trilhar pela autora a partir do momento em que, muito dificilmente, seria possível levar mais longe a exploração da via até aí seguida. A questão do «esgotamento» e da «repetição» (entendida num sentido meramente superficial) colocava-se, agora, com alguma aparente legitimidade” (Magalhães 2000: 1). 59 60 Cf. p. 41. 61 Cf. p. 105, Nota 96. 62 Cf. p. 56, Nota 52. 74 das suas formulações mais contundentes no posfácio de Blanchot ao díptico ficcional precisamente intitulado Le ressassement éternel, no qual o autor descreve uma forma de relato constituída num “processus interminable dont le terme est ressassement et éternité” (1983: 94). Em Inverness e em A Pantera, às quais, numa tentativa de definição que conjugue a um tempo o enredo, o tema central e o recorte formal de cada novela, chamaremos, respectivamente, drama teatrológico e drama logográfico, o sujeito scripteur parece corresponder em larga medida ao dispositivo literário de Barthes, no qual “l’énonciation n’a d’autre contenu (d’autre énoncé) que l’acte par lequel elle se profère” (67). De acordo com este modelo, o acto de leitura e a figura do leitor – servindo de base aos trabalhos de Ricoeur, Derrida (com o conceito de “invenção” associado ao poema “Fable”, de Francis Ponge63) e Derek Attridge (e a obra literária como “acto” e “evento” de leitura, indissociável do “acto-evento” da escrita64) – têm perante o texto inacabado uma função completiva (“achèvement”65), de con-figuração dos “buracos”, lacunas” e “zonas de indeterminação” que nele existem. No entanto, a verosimilhança ou o grau de completude dos elementos da intriga são aqui questões irrelevantes, e, pensando no caso das histórias de “segredos” (centros de escuridão e ‘indecidibilidade’ narrativa e epistemológica) de Henry James (The 63 O autor define este poema, essencialmente, como uma fábula sobre o acontecimento de si mesma (1992: 310-43). “This is what a literary work «is»: an act, an event, of reading, never entirely separable from the act-event (or acts-events) of writing that brought it into being as a potentially readable text, never entirely insulated from the contingencies of the history into which it is projected and within which it is read” (2004: 59). 64 “C’est enfin le lecteur qui achève l’oeuvre dans la mesure où […] l’oeuvre écrite est une esquisse pour la lecture; le texte, en effet, comporte des trous, des lacunes, des zones d’indétermination, voire, comme l’Ulysse de Joyce […]. Dans ce cas extrême, c’est le lecteur, quasiment abandonné par l’oeuvre, qui porte seul sur ses épaules le poids de la mise en intrigue” (1983: 117, itálicos nossos). 65 75 Aspern Papers, The Turn of the Screw e The Beast in the Jungle, por exemplo), percebemos que ler e “achever” um texto (ou, parafraseando Barthes, fazer a sua escrita em nós) pode não ser mais do que compreender e reafirmar a sua inconclusividade. Esta atitude interpretativa reduz decisivamente a importância da trama e dos seus sentidos, fazendo com que “l’intrigue entière”, em vez de pensada como uma sucessão lógica, seja “traduite en une «pensée», […] sa «pointe» ou son «thème»” (Ricoeur 1983: 105). A teatralidade inerente a um tal modo de produção e interpretação literária, significativamente apelidado de “mise en intrigue” (id. 106), e dependente de múltiplos actos cooperativos entre escritor e leitor, é central nestas duas novelas. Kate, uma jovem actriz, a protagonista de Inverness, é levada por Clive, um escritor, a representar (na vida, e não no palco) o papel de Jenny, a mulher dele, que havia desaparecido misteriosamente havia alguns meses. Deixando de parte a suspeita criminal que uma tal proposta levanta, assim como o evidente decalque no enredo da ‘pré-história’ de Vertigo, que nos convida a ver aqui a contratação de Judy Barton por Gavin Elster e a subsequente mascarada que visou ocultar o assassinato de Madeleine, observaremos de que maneira este faz-de-conta dá lugar a um já referido drama da dramaturgia, focalizado numa actriz de profissão que, quando não está a representar, se olha ao espelho para ver uma “desconhecida” (Inverness, 9)66. A Pantera forma com Inverness, na esteira do que já vimos acontecer com os contos de O Fim de Lizzie, um par complementar. Kate, protagonista da segunda novela, usa o mesmo “pequeno colar de prata, com o nó celta, um pouco tosco” (Pantera, 11), que usa a personagem sua homónima na novela anterior. Este adereço remete uma vez mais para Vertigo e para o colar que Judy/Madeleine utilizava na sua imitação de 66 De modo a evitar ambiguidades quanto à proveniência das citações neste subcapítulo dedicado simultaneamente a duas obras, passaremos a indicar sempre que necessário o título da obra em questão seguido do número de página. 76 Carlotta Valdes, funcionando tanto como objecto de identificação quanto como elemento de ruptura, de queda do disfarce, na relação pigmaliónica entre Scottie e Madeleine e, aqui, entre Kate e Clive. Na segunda novela Kate é escritora, e Tom, seu amante, é um actor há pouco tempo afastado dos palcos. Tal como em Inverness, o par amoroso personifica uma relação cooperante e concorrente entre escrita e representação. Foi a partir desta tensão entre texto e o que está além dele – “those frames and boundaries that conventional dramatic realism would hide” (Abel 2003: 133) – que formulámos o nosso conceito de drama teatrológico, com o qual nos queremos referir a uma narrativa que é ao mesmo tempo auto-reflexiva e “metateatral” (id. ibid.). Reiterando uma das afirmações mais insistentes na obra recente de A.T. Pereira, também aqui o escritor Clive revela à actriz Kate que “não há grande diferença entre aquilo que faz[em]”, uma vez que “[n]o [seu] caso, também, trata-se de entrar na pele de uma personagem e criar, durante algum tempo, a suspensão da dúvida” (Inverness, 15). De igual modo, “[h]á algum tempo que [a escritora protagonista de A Pantera] usava as palavras representar e escrever como se fossem exactamente a mesma coisa” (78). O drama logográfico que associámos à segunda novela, cuja acção também se desenvolve dentro de coordenadas teatrais, remete para a reflexão sobre o conhecimento (logos) e a escrita (grafia) como problema nuclear da narrativa. Esta segunda novela parece retroceder à história da mulher in disguise da primeira, unindo os dois textos num elo que replica aquele que une os pares amorosos (escritor e actriz, e escritora e actor) que nelas figuram, suscitando a permanente reconsideração de ambas na contaminação da leitura de uma pela leitura da outra. O maior indício deste último ponto, com importantes efeitos retroactivos, é o passo em que a Kate de A Pantera, revendo a sua biobibliografia de jovem escritora, 77 menciona “a novela curta que publicara aos vinte e seis anos”, na qual “[a]s personagens eram um jovem escritor e uma actriz sem trabalho”, e “a história tinha algo de circular, como se os dois se encontrassem presos numa jaula” (18). Lembrando as dinâmicas intratextuais das três histórias de O Fim de Lizzie, Inverness encaixa perfeitamente nesta descrição, e não terá sido, ao que parece, mais do que uma ficção da autoria de uma personagem da novela seguinte, A Pantera. No entanto, se Kate – a actriz de A Pantera – está a fingir, a escrita da primeira novela, da qual, não obstante, nós pudemos tomar conhecimento enquanto leitores, não passa também de uma ficção, tal como, por implicação, seria uma ficção a leitura que dela fizemos. Este é o grande paradoxo da mise en abyme que A.T. Pereira instalou na origem do texto e que ficcionaliza inclusivamente o acesso a ele. Se esta segunda história for tida como verdadeira, a própria Kate, que no-la está a contar, não pode existir, uma vez que vem com o seu colar de uma novela que foi, na realidade, apenas uma ficção sua, e onde a própria se subsumiu enquanto simulacro de Jenny, tal como Judy perecera ao interpretar o papel de Madeleine em Vertigo. Ou seja, se Kate está a fingir que é Kate a fingir que é Jenny, então ela é ao mesmo tempo verdade e mentira (“por vezes perguntava a si mesma se transformar-se em Jenny seria transformar-se em algo que já era” [Pantera, 12]), gerando uma plurivocidade ontológica e perspectival na personagem na qual o texto está focalizado, e através da qual nós próprios acedemos a ele, e retirando, como consequência, toda a estabilidade interpretativa à nossa leitura, pondo em causa o sentido do texto. Primeiro, Kate insinua a Tom que não passa de uma alucinação: – És mesmo real? […] – Nem por sombras. – És uma imagem criada pela minha imaginação? – Sim. (id. ibid.) 78 Depois, é ela própria que pode estar a imaginar tudo: “[a]final, talvez nada tivesse acontecido. Talvez tivesse imaginado a história, no intervalo de uma peça” (85). Da ironia da epígrafe tirada de Hamlet67, ao facto de Kate “ver a desconhecida no espelho” e ter a percepção de que os seus olhos “podiam ser os olhos de qualquer pessoa porque não tinham nada por detrás”, “[u]ma casa vazia, onde ninguém vivera por muito tempo” (10), constroem-se em Inverness as imagens da actriz e do escritor como seres dotados de corpos ocos e anteriores à identidade, só alcançada por via da representação: “E quando estamos a representar tornamo-nos naquilo que realmente somos” (55). A dada altura, é-nos oferecida nesta novela uma descrição de Kate de alguma forma relacionada com o “nevoeiro”, que já vimos antes abundantemente referido como símbolo da matéria-prima ficcional: “Um ser amorfo, sem consistência, que roubava quase inconscientemente pedaços das suas personagens” (54). A tragédia identitária de Kate parece traduzir-se então numa impossibilidade de anagnórise, permanentemente transferida e adiada: Eram as personagens que interpretava que lhe davam uma ilusão de identidade, quando estava sem trabalho, era só uma mulher que caminhava nas ruas, que se confundia com as outras, um punhado de sensações e de memórias que tinha de juntar cuidadosamente para formar um ser humano. Havia dias em que tinha de procurar-se a si mesma, num quadro da National Gallery, numa recordação de infância, num dos livros da sua estante, numa sala de cinema onde repunham um filme antigo. Não sei quem sou. Não sei o que quero. E não gosto muito de mim mesma. (id. ibid., itálicos nossos) A qualidade proteica dos actores lembra tanto o scripteur moderno anunciado por Barthes, que “naît en même temps que son texte” (Barthes 1984: 66), quanto o seu “This above all: to thine own self be true,/ And it must follow, as the night the day,/ Thou canst not then be false to any man” (Inverness, 7). 67 79 “alguém” leitor, “sans histoire, sans biographie, sans psychologie” (69). Pensamos que a ênfase do autor na subtracção de qualidades ao leitor, embora retoricamente extremada, não o concebe realmente como um receptáculo vazio, mas antes como um configurador activo, disponível e não obnubilado, ao qual caberá completar a sua própria história, biografia e psicologia, atributos imperfeitos (não-acabados), ao mesmo tempo que recebe em si o texto, completando-o e completando-se, através dele, enquanto leitor. A conivência entre as duas figuras (escritor e leitor) é uma ideia perfeitamente razoável em A.T. Pereira, e o melhor exemplo disto será Clive, que, no seu ofício de escritor, é ao mesmo tempo agente e espectador da escrita. Tudo se resumirá, no fundo, a “[e]ntrar na pele da personagem e criar, durante algum tempo, a suspensão da [sua própria] dúvida” (Inverness, 76). Neste particular, e em jeito de coda desta questão, citamos um verbete em que Manuel Gusmão faz notar que: A admissão da fictividade da enunciação literária e da alterização do autor no processo de escrita não inviabilizam antes exigem a construção da noção de autor. […] Nesse sentido também, se o autor não é um demiurgo, ele é o limite que permite ao leitor compreender que também ele o não é; assim como é um nome para a alteridade do texto que, por sua vez, preserva a possibilidade da autoformação do leitor como outro. (Gusmão 1995: 488) A plasticidade destas entidades textuais permite que a voz narradora passe da terceira para a primeira pessoa, e que o tempo verbal da narração oscile entre o pretérito imperfeito e o presente. Estes momentos de irrupção na narração de uma voz subjectiva, pontuais nas duas novelas68, fundamentam uma suspeita, em primeiro lugar, sobre a identidade daquele narrador impessoal, e sobre quem é de facto, na novela, o sujeito da Em A Pantera, por exemplo: “As palavras eram desconhecidas, ameaçadoras. Mas algo nela lembrava-se vagamente de as ter escrito, esta página tem a ver com o lago num entardecer de nevoeiro […]. E um barco. Creio que havia um barco” (94). 68 80 enunciação, pondo em causa a aparente fidedignidade do que estamos a ler; e, em segundo lugar, aliados à alteração do tempo verbal, os calculados instantes produzem o que Javier Marías descreveu como um efeito de identificação entre “o vivido” e o “sonhado”, ou o real e a fantasia, que confere ao narrado “uma dimensão mais fantasmal ou difusa”69, numa (anti-)dialéctica narrativa entre passado e presente semelhante à que dá estrutura a O Verão Selvagem dos Teus Olhos. Inverness, o drama teatrológico, põe assim em jogo, mais do que um problema de representação esquizofrénica da identidade, as cisões e intersecções das entidades que pululam o texto, que em A Pantera vão evoluir no sentido da naturalização – numa acepção muito específica do termo – da personagem de Kate, quando o seu nome próprio se torna nome comum, justaposto aos elementos da natureza (“Katie, neve, lilases” [103]). Esta cisão da unidade ôntica, sempre relacionada com estados anteriores às actividades de escrever ou representar (nas quais tudo converge), possibilitará a autoscopia da protagonista. Como Clive, a partir de um “ponto de vista dos pássaros”, Kate vê-se a si mesma “sempre de fora”70. Em A Pantera, por exemplo, quando o seu trabalho de escritora não corria bem, quando não conseguia chegar ao que identifica como a “pureza no trabalho”, ela “separava-se lentamente de si mesma, e ficava a ver-se enlouquecer” (17). 69 Marías desenvolve a sua explicação deste processo estabelecendo uma comparação especialmente interessante para nós: “O presente do indicativo […] não é apenas utilizado para aquilo que é único, actual, imediato, para o que sucede neste momento (como acontece com as anotações teatrais e os guiões cinematográficos), mas também para o contrário, para o que se presume eterno e invariável ou pelo menos duradouro, para as afirmações que se pretendem imutáveis e definitivas, «Deus existe» ou «Deus não existe», tanto faz” (Marías 1998: 83). “Eu vejo-me sempre de fora… vejo-me a andar na rua, em vez de me limitar a andar na rua” (Inverness, 17). 70 81 A ‘diabolia’ das personagens, isto é, a sua divisão do Uno – sabemos que “[t]em algo a ver com os demónios” (id. ibid.) – permite-lhes a experiência extracorporal de observar a sua movimentação no cenário. Kate balbucia frequentemente um refrão em que é ela própria o termo de comparação: “Como Alice, ela caiu num buraco” (19, itálico nosso). Este ponto de vista descentrado, liberto do obscurecimento subjectivo, resulta numa valorização das superfícies especulares e da epiderme. Kate, a actriz de corpo oco de Inverness, na angústia de (não) ser ela mesma e na ânsia de ser outra (Jenny), tem de se valer da objectividade da representação teatral (em que se incluem os literais objectos da caracterização: o colar celta, o guarda-roupa de Jenny, a maquilhagem, o perfume, a coloração do cabelo, etc.), sabendo que “o que as tornava diferentes estava à superfície, e o que está à superfície pode ser representado” (63). Aquele ponto de vista diabólico, lugar-onde de uma perdição, dá aos observadores de si mesmos uma noção espacial do mundo em que habitam, ou do palco em que actuam, que, como veremos adiante, se desenvolverá numa curiosa perspectivação espacial do livro. Entre o facto de Clive, o escritor, ver as pessoas “como personagens das suas histórias” (37), isto é, apreender o mundo como matéria dúctil da ficção, e o facto de Kate sentir que, por todo o lado, “[h]á muitos espectadores” (79), ensaia-se uma escrita que se distende no espaço para modificar a realidade. Quando Clive escreve, algo “acontec[e] à sua volta”, e ele é colocado no centro da construção alegórica de um ‘escritor-aranha’ – sem dúvida dotado da percepção em teia de que falou James71 – para o qual “escrever” é uma actividade metafísica que transcende o acto em si mesmo: 71 Cf. p. 30. 82 – Pensei que era aqui que queria escrever os meus livros. – O centro da teia. – O centro da teia. – Um lugar sagrado. – Como um palco. Ela sobressaltou-se. – Como o quê? – Como um palco. – Sim… suponho que sim. – Um homem que trabalha com marionetas… que as faz, com madeira, tecido, tinta… – Tu não eras capaz. – Não com as minhas mãos. – Só quando escreves… – Mas não escrevo só quando estou sentado à secretária. – Eu sei. – Eu acho que queria ser tudo. O homem que trabalha com as marionetas, mas também uma marioneta. (119) Em Inverness, Clive é simultaneamente escritor, actor, encenador, marionetista e marioneta, e ainda bonecreiro. A sua escrita consiste, no fundo, na encenação de uma ‘realização literária’ através da qual ele monta cenários, concebe situações e dirige a actriz principal de acordo com as coordenadas visuais de uma mise en scène. O seu texto não é como um drama escrito para teatro, mas como uma forma imediata de ‘teatro escrito’. Também A.T. Pereira encena, paralelamente a Clive e, depois, a Kate, uma escrita da “ceno-grafia”, jogando com sobreposições frequentes entre a narração aparentemente heterodiegética e o discurso indirecto livre das personagens, a partir do ponto de vista – não necessariamente metafórico – de uma lente72. Mas é na espacialização da própria ficcionalidade que as duas novelas mais axialmente se encadeiam uma na outra, encadeando-se também com O Fim de Lizzie ou A Outra. Os textos confundem-se entre o nevoeiro que inunda o fim de Inverness, e que “Jenny com o cabelo preso na nuca e um vestido castanho, a olhar para além da câmara” (Inverness, 59). 72 83 engole Jenny (ou Kate) e o seu duplo, e aquele que se alastra nos espaços intersticiais de A Pantera, circundando e isolando as ilhas, os palcos e as bibliotecas, e conduzindo os actores na sua “viagem para a escuridão” (67). Este é um nevoeiro que, como temos observado, é um conceito constelar que se declina em muitos sentidos na ficção de A.T. Pereira, representando simultaneamente a fronteira e a ligação entre as coisas. O seu efeito de indefinição permite um encontro entre personagem e actor, original e duplo, e realidade e fantasia, que leva à desaparição dos dois elementos do binómio por um esbatimento – conceptual mas também visual – dos contornos. Em última instância, o nevoeiro não conduz ao apagamento, mas à dúvida, ao interstício caótico entre uma coisa e outra coisa, onde os contrários são possíveis, e a um espaço sideral da literatura onde as palavras soltas regressam a um estado pluripotencial. As peças de teatro, os poemas, a escrita e o fazer-de-conta ganham aqui o valor molecular das grandes massas solventes: “o nevoeiro ou o mar”, “[o]u a noite” (Pantera, 42-3)73. O livro começa “a tomar forma”, ainda antes de ser escrito, com as “palavras e as imagens, a ternura e o terrível” (9), e o autor desta escrita fenomenológica – verdadeiramente cinética – “transform[a] o lugar em que [se] encontra e o homem que está a olhar para [si]” (53). Já no diálogo filosófico de Poe sobre “the physical power of words” que citámos antes a propósito do valor metafórico do éter em O Fim de Lizzie, se fizera a pergunta: “Is not every word an impulse on the air?” (1984: 825). Em Inverness, Kate espiava Clive a escrever, “[c]om a sensação estranha de que algo estava a acontecer à sua volta” (84). Como os fios de uma teia que se estende, uma parte perigosa desta escrita “pair[a] nas águas” (Pantera, 77), e outra parte é 73 Na mesma linha temática, Ropars havia já apelidado o Sena de Aurélia Steiner (Melbourne) (1979), de Marguerite Duras, de “grand liquidateur d’images” (1990: 176). 84 apresentada como cartografia, modelo do mundo que o escritor apresenta a Kate, como o tabuleiro onde as peças se dispõem e ela tem de actuar para que a representação se inscreva: “Ele pôs os mapas em cima da cama. […] Para começar, a aldeia. A igreja, a casa do pároco. As lojas onde Jenny faz compras. E, claro, as pessoas” (Inverness, 59). Para reutilizar termos de Attridge, o “poder linguístico” está resumido nestas novelas a um equilíbrio precário entre “cognoscibilidade” ou “incognoscibilidade” do mundo, e os seus utilizadores, apanhados numa trama em que são tanto criaturas e personagens como criadores e autores, já filtram o real através de uma rede de elementos simbólicos, ingredientes de um eu que têm depois de reinterpretar de acordo com a distribuição dos papéis. Trata-se daquilo de que são feitas “as primeiras histórias”, as primeiras imagens e os primeiros cheiros, como descobre a protagonista de Inverness (99), para na novela seguinte concentrar toda a pulsão artística numa “imagem na mente” (porque, no drama logográfico, gráfico também significa visual ou pictural). Falamos de uma verdade produzida no colapso do binómio “memória e imaginação” (Pantera, 19), de que o resultado é a obra destes poetas “outrados”, ou a ficção profundamente en abyme de A.T. Pereira. Fazer a imagem (escrever/imaginar) é fazer o “acontecimento” (Janvier apud Martelo 2012: 26), na medida em que, como sugere a autora de O Cinema da Poesia à luz de Blanchot e Deleuze, estamos “ao nível de um «de-fora» da linguagem (que não lhe é exterior, mas que é a exterioridade da linguagem)” (id. ibid.). Neste sentido, Attridge reformulou a pergunta crucial da interpretação literária de, em tradução livre, “como ler um texto para entender o seu sentido”, para “como performatizar as relações que o texto estabelece com o poder linguístico” (2004: 98, 85 tradução nossa)74. O autor justifica a mudança da desencriptação do texto para a comparticipação do leitor, também ele “outrado”, do seguinte modo: [A]nything that language can do in the world may be performed in literature. In performing the work, I am taken through its performance of language’s potency; indeed, I, or the “I” that is engaged with the work, could be said to be performed by it. This performed I is an I in process, undergoing the changes wrought by, and in, the encounter with alterity. (id. Ibid.) Um dos aspectos mais interessantes de A Pantera é o facto de Kate recorrer a “uma linguagem secreta” (22), reservada para actos de fala performativos e um muito específico “tipo de «acção»” (Austin 1980: 110). Usado como língua estritamente simbólica, o gaélico é o idioma de maldições, orações, feitiços, magia e xamanismo: Repetiu as palavras em gaélico. Bhí na comhrá ardnósach seo faoi cheilt. Soavam a um encantamento. Kate sorriu. Quase todas as palavras em gaélico soavam a um encantamento. […] Ela sempre acreditara em magia. Era esse o seu trabalho. Transformar as palavras em maldições, em encantamentos. Geis. (100) De resto, e regressando às investigações etimológicas de Paul Zumthor, ter-se-á verificado até ao século XIII a associação do livro a práticas rituais que encontravam na ‘gramática’ um sentido de feitiçaria subsistente nas línguas modernas em determinadas Explorando uma ideia curiosamente próxima, Duras afirma procurar um “primeiro estado” do texto por oposição ao seu sentido, para o que recorre a uma comparação com a memória auditiva: “comme on cherche à se souvenir d’un événement lointain, non vécu, mais «entendu dire»…” (apud Ropars-Wuillemier 1990: 180). 74 86 derivações: “le mot grimoire, designant quelque recette de sorcellerie, vient du latin grammatica; et l’anglais, d’origine dialectale écossaise, glamour («charme», primitivement au sens le plus fort) a la même étymologie” (1987: 126). A incoerência que se poderia encontrar no facto de uma língua natural, o gaélico escocês, estar exclusivamente votada às práticas de “linguagens simbólicas”, das artes e do teatro, foi posta de parte por Todorov em observância às palavras de Artaud75. Além de introduzirem no texto narrativo, pelo menos para a maioria dos leitores portugueses, a ausência de sentido do que é ilegível, as frases e os versos em gaélico das falas e do pensamento de Kate, raramente traduzidos, oferecem ao discurso da personagem a materialidade e o mistério de uma cadeia fonética que vale por si, como a música ou a prosódia que nos contos de fadas se associam a palavras mágicas. Resta, no papel, a disruptiva superfície gráfica de um fundo de sentido que nos escapa: “Cuirim m’anam ar choimrí Chríost. […] Cuirim ann crann ar ar céasadh Críost idir mé agus an tromluí agus idir mé agus gach ní eile a bheadh ar mo thí” (27). Mesmo quando há tradução, aquilo a que se tem acesso está num interstício entre o desconhecido e algo que se furta à explicação: “«idir mé agus na tromluí». Entre mim e o pesadelo. Entre mim e o pesadelo. Ou o que quer que venha ao meu encontro” (id.ibid.). Enquanto escritora, a maior obsessão de Kate é o estatuto da linguagem, problematizado entre o processo de assombração que é o seu próprio trabalho, a eloquência dos actores ‘possuídos’ no teatro (por fantasmas de personagens feitas de “um conjunto de palavras” [46]), e “o silêncio pensativo, profundo” que o seu pai, dramaturgo, levava consigo para os lugares em que entrava (“o silêncio nascia dele” “[I]l n’est pas impossible de manier le langage verbal comme un langage symbolique. La différence est moins, nous l’avons noté déjà, entre deux types de langage indépendants, qu’entre deux conceptions de langage […] et par conséquent entre deux emplois (ou fonctions) du langage” (Todorov 1971: 220). 75 87 [16]), transportando o efeito do intervalo e do não-dito nas peças de teatro: a interrupção da linguagem como possibilidade de epifania, em que “as pessoas se lembrassem de qualquer coisa que tinham esquecido há muito tempo” (id. ibid.). Quando conheceu Tom, o actor por quem já estava apaixonada quando, em pequena, o via nas encenações de peças escritas pelo pai, Kate percebeu que havia palavras incomuns, não generalizáveis, que pareciam “escritas para ele”, assim como se apercebeu do poder da sua autoria, e da possibilidade de este lhe escapar ao controlo: – O poder das minhas palavras fará que venhas sempre ao meu encontro. – Mesmo que tu não o queiras. – Mesmo que conscientemente não o queira… – O poder das tuas palavras muda a aparência das coisas… – E a essência das pessoas. – Sim. Eu dou forma à tua alma, pensou ela. (55) No fundo, esta é uma replicação do comportamento literário do seu pai, uma espécie de master builder, como o da peça de Ibsen em que Kate inventou que tinha entrado76: um mestre construtor que, antes de empreender uma queda fatal, sobe ao ponto mais íngreme da sua torre, onde pode alcançar e fazer o “impossível”77. O pai de Kate, por seu lado, habita a torre de um castelo no centro de uma ilha onde só se chega, como à ilha lendária de Avalon, pela eterna solicitude de um barqueiro mudo, atravessando o nevoeiro numa viagem de meditação 78. A morada deste “Depois inventou as peças em que tinha entrado, The Tempest, claro, e The Glass Menagerie, mas também The Master Builder e The Three Sisters” (67). 76 “HILDE Foi assim que o vi durante estes dez anos. Como ele está seguro! […] Agora está a pendurar a coroa no cata-vento! RAGNAR Isto é como estar a ver uma coisa completamente impossível. HILDE Sim. Sim, é o impossível, o que ele está a fazer!” (Ibsen 2006: 320). 77 “Era uma viagem estranha, quase tão estranha como os seus pensamentos. Estava a atravessar o rio, estava a atravessar o lago, para um lugar que não conhecia, para um lugar que ninguém 78 88 dramaturgo, em contínua queda (em cascata) para dentro da sua construção, fica para lá do centro da imaginação de Kate, sua filha e personagem, que nas peças e nos poemas do pai se prendia sempre a determinadas palavras, como “neve” e “lilases”. Mas também além da memória de Tom, por sua vez personagem de Kate (“fantasmas dentro de fantasmas” [67]), na mente do qual ela mergulha, desenvolvendo o motivo do afunilamento que é afinal uma circularidade: “Na infância dele havia um jardim que levava a um campo, que levava a um bosque, que levava a um pequeno cais onde a família tinha dois barcos”, que, naturalmente, levavam “à outra margem do lago”, para lá da “cortina de salgueiros”, “no meio do nevoeiro” (69), até à morada do dramaturgo. Tal como antes fizera Clive, em Inverness, e tal como aprendera do pai, um escritor mago-xamã, que lhe contava em pequena uma história “para fazer nevar” (70), Kate instrumentaliza e subjuga o real a um objectivo puramente literário79, envolve-o em encenação, em prol do literário (“Ela aguardara uma tarde de nevoeiro para deixá-lo. Era bom para o seu livro” [81, itálicos nossos]), e encontra, inspirada na personagem de Larry, em The Iceman Cometh, de Eugene O’Neill, uma alternativa à morte, ou, uma vez mais, uma maneira de ganhar a vida, em “escrever peças” (59). Clive, a figura mais marcadamente fáustica destes textos, confessa que “venderia a alma ao diabo para não deixar de escrever” (Inverness, 30). Kate está a escrever precisamente A Pantera, a mesma história que nós estamos a ler, “sobre a casa e o lago, e as histórias que [Tom] lhe contava, os papéis que interpretara, as memórias de infância”; ela “[e]screvia sobre eles dois juntos” (60). Isto conhecia, mas as pessoas diziam que ficava sempre a noroeste. O homem que remava com firmeza conservava-se em silêncio, e ela também não sabia o que dizer” (27). “Porque ele estava apaixonado. Kate tinha consciência disso. Pensou que era bom para o livro” (52, itálicos nossos). 79 89 faz dela um figura ‘avatárica’ de A.T. Pereira, ou, pelo menos, um elemento de inclusão/eclosão do autor dentro do próprio texto. Mas esta coincidência traz mais implicações. Inspirada no filme Track of the Cat (1954), de William A. Wellman, em que uma pantera nunca realmente vista deixa sobre a neve os indícios aterrorizadores da sua presença, Kate entrecruza a sua narrativa com uma espécie de mitografia felina que toma a forma de um poema em inglês que assoma pontualmente no texto: Kate estremeceu a primeira vez que pensou nisso. Uma frase solta, talvez um verso: “and I felt the smell of the panther”. I went to the porch, that was no longer a porch, open and lonely, part of the night, and I felt the smell of the panther. And I followed the smell of the panther. (40, por exemplo) 80 A caminho do fim da novela, junta-se a esta ameaça uma outra, um fundamental susto caligráfico (o momento de crise no drama logográfico da novela) nas páginas do manuscrito em que Kate está a trabalhar. Ela já havia confessado anteriormente que: Quando estava a escrever, quando estava a escrever fluentemente […], tinha a sensação de que aquele era um estado de consciência alterada. Não precisava de drogas para o induzir. […] Ao fechar o caderno, quase não recordava o que tinha escrito. Não era de estranhar que as anotações nas margens fossem tão enigmáticas. […] Uma escrita simples mas não seca, imagens fortes, e a presença do que não estava escrito. (76-7) 80 Embora tenham sido envidados todos os esforços, não conseguimos encontrar uma origem alheia, em fontes históricas ou literárias, para esta ‘ode à pantera’ em língua inglesa, o que nos leva a deduzir, embora não a afirmar, que se trata de uma criação original de A.T. Pereira. 90 Mas, depois de o próprio livro irromper com o corpo de uma pantera, ela percebe que a “assimetria” (67) que encontrava nele se deve a uma autoria partilhada: E o livro estava ali, e quando aproximou as páginas abertas do rosto e sentiu o cheiro da pantera. E era um cheiro quente e doce. Um cheiro vivo. Ela criara uma coisa. (88) Procurou as anotações nas margens. Agora, curiosamente, sabia quais as que escrevera. E havia as outras, que alguém escrevera, e que eram muito enigmáticas. Ela não entendia o seu sentido, nunca entenderia. As mensagens dele. (91) A Pantera parece assim uma extrapolação directa das interrogações de “The Tyger”, de William Blake81, sendo que a construção animista deste ‘livro-pantera’ obriga a uma releitura quer da novela, quer do poema do autor inglês. O que parece ficar sublinhado na sua articulação é o entendimento de ambos enquanto obras de questionação da autoria, nas quais o sujeito da enunciação se relaciona intimamente com a criatura felídea82. Kate expressa-se como se não tivesse tido qualquer intervenção em tudo o que acontecera, relegando a Tom, embora no fim isso fique por esclarecer, a disposição das peças do jogo: “Pergunto a mim mesma se ele escolheu os dias. Os dias de sol e os dias “Tyger Tyger burning bright,/ In the forests of the night:/ What immortal hand or eye,/ Dare frame thy fearful symmetry?” (Blake 1970: 42, vv. 21-4). 81 Esta linha de leitura recorre em muitos diversos críticos de “The Tyger”. Harold Pagliaro, por exemplo, centra-se na evidente disparidade entre a linguagem verbal do poema e a ilustração que o acompanha para chegar a uma relação iluminante: “«The Tyger,» speaker, Tyger, Creator, and Lamb are in the first instance supposed to be very different. But the perceptual progress of the speaker, as it is indicated by his questions about the Tyger’s Creator and the Lamb’s, implies the inaccuracy of this initial view. The speaker of «The Tyger,» who begins by seeing the Tyger as a unique terror, recognizes in the course of his thinking that he, with the rest of creation, is himself the Tyger in some sense” (Pagliaro 1987: 87-8). 82 91 de nevoeiro. As primeiras horas da manhã e o crepúsculo vermelho. Como se pintasse o cenário. Ele trabalhou nisso, pintar cenários…” (95). Nos mesmos moldes, talvez o eu lírico de Blake, quando se dirige ao Tigre, se esteja a interrogar a si próprio sobre que mão terá enquadrado a terrível simetria daquele poema, nomeado “Tigre” como este foi “Pantera”, ao mesmo tempo que relega a um inominado a responsabilidade de uma criação que, inadvertidamente, produz o mal. Então, além de como uma ponderação acerca da coexistência de realidades antagónicas na esfera terrestre (o bem e o mal, o cordeiro e o tigre), o poema de Blake pode ser lido como a imagem do espanto do autor perante a sua obra, e o que ela pode ter de inesperado e de indómito – constituindo-se como “cela même qui sans cesse remet en cause toute origine” (Barthes 1984: 67) –, de tal forma que conduz o poeta a um questionamento do seu próprio estatuto e a um distanciamento de si que expõe o seu pecado de atrevimento e a sua vulnerabilidade perante o que, depois de feito, o ultrapassa: o enigma de uma superfície inteligível e perfeita, de temerosas simetrias, e do que ela pode esconder. Falamos, claro, do intervalo – “entre mim e o pesadelo” 83 – em que o poeta é leitor da sua obra. No fundo, este encontro permite-nos comparar ou resumir A Pantera a uma lição de escrita e de leitura. Depois do caos discursivo que vai encerrar a novela, toda a matéria narrativa é misturada e rearranjada sob a forma de um último livro, “a novela de Kate” (114), dado a ler a um interveniente epilogal, um “espectador” chamado Byrne que, além de Gabriel Byrne, o actor irlandês cuja figura já foi chamada a participar de outras ficções de A.T. Pereira 84, pode representar-nos, ou representar a personagem do 83 Cf. p. 87 (Pereira 2011a: 27). 84 Ele é, por exemplo, o ‘protagonista’ de Se Nos Encontrarmos de Novo (2004). 92 leitor, à qual resta fazer o seu próprio caminho de (re)conhecimento (logos) por entre os despojos (gráficos) que se lhe apresentam, as pegadas da fera, as terríveis simetrias. Respondendo a Blake, tornou-se claro, por fim, que “[o] mistério estava no livro, em cada linha, em cada página; e do outro lado das palavras” (81). 93 3.2. Alice do outro lado do Lago Plus nous voyons des choses dans une oeuvre d’art, plus elle doit faire naître d’idées; plus elle fait naître d’idées, plus nous devons nous figurer y voir des choses. Gotthold Ephraim Lessing Laocoon Na abertura de O Lago, Tom recorda um princípio poético: “dirigir uma peça ou um filme é procurar algo de tímido e interior, escondido nos bosques do nosso ser” (11). Este afirmação veicula pelo menos três dados essenciais a considerar na nossa leitura: a criação artística será aqui, como tem sido nos textos analisados anteriormente, o motivo predominante; a ideia implícita de ‘ficção’ corresponde a uma invariável de expressões variantes, assimiladas na sua ‘performatividade’ comum, reflectida no verbo de acção (“dirigir uma peça”, “dirigir um filme”, ou, acrescentamos, escrever um livro); e, por último, a criação será entendida como um fenómeno de cariz ontológico, uma escavação no “interior” do sujeito criador, com vista à desocultação do que já é latente e constitutivo dele mesmo. Será por esta razão que mais tarde se adivinha, na síntese das actividades criativas de Tom, o artista completo, a possibilidade de uma solipsística e radical ‘auto-bio-grafia’: – Tu escreveste a peça, fizeste uma grande parte do cenário com as tuas mãos, compuseste a música da abertura e és o actor principal. Talvez um dia escrevas uma peça só com uma personagem, um cenário inteiramente feito por ti. E não precisarás de mais ninguém. […] – Isso estaria demasiado próximo da vida. (25) A metáfora visual na base destas ideias estabelece ligações entre o texto e uma estrutura imagética com um efeito modalizador sobre a nossa leitura. Referimo-nos, 94 portanto, a uma experiência visual de ler que está “muito para além do cinematográfico da história” (Magalhães 2000: 1). Por um conceito como o de “escrita cinematográfica” se revelar aqui insuficiente, voltamos a referir-nos a uma escrita eminentemente visual, que se desenvolve na exploração de figuras – “imagens de sonhos” na acepção de Lucrécio, segundo Auerbach (1984: 17) – de origem própria ou alheia, pictórica, cenográfica, cinematográfica, literária ou real, num processo que podemos definir genericamente como imaginação por palavras, e que encontra uma descrição possível num documentário dedicado a Pierre Klossowski que começa com uma introdução muito pertinente para o nosso argumento, ligando livro e palco, seguida pelas palavras do próprio sobre o papel das imagens na sua mundividência e praxis artística: “Pour Pierre Klossowski, la littérature est un théâtre et le livre une scène. […] KLOSSOWOSKI: «Je me trouve sous la dictée de l’image. C’est la vision qui exige que je dise tout ce que me donne la vision»”85. Muito mais do que sobre uma ideia de texto fundamentalmente sintáctico, o texto de A.T. Pereira constrói-se à luz de uma concepção xadrezista de linguagens ‘multimediais’ convertidas em literatura, com organização sintagmática e representação e interpretação predominantemente figurais e, em certa medida, reusando o termo de Auerbach em Mimesis, “omnitemporais” (2003: 161). Tal como o “além” concebido por Dante Alighieri na Divina Comédia, as convenções da sua composição literária procuram um “figural realism”, e, por implicação, um “overwhelming realism” (Auerbach 2003: 196-7). Esta será uma forma de realidade excessiva, transbordante, que, sublinhamos, não está de modo nenhum relacionada com os critérios de verosimilhança do Realismo oitocentista. Na verdade, 85 Pierre Klossowski, un écrivain en images (1996), Dir. Alain Fleischer, 47 minutos. DVD, Paris: Centre national de la cinématographie, 2008. Transcrição nossa. 95 este realismo mais do que real86 apresenta-se, segundo o mesmo autor, como “eternal and yet phenomenal; […] changeless and of all time and yet full of history” (197). Como vimos em A Outra, através da aproximação a Marguerite Duras, este dispositivo de operações literárias, dotado de um carácter autotélico, justifica o recurso abundante à não-frase e ao sintagma nominal, neste caso indefinido, isolado ou em cadeia agramatical, traduzindo-se em imagens que se associam à função mnemónica e significante do sujeito: Memórias. Tinha de encontrar um sentido para o que estava a acontecer. Algumas imagens soltas. Uma pintura em madeira, uma madona numa árvore. Um ícone de bronze que alguém punha numa mala antes de viajar. Uma pequena árvore de fruto. Mas a árvore de fruto estava num quadro. Um teatro. (115) Para A.T. Pereira, a experiência da arte, que se confunde “visceralmente” com a da vida87, parece pois sincretizar-se em fazer imagem, e, nesse sentido, a sua idealização do artista – transversalmente “plástico” – parece coincidir com a de Varro 88, mas também com a que a própria autora associa, em Num Lugar Solitário, a Duras: “Você está apaixonado pela Marguerite Duras. […] – Sim. O amor é uma busca de imagens. A vontade de recriar uma cena” (1996b: 28). Este grau superlativo da realidade, que não tem lugar no mundo mas apenas num “além” poético, foi acutilantemente afirmado por Baudelaire em, por exemplo: “La Poésie est ce qu’il y a de plus réel, c’est ce qui n’est complètement vrai que dans un autre monde” (Baudelaire 1968: 103); e continua a ser um conceito importante no pensamento crítico mais recente associado ao figural, como no ensaio de Olivier Schefer anteriormente citado: “le figural se veut bien plutôt expression d’une réalité en excès, en débordement sur l’ordre discursif et intelligible” (1999: 916, itálicos nossos). 86 87 Cf. p. 27, Nota 25. Na tradução de Auerbach: “The image-maker (fictor), when he says fingo (I shape), puts a figura on the thing” (1984: 12). 88 96 Pensando a transitividade entre a experiência sensorial humana e, digamos, a sua expressão, enquanto algo próximo de um “devenir texte” (Calle-Gruber 1993: 32) – ou “le surgissement à l’état de veille d’une vive et précise vision intérieure qui demande à voir le jour” (Robbe-Grillet, Angélique [125], apud Calle-Gruber) –, tal como víramos no subcapítulo 1.1 colocado por Henry James, percebemos melhor a dimensão reveladora do episódio inicial, em que Tom, confrontado com a imagem em palco de uma candidata em audição para um papel na sua peça, deixa de ver a imagem matérica como ela se lhe apresenta para passar a ver a imagem imaginada do que ela (não) é: E então, quase sem se dar conta, Tom começou a vê-la. Não era uma verdadeira loura. O seu cabelo era castanho. Os seus olhos, os seus olhos cor de avelã, tinham muito de verde. O cabelo castanho, um corte diferente, um vestido verde, solto e um pouco abaixo dos joelhos, sapatos pretos, rasos. (12) Tom interpreta a visão que tem de Jane como o que ela já é potencialmente: uma actriz sob a sua direcção, na qual espera operar um efeito cosmético ‘artificializante’89, e também uma personagem, desde logo atingida de uma crise pirandelliana da existência (“a simples dor de estar vivo” [11]). A ficção de Tom, reescrita e encenada na narrativa que progride com a nossa leitura deste livro en abyme, insiste nas multiplicações do mesmo pelo mesmo, respondendo ao estatuto ‘elevado ao quadrado’ de todos os elementos centrais: o sonho do sonho, a imagem da imagem, a personagem da personagem, a representação da representação. Para poder dedicar-se à escrita e à encenação, Tom, que antes entrava também em palco, contrata um actor profissional para ocupar o seu lugar. Porém, a sofisticação de 89 Este neologismo é inspirado na articulação de Charles Baudelaire, em Le peintre de la vie moderne, entre a arte e a maquilhagem, por oposição ao que é natural e, portanto, contrário ao belo (cf. Baudelaire 1885: 99-103). 97 tal tarefa escapa inicialmente ao substituto. Quando este confronta Tom com a afirmação: “Na verdade, queres que te represente a ti” (25), o seu contratante corrige-o: “Quero que me representes a representar a personagem” (26). Este intervalo axial entre as coisas e elas mesmas faz com que ver Jane implique, para Tom, um ajustamento anamórfico da perspectiva inverso àquele que nos mostra Hitchcock em Vertigo (1958). Se ela é posteriormente comparada a Audrey Hepburn, dona do rosto “substancial” definido por Barthes como “Acontecimento” (1957: 65-7), as duas figurações que primeiro apresenta são claras reminiscências daquele filme, mas com uma mudança no que toca aos papéis de original e substituta. Aqui, a loura aparentemente original (equivalente de Madeleine) é obrigada a reverter para a morena (“voltar à cor original” [30]) de vestido verde (como Judy, quando Scottie a vê pela primeira vez), que no entanto ela já é em devir, segundo o olhar penetrante, reorganizador (e autoral) de Tom. O seu grande papel é o de ser outra quando, enquanto criatura de ficção, coincide fatalmente consigo mesma (essa outra), pelo duplo recorte e pela ambivalência com que foi criada. Lembremo-nos do primeiro título de A.T. Pereira, Matar a Imagem – a imagem que está no espelho. Tal como acontece com Scottie, a pulsão escópica de Tom “desdobra-se”, e “aquela «imagem dentro da imagem» […] encaixa uma imagem fixa numa imagem móvel”, e ‘sobreimprime’ no objecto visado o seu destino fatal, já que “à imagem móvel corresponde a acção, o movimento, a vida; à imagem fixa, a morte” (Stoichita 2011: 204)90. É ao remover a primeira camada do corpo visível de Jane que se tem acesso à sua parcela, ou verdade, mais intrínseca, e a qual, ironicamente, ela será coagida a Não obstante Stoichita estar a reportar-se especificamente à tensão entre a “imagem-movimento” do cinema e a imagem fixa da pintura, consideramos o passo citado, dada a natureza complexificada do texto de A.T. Pereira, também pertinente neste contexto. 90 98 representar. Assim sendo, esta é uma personagem paradoxalmente construída pela extracção da essência para o nível da epiderme, ou seja, por vampirismo ou morte. As dramatis personae desta peça de teatro em modo narrativo são a um tempo objectos e agentes de uma estética não-mimética, de tal modo consciente da verdade de ser uma ficção que se pode dedicar apenas à continuação de realidades assente em ideias de plasticidade e coreografia de simulacros, para o “outro lado” (107), o espaço vazio entre “um mundo dentro do mundo” (83) e os “teatros”, que são “espaços sagrados. Fechados em si mesmos. Fora do mundo” (50)91. Talvez se possa afirmar que o estágio ficcional a que chegaram os textos e as categorias da narrativa na obra de A.T. Pereira deriva directamente do corte “escritural” com o nível “representante” da literatura que, em 1970, Julia Kristeva situou no final do século XIX (“Rabelais, Swift, Dostoiévski”), para ir ao encontro do que a mesma autora chama “romance polifónico moderno”, de estrutura carnavalesca, que se faz “«illisible» (Joyce) et intérieur au langage (Proust, Kafka)” (1970: 92-3). Ao encontro da noção de “alteridade” de Attridge, Kristeva explicou, no que parece um desenvolvimento da teoria de Barthes da despersonalização ou da morte do autor (concebida, desta feita, como textualização), que no romance polifónico moderno (a que também arrisca chamar “poligráfico”), o autor se dobra sobre si mesmo enquanto sujeito escrevente e leitor, tornado um texto que se relê e se reescreve a si mesmo 92. Na ficção não-imitativa de A.T. Pereira, os actores de O Lago têm de merecer a existência na sua condição absolutamente literal de “becomers” (105), ou seja, têm de 91 Sobre este tópico, v. Reis 2014: 37. “Dans la structure romanesque plyphonique (polygraphique?) le premier modele dialogique (S – D) se joue entièrement dans le discours qui écrit, et se presente comme une contestation perpétuelle de ce discours. L’interlocuteur de l’écrivain est donc l’écrivain lui-même en tant que lecteur d’un autre texte. Celui qui écrit est le même qui lit. Son interlocuteur étant un texte, il n’est lui-même qu’un texte qui se relit en se réécrivant” (Kristeva 1970: 96). 92 99 assumir a função para que nasceram, e que lhes aportará o mesmo castigo e o mesmo pecado do conhecimento que afectaram o Homem afastado do Paraíso inerte. O processo gnóstico fundamental por que têm de passar foi formulado em A Outra como “a aprendizagem «da importância dos substitutos»” (47). Em O Lago, Tom afirma: “Quando estou a representar sou eu mesmo”; Jane confirma: “Só quando estás a representar” (105). Assim, assumir a identidade de personagens é de tal forma um processo material que a identidade em si atinge a mensurabilidade de uma massa; de tal forma que a dada altura Jane pode surgir no palco com “uma concentração de ser” (62). A retórica contra a imitação que vamos encontrar nesta novela reforça que “representar” tem aqui um sentido substancialmente diferente do imputado por Kristeva ao romance dialógico anterior ao século XX, e retoma o primado platónico de O Fim de Lizzie, que procura a legitimação e a verdade da cópia enquanto matéria convergente da natureza, ou inseparável dela, (“[Tom] não separa o palco da vida” [56]) e completude metamórfica, isto é, “não algo de perfeito, mas algo de inteiro” (24), que nasce do delirante, “psicopata” (24) e “fanático” (27) gesto criador que interfere no real para o revelar como obra sua: O vislumbre da personagem que tivera quando a rapariga estava a ler. Mas as respostas estavam certas: uma casa no meio de um campo de narcisos, a criação do mundo nas aguarelas de Turner, o mistério das livrarias do West End. E o rio. […] Desta vez quero the real thing. Não uma imitação barata. Mas, se a queria mesmo, tinha de criá-la. Ele criara-a no papel. Agora precisava de um corpo. Material para ser modelado. (14) Se estamos perante uma estética baseada na força (Álvaro de Campos), ou, como explicou Artaud, na “legge de la Forza” (Cappa 2004: 47), na enargeia da representação 100 que transforma o enunciado em “imagem”, pondo diante dos olhos o que é descrito (cf. Krieger 1992: 93 et seq.)93, ou na “crueldade” do teatro no seu drama essencial, associado ao “second temps de la Création, celui de la difficulté et du Double, celui de la matière et de l’épaississement de l’idée” (Artaud 1985: 77), então, a posição do criador é também posta em xeque. Já não afastado, mas interveniente, performer no drama em que Deus emudeceu 94, ele é um actor que se tem de ajustar ao papel de demiurgo, e, cumprindo a falta prometeica a que é destinado, é substituto daquela figura arquetípica, ela própria uma máscara sucessivamente ‘recorporizada’ nos seus representantes e ‘descorporizada’ na efemeridade de todos eles. Não por acaso, encontrámos o motivo de um rosto impermanente como metonímia da personagem, ou da metamorfose em personagem, perfeitamente desenvolvido em O Rosto de Deus: Abriu um livro e tentou ler. Era A Mulher de Branco […]. Lembrou-se de que Tom o comprara no original há algumas semanas. No dia em que lhe tocara no rosto como se o criasse de novo. Passou a mão pelo rosto, tentando reviver aquele contacto. Mas não sentiu nada. (177) Relacionando-se retrospectivamente com uma epígrafe, de Iris Murdoch (“He called himself a maimed monster and said he felt he was crammed with demons” [77]), este rosto de deus torna-se afinal desfigurado, e o que ele encobre é a condição monstruosa e multiplamente possuída da sua persona. Na mesma ordem de ideias, o escritor de O Lago, e, por implicação, A.T. Pereira, perceberá, por fim, que “não há “Longinus […] now is turning to «images,» an appropriate term for the visual appeal of the figure the ancient rhetoricians called enargeia” (id. ibid.). 93 “Havia um mudo, que era Deus, e não tinha ninguém com quem falar. Deus não tem ninguém com quem falar” (116). 94 101 qualquer diferença entre escrever e representar” (105), ou entre escrever e ser um actor que encarna por algum tempo, “demoniacamente”, a personagem do autor. A esquizofrenia controlada entre actor e autor, termos propícios à confusão fonética e semântica (actor e auctor) (Kristeva 1970: 98), evidencia o processo de construção dessa figura como “sujet RHÉTORIQUE (acteur du récit) et sujet LITTÉRAIRE (auteur du roman)” (id. 99), e reveste-se de um cunho ritualístico que reverbera também nas declamações encantatórias de A Pantera, na forma da oração de Miguel Ângelo: “Senhor, liberta-me de mim mesmo […] [p]ara que eu possa servir-te” (66). A oração, proferida tanto por Jane como por Tom, coloca-os numa espécie de pé de igualdade existencial, e se é indubitável e explícito que a personagem feminina é uma Galateia nas mãos do escritor (“Sempre o seduzira a história de Pigmaleão”, “só podia amar de facto um ser criado por ele” [26], e “ela era, de certa forma, a sua criatura” [84]), a posição de poder de cada um é complexificada na própria estrutura binária da narrativa, organizada num número par de vinte capítulos focalizados alternadamente numa personagem e na outra. A suspeita de que a criatura indómita – a pantera – possa intervir mais do que o esperado na criação adensa-se quando descobrimos que também Jane “[p]assara duas noites sentada à mesa da cozinha, […] a escrever a peça num caderno” (53). Deixando por agora de lado a hipótese de ser Jane a autora daquela história, numa replicação do problema da co-autoria de A Pantera, o casal de O Lago parece sintetizar os pares, que se podem organizar essencialmente em escritor/actriz e escritora/actor, das duas novelas precedentes neste estudo, e na sequência da rarefacção das personagens nas três histórias de O Fim de Lizzie, aqui anunciada como um destino: “Ed dissera que um dia [as peças de Tom] teriam apenas uma personagem. Esta tinha duas” (26). 102 Por outro lado, a ambivalência discursiva criada pelos dois polos narrativos (o da ‘criatura-actriz-escritora’ e o do ‘criador-escritor-actor’) denuncia o perigo acarretado pela representação e a iminência do seu descontrolo, que põem em causa a estabilidade do próprio texto em que os actuantes participam, também ele irresolvido e geograficamente projectado para um ponto de não retorno, para além das fronteiras da ficção: – E se um dia eu não conseguir voltar? – É um risco que corres. – Ficar sempre lá. – Não é um lugar muito mau. – Um alpendre no meio da neve. – E um lago. (67, itálicos nossos) Numa curiosa sinédoque e intersecção bibliográfica, Jane ganha a memória e o sonho, isto é, aquilo a que chamaríamos o retrato psicológico da personagem, que terá depois de representar devidamente, ao mesmo tempo que introduz na novela que nós próprios estamos a ler o problema da intertextualidade “como tal” (Kristeva 1970: 93), por uma simbiose com The Other Side of the Tunnel, de Carol Kendall: “Ao amanhecer, pensou que a peça [O Lago] e o seu livro de infância tinham entrado um pelo outro, e que já não era possível separá-los. E ela era a protagonista dos dois” (45). Esta permeabilidade do texto fora conceptualizada desde cedo nas referências, agora implícitas, aos romances da Alice, de Lewis Carroll, de tal maneira que ser personagem pode significar “pass[ar], completamente, para o outro lado” (21). Diante do espelho, Jane percebe que “nunca se perdera daquela forma numa personagem. Era como se já não estivesse ali” (65). O lago trazido de A Gaivota, de Tchékhov, superfície reflectora e campo de atracção suicida, é o fundo de “um buraco no universo” (27) que, oferecendo-se à queda, dá acesso a “um lugar fora do mundo” (72), e é ainda como que 103 uma membrana transparente entre o cenário e “todos os mundos para onde”, através dele, “[se pode] ir” (96). Para A.T. Pereira, o espelho da arte já não apresenta um reflexo numa superfície obdura, ou uma “imitação barata” (14), mas um simulacro que ganha corpo (“carne”) num mundo paralelo e transitável, uma carne-simulacro que constrói uma língua sua, “che pretende una vicinanza alla língua divina”, e que “non subisce la separazione che sempre si dà fra conoscenza e vita, fra parola e cosa” (Cappa: 48). O objecto reflector, nas suas várias configurações, altamente embrenhado em simbologia, representa a possibilidade de passagem a uma dimensão em que a ficção é “the real thing”, como Alice – a presença mais marcada no subtexto de O Lago, depois de ter sido mencionada em A Pantera – teve oportunidade de aprender. Alice não só identifica nos elementos da “aborrecida realidade” uma permuta directa com os do “País das Maravilhas”, sublinhando, ao invés do antagonismo, a transitoriedade total na relação especular entre os dois mundos, como se refere a este último em termos nostálgicos, como o lugar aonde se pode regressar através da simples credulidade e de um fechar de olhos95. Será proveitoso determo-nos mais longamente em Lewis Carroll e na influência que exerce na escrita de A.T. Pereira, tendo em conta que ele é pouco mencionado na bibliografia crítica sobre a autora, e, no entanto, é autor de uma obra cuja memória é aqui decisiva. Isto faz-se sentir, primeiramente, num efeito de credulidade perante a fantasia, associado nos dois escritores aos processos mentais, oníricos, da infância, que “So she sat on, with closed eyes, and half believed herself in Wonderland, though she knew she had but to open them again, and all would change to dull reality […] – the rattling teacups would change to tinkling sheep-bells, and the Queen's shrill cries to the voice of the shepherdboy – and the sneeze of the baby, the shriek of the Gryphon, and all the other queer noises, would change (she knew) to the confused clamour of the busy farm-yard – while the lowing of the cattle in the distance would take the place of the Mock Turtle's heavy sobs” (Carroll 2001:131-2, itálicos nossos). 95 104 ultrapassa em larga escala qualquer circunstancial suspension of disbelief aquando da fruição estética, para ser, em boa verdade, e como já tivemos ocasião de observar entre as crianças de O Fim de Lizzie, uma acção na afirmativa, isto é, não suspender a descrença, mas acreditar continuamente como única via de compreensão do mundo: “Ela sempre acreditara na existência de Nessie, sempre o procurara nas águas geladas do Loch. Ela também acreditava que havia monstros em todos os lagos. De outra forma, onde se esconderiam os monstros?” (Inverness, 25). Mas é ainda no sonho que nos devemos deter com mais atenção, já que em Carroll ele tem contornos muito semelhantes aos que assume nos versos de Poe que orientaram antes a nossa leitura das narrativas encaixadas de O Fim de Lizzie. Perante a conclusão a que chega Alice, depois de despertar, de que “the whole place around her became alive with the strange creatures of her little sister’s dream” (Carroll 2001: 131), Martin Gardner identificou um “dream-within-a-dream motif” em que o sonho de O Lago também se inscreve claramente96. De Tom ser “representado a representar” (26) por Kevin, a ele sonhar “com as personagens que interpretava, com as personagens que criava” (54), e a Jane, personagem sua, ganhar acesso, como veremos adiante, ao mais profundo da consciência do seu autor, deparamos em O Lago com uma estrutura semelhante aos sonhos encaixados que Carroll engendrou, uma estrutura traduzida na imagem do “Both Alice adventures are dreams, and in Sylvie and Bruno the narrator shuttles back and forth mysteriously between real and dream worlds. «So, either I’ve been dreaming about Sylvie,» he says to himself early in the novel, «and this is the reality. Or else I’ve really been with Sylvie, and this is a dream! Is Life itself a dream, I wonder?» In Through the LookingGlass Carroll returns to the question in the first paragraph of Chapter 8, in the closing lines of the book, and in the last line of the book’s terminal poem. An odd sort of infinite regress is involved here in the parallel dreams of Alice and the Red King. Alice dreams of the King, who is dreaming of Alice, who is dreaming of the King, and so on, like two mirrors facing each other, or that preposterous cartoon of Saul Steinberg’s in which a fat lady paints a picture of a thin lady who is painting a picture of the fat lady who is painting a picture of the thin lady, and so on deeper into the two canvases” (Gardner in Carroll 2001: 198, Nota 10). 96 105 mergulho interior, com Alice a “fechar os olhos” e Tom a procurar o “centro do bosque” (125) nos “bosques do nosso ser” (11), como na queda do master builder de A Pantera. Esta ideia foi muito curiosamente aproveitada na advertência da abertura da adaptação de Jan Švankmajer, Alice (1988), em que, contrariamente ao expectável num filme, o espectador é instruído a fechar os olhos para uma correcta visualização: “Now you will see a film… made for children. Perhaps. But I nearly forgot! You must… close your eyes. Otherwise… you won’t see anything”97. Neste particular, entramos uma vez mais, no caso de A.T. Pereira, no tema do espelho como meio de transporte, e na transformação profunda dos modos de representar em literatura trazida pelas “teorias expressivas” da crítica romântica, tal como circunscritas no estudo angular de M.H. Abrams (1971). O autor observa que, ao deixar de ser encarado como um reflexo da natureza, fosse ele fiel ou fosse ele aperfeiçoado, “the mirror held up to nature becomes transparent and yields the reader insights into the mind and heart of the poet himself” (23). O primado platónico que conduzia O Fim de Lizzie será pois retomado aqui numa retórica de apego a um real que deve vencer a “imagem”, de tal modo que o problema não se coloca entre representar ou não um papel, mas entre representar a personagem ou ser a personagem “durante o dia inteiro” (111), exigindo-se desta personagem que ela tenha “força suficiente para manter a sua realidade” (91, itálicos nossos). Uma certa ‘matéria negativa’, figurada no vazio da “fenda” (Pereira 2011a: 23) e do “buraco” no universo, reflectida num “fora” do mundo, num lá (um Horla), e num “outro lado” indefinidos, não só faz parte da falha constitutiva de um texto que é, à maneira programática de A.T. Pereira, inacabado e feito também de lacunas, no qual o Něco z Alynke [literalmente, Algo de Alice] (1988), Dir. Jan Švankmajer, 86 minutos. Disco Blu-ray, s.l.: BFI Video, 2014. Transcrição das legendas oficiais em inglês. 97 106 nada e o silêncio (o “ilegível” [Kristeva 1970: 92]) têm valor material, como evidencia também a “máquina combinatória” e a “endogénese” (Todorov 1978: 42) que lhe estão na origem, e que, com base numa ideia de construção parcelar, possibilitam a divisão e a falha. Num ensaio dado a público inicialmente sob a forma de palestra, Italo Calvino formulou de diversas maneiras, ainda antes de Todorov, a ideia de um “jeu combinatoire des possibilités narratives”98. Mais tarde, o mesmo autor recorreria a uma analogia idêntica à que no início vimos posta em prática pela poetisa de “Forget-me-not”: “un altro mio libro, Il castello dei destini incrociati, […] vuol essere una specie di macchina per moltiplicare le narrazioni partendo da elementi figurali dai molti significati possibili come un mazzo di tarocchi” (Calvino 1988: 117). Tom, por seu lado, construía “o puzzle […] na sua mente” (117); um puzzle incompleto, em que “cada peça” que se juntasse para “encontrar algum sentido […] podia ser a última e revelar algo de terrível” (120). Esta ars combinatoria reconvertida aos moldes de A.T. Pereira já ocorrera antes como uma espécie de lei de Lavoisier do escritor e da actriz: – O meu trabalho também é a minha vida. – Criar algo que não existia antes. – Não criamos nada. Juntamos coisas. – Juntamos coisas diferentes. – Ou as mesmas coisas de forma diferente. (63) “Une des expériences intellectuelles les plus ardues du Moyen Age connaît seulement aujourd’hui sa pleine réalisation: je veux parler de l’ars combinatoria du moine catalan Raymond Lulle”; “l’acte d’écrire n’est qu’un processus combinatoire entre des éléments donnés”; “[l]e processus de la poésie et de l’art, dit Gombrich, est analogue à celui du jeu de mots; c’est le plaisir infantile du jeu combinatoire qui pousse […] le poète à tenter certains rapprochements de mots”; “la littérature est, certes, un jeu combinatoire qui suit les possibilités implicites à son propre matériau” (Calvino 1984: 13, 15, 21, 24, 25). 98 107 A adição de peças à estrutura de O Lago, análoga do mapa onde coubera antes todo o cenário de Inverness99, participa de um princípio de revelação da escrita que se propõe acompanhar ritmicamente a actuação das personagens e a nossa leitura do texto, não se furtando ao significado nem se subjugando a ele: “O sentido está debaixo da superfície e deve emergir gradualmente” (42). Esta ideia de emersão do sentido, ao invés da sua imposição, já de certa forma importante para Antonin Artaud, porquanto não colocada exactamente nestes termos, foi lapidarmente veiculada por Alain Robbe-Grillet, e, segundo o próprio, tê-lo-á guiado durante a realização de L’Immortelle (1963): “L’art n’est pas forcèment quelque chose que signifie. C’est quelque chose qui apparaît, qui surgit”100. A mesma ideia seria aplicada também à encenação, como, por exemplo, uma fórmula essencial para Peter Brook e o seu “Holy Theatre” ou “Theatre of the Invisible-Made-Visible”: “the notion that the stage is a place where the invisible can appear” (Brook 1996: 49). Recuperando a circularidade de obras anteriores, a autora convida-nos a completar em O Lago a peça de teatro do livro, tolhendo a nossa consciência de leitores com a irremediável “sensação de que [ela] não est[á] terminada […] …talvez para poder começar outra vez” (49). Sobrepondo o texto ao mapa e ao puzzle, e sem dúvida recuperando conceitos ‘jamesianos’ de “impressão” e “segredo”101, conexos da ideia de “surgimento” da obra de arte, o seu método é claro e eminentemente visual: “As coisas 99 Cf. p. 85 (Pereira 2010b: 59). 100 Entrevista com Alain Robbe-Grillet, conduzida por Frederic Taddeï (2006, 34 minutos). In L’Immortelle, Dir. Alain Robbe-Grillet. Disco Blu-ray, New York: Redemption/Kino, 2014, 141 minutos. Transcrição nossa. “Na escrita de James o mundo interior e o mundo exterior misturam-se muitas vezes, o importante não é o que acontece mas a impressão que fica na consciência de alguém”; “James fala do «segredo» que o autor vai tecendo no próprio corpo do texto” (Pereira 2004a s.p.). 101 108 tinham de revelar-se, não ser explicadas” (48); até porque, segundo Harold Pinter, “usamos a linguagem para esconder a verdade” (Inverness, 52). Calvino fez do “Leitor” o protagonista de Se una notte d'inverno un viaggiatore, trabalhando sobre a explicitação do lado fenomenológico da leitura de uma forma que nunca encontramos em A.T. Pereira, que prefere o que “emerge gradualmente”, e não o que é explicado, e essa diferença de abordagem marca uma distinção radical na auto-reflexividade dos dois autores. Não obstante isso, certas asserções do escritor italiano lembram os esforços gaélicos de Kate em A Pantera, e o mistério que estava “em cada linha, em cada página”, e que leva a que a nossa autora, como os do grupo Tel Quel, numa tendência que teve o seu profeta em Mallarmé, se concentre também na materialidade da literatura, ou “sur une ontologie du langage, de l’écriture, du «livre»” (Calvino 1984: 41), e no que existe do “outro lado das palavras”, sem um valor definido: “Le combat de la littérature est précisément un effort pour dépasser les frontières du langage; c’est du bord extrême du dicible que la littérature se projette; c’est l’attrait de ce qui est hors du vocabulaire qui meut la littérature” (22, itálicos nossos). No seguimento de uma concentração espacial quase transversal a toda a obra de A.T. Pereira, e que começa geralmente com o recolhimento de um homem e de uma mulher para uma casa – e que deve muito a narrativas em que a casa não se limita a preencher a categoria do espaço, sendo elevada ao estatuto de personagem (no sentido de interveniente na acção), como em Jane Eyre, Rebecca ou The Turn of the Screw –, nota-se uma rarefacção gradual a partir dos contos de O Fim de Lizzie, da mansão de Wistaria Hall, transfigurada em Owl Cottage em Inverness e A Pantera, para os mundos de fantasia dos jardins, as ilhas do norte e os castelos no meio de ilhas, no meio de lagos, estruturas em círculos concêntricos (“um mundo dentro do mundo” [83]) envoltos 109 em bruma e nevoeiro. O Lago parece vir apertar este cerco até que se atinja um ponto máximo na penetração “para lá” do espelho. Para que se conclua a metamorfose de Jane na sua personagem e para que Tom possa dar por terminada a sua peça (processos interdependentes), ele refugia-se com a actriz, algumas semanas antes da estreia, numa casa que possui à beira de um lago, no fundo de um vale não identificado. Esta deslocação, que parte o livro exactamente no centro (capítulo 11, “O Vale”), é susceptível de duas linhas de interpretação concomitantes. Por um lado, este espaço é definido como “um lugar fora do mundo” (72), e um “vale solitário” (74), tal como os teatros vinham sendo descritos como “espaços sagrados”, “fechados em si mesmos”, “fora do mundo” (50). Podemos dizer, portanto, com larga margem de segurança, que este vale replica (é) a utopia (o “mundo perfeito” [101]) de um palco, e de um palco apetrechado de um lago, uma casa e um alpendre “rodeado de neve” (99), decalcado de A Gaivota. Por outro lado, este “vale”, onde, como vimos, a narrativa encontra uma divisão simétrica em dois, simula também a figura de um livro aberto ao meio, e a letra inicial V pode, inclusivamente, ganhar o valor de um hieróglifo – um “espaço figural” (Schefer 1999: 917) – que torna sinónimos elementos com uma forma idêntica: o vale do “fim do mundo” (99) e o livro que, sendo diviso e aberto, ali quer completar-se. Entre os dois níveis de significação do espaço do vale está a figura de Tom, o metteur en scène e o escritor, em cuja mente este microcosmo ceno-gráfico encontrou realidade, como um eflúvio imaginário que vem responder e dar corpo à ideia inicial de “um único cenário: uma casa, um alpendre, a terra coberta de neve e um lago ao fundo”, uma essencialização absoluta e um ponto de convergência de todas as coisas, que “fazia [Jane] pensar em A Moon for the Misbegotten e em The Seagull” (41). 110 Rimando com a busca de “algo de tímido e interior, escondido nos bosques do nosso ser” (11) do início, O Lago termina no capítulo 20, “O centro do bosque” (125) onde Jane se vai perder, “rodeada de flores” e por “entre a neve” (129). A memória da máxima com que a novela é inaugurada ganha aqui nova luz, e esclarece que chegámos ao mais íntimo da mente criadora, a fronteira irreversível a partir da qual não há progresso mas sim uma espécie de esgotamento ideal 102, e onde se ouve ecoar a reiteração de Macbeth, abrindo para o eterno recuo: “Amanhã, e amanhã, e amanhã…” (128). Assistimos ao renascimento da personagem de Jane e ao culminar da novela a partir de um ponto imaginário no interior do seu criador, de quem aquele microcosmo fora uma invenção, fantasia, ou imaginação: “Aquele pequeno mundo, e ela, precisavam da sua consciência para existir” (120). Esta foi a mesma realidade que o leitor de A.T. Pereira, talvez sem saber o que fazia, criou: a encenação de um livro escrito por uma personagem, e que, como ela, não existia antes, na verdade. O motivo do aprimoramento pelo cansaço – anunciando talvez um estado de saturação, ou de chegada ao limite, que vai ao encontro da nossa leitura de O Lago como uma possível súmula do último conjunto de textos de A.T. Pereira – está já à porta do livro, na epígrafe atribuída a Rudolf Nureyev: “I dance best when I am tired” (9). 102 111 CONCLUSÃO Das maquetas em literatura L’interruzione della scrittura segna il passaggio alla creazione seconda, in cui Dio richiama a sé la sua potenza di non essere e crea a partire dal punto di indifferenza di potenza e impotenza. La creazione che ora si compie non è una ricreazione né una ripetizione eterna, ma, piuttosto, una decreazione, in cui ciò che è avvenuto e ciò che non è stato sono restituiti alla loro unità originaria nella mente di Dio e ciò che poteva non essere ed è stato sfuma in ciò che poteva essere e non è stato. Giorgio Agamben “Bartleby o della contingenza” Num conto publicado originalmente em 1996 na colectânea Fairy Tales, e recompilado no ano seguinte em A Coisa Que Eu Sou, A.T. Pereira descreveu um filme de Alfred Hitchcock que nunca existiu, intitulado Nightmare e supostamente estreado em 1947. Na conclusão desta espécie de écfrase enganadora, a atenção do narrador centra-se na casa, uma figura tão importante neste ‘filme’ como tinha sido antes em Rebecca. Contudo, a descrição que então nos oferece merece uma leitura atenta: Talvez só exista um sonhador na casa sobre os rochedos, talvez só haja uma presença nos quartos abandonados, na torre de pedra batida pelas ondas. Qual deles… Ou talvez não exista ninguém. Um sonho sem sonhador. Quase o vazio. Uma simples maqueta. O mar. Gaivotas. E as flores brancas que crescem entre os rochedos. (1997: 144) Ao intitular-se “O ponto de vista das gaivotas” (conexo com o ponto de vista de Deus e com o plano picado em cinema), este texto continha já em si uma reflexão sobre 112 a posição do criador em relação à arte; no entanto, as linhas finais que atrás transcrevemos são como que uma cápsula de questões que nos permitirá retomar, em jeito de conclusão, muitos dos problemas em que nos detivemos neste estudo. Por um lado, estamos diante de uma “casa” na qual, como víramos em A Outra ou O Lago, entre outros, cabe toda a história, e da qual na verdade a própria matéria literária emana, propiciando uma equivalência entre a casa e o texto, ou a casa e o livro, recorrente e axial em A.T. Pereira, e que também observámos aqui noutros contextos. Por outro lado, a narrativa está intimamente relacionada com o sonho, confundindo-se com ele; mas este é um sonho que, por sua vez, se emancipa do sujeito sonhador, ou que, por outras palavras, põe em questão o papel de sujeito da personagem sonhadora ao reconhecer, ou pelo menos sugerir, a sua origem igualmente sonhada. Em última instância, este esquema, sem dúvida precursor do que viríamos a encontrar na terceira história de O Fim de Lizzie, “O sonho do unicórnio”, corresponde, pelo seu recorte quase ensaístico, a uma visão teorética da imagem que se autonomiza do seu criador e que o pode superar em poder (como o tigre e a pantera do subcapítulo 3.1). Para A.T. Pereira, convém recordar, ‘imagem’ é muitas vezes outra palavra para dizer memória ou obra de arte. A primeira parte da gradação a que acima nos referimos, uma espécie de cascata de sintagmas apresentados como versos que encerra o conto, e em cuja linha medial está o fulcro do problema, vai da aparente dissolução material do objecto à sua total reconfiguração: “ninguém”, “um sonho sem sonhador”, “quase o vazio” e, subitamente, “uma simples maqueta”. A utilização do termo “maqueta” no âmbito de uma narrativa que é, num primeiro nível, justamente sobre a produção cinematográfica de um filme, releva a artificialidade que subjaz ao set design e à criação fílmica. No entanto, o efeito é mais complexo, e não 113 deve de modo nenhum ser confundido com uma estratégia de desilusão perante a descoberta da falsidade. Contagiada pela insistência no ‘onirismo’ que percorre o conto103, esta maqueta estabelece um nexo fundamental: a matéria de que são feitos os filmes é a mesma matéria de que são feitos os sonhos, e a literatura. Este campo semântico, por sua vez, remete para os cenários tridimensionais que Tom concebia em A Cidade Fantasma104, para os mapas de Clive em Inverness105, ou para o que Tom imaginava como um palco “no centro do bosque” em O Lago106. Todos estes elementos fazem parte de uma ‘poética da construção’ fortemente inspirada no Master Builder de Ibsen, e que já assomava no poema de Blake 107, entre outros exemplos possíveis de uma ars combinatoria, aqui antes descrita por Italo Calvino, que coloca o artista numa posição de jogador perante um tabuleiro sobre o qual ele aplica uma determinada organização (etimologicamente, uma cosmética). Já num ensaio sobre The Turn of the Screw, Mannoni havia identificado Henry James precisamente como “meneur de jeu” (1969: 279). Todavia, a segunda parte da gradação oferece uma nova dimensão ao problema; e o que a construção de A.T. Pereira tem de especialmente interessante, e que tanto reflecte como sintetiza um dos principais traços da sua estética literária, é a passagem abrupta do setting para a natureza (ou do nada para o ser) através do elemento central que os une: “uma simples maqueta”, “o mar”, “gaivotas”, “e as flores brancas que crescem entre os rochedos”. A transição do nada e do sonho para a grande superfície “Hitchcock acrescentou: «Sim, é uma velha história, um conto de fadas, talvez… É acima de tudo, literalmente, um pesadelo»” (id. ibid., itálicos nossos). 103 104 Cf. p. 14 (Pereira 1993: 122). 105 Cf. p. 85 (Pereira 2010b: 59). 106 Cf. p. 106 (Pereira 2011a: 125). 107 O poeta inglês recorre a um vocabulário associado à metalurgia na sua interrogação sobre as origens do tigre: “What the hammer? what the chain,/ In what furnace was thy brain?/ What the anvil?” (Blake 1967: 42, vv. 16-8). 114 aquática, para o ponto de vista revelador e para o despontar da vida é praticamente imperceptível, e, em boa verdade, não existe uma componente de oposição entre os dois grupos de elementos da enumeração, uma vez que a relação entre eles não é adversativa. Existe, sim, uma contiguidade imediata entre as duas dimensões, encontrada num “tertium quid (entre o texto e aquilo que ele evoca), originado na imaginação estimulada para a produção de imagens e imbuído de «vida» na passagem da esfera logocêntrica (“emblemática” […]) para a interpretativa (visionária/concretizante)” (Reis 2013: 30). Sendo que a nossa reflexão se centrou sobretudo em dinâmicas entre a escrita e a representação, mas também em várias formas de representação da escrita, num conjunto de obras em que essa articulação entre os dois termos se afigura especialmente importante, parece-nos adequado encerrá-la com este exemplo anterior e, portanto, de algum modo fundador, que culmina com uma manifestação de vida, o crescimento das “flores brancas […] entre os rochedos”, quer elas estejam num sonho, quer estejam num cenário ou num penhasco. A.T. Pereira parece querer assim dizer que não há nenhuma diferença fundamental entre uma maqueta e o mundo, ou entre arte e natureza. 115 POST SCRIPTUM Antes da entrega desta dissertação para provas, A.T. Pereira lançou três originais: A Porta Secreta (infanto-juvenil, Relógio D’Água, 2013), As Longas Tardes de Chuva em Nova Orleães e As Velas da Noite (Relógio D’Água, 2013 e 2014). As datas de publicação, coincidentes com a realização deste estudo, não permitiriam um pensamento amadurecido que os pudesse enquadrar numa reflexão que construímos previamente ao seu conhecimento, razão pela qual ficaram dela excluídos. Não obstante, se estas obras não revogam nenhum ponto do que aqui se disse, nem inviabilizam a acepção operativa na nossa análise de O Lago como uma narrativa de síntese de temas e problemas fundamentais num conjunto de obras anteriores, talvez elas possam ajudar, retrospectivamente, a consolidá-la, reforçando porventura algumas das suas questões mais importantes. Nesse sentido, As Velas da Noite representam o caso especialmente relevante de um volume de contos que, como elemento final, traz uma curta peça de teatro, um diálogo entre uma escritora e um psicanalista. Este era um género até agora totalmente inédito no historial de publicações de A.T. Pereira e, acreditamos, é de certa maneira uma prova e uma manifestação formal, a posteriori, da progressão que identificámos ao longo do nosso pensamento sobre escrita e representação (que inclui a noção de teatralidade) na obra da autora, bem como da pertinência desse binómio, que foi justamente o que serviu de mote a esta dissertação. 116 BIBLIOGRAFIA CITADA I. Ana Teresa Pereira: 2011a, O Lago, Lisboa: Relógio D’Água. 2011b, A Pantera, Lisboa: Relógio D’Água. 2010a, A Outra, Lisboa: Relógio D’Água. 2010b, Inverness, Lisboa: Relógio D’Água. 2009, O Fim de Lizzie e outras histórias, Lisboa: Relógio D’Água. 2008a, O Fim de Lizzie, Lisboa: Biblioteca Editores Independentes. 2008b, “Histórias Submersas”, Máxima, n.º 232, Janeiro de 2008, entrevista de Leonor Xavier, pp. 28-9. 2008c, “O outro lado do espelho”, Jornal de Letras, Artes e Ideias, Ano XXVIII, n.º 988, 13 a 26 de Agosto de 2008, entrevista de Maria Leonor Nunes, pp. 28-30. 2008d, O Verão Selvagem dos Teus Olhos, Lisboa: Relógio D’Água. 2007, Quando Atravessares o Rio, Lisboa: Relógio D’Água. 2005, O Mar de Gelo, Lisboa: Relógio D’Água. 2004a, “A Noite Dá-me Um Nome”, Sup. Mil Folhas, Público, 31 de Janeiro de 2004, s.p. Disponibilizado em Storm Magazine <http://www.storm-magazine.com/novo db/arqmais.php?id=235&sec=&secn=> (21-08-2014). 2004b, Se Nos Encontrarmos de Novo, Lisboa: Relógio D’Água. 2003, Contos, Lisboa: Relógio D’Água. 2002, O Ponto de Vista dos Demónios, Lisboa: Relógio D’Água. 1999, O Rosto de Deus, Lisboa: Relógio D’Água. 1997, A Coisa Que Eu Sou, Lisboa: Relógio D’Água 1996a, Fairy Tales, Lisboa: Black Sun. 117 1996b, Num Lugar Solitário, Col. Caminho Policial, n.º 174, Lisboa: Caminho. 1993, A Cidade Fantasma, Col. Caminho Policial, n.º 156, Lisboa: Caminho. 1991, A Última História, Col. Caminho Policial, n.º 130, Lisboa: Caminho. 1990, As Personagens, Lisboa: Caminho. 1989, Matar a Imagem, Col. Caminho Policial, n.º 98, Lisboa: Caminho. II. Outras obras: ABEL, Lionel (1963), Metatheatre: A New View of Dramatic Form, New York: Hill and Wang. / [Reedição] L. Abel (2003), Tragedy and Metatheatre: Essays on Dramatic Form, New York: Holmes & Meier. ABRAMS, M. H. (1971) [1953], The Mirror and the Lamp: Romantic Theory and the Critical Tradition, London/Oxford/New York: Oxford University Press. AGAMBEN, Giorgio (1998) [1993], “Bartleby o della contingenza”, in Gilles Deleuze e Giorgio Agamben, Bartleby: La formula della creazione, Macerata: Quodlibet, pp. 43-85. ARTAUD, Antonin (1985) [1964], Le théâtre et son double suivi de Le théâtre de Séraphin, Col. Folio/Essais, n.º 14, Paris: Gallimard. --- (1974), “Le théâtre de la cruauté”, Antonin Artaud: Oeuvres Complètes, Tomo XIII, Paris: Gallimard, pp. 105-18. ATTRIDGE, Derek (2004), “Inventive Language and the Literary Event”, The Singularity of Literature, New York/London: Routledge, pp. 55-62. AUERBACH, Erich (2003) [1946], Mimesis: The Representation of Reality in Western Literature, Trad. Willard R. Trask, Princeton/Oxford: Princeton University Press. --- (1984) [1944], “«Figura»”, Scenes from the Drama of European Literature, Trad. Ralph Manheim, Col. Theory and History of Literature, Vol. 9, Minneapolis: University of Minnesota Press, pp. 11-71. AUSTIN, J. L. (1980) [1962], How to Do Things with Words, Oxford/New York: Oxford University Press. AVELAR, Mário (2006), Ekphrasis: O poeta no atelier do artista, Chamusca: Cosmos. 118 BARTHES, Roland (1984) [1968], “La mort de l’auteur”, “De l’oeuvre au texte”, Le bruissement de la langue: Essais critiques IV, Col. Points Essais, n.º 258, Paris: Seuil, pp. 63-9, 71-80. --- (1957), “Le visage de Garbo”, Mythologies, Paris: Seuil, pp. 65-7. BAUDELAIRE, Charles (1968) [1938], “Puisque réalisme il y a”, in Lloyd James Austin (Ed.), Charles Baudelaire, L’art Romantique, Paris: Flammarion, pp. 101-3. --- (1885), “Le peintre de la vie moderne XI. Éloge du maquillage”, Oeuvres complètes de Charles Baudelaire III. L’art romantique, Paris: Calmann Lévy, pp. 99-103. BAUDRY, Jean-Louis (1975), “Le dispositif”, Communications, n.º 23, pp. 56-72. Disponibilizado em Persee: revues scientifiques <http://www.persee.fr/web/ revues/home/prescript/article/comm_0588-8018_1975_num_23_1_1348> (13-082014) BELLOUR, Raymond (2009), “Une autre hypnose”, Le Corps du cinéma. Hypnoses, émotions, animalités, Paris: P.O.L, pp. 101-28. BENJAMIN, Walter (1985) [1936], “O narrador: Considerações sobre a obra de Nikolai Leskov”, Magia e Técnica, Arte e Política, Trad. Sergio Paulo Rouanet, São Paulo: Brasiliense, pp. 197-221. BLANCHOT, Maurice (1983), Après coup précédé par Le ressassement éternel, Paris: Minuit. --- (1969), “La cruelle raison poétique”, L’entretien infini, Paris: Gallimard, pp. 432-8. BLAKE, William (1970) [1794], “The Tyger”, Songs of Innocence and of Experience, Oxford/New York: Oxford University Press, p. 42. BORGES, Jorge Luis (1986) [1956], “Tlön, Uqbar, Orbis Tertius”, “Las ruinas circulares”, “El jardín de senderos que se bifurcan”, Ficciones: Relatos, Barcelona: Seix Barral, pp. 11-32, 53-60, 91-104. BOURDIEU, Pierre (1996), As Regras da Arte: Génese e Estrutura do Campo Literário, Trad. Miguel Serras Pereira, Lisboa: Presença. BROOK, Peter (1996) [1968], The Empty Space, New York: Touchstone. BUESCU, Helena Carvalhão (2005), Cristalizações: Fronteiras da Modernidade, Lisboa: Relógio D’Água. --- (1995), A Lua, a Literatura e o Mundo, Lisboa: Cosmos. CALLE-GRUBER, Mireille (1993), “Alain Robbe-Grillet, l’enchanteur bio-graphe”, Littérature, n.º 92: Le montage littéraire, pp. 27-36. Disponibilizado em Persee, revues scientifiques <http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ litt_0047-4800_1993_num_92_4_2299> (21-08-2014). 119 CALVINO, Italo (1988), “Molteplicità”, Lezioni Americane: Sei proposte per il prossimo millennio, Milano: Garzanti, pp. 99-120. --- (1984), “Cybernétique et fantasmes ou de la littérature comme processus combinatoire” [1970], Trad. Jean Thibaudeau; “Philosophie et littérature” [1967], La machine littérature: essais, Paris: Seuil, pp. 11-29, 37-44. CAMPOS, Álvaro de (2006), “Apontamentos para uma estética não-aristotélica (1925)”, in Fernando Pessoa, Prosa Publicada em Vida, Obra Essencial de Fernando Pessoa, Vol. 3, Ed. Richard Zenith, Lisboa: Assírio & Alvim, pp. 106-13. CANTINHO, Maria João (2004), “Imagem e Tempo na obra de Maria Gabriela Llansol”, Espéculo. Revista de estudios literarios, n.º 26, S.l.: Universidad Complutense de Madrid, §17. Consultado em <http://pendientedemigracion.ucm.es/info/especulo/ numero26/llansol.html> (03-05-2014). CAPPA, Francesco (2004), La materia invisibile: Corpo e carne in Antonin Artaud, Milano: Ghibli. CARROLL, Lewis (2001) [1960], The Annotated Alice, the Definitive Edition: Alice’s Adventures in Wonderland and Through the Looking-Glass, Ed. Martin Gardner, London: Penguin. COELHO, Eduardo Prado (2006), “Onde tu estás é sempre o fim do mundo”, Sup. Mil Folhas, Público, 21 de Janeiro de 2006, p. 16. CORINTHIANS I, The English Bible, King James Version, Vol. 2: The New Testament and the Apocrypha, Eds. Gerald Hammond e Austin Busch, New York/London: Norton, pp. 343-71. CULLER, Jonathan (2006), The Literary in Theory (Cultural Memory in the Present), Stanford, CA: Stanford University Press. DELEUZE, Gilles (1985), L’Image-temps. Cinéma 2, Paris: Minuit. DERRIDA, Jacques (1992), “From Psyche: Invention of the Other”, Acts of Literature, Ed. Derek Attridge, New York/London: Routledge, pp.310-343. --- (1967), L’écriture et la différence, Paris: Seuil. DICK, Philip K. (2009) [1968], Do Androids Dream of Electric Sheep?, London: Gollancz. FANU, J. Sheridan Le (2008) [1872], In a Glass Darkly, London: Wordsworth. FELMAN, Shoshana (1982), “Turning the Screw of Interpretation”, Literature and Psychoanalysis, The Question of Reading: Otherwise, Baltimore/London: Johns Hopkins University Press, pp. 94-207. 120 FERRAZ, Maria Cristina (2010), Platão – As Artimanhas do Fingimento, Col. Passagens, n.º 48, Lisboa: Nova Vega. --- (2007), “Fingimento, ficção, máscara”, in Artefilosofia, n.º 2, Ouro Preto, Janeiro de 2007, pp.71-76. Disponibilizado em <http://www.raf.ifac.ufop.br/pdf/artefilosofia _02/artefilosofia_02_02_filosofia_05_maria_cristina_franco_ferraz.pdf> (07-072014). GUERREIRO, António (2012), “O Demónio da Perversidade”, Sup. Atual, Expresso, 03 de Novembro de 2012, pp. 30-1. GUERREIRO, Fernando (2011), Teoria do Fantasma, Lisboa: Mariposa Azual. --- (2010), “«The Fall of the House of Usher»: o dispositivo cinepoiético Poe/Epstein”, Anglo Saxonica, Série III, n.º 1, pp. 45-60. --- (2009), “O Mal das Flores (notas para Ana Teresa Pereira)”, in A.T. Pereira, O Fim de Lizzie, pp. 211-26. GUSMÃO, Manuel (2010), “Leiam Herberto Helder Ou o Poema Contínuo”, Tatuagem & Palimpsesto: da poesia em alguns poetas e poemas, Lisboa: Assírio & Alvim, pp. 362-6. --- (1995), “Autor”, in José Augusto Cardoso Bernardes et al. (dir.), Biblos: Enciclopédia Verbo das literaturas de língua portuguesa, Vol. 1, Lisboa: Verbo, pp. 484-9. HANSEN, João Adolfo (2006), “Categorias epidíticas da ekphrasis”, USP, n.º 71, Setembro/Novembro de 2006, São Paulo: Universidade de São Paulo, pp.85-105. Disponibilizado em <http://www.revistas.usp.br/revusp/article/viewFile/13554/ 15372> (12-07-2014). IBSEN, Henrik (2006) [1892], “O construtor Solness”, Peças escolhidas, Vol. 1, Trad. Pedro Fernandes, Lisboa: Cotovia, pp. 229-321. JAMES, Henry (1996), “The Turn of the Screw” [1898], Complete Stories 1892-1898, New York: Library of America, pp. 635-740. --- (1984) [1884], “The Art of Fiction”, Literary Criticism. Essays on Literature, American Writers, English Writers, New York: Literary Classics of the United States/Cambridge: Press Syndicate of the University of Cambridge, pp. 44-65. --- (1894) [1888], “Guy de Maupassant”, Partial Portraits, London/New York: Macmillan, pp. 243-90. KLOSSOWSKI, Pierre (2001), “La description, l’argumentation, le récit…”, Tableaux vivants: Essais critiques 1936-1983, Paris: Le Promeneur, pp. 130-5. KRIEGER, Murray (1992), Ekphrasis: The Illusion of the Natural Sign, Baltimore/ London: The Johns Hopkins University Press. 121 KRISTEVA, Julia (1970), “La transformation actantielle”, Le texte du roman: Approche sémiologique d’une structure discursive transformationnelle, The Hague/Paris/ New York: Mouton Publishers, pp. 79-119. LLANSOL, Maria Gabriela (2002), O Senhor de Herbais: Breves ensaios literários sobre a reprodução estética do mundo, e suas tentações, Lisboa: Relógio D’Água. MAGALHÃES, Rui (2000), “As palavras de Tom. Sobre os livros de Ana Teresa Pereira Até que a Morte nos Separe, Relógio D’Água, Lisboa, 2000 e O Vale dos Malditos, Black Sun, Lisboa, 2000”, Ciberkiosk. Disponibilizado em <http://swee t.ua.pt~f660/docs/ATP_palavras_tom.pdf> (24-05-2012). --- (1999a), “As Faces do Centro. Sobre Ana Teresa Pereira, O Rosto de Deus, Relógio D’Água, Lisboa, 1999”, Ciberkiosk, n.º 5, Julho de 1999. Disponibilizado em <http://sweet.ua.pt~f660 /docs/ATP_Rosto.pdf> (24-05-2012). --- (1999b), O Labirinto do Medo: Ana Teresa Pereira, Braga: Angelus Novus. MANNONI, Octave (1969), “Le tour de vis”, Clefs pour l’Imaginaire ou L’Autre Scène, Paris: Seuil, pp. 275-89. MARÍAS, Javier (1998) [1993], “A Morte de Manur (Narração hipotética e presente do indicativo)”, Literatura e Fantasma, Trad. Francisco Vale, Lisboa: Relógio D’Água, pp. 74-83. MARTELO, Rosa Maria (2012), “Poesia: imagem, cinema”, O Cinema da Poesia, Lisboa: Documenta, pp. 11-40. --- (2010), “Cenas de Escrita (alguns exemplos)”, A Forma Informe: Leituras de poesia, Lisboa: Assírio & Alvim, pp. 321-43. --- [como Rosa Maria Martelo Fernandes Pereira] (1996), A Construção do Mundo na Poesia de Carlos de Oliveira, Dissertação de Doutoramento em Letras apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Disponibilizado em Repositório aberto, U. Porto <http://repositorio-aberto.up.pt/handle/10216/10916> (22-08-2014). MARTINS, Fernando Cabral (2000), “A poesia das coisas sem tempo”, O Trabalho das Imagens, Lisboa: Aríon, pp. 241-6. MAUPASSANT, Guy de (1986) [1887], “Le Horla”, Le Horla et autres nouvelles, Ed. André Fermigier, Col. Folio Classique, n.º 3242, Paris: Gallimard, pp. 35-80. MAURIER, Daphne du (2003) [1938], Rebecca, London: Virago. NANCY, Jean-Luc (2000) [1992], Corpus, Paris: Métailié. PAGLIARO, Harold (1987), Selfhood and Redemption in Blake’s Songs, Pennsylvania: Pennsylvania State University Press. 122 PINHEIRO, Duarte (2011), Além-sombras: Ana Teresa Pereira, Lisboa: Fonte da Palavra. PIRANDELLO, Luigi (2009) [1922 e 1921], Henrique IV e Seis Personagens em Busca de Autor, Trad. Margarida Periquito e Sandra Escobar, Lisboa: Relógio D’Água. PLATÃO (2001), O Banquete, Trad. Maria Teresa Schiappa de Azevedo, Lisboa: Edições 70. PLATO (1997), “Symposium”, Trad. Alexander Nehamas e Paul Woodruff, Ed. John M. Cooper Plato: Complete Works, Cambridge, MA: Hackett Publishing, pp. 457506. PLATON (1992), Le banquet, Trad. Paul Vicaire, Paris: Les Belles Lettres. --- (1964), Le banquet; Phèdre, Trad. Emile Chambry, Paris: GF/Flammarion. POE, Edgar Allan (1984), “A Dream within a Dream”; “The Power of Words”, Edgar Allan Poe: Poetry and Tales, Ed. Patrick F. Quinn, New York: The Library of America, pp. 97, 822-25. REIS, Amândio (2014), “A Aprendizagem dos Substitutos II – «Um mundo fora do mundo»: Sobre Ana Teresa Pereira e O Lago”, in Ana Luísa Valdeira e Madalena Manzoni Palmeirim (Eds.), Cine Qua Non, n.º 8, Fall 2014, pp. 22-43. --- (2013), “Os Filmes (D)escritos de Ana Teresa Pereira: Nightmare, de Alfred Hitchcock, e The Double, de David Cronenberg”, in Osvaldo Manuel Silvestre e Clara Rowland (Eds.), MATLIT, vol. 1, n.º 2: Escrita e Cinema, pp. 25-38. Disponibilizado em <http://iduc.uc.pt/index.php/matlit/article/view/1658> (28-082014). RICOEUR, Paul (1990), Soi-même comme un autre, Col. Points Essais, n.º 330, Paris: Seuil. --- (1983), “Temps et récit: la triple mimèsis”, Temps et récit, Tom. I, Paris: Seuil, pp. 85-136. ROPARS-WUILLEMIER, Marie-Claire (1990), “Sur la réécriture”, Écraniques: Le film du texte, Lille: Presses universitaires de Lille, pp. 161-224. SANTOS, Hugo Pinto (2013), “A rapariga que falava de Deus entre as plantas carnívoras”, Público, Sup. Ípsilon, 12 de Dezembro de 2013, s.p. Disponibilizado em <http://www.publico.pt/cultura ipsilon/noticia/a-rapariga-que-falava-de-deusentre-as-plantas-carnivoras-1658629> (14-08-2014). SARDO, Anabela (2013), A Audácia de Ser Diferente: a Escrita Obsessiva de Ana Teresa Pereira, Tese de Doutoramento apresentada à Universidade de Aveiro. Disponibilizada no Repositório Institucional da Universidade de Aveiro, em <http://ria.ua.pt/handle/10773/ 12056> (13-08-2014). 123 SARRAZAC, Jean-Pierre (2009), A Invenção da Teatralidade, seguido de Brecht em Processo e O Jogo dos Possíveis, Trad. Alexandra Moreira da Silva, Porto: Deriva. SCARPETTA, Guy (1973), “La dialectique change de matière” (Cesiry, 1972), in Philipe Sollers (org.), Artaud, 10/18, Cesiry: Union Géneral d’Éditions, pp. 263-96. SCHEFER, Olivier (1999), “Qu’est-ce que le figural?”, Critique, n.º 630, novembre 1999, pp. 912-25. SIBONY, Daniel (1989), “La représentation”, Entre dire et faire: Penser la technique, Paris: Balland, pp. 241-52. SILVA, Vítor Manuel de Aguiar e (2008), Teoria e Metodologia Literárias, Col. Textos de Base (cursos formais), n.º 27, Lisboa: Universidade Aberta. STOICHITA, Victor I. (2011). O Efeito Pigmalião. Para uma antropologia histórica dos simulacros. Trad. Renata Correia Botelho e Rui Pires Cabral. Lisboa: KKYM. TODOROV, Tzvetan (1978), “Poïétique et poétique selon Lessing”, Les genres du discours, Paris: Seuil, pp. 27-43. --- (1971), Poétique de la prose, Paris: Seuil. YEATS, William Butler (1994), “Mad as the Mist and Snow” [1929], The Poems, London: Everyman, p. 316. ŽIŽEK, Slavoj (2000), The Art of the Ridiculous Sublime: On David Lynch’s Lost Highway, Seattle, WA: University of Washington Press. ZUMTHOR, Paul (1987), La lettre et la voix: De la “littérature” médiévale, Paris: Seuil. 124
Baixar