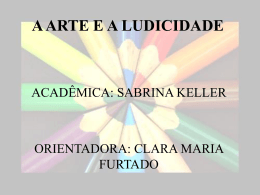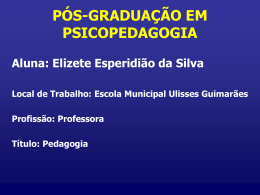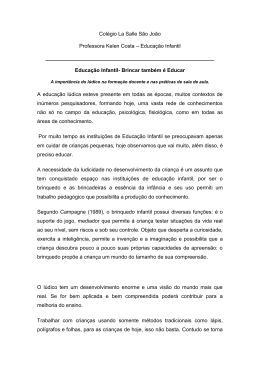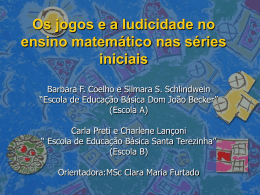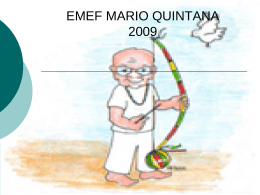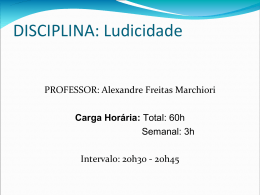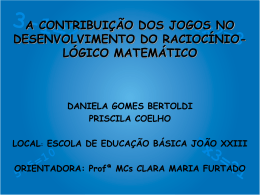LUDICIDADE NA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO PROFESSOR: UM OLHAR ATENTIVO Fabiane Maltez Patury1 Marilete Calegari Cardoso2 Resumo: Este artigo tem como foco discutir o papel da ludicidade na formação profissional do professor. Trata-se de um recorte do projeto de pesquisa monogràfico, em andamento, que busca investigar como a ludicidade está sendo trabalhada no curso de Licenciatura em Pedagogia da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB. O objetivo principal do estudo é compreender a importância do lúdico na formação profissional do pedagogo para que ele se efetive em suas práticas futuras. Na metodologia segue-se os princípios da pesquisa qualitativa bibliográfica e também empírica, centrada numa perspectiva do tipo etnográfico. Porém, para este texto serão apresentados os resultados iniciais do estudo bibliográfico. Os subsídios teóricos foram baseados nos autores: Alarcão (2003), Maturana (2004), Brougère (2008), Luckesi (2005), Kishimoto (1997), Santos (1997), Negrine (2000), Cardoso (2008) e outros. Com base nos resultados conclui-se que seja necessário trazer o rigor teórico-metodológico da ludicidade (sob a perspectiva de experiência ou vivências lúdicas) na formação inicial e o estudo permanente dos pedagogos são exigências para uma formação e prática de qualidade. Palavras-chave: Formação Profissional. Pedagogia. Ludicidade. Introdução O propósito desse artigo é discutir o papel da ludicidade na formação profissional do professor. As ideias nele contidas é fruto do projeto de pesquisa “A Ludicidade na Formação do Pedagogo”3, através da qual busca-se investigar como a ludicidade está sendo trabalhada no curso de Licenciatura em Pedagogia da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB. A pesquisa nasceu da perspectiva de examinar os problemas reais apontados pelos discentes do curso de Pedagogia (UESB), que relatam vivências numa graduação que prepara seus graduandos para a teoria e não para a prática. Nesta formação discute-se a relação entre teoria e prática, a importância da autonomia do sujeito e a relevância da ludicidade para constituição do indivíduo, bem como, na efetivação de um trabalho significativo em sala de aula, tanto na Educação Infantil, quanto no Ensino Fundamental. Assim, essa averiguação 1 É discente do curso de Licenciatura em Pedagogia da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.Email: É licenciada em Pedagogia, mestre em Educação (UFBA), professora do Departamento de Ciências Humanas e Letras – DCHL; Pesquisadora do Grupo de Pesquisa em Territorialidades da Infância e Formação Docente – (GESTAR/PPG/UESB). E-mail:[email protected] 3 Projeto de Pesquisa Monográfica, em andamento, orientada pela professora Assistente Marilete Calegari Cardoso, do Departamento de Ciências Humanas e Letras - DCHL, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. 2 2 encaminha-se para o discurso teórico dos docentes sobre ludicidade e de como esta dimensão tem se efetivado na prática. Partindo do pressuposto de que os estudantes deste curso sabem da importância da ludicidade na formação da criança e na sua constituição como sujeito histórico e de direitos, este estudo pretende entender porque apenas poucas disciplinas, dentre estas Arte e Educação e Recreação4, trabalham com o lúdico e também de forma lúdica, dentro de um curso de duração regular de quatro anos, que forma o profissional em educação, especializado nas séries iniciais, que corresponde a Educação Infantil e aos anos iniciais do Ensino Fundamental. Outra questão que merece ser destacada é que neste curso de graduação percebe-se principalmente – e este é o ponto principal desta pesquisa, que parte dos docentes abordam em suas discussões teóricas, a ludicidade como uma metodologia possibilitadora, mas poucos utilizam da criatividade no preparo de aulas lúdicas dentro da própria universidade, para que sirvam de incentivo ou mesmo para demonstração de possibilidades. A partir dos citados contextos, este estudo busca responder a seguinte indagação: Como os discentes do curso de Pedagogia, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB, campus Jequié, têm vivenciado a ludicidade em sua formação pedagógica e profissional nesta instituição? O objetivo principal do estudo busca para tanto, compreender a importância do lúdico na formação profissional do pedagogo para que ele se efetive em suas práticas futuras, partindo para isto, da análise das principais inquietudes dos graduandos de Pedagogia em relação à ludicidade, da observação de como os docentes desta Universidade utilizam o lúdico em sua prática em sala de aula e da verificação dos espaços da universidade que proporcionam aos alunos vivenciar a ludicidade. 4 Vale ressaltar que, atualmente, as duas disciplinas citadas são oferecidas sob forma de optativas, não fazendo parte, portanto, do conteúdo programático tido como regular e/ou obrigatório. Isto é, a disciplina Recreação que aborda diretamente sobre os saberes lúdicos, trata-se de uma disciplina com carga horária de 45 (quarenta e cinco) horas, que representa uma duração mínima diante das estabelecidas pela grade curricular, como também, diante da relevância deste tema para a formação da criança e do profissional em educação. Porém, é importante informar ainda, que o novo currículo do curso de Pedagogia (UESB, Campus Jequié), já se encontra em fase de implantação, e existe uma expectativa da disciplina Ludicidade fazer parte do novo quadro de disciplinas regular e obrigatória. 3 A metodologia do estudo trata de uma pesquisa qualitativa, bibliográfica e também empírica, uma vez que se pretende conhecer a realidade das práticas dos docentes na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB, em Jequié-Ba, mais especificamente em salas do curso de Pedagogia, e as inquietudes dos discentes quanto a questão da ludicidade em sua formação pedagógica. Para o levantamento de dados serão utilizados os questionários, onde docentes e discentes terão a oportunidade de expressar suas opiniões. Assim, para a sua realização, em um primeiro momento, foi feita uma revisão de literatura para se ter acesso as concepções de teóricos a respeito da ludicidade e sua importância na formação do sujeito, seja a criança ou pedagogo em formação. Valendo dessa reflexão, o artigo prossegue com a descrição de aspectos da ludicidade e suas diferenças conceituais. Em seguida, procura-se refletir sobre os enfoques dados para a ludicidade. Após, será apresentado uma breve discussão sobre a ludicidade na formação profissional do professor. Uma última seção é reservada às considerações finais. Diferenciando alguns Conceitos: ludicidade, atividade lúdica, brincar e jogo A ludicidade tem sido um tema da atualidade que vem demandando uma vasta discussão teórica acerca de seu significado e sua funcionalidade. Muitos autores trazem em seus estudos discussões a respeito da oriem e definição do termo lúdico e discutem sua eficácia na formação da criança, no desenvolvimento humano, no desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, como também, na formação docente. Um destes autores é Cardoso (2008,p.57), que faz um resgate do significado do termo lúdico: A etimologia do vocábulo lúdico, surge do latim ludus que significa brincar ou jogar. Convém ressaltar que, na língua portuguesa, o termo lúdico é um adjetivo lusório, embora venha sendo utilizado sem justificativas gramaticais, como substantivo e tradução do francês jeu, do inglês play e do alemão Spiel. Assim, no intuito de tentar abranger os variados termos, existe o termo ludo e, modernamente, o neologismo lúdico 5 ou ludicidade. 5 Muitos grupos de estudos e pesquisas, por exemplo, GEPEL – Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação e Ludicidade, vinculado ao Programa de Pós-graduação da FACED/UFBA, utilizam os termos “brincar”, “jogar”, “recrear”, “brincadeiras”, enquanto atividade lúdica. 4 Considerando-se a polissemia em torno do conceito de ludicidade, hoje no Brasil, as acepções mais comuns e utilizadas no contexto educacional são: jogo, brincadeira, brinquedo, lazer e recreação . Esses termos têm sido utilizados, ao mesmo tempo, como sinônimos, sem diferenciação no emprego, ocorrendo contradições conceituais e metodológicas. Segundo Brougère (1998, p.35), “cada cultura define uma esfera do jogo a partir de uma rede de analogias e de uma experiência dominante, de determinados traços” . Nos estudos de Oliveira (1985), a ludicidade é definida como um recurso para a construção de aprendizagens espontâneas. De acordo com Oliveira (1985 apud SALOMÃO; MARTINI; MARTINEZ, 2007, p. 02), o lúdico, é: [...] um recurso metodológico capaz de propiciar uma aprendizagem espontânea e natural. Estimula a crítica, a criatividade, a sociabilização. Sendo, portanto reconhecidos como uma das atividades mais significativas – senão a mais significativa - pelo seu conteúdo pedagógico social. O que remete afirmar que o lúdico é um recurso pedagógico e social, uma ferramenta que o educador pode utilizar em sua prática pedagógica, que o auxilia na dinâmica da sala de aula, bem como, na descoberta da realidade social do aluno. A ludicidade possibilita ao educando estimular/revelar aspectos interiores, espontâneos e naturais, fundamentais para o desenvolvimento de sua aprendizagem. Quanto as atividades lúdicas Cipriano Luckesi (2005,s/d) define “ a atividade lúdica como aquela que propicia a “plenitude da experiência”, ressaltando com esta afirmação que a vivência lúdica exige do sujeito uma entrega total física e mental. Permitindo a ele vivenciar de forma plena a experiência, pois, mesmo que a princípio de uma atividade lúdica, o mesmo não esteja disposto a realizá-la, ao dar início à atividade, o sujeito é levado a entregar-se ao ato lúdico de forma inteira, pois o ato exige como já foi dito, a interação do corpo e da mente. As atividades lúdicas não podem ser delimitadas em jogos ou brincadeiras, pois elas incluem qualquer atividade que propicie um momento de integração e de prazer. Sendo assim, as atividades lúdicas englobam muitos outros conceitos, que vão além do lúdico e da ludicidade. Discutir o conceito de ludicidade envolve entender a significação de jogos, do brincar, da brincadeira e do brinquedo, e como estes métodos lúdicos se diferenciam de uma cultura para outra. 5 Sobre o ato de brincar, considerado por Froebel como a representação do interno e por Winnicott como a única forma do indivíduo se demonstrar criativo e descobrir o seu eu interno. Admite-se o brincar como uma linguagem, que possibilita que seja dito o que se esconde nas vivências da realidade. É na brincadeira que se extravaza a realidade, que se demonstra a verdadeira personalidade e que se é proposto uma aprendizagem, como afirma Gilles Brougère no artigo A criança e a cultura lúdica, “brincar não é uma dinâmica interna do indivíduo, mas uma atividade dotada de uma significação social precisa que, como outras, necessita de aprendizagem”. (BROUGÈRE, 1998, p.01) Já, sobre o conceito de jogo Kishimoto (1997) relata que pesquisadores como Gilles Brougère (1981,1993) e Jacques Henriot (1983, 1989) apontam três especificidades para o termo, nas quais afirmam que “O jogo pode ser visto como: 1. O resultado de um sistema linguístico que funciona dentro de um contexto social: 2. Um sistema de regras; 3. Um objeto”. (KISHIMOTO, 1997, p.16). Partindo deste contexto, a referida autora admite o conceito de jogo como algo difícil de ser definido, pois concebe que este possui muitas especificidades. Segundo Kishimoto (1997, p. 15) “todos os jogos possuem peculiaridades que os aproximam ou distanciam”, enfatizando com esta afirmação o porquê de não se ater a uma conceituação simplista para tal conceito. Para esta autora cada cultura, cada contexto social, determina as especificidades dos jogos, que são determinadas de acordo com as suas próprias, estabelecidas conforme valores sociais ou vivências. No que diz respeito ao conceito de brinquedo, considerado também pela supracitada autora, como fundamental para o campo da ludicidade, considera que este “supõe uma relação íntima com a criança e uma indeterminação quanto ao uso, ou seja, a sua utilização”, afirmando, a partir disto, que “o brinquedo estimula a representação, a expressão de imagens que evocam aspectos da realidade”. (KISHIMOTO, 1997). Diante disto, é possível compreender o brinquedo como uma representação de uma determinada realidade, um instrumento que permite à criança tanto reproduzir objetos de sua vida pessoal, quanto reproduzir ou internalizar seu imaginário, seu interpessoal. De acordo com as concepções de Gilles Brougère (2008, p. 13), o brinquedo “(...) não parece definido por uma função precisa: trata-se, antes de tudo, de um objeto que a criança manipula livremente, sem estar condicionada às regras ou princípios de utilização de outra natureza”. Sendo assim, o brinquedo concebe a criança a liberdade de agir ludicamente, pois 6 permite a espontaneidade, à impressão de seus sentimentos, a entrega de corpo e mente na atividade desempenhada. Enfoques dados para a ludicidade Em especial em estudos desenvolvidos por Cardoso (2008), pode-se constatar que a ludicidade tem uma importância significativa, porque ela é concebida como atividade potencializadora e interativa. É através das atividades lúdicas que os sujeitos adquirem experiências internas e externas, ou seja, o lúdico é o elo integrador entre a relação do sujeito com a realidade interior e a sua relação com a realidade externa ou compartilhada. Por ação interna, ou no seu sentido psicológico, o brincar deve expressar uma experiência interna de satisfação e plenitude no que se faz. Já pela óptica externa, o brincar é visto como atividades dotadas de significação social. (CARDOSO,2008). Segundo concepções de Cipriano Luckesi no que diz respeito à importância da ludicidade na formação do pedagogo, fundamentando-se no artigo Ludicidade e atividades lúdicas: uma abordagem a partir da experiência interna, no qual ele conceitua e defende a ludicidade numa abordagem de experiência interna, “(...) Ludicidade, a meu ver, é um fenômeno interno do sujeito, que possui manifestações no exterior. Assim, ludicidade foi e está sendo entendida por mim a partir do lugar interno do sujeito” (LUCKESI, s/d, s/l). Para Luckesi a experiência lúdica é de plenitude, pois para ele “brincar, jogar, agir ludicamente, exige uma entrega total do ser humano, corpo e mente, ao mesmo tempo”, enfatizando com esta afirmação que este tipo de vivência exige do participante dedicação integral ao ato lúdico, vivência esta que exige a integra de corpo e mente e que consequentemente proporciona um resultado geralmente positivo, seja quando utilizadas nos processos de ensino-aprendizagem, nos processos terapêuticos ou na recreação. De acordo com o referido teórico, uma experiência lúdica exige um envolvimento integral, que proporciona flexibilidade e plenitude e que exalta o momento vivido, o qual atrela fantasia e realidade. De acordo com Amarilha (1997, apud SALOMÃO; MARTINI; MARTINEZ, 2007, p. 11) a ludicidade é compreendida sob um aspecto de coletividade, afirmando assim que “Na verdade, a atividade lúdica é uma forma de o indivíduo relacionar-se com a coletividade e consigo mesmo”. 7 Com este relato a referida autora admite a ludicidade não só como uma experiência interna, mas também, como uma experiência socializadora, pois permite que se estabeleçam relações entre os indivíduos, proporcionando assim, uma vivência emocional a partir do convívio com o outro e consigo mesmo. Nesta perspectiva a ludicidade se apresenta como uma ferramenta sociológica, que influência no contexto social e permite a socialização dos sujeitos. Segundo as concepções de Friedmann (2006 apud KWIECINSKI, 2011, p. 02) no artigo O desenvolvimento da criança através do brincar, o brincar e as atividades lúdicas podem ser analisadas sob diferentes enfoques: “sociológico, educacional, psicológico, antropológico e folclórico”. Sendo que, segundo ele, estes enfoques se diferenciam da seguinte forma: Sociológico – a influência do contexto social em que os diferentes grupos de crianças brincam; Educacional – a construção do brincar para a educação, desenvolvimento ou aprendizagem da criança; Psicológico – o brincar como meio para compreender melhor o funcionamento da psique, das emoções e da personalidade dos indivíduos, (exemplo a ludoterapia); Antropológico – a maneira como o brincar reflete, em cada sociedade, os costumes e a histórias das diferentes culturas; Folclórico – o brincar como expressão da cultura infantil através das diversas gerações, bem como as tradições e os costumes nelas refletidos através dos tempos. (FRIEDMANN 2006 apud KWIECINSKI, 2011, p. 02). Desta forma é possível perceber que são vários os aspectos ligados à ludicidade e como os enfoques dados a esta temática se diferenciam de acordo a perspectiva em que se apresenta a atividade lúdica. Alguns autores discutem e diferenciam estes enfoques, propondo diferentes características para tais, como por exemplo, no que se refere ao âmbito Sociológico Negrine (2000): Afirma que a capacidade lúdica está diretamente relacionada a sua pré-história de vida. Acredita ser, antes de mais nada, um estado de espírito e um saber que progressivamente vai se instalando na conduta do ser devido ao seu modo de vida. (NEGRINE 2000 apud SÁ, S/D, p. 01). 8 Afirmando com isto que as características lúdicas implicadas no sujeito são condutas já pré-estabelecidas em seu interior, acordadas a sua história de vida, ao contexto social do passado do indivíduo, saberes lúdicos que foram instalados com o passar dos anos, a partir de vivências cotidianas. Já no que diz respeito ao ponto de vista psicológico, ainda de acordo com Negrine (2000 apud SÁ, S/D, p.01) “o lúdico refere-se a uma dimensão humana que evoca os sentimentos de liberdade e espontaneidade de ação. Abrange atividades despretensiosas, descontraídas e desobrigadas de toda e qualquer espécie de intencionalidade ou vontade alheia”. Sob este ângulo, a ludicidade pode ser utilizada como uma ferramenta que promove a livre expressão dos sentimentos, possibilitando ao mediador analisar condutas psicológicas do atuante, condutas estas realizadas de forma espontânea, desprendida de intencionalidade. E, portanto, subjacentes ao interior do sujeito. Ainda no aspecto psicológico, Friedmann (1998) relata que: O brincar traz de volta a alma da nossa criança: no ato de brincar, o ser humano se mostra na sua essência, sem sabê-lo, de forma inconsciente. O brincante troca, socializa, coopera e compete, ganha e perde. Emociona-se, grita, chora, ri, perde a paciência, fica ansioso, aliviado. Erra, acerta. Põe em jogo seu corpo inteiro: suas habilidades motoras e de movimento vêem-se desafiadas. No brincar, o ser humano imita, medita, sonha, imagina. Seus desejos e seus medos transformam-se, naquele segundo, em realidade. O brincar descortina um mundo possível e imaginário para os brincantes. O brincar convida a ser eu mesmo. (FRIEDMANN, 1998 apud KWIECINSKI, 2011, p. 06). Ressaltando com esta afirmação a atividade lúdica como propiciadora de atitudes livres, de condutas próprias internalizadas no interior de cada indivíduo, uma atividade que permite que o brincante seja ele mesmo. No entanto, no âmbito educacional alguns teóricos relatam sobre a importância deste instrumento - da ludicidade, na construção de aprendizagens, pois é um método que estimula a criança a envolver-se na construção do conhecimento, sobre isto Dewey (1924 apud KWIECINSKI, 2011, p. 06) relata que “brincando, as crianças observam mais atentamente e deste modo fixam na memória e em hábitos muito mais do que se elas simplesmente vivessem indiferentemente todo o colorido da vida ao redor”. Com este relato o autor enfatiza que na brincadeira a criança se pré-dispõe à aprendizagem, entregando-se ao momento lúdico. 9 Partindo deste contexto, estas perspectivas podem servir de instrumento de análise em sala de aula, no uso da ludicidade nos espaços escolares. Sendo assim, a proposta na atividade lúdica no ambiente educacional pode seguir estes diferentes enfoques, a depender da análise que o educador pretende fazer com a utilização de uma vivência lúdica e do objetivo que se pretende para tal. 3. A ludicidade na formação profissional do professor Com relação à formação profissional, para que o pedagogo esteja habilitado atuar como educador é preciso segundo Dewey (1961 apud KISHIMOTO, 2008, p. 94-95) que ele saiba conduzir o processo de ensino-aprendizagem de forma democrática, organizando a participação dos indivíduos na conscientização social, de acordo com ele: Acredito que toda educação proceda da participação do indivíduo na consciência social da raça. Esse processo começa quase inconscientemente ao nascer e vai formando continuamente os poderes do indivíduo, desenvolvendo sua consciência, formando seus hábitos, treinando suas ideias e despertando seus sentimentos e emoções. (DEWEY 1961, apud KISHIMOTO, 2008, p. 94-95). Cabe então ao educador mediar para que este processo citado por Dewey proceda. E, para tanto, o educador deve estar capacitado em sua formação profissional e pedagógica. Propondo, como afirma Freire uma pedagogia da autonomia onde o sujeito é autor do seu próprio conhecimento e o educador é o mediador do processo de ensino aprendizagem. No que diz respeito à relevância do conhecimento na formação do professor Isabel Alarcão (2003, p. 15) relata que nesta era chamada de sociedade da informação e do conhecimento “o conhecimento tornou-se e tem de ser um bem comum. A aprendizagem ao longo da vida, um direito e uma necessidade.” Enfatizando com esta afirmação o quanto o conhecimento se tornou indispensável perante as exigências deste novo tipo de sociedade. E, este fator nos leva a refletir o quanto o educador deve buscar atualizar-se para que possa atender as demandas desta sociedade inovada, ressaltando também, que o conhecimento é um processo contínuo que acontece por toda a vida e que nunca acaba. 10 Tendo o conhecimento desta necessidade de atualizar-se e admitindo a ludicidade como uma das ferramentas da atualidade, para que se alcance a criança em sua plenitude, cabe ao educador fazer uso deste instrumento para que possa potencializar sua prática pedagógica e com isso, desempenhar seu papel no desenvolvimento das aprendizagens. Contudo, conforme afirma Cardoso (2008), a ludicidade na formação profissional do professor não é algo novo: a inserção da ludicidade como dimensão no processo de formação dos professores da educação infantil não é algo recente. Historicamente, tal dimensão vem sofrendo configurações distintas: sob forma limitada, posição de estratagema e o valor educativo inseparável entre trabalho e jogo. Lembramos que essas concepções de formação de professores reproduzem modelos de educação ocidental moderna, ligados à escolarização de massa desde o século XVIII, assumindo vários modelos pedagógicos com concepções diferentes, mas centrados na racionalização e fragmentação entre corpo (matéria) e mente (espírito). (CARDOSO,2008,p.43). Partindo do que foi acima citado, a utilização da ludicidade no processo formativo dos professores surgiu lenta e muito desvalorizada nas instituições de ensino superior. Haja vista, vivemos hoje, como coloca Maturana (2004, p.125), uma contínua desvalorização do corpo devido a “sua incapacidade de alcançar as alturas de nossas almas idealizadas”. Assim, as instituições e ensino permanecem fazendo essa divisão histórica, mas é urgente entender que não se aprende sem trabalhar o pensar corporificado. É preciso, então, ressaltar a importância da ludicidade na formação profissional do professor, como afirma Santos (1997 p.14): A formação lúdica deve proporcionar ao futuro educador conhecer-se como pessoa, saber de suas de possibilidades e limitações, desbloquear suas resistências e ter uma visão clara sobre a importância do jogo e do brinquedo para a vida da criança, jovem e do adulto. Neste sentido, pode-se afirmar que a ludicidade é uma necessidade do ser humano em qualquer idade. Pode-se refletir que, as vivências com atividades lúdicas proporcionam aos educadores em formação, através de práticas reflexivas, o autoconhecimento, permitindo-os assumirem-se como sujeitos que pensam e falam de acordo com sua subjetividade, com direito de se transcenderem no tempo, no espaço e nos desejos. Portanto, o trabalho lúdico é necessário no ambiente da sala de aula desde a educação infantil até o ensino superior. 11 Considerações Finais As reflexões sobre o que consideramos resultar acerca da importância da ludicidade na formação profissional do Pedagogo, indicam-nos que faz-se necessário a universidade perceber a lúdicidade como uma dimensão de valor para a formação do educador. Cabe, portanto, aos cursos de formação do profissional da educação se engajar também nestas novas práticas educacionais, já que, estamos falando da formação do profissional que irá trabalhar com crianças e destas é possível considerar que os jogos, brinquedos, brincadeiras, fatansias enfim o lúdico, faz parte da constituição de todo indivíduo, independentemente de condições sociais, a ludicidade faz parte da vida de qualquer criança. Podemos dizer, ainda, sobre a relevância da ludicidade na formação do profisional, visto que esse conhecimento irá transitar por todos enfoques que fazem parte do universo infantil, permitindo aos educadores em formação, condições lúdicas de apendizagem, demonstrações de possibilidades dentro da ludicidade para o processo de ensino e aprendizagem, ou até mesmo demonstrações da prática do lúdico embasadas nas teorias, muitas vezes exaltadas em salas de aulas. Assim, promover a educação lúdica na formação profissional, tomando como base uma graduação que alicerça a constituição da identidade lúdica do futuro pedagogo, implica não apenas atender às demandas pedagógicas dos professore da Educação Infantil e primeiras séries do Ensino Fundamental, mas, igualmente, estabelecer uma formação que reformule as condições da profissão docente e que visualiza em todo o percurso de sua formação um ideal a ser atingido, ou seja, a ludicidade dentro de sua profissionalização docente. Referencias Bibliográficas ALARCÃO, I. Professores reflexivos em uma escola reflexiva. São Paulo: Cortez, 2003. ARROYO, M. G. Imagens quebradas: trajetórias e tempos de alunos e mestres. 4 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2007. BENJAMIN, W. Reflexões: a criança, o brinquedo, a educação. Mazzari, M. V. (trad.). São Paulo: Summus, 1984. 12 BROUGERE, G. Brinquedo e cultura. 6 ed.São Paulo: Cortez, Ano. CARDOSO, M. C. Baú de memórias: representações de ludicidade de professores de educação infantil /Programa Pós- Graduação- Mestrado em Educação/FACED/UFBA. – 2008.170 f. GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6 ed. São Paulo, Atlas, 2008. HEINKEL, D. O brincar e a aprendizagem na infância. Ijuí: Unijuí, 2003. LUCKESI, Cipriano. Ludicidade e atividades lúdicas: uma abordagem a partir da experiência interna. Disponível em: http://www.luckesi.com.br/artigoseducacaoludicidade.htm. Acesso em: 21.07.2012 KISHIMOTO, T. M. (Org.). Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação. 2 ed. São Paulo: Cortez, 1997. ________. O brincar e suas teorias. São Paulo: Cengage Learning, 2008. KWIECINSKI, I. O desenvolvimento da criança através do brincar. Disponível em: http://www.artigonal.com/educacao-infantil-artigos/o-desenvolvimento-da-crianca-atravesdo-brincar-4107949.html. Acesso em: 31.08.2012. MATURANA, H.R; VERDEN-ZOLLER, G. Amar e brincar: fundamentos esquecidos do humano. São Paulo: Palas Athena, 2004. PERRENOUD, P. Construir as competências desde a escola. MAGNE, B. C. (trad.). Porto Alegre: Artes Médicas, 1999. ROCHA, E. A. C. A pedagogia e a educação infantil. Revista Ibero Americana, MadriEspanha, OEI, 1999. P. 61-74. SÁ. N. M. C. Conceito de lúdico. Disponível em: http://www.pead.faced.ufrgs.br/sites/publico/eixo3/ludicidade/neusa/conc_de_ludico.html. Acesso em: 31.08.2012. SALOMÃO, H. A. S.; MARTINI, M.; JORDÃO, A. P. M; A importância do lúdico na educação infantil: enfocando a brincadeira e as situações de ensino não direcionado. Disponível em: http://www.psicologia.pt/artigos/textos/a0358.pdf. Acesso em: 21.07.2012. SANTOS, S. M. P. O lúdico na Formação do Educador (org). Petrópolis: Vozes, 1997. TARDIF, M.; LESSARD, C. O trabalho docente: Elementos para uma teoria da docência como profissão de interações humanas. KREUCH, J. B. (trad.). Petrópolis: Vozes, 2008.
Download