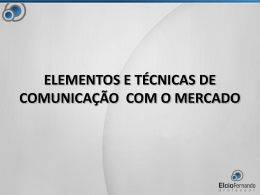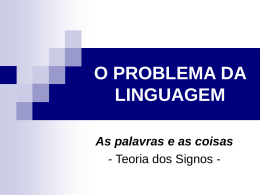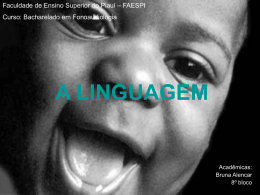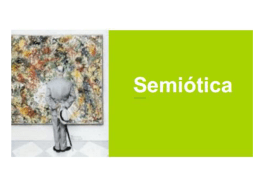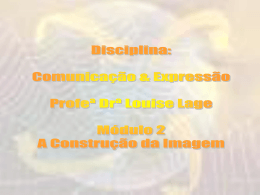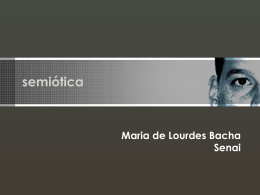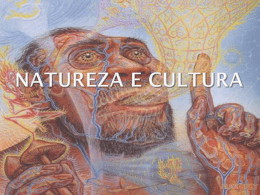DESENHO COMO PONTE CONCEITUAL ENTRE AS ARTES, AS TÉCNICAS E AS HUMANIDADES O CASO DO SIGNO FÁLICO Francisco Antônio Zorzo UFBA, Instituto de Humanidades, Artes e Ciências [email protected] Resumo Este trabalho trata do desenho como ponte conceitual que se associa às artes, técnicas e humanidades. Foi escolhido o caso do signo fálico para mostrar como seu uso ocorre nas artes, nas técnicas construtivas e na teoria da linguagem. Depois de desenvolver uma reflexão sobre signo fálico, finaliza-se o trabalho com uma discussão sobre as interfaces conceituais e as condições de interação do desenho nos diversos campos de conhecimento. Palavras-chave: desenho, signo fálico, conhecimento, linguagem. Abstract This work treats the drawing how conceptual link which is associated with the arts, technics and humanidades. The choice of the phallic sign is used to show your use in arts, technics and the language’s theory. After consideration about the phallic sign, the work ends with a discussion in conceptual interfaces and the real conditions of the drawing’s connection with the sciences and techniques. Keywords: drawing, phallic sign, knowledge, language. 1 Introdução O desenho tem sido um produto cultural notável ao longo do processo civilizatório. Através dele o conhecimento científico tem fincado suas raízes mais antigas no pensamento racional, tal como foi formulado desde a antiguidade clássica. Como se sabe, esse conhecimento foi construído na antiguidade a partir dos estudos da geometria, da filosofia e das artes. O desenho serviu, no caso extraordinário da matemática grega, como um dos pilares da educação. A própria academia de Platão tinha como lema permitir somente a entrada de geômetras em seu meio. O presente trabalho tem como propósito refletir sobre as pontes conceituais proporcionadas pelo desenho para mediar a relação entre as artes, as técnicas e as humanidades. Neste estudo, foi escolhido o signo fálico como o foco da investigação gráfica, visual e cognitiva a respeito do desenho. Por ser tão primário como o sexo e tão antigo quanto as mais remotas conquistas espirituais, o signo fálico se relaciona com uma dimensão fundamental da criatividade humana. Para acompanhar esta reflexão, é preciso, de antemão, evitar um mal entendido frequente, pois muitas vezes opõe-se arte e conhecimento. A oposição entre arte e pensamento racional, como diz Paul Valéry (2007), tão sedutora por sua simplicidade, merece ser discutida e superada. Um excelente caminho, que aqui será trilhado conceitualmente, ligando os diversos campos do saber, é pautado pela teoria da linguagem. No plano formal, o signo fálico proporciona uma ponte conceitual entre as artes, as técnicas e as humanidades. Esse laço permite uma retomada da reflexão teórica sobre a função do desenho, através de teorias do signo, da cultura e da arte. 2 O desenho como signo icônico e espacial Desde os primórdios da humanidade, o desenho foi usado em suas vertentes naturalistas e esquemáticas (HAUSER, 1984). Tanto para representar objetos do mundo ao modo naturalista, quanto para simplificá-los e criar convenções gráficas, o ato desenho tem início a partir do ponto, da ativação do traço e da linha, do contorno e de outros aspectos expressivos e configuradores do signo visual (DAMISH, 1995). O elemento genético do desenho, tal como é gerado na experiência mais rudimentar, é o ponto. Num verdadeiro empenho corporal, a partir do momento em que o carvão, o lápis, o pincel, ou qualquer outro instrumento toca a superfície do papel, a emergência do desenho movimenta o pensamento. O ponto ativa e desencadeia a composição dos objetos mais complexos. Um exemplo desse começo do desenho, que perdura no tempo, é a inscrição, tal como ocorre na escrita cuneiforme e ideogramática. A inscrição tem valor de índice, tal como a incisão de um objeto cortante sobre a superfície de um suporte. As operações pulsionais de corte, de inscrição e de incisão são ações concretas que realizam o signo e colocam em andamento a linguagem e não meras abstrações ou alucinações primitivas. Com base nesse elemento genético, vai se desenvolver o traço e a linha ativa. Elementos como o ponto e o traço proporcionam um sentido, pois captam algo que nasce e se forma. Isso se dá, por exemplo, no crescimento do bambu nos desenhos orientais. Um simples traço puxa o outro, como no aforismo de Shitao (DAMISH, 1995): “Você que vai tão longe, começa por um simples passo – ou traço”. Material e mentalmente, o desenho segue um impulso de saber. No passo seguinte, a linha ativada promove uma inflexão, num movimento que gera o ângulo ou a curva. Reunindo duas direções, o ponto de inflexão promove excepcionalidades ao longo da linha. O encurvamento do eixo de deslocamento conduz à representação de contorno dos objetos. O contorno por seu processo gráfico cumulativo tem a capacidade de descrever e narrar, tanto como idealização como expressão de significados que se agregam, num caminho em que surge outra característica complementar, o aspecto figurativo. Dotado de uma força de significação, surge o signo fálico. O signo do falo é uma singularidade dentre outras possíveis no processo generativo, em que a linguagem gráfica vai proporcionando signos cada vez mais complexos. O signo gráfico ou visual se torna fálico quando, mediante uma inflexão da linha, com grande tendência verticalizante, resolve a indeterminação da linha e do traço elementares. O desenho, que segue esse impulso, alcança um saber sobre o objeto que representa. Fig. 1 – Formas fálicas de obelisco Fonte: elaboração do autor Quando o desenho toma o aspecto de um objeto, atinge-se a forma de um discurso. Como formulou Witgenstein (1989): aprende-se a descrever os objetos e assim se aprendem todos os jogos de linguagem. Portanto, os signos icônicos permitem visualizar e conceber o mundo. Cabe ao desenhista ver a figura gerada como um aspecto e não como uma coisa. Nesse processo conceptivo do material significante, o signo fálico remete acima de tudo ao fluxo da linguagem. Assim como há uma linguagem inscrita no corpo, o corpo também se articula com a linguagem através de certos signos, como ocorre com o signo fálico. De um lado há um processo de dotar o corpo de uma educação, de modo que o corpo de um indivíduo atende aos comandos civilizatórios e culturais desde a mais tenra idade. De outro, o corpo oferece à linguagem um conjunto ou repertório de possibilidades. O falo, enquanto signo corporal, pode ser visto como elemento articulador dessas duas vias de integração do humano com o mundo. O signo fálico tem estado frequente na produção gráfica de todas as épocas por suas peculiaridades no campo semântico e formal. Mas, vale dizer ele é um tema bastante sugestivo do desenho contemporâneo. Tanto a partir da metáfora como da metonímia, o signo fálico proporciona um caminho criativo para a produção visual atual. A série das operações metafóricas do signo fálico é a da equivalência com a força, com a capacidade de algo se elevar ou com o vetor vertical. A metonímia básica é a da parte pelo todo, ou seja, do falo enquanto correspondente do corpo ereto. 3 Processo de significação e comunicação O signo, a partir da conhecida teoria de Fernand Saussure (apud ECO, 1985), compõe-se de dois lados, o significante e o significado. Esses dois componentes do signo merecem receber atenção em separado. O significante é o material sígnico, podendo ser visual, sonoro, literal, ou de outro tipo, enquanto que o significado é o conceito que o signo transmite. Tendo essa teoria em vista, o signo fálico pode ser pensado enquanto mito, conforme a teoria da Roland Barthes (2003). O signo fálico, enquanto construção mítica, gera um sistema de significação, que amplia e multiplica as possibilidades que ele transmite, podendo sempre agregar um significado a mais para compor novos signos correlatos. Vejamos como o falo constitui esse sistema mítico de significação, que pode agregar os mais diversos significados, compondo mais e mais signos. Pode-se partir de um esquema icônico que representa o signo fálico, como um objeto ereto que significa falo. Ao signo inicial, a linguagem agrega novos significados, como por exemplo, coluna, pilar, obelisco, pináculo, no campo da arquitetura, mas também força, poder, riqueza, no campo da política, e assim por diante. Dentro dessa cadeia de significação, para Humberto Eco (1985,) o falo seria um signo que se diferencia de muitos outros por sua replicabilidade. A partir da classificação piercyana empregada por Eco (1985), o falo seria um legisigno. Como legisigno ou type, o signo fálico serve de modelo abstrato e intercambiável nas mais diversas condições e contextos de referência. Dentro dessa mesma classificação, como uma ocorrência concreta do legisigno, o falo pode vir a ser um sinsigno ou token. Ou seja, conhecemos o falo como legisigno, mas o encontramos concretamente como sinsigno, já que ele se replica de diversas maneiras, gráficas, escultóricas, ou outras. Seguindo adiante, um falo de vidro, ou um lingam de gelo numa gruta do Himalaia, transforma o legisigno em qualisigno ou tone, que varia pela transparência, cor, textura e que obtem valor pela intensidade de alguma característica pictórica ou material (ECO, 1985, p.50 e 51). Fig. 2 – Esculturas do lingam à venda nas ruas de Varanasi (Índia) Fonte: foto do autor (2006) Na aparição escultórica, como obra estática, o signo fálico exibe a desenvoltura que interrompe o fluxo do tempo, tal como o gesto de um dedo que fica no ar ou de um revólver engatilhado pronto para o disparo. Como sistema de significação, o signo fálico desencadeia efeitos e agrega valor semântico aos fatos da linguagem e comunicação, tal como uma torre elevada no perfil horizontalizado de uma cidade de edificações mais baixas. Os monumentos do tipo obelisco, minarete e torre constituem signos fálicos. Do ponto de vista espacial, são eixos de referência em relação ao plano, local e centros de alta intensidade, dotados de uma distinção vertical em meio ao vazio do entorno. Esse tipo de construção, na história da arte é muito frequente, tal como ocorre desde as mais remotas eras, no zigurate, nas pirâmides e na torre do forte, que vem marcar o espaço do campo, do deserto e do tecido urbano indistinto. No rito de fundação das cidades antigas, como é o caso de Roma e dos assentamentos romanos, em que se fundava o mito da terra fecundada pelo falo (RYKWERT, 1985) . Esse mito está presente também no sentido de terra dos pais, terra patrum, pátria. A fecundidade era, na antiguidade, assegurada de modo figurativo e enfático. O símbolo do instrumento de fecundação era o arado, que assimilado pelo corno do toro e pelo falo. O rito do sulcus implicava numa associação simbólica com a fecundidade e a defesa, bem como o limite entre o urbano e o agrícola. Do ângulo da leitura dos processos de subjetivação, por outro lado, o signo fálico desenrola uma cadeia de significantes, aos quais o sujeito se apega e repete indefinidamente. Como se verá mais adiante, mesmo quando barrado, o significante se presta para compor uma rede de significados que deriva ao longo do tempo. Entra aqui a questão da construção da memória. O signo idealmente fálico é o que perdura e agrega sentido, pois há uma diferença entre a sua impressão original na memória e as lembranças que proliferam posteriormente. O processo de significação e comunicação é, então, o que realmente importa enquanto resultado da operação do signo, seu uso, sua potência e seu desenrolar mental, visual e gráfico. O signo propriamente fálico é o que perdura na memória. Convém perceber que o sexo do sujeito que o emite ou o recebe é secundário. Seja um autor homem ou mulher, isso não importa, mas sim o resultado da utilização do signo no plano imaginário e simbólico. 4 Desenho, expressão e subjetividade Será conveniente, agora, retomar uma passagem importante da atitude perante o signo. A linguagem além de ser uma figuração do mundo, que demarca conteúdo objetivo, ganha uma existência subjetiva. Quer dizer, o signo fálico é um signo de algo para alguém. Convém observar de perto a linguagem do desenho em sua interação com o sujeito, que conduz ao signo fálico, que como significante, de alguma contempla a diferença entre o objeto do desejo e que é realizado graficamente no papel ou representado na mente. No caso do desenho livre e abstrato, muitas vezes o traço é lançado como um significante em busca de um significado posterior, podendo ou não se fechar em uma figura ou imagem. Cabe ao desenhista optar por enfatizar um dos dois lados do signo, a diversificação do material significante ou a normalização do significado. Essa passagem diferencia o desenho enquanto obra de desenho técnico, ou o trabalho de copista, do desenho como resultado por si mesmo, ou seja introduz a dimensão subjetiva na obra. Atribuir significado pode vir no andamento do ato do desenho, o que pode ser uma conquista de expressão que acompanha o trabalho gráfico. Isso se explica de diversas formas ao trabalho visual. Intensificar ou abrandar o traço, introduzir legendas e outras convenções podem ser usadas nesse caminho do desenho. Para Lacan, a aquisição da linguagem é um percurso na constituição do sujeito. A linguagem se estrutura a partir de uma cadeia de signos. Para se formar algo que se possa chamar de língua e que operacionalize uma linguagem é preciso partir de algum material significante. Para Lacan (2011), nesse percurso, o significante falo é primordial. Não há somente o gozo do corpo, o que já é muito, mas também, o gozo da linguagem que tem, por consequência, efeitos duradouros na cultura. No processo de sublimação que é um dos destinos do impulso de saber, os signos fálicos entram tanto no campo simbólico como no imaginário. A fantasia e a obsessão dos desenhistas se alimentam de signos fálicos que expandem a figuração interminavelmente. O desenho como modo de expressão do mundo psíquico faz emergir muitas vezes signos fálicos, num processo de associação de signos ou ideias. Em diversos campos do saber, surgem elementos que direta ou indiretamente remetem ao falo. Ao longo do processo civilizatório, o amor tem um papel decisivo, conforme a teoria de Marcuse (1981) em Eros e Civilização. É devido ao seu caráter de veículo da sublimação que o signo fálico proporciona o meio para muitas realizações culturais e morais elevadas. 5 A relação do signo icônico com as artes e as humanidades Quando se pergunta sobre o que há em comum e quais são as diferenças entre o desenho tal como é concebido e aplicado nas artes e nas humanidades, surgem várias questões, aproximações e distinções que podem ser avaliadas. Os efeitos do desenho variam de acordo com os procedimentos empregados nos respectivos campos. A arquitetura, o design, a comunicação visual usam o desenho de modo variado, podendo partir de uma base científica, mas tendendo a se liberar das amarras da lógica e da epistemologia, para obter alcances especulativos e efeitos de linguagem próprios de seu campo criativo (ZORZO 2011) O uso de formas fálicas no caso da arquitetura é notável, pois seguindo a noção de techné, ela constitui um campo de conhecimento que concilia a arte e tecnologia. Na arquitetura, o desenho prefigura a construção espacial, de modo que o signo fálico pode servir de referência para a volumetria de um monumento. Os arquitetos pósmodernos fazem muitas releituras das simbologias de tradição diversa a partir do significante falo. Arquitetos conseguem praticar sua linguagem empregando a forma do “projétil apontado aos céus”, como é o caso da torre Agbar de Barcelona projetada por Jean Nouvel (GABRIEL, 2012). Fig. 3 – Torre Agbar Projeto de Jean Nouvel em Barcelona Fonte: Fotografia do autor (2006) O desenho no campo das humanidades, seja na ilustração de um conto de fadas, seja na construção de um diagrama ou esquema mental, também segue regras e procedimentos controlados. Cada campo do conhecimento tende a acumular conhecimentos e compor objetos com o desenho. Cada campo do conhecimento emprega o desenho com rigor e conjunto de regras que lhe é devido (ZORZO, 2007). Os problemas interpretativos envolvidos na descrição das formas da natureza, das atividades construtivas e da linguagem são compartilhados pelas técnicas, as artes e humanidades. Seria um erro supor que os componentes icônicos ou visuais, como o signo fálico, que podem ser manipulados através do desenho, sejam menos importantes que os discursivos. Ao se formar uma ideia, seja qual for o campo de estudo, pode-se usar o desenho como artifício de abstração, partindo de uma noção particular para um grau de generalização maior. É como artifício ou ponte conceitual que o desenho alcança uma capacidade de trânsito entre as diversas disciplinas (ZORZO, 2011). O desenho como linguagem e racionalidade constitui uma das principais conexões formais entre as ciências. O uso do signo fálico pode ir da escultura à arquitetura, da linguagem da poesia para a do cinema, e ir além do campo acadêmico, chegando facilmente ao campo da cultura e do lúdico (ZORZO 2011). Isso comprova que, se há jogos de linguagem diferentes, há diversificados procedimentos de desenho, construídos segundo lógicas de sentido muitas vezes divergentes, mas que podem contar com o significante fálico como fonte. 6 Signo fálico – função e gozo A função-signo, ou função objetual do signo, tornou-se um dos capítulos mais importantes da semiótica contemporânea (ECO, 1985, p.36). A preocupação com as mediações entre os signos e o se relacionamento com os objetos, na sociedade de consumo, é estudada como um sistema de comunicação e de atitudes sociais. Humberto Eco dá, aqui, o exemplo do relacionamento entre os cargos numa corporação, que leva à necessidade de instalar signos de poder entre o diretor e os seus colegas e interlocutores. No âmbito do design as funções dos objetos, de acordo com a conhecida classificação de Mukarovsky (apud COELHO, 2008), são práticas, estéticas e simbólicas. A função simbólica (IDEM, 2008, p.198) pode estar ligada a aspectos psicológicos, ou de outro tipo, que são associados ao objeto em questão. A função também pode ser denotada nos signos da arquitetura. Todo objeto arquitetônico tem uma função primeira, de significar um uso, assim como uma cadeira é dotada do papel de sentar. Mas os objetos tem também uma função segunda, com características sígnicas ainda mais explicitadas e ostentadas, como é o caso de uma cadeira dotada de função política e ornamental, que a tornam um trono. No caso do caso dos signos fálicos, não raro, atingem-se, na passagem da função primeira para a segunda, características rituais e até de ordem religiosa (ECO, p. 37). Fig. 4 – Grafite de Dan Perjovschi na galeria da Fundació La Caixa (Barcelona) Fonte: Fotografia do autor (2006) Não se pode esquecer, nesse sentido cultural, que na Índia há uma tradição milenar de incluir o signo fálico na arquitetura. O falo é chamado linga ou lingam, e pode ser visto nos templos, residências e outras edificações hindus. Lingam na cultura hindu é um termo que quer dizer signo de Shiva, ou simplesmente signo. Segundo Daniélou (2006), o lingam é tratado num dos livros tradicionais da Índia, como o Shiva Purana, como emblema divino, símbolo de energia, objeto de amor e fonte de gozo. A função fálica, além desse componente espiritual tradicional, é uma função lógica, quer dizer, que encadeia signos segundo determinados requisitos formais. Lacan explicita nos seus “Escritos” a função fálica. O significante falo é fundamental no encadeamento do logos com o desejo. Vale retomar, segundo a psicanálise que o gozo fálico não é restrito ao adulto, nem ao homem, nem se prende a alguma definição sexista, mas sim a uma estrutura subjetiva. Esse prazer com a linguagem, obtido por meio do signo é compartilhado em diversos campos do saber, entre as humanidades e as artes poéticas. Num poema do poeta concretista brasileiro, Haroldo de Campos (1979, P. 45) isso fica bem claro nos versos seguintes: “o lápis tudo/ colitera/ exfoliando letras/ no papel/ ereção de signo/natura naturante...” Há um gozo em retratar, mesmo de modo esquemático e pouco explícito, signos fálicos. Há uma tendência obsessiva que comparece em muitos desenhos que se elevam e que se relacionam a um impulso gráfico falicizante. Não é preciso ir muito longe para reconhecer tais impulsos. Os desenhos de Picasso (ZORZO, 2007) trazem inúmeras vezes esse componente, através de alegorias sexuais de touros e sátiros que atuam em cenas de sexo. A experiência do desenho põe em ato um mecanismo pulsional. No pulso do desenhista essa descarga dota o desenho de uma dinâmica singular. Na obra de cada artista, seja em Edgar Degas, Pablo Picasso ou Marcel Duchamp, o desenho tem esse caráter pulsional, segundo os tons e a precisão que lhe são próprios (ZORZO, 2007). O psicanalista Jacques Alain Miller (2010) cita o exemplo da função fálica, a obra do escultor César que faz a compressão de carros velhos e faz cubos. Esse artista faz “uma tremenda compressão da fantasia”. Seu empenho subjetivo consiste em atravessar os distintos níveis da fantasia e ficar só com o osso, constituindo um compacto e insistente gozo fálico. Se o uso signo fálico é um dos laços que fundamenta a imaginação e a linguagem, como tudo o que pertence ao campo do humano, não deixa de haver a degenerescência de sua aplicação. Dentre outras, o priapismo é uma das possibilidades de aplicação bizarra, conduzindo o signo fálico do logos ao pathos. 7 Considerações finais As especulações sobre o uso do signo fálico e de seu papel no funcionamento da mente parecem ser úteis para ampliar as possibilidades do uso da linguagem e da compreensão dos processos formativos do desenho. Como exercício heurístico, pelo menos, tende a dar vazão a formidáveis possibilidades cognitivas, às vezes pelo caminho da abstração e às vezes pela figuração. O signo fálico ingressa na formação do sujeito e na aquisição da linguagem, na tenra idade, sendo fator criativo no desempenho adulto do discurso visual e verbal. O uso do desenho e do signo icônico, talvez por um efeito que se singulariza, ao ritmo de um de salto ou de fragmentação, produz uma mudança e, quando for o caso, uma pequena quebra de paradigma. Às vezes, pelo caminho de processos de síntese a linguagem do desenho quando retoma o significante fálico, entra na construção de um novo ciclo cognitivo, pois produz uma espécie de atração, ou uma função de integração de conteúdos, reunido traços que antes poderiam parecer heteróclitos. Em formas que podem ser analisadas segundo os diversos campos do desenho, portanto, o signo fálico se associa ao desenho como desígnio ou ponte conceitual. Enfim, o desenho continua a ser, ativamente, uma ferramenta de grande utilidade para descrever o funcionamento e ativar a construção do mundo. O uso do desenho emerge em diversos campos de aplicação e áreas de conhecimento. Visualizar as formas é sempre uma tarefa importante, pois ver é conceber. Referências BARTHES, Roland. Mitologias. Rio de Janeiro: Difel, 2003. CAMPOS, Haroldo. Signantia quase coelum. São Paulo Perspectiva, 1979. COELHO, Luiz Antonio L. Conceitos-chaves em design. Rio de Janeiro: PucRio/Novas Idéias. 2008. (Verbete função por Luiz Antônio de Saboya, P. 196-198). DAMISH, Hubert. Traité du Trait. Paris: Réunion dês Musées Nationaux, 1995. DANIÉLOU, Alain. El Shivaísmo y la Tradición Primordial. Barcelona: Editorial Kairós. 2006. ECO, Humberto. O Signo. Lisboa: Editorial Presença, 1985. GABRIEL, Marcos Faccioli. Torre Agbar por Jean Nouvel. In: Revista Tópos. V.6. N.2. P.113-127. Presidente Prudente. FCT/UNESP. 2012 LACAN, Jacques. Escritos. São Paulo: Perspectiva. 2011. (Capítulo “Significação do Falo”). MARCUSE, Herbert. Eros e civilização. Rio de Janeiro: Zahar, 1981. MILLER, Jacques Allain. Mulheres e Semblantes II. In: Opção Lacaniana. Online. Ano I. N. 1. Março de 2010. HAUSER, Arnold. A Arte e a Sociedade. Porto: Editorial Presença, 1984. RYKWERT, Joseph. La Idea de Ciudad. Antropologia de la forma urbana em el mundo antiguo. Madrid. Hermann Blume. 1985. VALÉRY, Paul. Variedades. São Paulo: Iluminuras, 2007. (Capítulo Poesia e Pensamento Abstrato). WITTGENSTEIN, L. Investigações Filosóficas. São Paulo: Nova Cultural, 1989. ZORZO, Francisco Antônio. Procedimentos Visuais. Alguns Problemas do Desenho Contemporâneo. In: Anais do Graphica 2007. Curitiba: UFPR. 2007. ZORZO, Francisco Antônio. Desenho - Ponte Conceitual entre as Ciências e as Técnicas. In: Anais do Graphica 2011. Rio de Janeiro: UFRJ. 2011.
Download