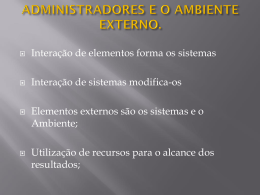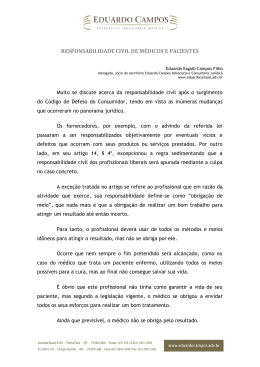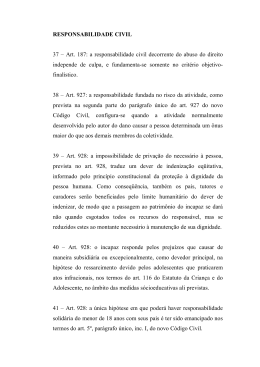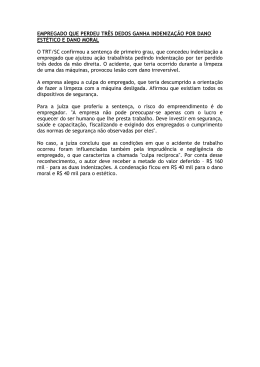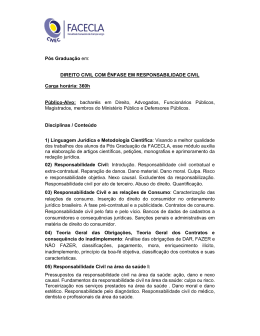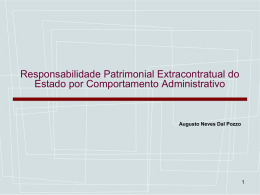UniFMU CURSO DE DIREITO “PAGAMENTO AOS CREDORES NO DIREITO FALIMENTAR” FERNANDO PACHECO SIMONATO RA: 463.089/5 Turma: 319-E Fone: (11) 9574-5772 E-mail: [email protected] Orientador: Prof. Dr. Olavo Zago Chignalia SÃO PAULO 2003 FERNANDO PACHECO SIMONATO Monografia apresentada à Banca Examinadora do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas, como exigência parcial para obtenção do título de Bacharel em Direito, sob orientação do Professor Doutor Olavo Zago Chignalia. SÃO PAULO 2003 BANCA EXAMINADORA: Professor Orientador: __________________________ Professor Argüidor: ___________________________ Professor Argüidor: ___________________________ Nota: ________________ (____________________) A minha mãe, Felisbina Nogueira Pacheco e a minha companheira, Heloisa Abrão Sasdelli, mulheres fortes que me ensinaram o que é o amor. Aos professores Olavo Zago Chignalia e Ivo Waisberg. ÍNDICE APRESENTAÇAO....................................................................................................1 1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS...............................................................................4 1.1. Par Conditio Creditorum.. ....................................................................4 1.2. O Concurso de Credores ......................................................6 1.3. A Falência .................................................... ............................................7 1.4. Inadimplemento, Insolvência. Insolvabilidade 8 2. A FALÊNCIA: ASPECTOS GERAIS...................................................................11 2.1. Definição ..............................................................................11 2.2. A configuração do Estado de Falência .......................................................12 2.2.. A Falência como Estado de Direito.... ......................... ............................12 2.2.2. Os Pressupostos ..........................................................................13 2.2.2.1. A Qualidade de Empresário Comercial do Devedor 15 2.2.2.2. O segundo Pressuposto da Falência: A Insolvência do Devedor Comerciante 21 2.2.2.3. A Sentença Declaratória da Falência 22 2.3. Considerações Finais 24 3. INTRODUÇÃO AO ESTUDO DO PAGAMENTO AOS CREDORES NO DIREITO FALIMENTAR ............................... .26 3.1 Verificação dos Créditos............................ ........................................... ..26 3.1.1. Créditos não Sujeitos à habilitação Falência .... 3.1.1.2 Os Créditos Tributários ...................................29 ......................................................................29 3..1.1.2. Contribuições Parafiscais de Fins Sociais 30 3.2. A Impugnação de Crédito 31 3.2.1. A Impugnação do Crédito Trabalhista 32 3.3. Quadro Geral de Credores 33 4. CLASSIFICAÇÃO E GRAGUAÇÃO DOS CRÉDITOS.. ....................................35 4.1. Classificação dos Créditos.. ........................................................................35 4.2. Graduação dos Créditos 4.2.1. Os Créditos Trabalhistas .....................................37 ..................................38 4.2.1.2. Os Créditos por Indenização por Acidente de Trabalho 41 4.2.2. Os Créditos Tributários e Assemelhados 44 4.2.3. Os Créditos por Dividas da Massa 49 4.2.4. Os Créditos com Direitos Reais de garantia 50 4.2.5. Os Créditos com Privilégio Especial 50 4.2.6. Os Créditos com Privilegio Geral 50 4.2.7. Os Créditos Quirografários 53 5. O PAGAMENTO AOS CREDORES 5.1. Noções Gerais .........................................56 ....................................................................... 5.2. A Liquidação: Realização do Ativo .56 ........................................................58 5.3. A Quitação do Passivo ..............................................60 5.3.1. Credores da Massa e Credores da Falência: análises preliminares ...60 5.3.2. O Pagamento aos Créditos Frente à Classificação dos Créditos 63 5.3.3. O Pagamento aos Credores da Massa 65 5.3.3.1. Ressalva aos Créditos dos Empregados 68 5.3.3.2. Ressalva ao Crédito Tributário 68 5.3.3.3. Ressalva ao Crédito com Direito Real de Garantia e ao Privilégio Especial 70 5.3.3.4 Distinção entre os Credores da Massa 71 5.3.4. Pagamento aos Credores da Falência 72 5.3.4.1. A responsabilidade do Sócio Solidário 74 5.3.4.2. O Sócio de Responsabilidade Limitada 76 5.3.4.3. Reserva para Créditos Incertos 76 5.3.4.4. Encerramento do Procedimento Falimentar 76 CONCLUSAO.........................................................................................................79 BIBLIOGRAFIA.......................................................................................................81 APRESENTAÇÃO Ao longo da história, o instituto da responsabilidade civil vem sendo utilizado para uma verdadeira manutenção do equilíbrio nas relações jurídicas e humanas, tendo como pontos basilares a liberdade, de um lado, e os deveres sociais de cada indivíduo, de outro. A fim de manter referido equilíbrio, nosso ordenamento jurídico traçou regras para que ocorra a reparação de um dano, ocasionado por descumprimento dos deveres sociais que ataca a liberdade de terceiros, por meio do ferimento a seus bens jurídicos mais sagrados. Na história da humanidade, o desequilíbrio nas relações humanas se mostra mais acentuado quando ocorre a desigualdade financeira. Nesse aspecto, verificamos a necessidade do Estado empreender uma maior tutela para os indivíduos menos favorecidos da sociedade, como, por exemplo, ocorre com os consumidores e com os empregados, razão pela qual os meios jurídicos para a defesa de seus direitos são tão protetores. Entretanto, às vezes nos esquecemos de estudar o desequilíbrio existente nas relações comerciais, onde também pode ser verificada a desigualdade social. Tem-se observado que uma grande parte dos recursos financeiros alocados em empresas brasileiras estão investidos em sociedades anônimas, apesar de existir uma pequena quantidade de sociedades dessa espécie, se comparadas às sociedades limitadas. Por serem tais empresas detentoras de grande poder econômico, muitas de suas relações comerciais apresentam o mencionado desequilíbrio, fazendo com que se torne interessante um estudo mais aprofundado destas. No entanto, tendo em vista a complexidade da administração das sociedades anônimas, a qual normalmente é exercida por pessoas que não têm participação no capital social da empresa, percebe-se claramente a importância de se verificar a responsabilidade dos administradores. Assim, surge o interesse em se estudar as hipóteses e possibilidades dos administradores poderem ser civilmente responsabilizados, principalmente perante os terceiros de boa fé que foram lesados por suas atitudes, as quais são acobertadas pela proteção legal da distinção entre as personalidades da pessoa física e jurídica. A experiência como estagiário de direito atuante na área de contencioso empresarial, nos possibilitou a vivência de diversos casos em que era necessário imputar a responsabilização para os administradores, fazendo com que o interesse pelo tema aumentasse. Sabemos que o tema é muito discutido na jurisprudência assentada por nossos tribunais. Entretanto, como operadores de direito, nosso dever é debater, criar teses e hipóteses, a fim de dar um novo direcionamento para o ordenamento jurídico estabelecido no Brasil. Em que pese a existência de leis escritas, o que dificulta um pouco a maleabilidade das normas, ainda nos é dada a possibilidade de interpretar tais dispositivos harmonicamente com todo o sistema jurídico, com vistas a solucionar um caso em concreto.. O presente estudo abordará os aspectos gerais da sociedade anônima, o instituto da responsabilidade civil e será concluído com nosso entendimento sobre o tema apresentado. 1. INTRODUÇÃO AO ESTUDO DAS SOCIEDADES ANÔNIMAS 1.1. Histórico O surgimento de sociedades anônimas é discutido entre os grandes doutrinadores. Para os mais modernos, essa espécie de associação iniciou-se na Idade Média, com a criação do Banco São Jorge, fundado em Gênova no final do Século XV. Os autores mais antigos afirmam que podem ser verificadas associações do mesmo tipo já na Roma Antiga, sendo as associações de capitais, que tinham como objeto o comércio de terra e mar suas precursoras. De qualquer maneira, são três fases históricas que assinalam as sociedades anônimas, quais sejam, a de outorga, autorização e regulamentação. A primeira fase, pela doutrina moderna, é marcada pela criação do Banco São Jorge, pois naquela época era o Estado quem outorgava o direito de exploração de parte da atividade estatal, a fim de articular sua economia. Os capitalistas se investiam em grandes obras públicas, que eram pagas através da emissão de títulos públicos para os mesmos, cuja liquidação eram garantidas pela arrecadação futura de tributos. Todavia, eram os portadores dos títulos que tinham que se organizar e associar para fiscalizar e cobrar os referidos tributos, de modo a satisfazer seus créditos. Ainda nesta fase, já nos séculos XVII e XVIII, o Estado outorgava poderes para investidores que tinham interesse em explorar terras além-mar. Tais exploradores recebiam a outorga para constituir sociedades com esta finalidade, bem como recebiam outros privilégios. A primeira sociedade constatada foi a Companhia as Índias Ocidentais, constituída em 1602. Nesse caso, a outorga se justificava pelo interesse que tinha o Estado em conquistar outras terras para formar suas colônias. Em ambas os tipos de associações acima delineadas, os interesses dos capitalistas só seriam concretizados se lhe fossem garantidos direitos exclusivos, assim como um certo tipo de monopólio, de modo que eles tivessem a certeza de retorno de seus investimentos. Dentre esses direitos eram destacados o da limitação da responsabilidade de cada investidor, até o montante investido, e a exclusividade de exploração do empreendimento, o que, na época, eram privilégios que dependiam de outorga estatal. A segunda fase, marcada pela autorização, ocorreu, inicialmente, na França, com a edição de seu Código Comercial, em 1807. A partir desta época, as sociedades anônimas já eram admitidas como empresas não privilegiadas, de modo que suas constituições não mais dependiam de outorga do poder estatal, mas tão apenas de uma autorização para sua formação. Em meados do Século XIX a necessidade de autorização para a constituição de sociedades anônimas foi sendo deixada de lado, motivada, principalmente, pelo surto industrial ocorrido por volta de 1825 nos Estados Unidos da América, aonde não era necessária autorização para funcionamento dessas empresas, como instrumento de atração de investimentos. Os países europeus seguiram a tendência, iniciando-se na Inglaterra, por volta de 1844. Assim se iniciou a terceira fase histórica das sociedades anônimas, qual seja, a de regulamentação. Desde essa época, as sociedades anônimas não necessitavam mais de autorização para seus funcionamentos, exceto para alguns tipos específicos de empresas, de maior interesse publico, devendo, tão somente, observar as disposições normativas que regulavam o regime desta espécie de empresa. No Brasil, a primeira norma identificada relativa à sociedade anônima foi o Decreto nº 575, de 10 de janeiro de 1849, sendo que seu artigo 1º dispunha sobre necessidade de autorização governamental para a constituição de qualquer sociedade anônima. Logo em seguida, o Código Comercial, introduzido pela Lei nº 556, de 25 de junho de 1850, adotou, em seu artigo 295, a necessidade de autorização apenas no caso de concessão de algum privilégio. O fim da autorização, inspirado por um princípio liberal e acompanhado a tendência mundial, ocorreu através da Lei nº 3.140, de 04 de novembro de 1882. Atualmente as normas que regem as sociedades anônimas no Brasil são a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, atualizada pela Lei nº 9.457, de 05 de maio de 1997 e pela Lei nº 10.303, de 31 de outubro de 2001 e o Código Civil, introduzido pela Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Há também outras normas que regem esses tipos de sociedades, entretanto, deixaremos de mencioná-las, tendo em vista que não fazem parte do objeto do presente estudo. Como visto, as sociedades anônimas sempre tiveram um importante papel na economia dos Estados, participando com vultosas quantias de capital em projetos de grande porte, o que pode ser verificado até os dias atuais. 1.2. Conceito e Características Sociedade anônima, também denominada de compahia, é aquela em que o capital social é divido em ações e cada sócio se obriga até o montante equivalente ao valor da emissão da ação que adquirir ou prometer adquirir. Do conceito acima se depreende duas outras questões de conceituação, que são a do capital social e do valor da ação. Por capital social entende-se, de modo geral, a contribuição pecuniária dos sócios para a formação da sociedade. Já com relação ao valor da ação, este se torna muito complexo, já que envolve não apenas questões de direito, mas também de contabilidade e economia. A ação pode ter diversos valores, como, por exemplo, o valor nominal, valor de patrimônio líquido, valor de cotação e valor de emissão. Dentre os valores destacados, o importante para este estudo é o valor ou preço de emissão, que pode ser considerado como sendo o valor determinado para a subscrição na época da constituição da empresa ou por ocasião do aumento de capital. Ademais, deve se observar que embora a denominação deste tipo de sociedade seja anônima, esta deve sempre receber um nome ou denominação social. As sociedades anônimas não fazem parte do grupo das sociedades de pessoas ou contratuais, pois nestas associações não há uma ligação entre os sócios pela affectio societatis, assim compreendida a combinação de esforços e a convergência de interesses para a exploração da atividade. Por tal razão, estas são conhecidas por sociedades de capital. Ainda em função da não importância das pessoas que compõem a sociedade, não há qualquer empecilho para a livre cessão de ações entre os sócios, bem como a retirada ou entrada de qualquer sócio não afeta a estrutura da sociedade, desde que esses cumpram com suas obrigações, diferentemente de uma sociedade limitada, na qual a entrada de sócio novo depende de prévia autorização dos demais e a retirada de sócio pode importar na dissolução parcial ou total da mesma. 1.3. Classificação A classificação das sociedades anônimas é encontrada no artigo 4º da Lei nº 6.404/76, segundo o qual: “Art. 4º Para os efeitos desta lei, a companhia é aberta ou fechada conforme os valores mobiliários de sua emissão estejam ou não admitidos à negociação no mercado de valores mobiliários.” Portanto, a sociedade anônima pode negociar suas ações em mercado aberto, oferecendo-as a quem mais lhe pagar, por exemplo. Nessa hipótese, a empresa será classificada como de capital aberto. Se a negociação das ações não ocorrer no mercado de valores mobiliários, então esta será classificada como de capital fechado. Essa possibilidade de se negociar as ações em mercado de valores mobiliários é derivada da não importância da pessoa do sócio para a empresa, como mencionado linhas atrás. Outrossim, a existência de companhias de capital aberto se justifica pela maior facilidade que estas possuem em captar os vultosos recursos financeiros necessários à consecução de suas atividades, por meio de negociação de suas ações nas bolsas de valores. É importante ressaltar que as empresas de capital aberto devem se submeter à regulamentação e fiscalização pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM – que é uma autarquia diretamente ligada ao Ministério da Fazenda. Portanto, todas as empresas que desejam negociar suas ações em bolsa de valores devem obter a devida autorização desta autarquia. O papel da CVM é essencial para a defesa dos direitos da coletividade, pois é esta autarquia que fiscalizará a consistência nas informações financeiras divulgadas pelas sociedades de capital aberto, de modo a evitar qualquer abuso por parte destas contra seus investidores que, nem sempre são devidamente informados. 2. ÓRGÃOS SOCIETÁRIOS 2.1. Assembléia Geral A assembléia geral é considerada como o órgão máximo de deliberação da sociedade anônima e é caracterizada pela reunião dos acionistas desta sociedade, que se reúnem com o propósito de discutir qualquer assunto de interesse social. A assembléia geral se divide em duas espécies: ordinária e extraordinária. A Lei nº 6.404/76 estipula a competência de cada uma destas assembléias, bem como o momento de seu acontecimento. De acordo com o artigo 132 da referida Lei, a Assembléia Geral Ordinária deve ocorrer nos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social e tem como objeto o que consta em seus incisos abaixo transcritos: “Art. 132. (...) I- tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras; II- deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; III- eleger os administradores e os membros do Conselho Fiscal, quando for o caso; IV- aprovar a correção da expressão monetária do capital social.” Todos os demais assuntos devem ser discutidos em Assembléia Geral Extraordinária. Em ambos os casos a convocação dos acionistas será feita pelo Conselho de Administração ou pela Diretoria, mediante anúncios ou convites que serão publicados três vezes na Imprensa Oficial. Demais disso, o Conselho Fiscal ou os acionistas também podem convocá-la, desde que observados os requisitos legais. A primeira publicação da convocação deve ocorrer com, no mínimo, oito dias de antecedência da realização da assembléia. A Lei nº 6.404/76 também dispõe acerca do quorum mínimo para realização da Assembléia Geral, bem como para aprovação dos assuntos colocados em pauta. As assembléias deverão ser registradas em atas, que deverão ser assinadas pelos membros da mesa e pelos acionistas que constituírem a maioria necessária para as deliberações tomadas. Os demais acionistas presentes deverão firmar o Livro de Presença de Acionistas. 2.2. Conselho de Administração Com exceção da companhia de capital aberto, da sociedade com capital autorizado e na de economia mista, o Conselho de Administração é um órgão facultativo nas sociedades anônimas. Esse Conselho é um órgão de deliberação colegiada que se situa em um escala entre a Assembléia Geral e a Diretoria. De acordo com a legislação em vigor, o Conselho de Administração deve ser composto por, no mínimo, três pessoas. Além disso, o Conselho de Administração deve ser composto exclusivamente por acionistas e pessoas físicas residentes no país. Sua existência se justifica em razão do interesse dos acionistas em tomarem certos tipos de decisões, normalmente aquelas que envolvem uma maior envergadura econômica, já que foram essas pessoas que investiram seu dinheiro na companhia, mas que para facilitar as atividades corriqueiras da empresa não dependam de instalação de Assembléia Geral. Portanto, qualquer assunto que não seja de competência exclusiva das Assembléias Gerais pode ser deliberado pelo Conselho de Administração. Os membros do conselho são eleitos em Assembléia Geral para um mandato de até três anos, podendo ser reeleitos. A votação deverá observar as disposições contidas no estatuto social. Caso este seja omisso, cabe à mesa da Assembléia Geral a definição da modalidade de votação. As modalidades de votação são, normalmente, a majoritária e a proporcional. Entretanto, o artigo 141 da Lei nº 6.404/76 apresenta duas modalidades de exceção, quais sejam, a do voto múltiplo e a da eleição em separado. 2.3. Diretoria Diferentemente do Conselho de Administração, a Diretoria é um órgão obrigatório em toda sociedade anônima. Este é o órgão executivo da empresa, devendo ser composta por, no mínimo, duas pessoas físicas e residentes no país, não precisando ser, necessariamente, acionistas. A escolha de seus membros cabe ao Conselho de Administração, quando houver, ou à Assembléia Geral. Da mesma maneira que no Conselho Administrativo, o mandato dos diretores é de até três anos, podendo os mesmos ser reeleitos. O estatuto deve disciplinar acerca da Diretoria, tal como a quantidade de diretores, suas funções, assim por diante. Cabe privativamente à Diretoria a representação da empresa, bem como a manifestação da vontade da sociedade. Cumpre destacar que o estatuto pode estabelecer que determinadas decisões sejam tomadas em reunião de diretores (artigo 143, parágrafo 2º, Lei nº 6.404/76), caso em que referidas decisões deverão ser registradas em Ata Das Reuniões de Diretoria. 2.4. Conselho Fiscal Finalmente chegamos à análise do Conselho Fiscal. Como o próprio nome induz, sua função é fiscalizar. A existência deste órgão é obrigatória nas sociedades anônimas, mas, como bem assevera o Ilustre professor Fábio Ulhoa Coelho1, “seu funcionamento é facultativo”, exceto para as sociedades de economia mista, na qual seu funcionamento é constante e obrigatório. Esse órgão serve para auxiliar a Assembléia Geral, através da fiscalização dos atos e decisões do Conselho de Administração e da Diretoria, devendo sua atuação ater-se à legalidade e regularidade dos atos praticados, sendolhe defeso adentrar na subjetividade que alberga a conveniência, ou não, dos atos praticados pelos administradores. Sua composição é de três a cinco pessoas físicas e residentes no país e igual número de suplentes. Ademais, essas pessoas devem ter formação superior ou experiência profissional comprovada. A escolha de seus membros é feita pela Assembléia Geral. Depreende-se da legislação em vigor que estão impedidos para compor o Conselho Fiscal os diretores, integrantes do Conselho de Administração e qualquer empregado da empresa, até mesmo de sociedade coligada ou controlada, bem como seu cônjuge ou parente até terceiro grau. Em síntese, cabe privativamente aos conselheiros fiscais emitirem pareceres sobre a regularidade dos mais variados atos da administração social, bem como examinar a regularidade da saúde financeira da companhia. Todavia, o papel dos membros deste órgão é apenas fiscalizador, não podendo os mesmos tomarem quaisquer decisão, ainda que em benefício da companhia. 1 Curso de Direito Comercial, v. 2, p. 228 3. A ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE ANÔNIMA 3.1. Os Administradores De acordo com Paulo Roberto Tavares Paes2, “Na moderna teoria, os administradores são órgãos societários, que dirigem a sociedade para atingir seus objetivos.”. De outro lado temos o conceito utilizado por Vanessa Ramalhete Santos Neves3: “Assim, a palavra administrador pode designar qualquer sujeito que exerça atividade de gestão ou de administração dos mais diferentes interesses ou negócios (...)”. Conjugando-se os conceitos acima com o que se depreende do estudado no capítulo anterior, pode-se afirmar que a função de administrador incumbe aos membros da Diretoria e aos membros do Conselho de Administração, eis que competem a esses a gestão da empresa e a decisão dos assuntos corriqueiros, oriundos da própria atividade econômica. 2 3 Paulo Roberto Tavares Paes, Responsabilidade Civil dos Administradores de Sociedades, p. 23. Responsabilidade dos Administradores de Sociedades Anônimas, p. 49. Ademais, o artigo 138 da Lei n.º 6.404/76 prevê expressamente a incumbência da Diretoria e do Conselho de Administração à administração da sociedade. Conforme mencionado, a existência da Diretoria é obrigatória em todas as sociedades anônimas, enquanto que a o Conselho de Administração é facultativo, exceto para aqueles casos em que a Lei determina sua existência obrigatória. Outrossim, há alguns requisitos para o exercício do cargo de administrador, tais como ser pessoa natural e residente no país, bem como há os impedimentos, também abordados no capítulo anterior. Resta, então, estudar o momento em que os administradores passam a ser responsáveis, em virtude de seu cargo, o que ocorre com a investidura. Esta deve ocorrer no máximo até trinta dias após a eleição da pessoa para o cargo. Nessa ocasião, o administrador tomará a possa em seu cargo, mediante a assinatura do correlato termo, que deve ser lançado no livro de atas do órgão para o qual foi eleito. Finalmente, a remuneração global dos administradores deve ser decidida pela Assembléia Geral, a qual deverá fazê-lo em vista das qualificações e reputação de cada membro, em conformidade com os valores praticados no mercado, a fim de se evitar o locupletamento indevido e sem causa dos administradores. A remuneração dos administradores pode ser composta, também, por uma participação nos resultados da empresa, caso o estatuto preveja a distribuição de dividendo aos acionistas, equivalente a, no mínimo, 25% do lucro líquido da sociedade. Nessa hipótese, a participação não pode ultrapassar um décimo dos resultados da sociedade. 3.2. Regime Jurídico Do Administrador Ao longo dos tempos a doutrina societária veio discutindo a relação jurídica existente entre o administrador e a sociedade. Inicialmente predominava o entendimento de que referida relação era de vínculo contratual, caracterizado pelo contrato de mandato. Dessa forma os administradores sempre agiam em nome e por conta dos acionistas, que os nomeavam e poderiam revogar seus poderes. Todavia, a doutrina predominante hoje em dia é a organicista. Esta teoria foi firmada pelo direito alemão, que trouxe a figura do gestor de sociedade como titular de uma posição orgânica e criou a noção do dever de diligência, próprio de um dirigente de empresa. Portanto, esse administrador não agia mais por conta e em nome dos acionistas; estes deveriam agir em conformidade com suas convicções, a fim de atingir o objeto da sociedade, auferindo-se o lucro procurado. Esta é a teoria adotada pela Lei nº 6.404/76. Nesse sentido leciona José Alexandre Tavares Guerreiro4: “No direito brasileiro, parece igualmente estar definitivamente superada a configuração jurídica do administrador como simples mandatário, habilitado à prática de atos de gestão ordinária por força do estatuto, mas dependente de poderes especiais de mandante (no caso de assembléia geral) para a prática de atos de gestão exorbitantes da simples administração. Para demonstrar a inadequação do mandato como vínculo ente o administrador e a sociedade, bastaria, a rigor, lembrar que a função administrativa é indelegável (art. 139 da Lei nº 6,404), ao passo que a delegação de poderes não repugna à essência dogmática do mandato, ex art. 1.300 do CC.” Não obstante a posição acima traçada há, ainda, uma discussão trazida à baila pela disposição da alínea “d”, parágrafo 1º, artigo 157 da Lei nº 6.404/76. Referido dispositivo aduz sobre a existência de contratos de trabalho firmados entre o administrador e a companhia, o que poderia enfraquecer a posição doutrinária dominante sobre o regime jurídico do administrador. Fábio Ulhoa Coelho descreve sumariamente algumas posições e seus argumentos, tais como de Paulo Fernando Salles de Toledo5, pelo qual o mencionado vínculo não é de natureza trabalhista por não existir o elemento da subordinação. 4 Responsabilidade dos Administradores de Sociedades Anônimas, in Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro. 5 Paulo Fernando Campos Salles de Toledo. O conselho de administração na sociedade anônima. São Paulo, Atlas, 1997, apud Fábio Ulhoa Coelho. Curso de Direito Comercial, p. 240 Do lado oposto encontra-se Bueno Magano. Segundo o Professor Fábio6, aquele autor defende que sempre há a subordinação entre os diretores e os membros do Conselho de Administração. Ainda, de acordo com o próprio Ulhoa, não há subordinação entre os diretores e os membros do Conselho de Administração ou Assembléia Geral, eis que esses órgãos são reunidos esporadicamente para decidir assuntos específicos, não participando dos atos de gestão cotidianos. Demais disso, defende o autor que a subordinação existente nessas hipóteses é de órgão para órgão, não havendo, consequentemente, subordinação entre seus membros. Todavia, aduz que a situação é diversa quando observado a situação dentro de um mesmo órgão. Por exemplo, um diretor de uma área específica será subordinado ao diretor superintendente ou presidente, assim por diante. Nesse diapasão, defende que deve ser observado caso a caso, a fim de se verificar se há ou não a subordinação, que servirá de base para fundamentar a tese de que o diretor é um empregado ou não. 6 a o Octavio Bueno Magano. Manual de direito do trabalho, 2 ed. São Paulo, LTr, 1986, 2 vol., apud Fábio Ulhoa Coelho, Curso de Direito Comercial, v. 2, p. 240 Entendemos, entretanto, que a despeito de qualquer discussão acerca de subordinação do administrador, verificado por Fábio Ulhoa no caso do diretor, que há duas situações distintas nas relações aqui abordadas. De um lado, têm-se as relações internas, existentes entre o diretor e a sociedade, que são, porventura, embasadas em contratos de trabalho, enquanto de outro lado há as relações externas, existentes entre a companhia e terceiros, para os quais os diretores assumem, pessoalmente, o papel do órgão social, já que o órgão é destituído de personalidade jurídica. Outrossim, por que não se considerar o termo utilizado pela legislação “contrato de trabalho” como um equívoco? Ora, na verdade, os administradores não são contratados da mesma maneira que um verdadeiro empregado, mas são eleitos pela Assembléia Geral para ocupar cargos com mandatos estipulados. 3.3. Deveres dos Administradores Os artigos 153 a 157 da Lei n.º 6.404/76 prescrevem os deveres mínimos e comuns que os administradores devem observar no exercício de suas atividades. São eles: dever de diligência, dever de lealdade e dever de informar. Dizemos que esses deveres são mínimos e comuns pois há outros vários que a lei estipula, como convocar a Assembléia Geral Ordinária (artigo 123 da lei supra). Ao lado dos deveres a legislação atribuiu algumas vedações para os administradores, como, por exemplo, a proibição da prática de atos de liberalidade às custas da companhia (alínea “a”, parágrafo 2o, artigo 154 da Lei n.º 6.404/76). O artigo 143 da Lei das Sociedades Anônimas determina que o administrador deve empregar o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração de seus próprios negócios. Ora, maior subjetividade não poderia utilizar esta norma. Isso porque os métodos que uma pessoa utiliza par administrar seus negócios podem não ser bons suficientes para administrar uma sociedade anônima, cuja complexidade administrativa é notória. Portanto, torna-se difícil apurar se o administrador é probo ou não, pois, em sua convicção, este pode entender a solução “x” ser a melhor aplicável para uma determinada situação, enquanto que os demais entendem que a solução mais escorreita seria a “y”. A doutrina clássica equipara o dever de diligência ao conceito de “bom pai de família”. Melhor sorte não lhe assistiu! Igualmente se fosse equiparada ao “homem médio”, muito utilizado no Direito Penal. Tendo em vista essas dificuldades, pensamos que uma razoável solução seria adotarmos como um paradigma uma espécie de “homem médio” do ramo da administração de empresas, ainda mais agora que já existe uma ciência que estuda esse assunto, pois, do contrário, não há como se aferir a competência do administrador. Nesse sentido, poder-se-ia verificar como os administradores de outras empresas do mesmo ramo e porte agem diante de determinadas questões, de modo a se utilizar como método de comparação. De qualquer maneira, a Lei estabelece alguns parâmetros para se verificar a diligência do administrador. Estes parâmetros estão no parágrafo segundo do artigo 154, que traz algumas vedações. Vejamos: “Art. 154. (...) Parágrafo 2o. É vedado ao administrador: a) praticar ato de liberalidade à custa da companhia; b) sem prévia autorização da assembléia geral ou do Conselho de Administração, tomar por empréstimo recursos ou bens da companhia, ou usar, em proveito próprio, de sociedade em que tenha interesse, ou de terceiros, os seus bens serviços ou crédito; c) receber de terceiros sem autorização estatutária ou da assembléia geral, qualquer modalidade de vantagem pessoal, direta ou indireta, em razão do exercício de seu cargo.” Essas vedações devem ser utilizadas como parâmetro para se aferir a diligência do administrador, não podendo ser utilizadas como infrações “numerus clausus”, ou seja, caso aquelas atitudes descritas sejam tomadas, elas serão consideradas infrações ao dever do administrador, mas, caso o administrador toma alguma outra atitude que prejudique a empresa, mas essa não esteja prevista em lei, poderá, mesmo assim, ser considerada infração. O dever de lealdade está previsto no artigo 155 da Lei n.º 6.404/76, segundo o qual o administrador deve servir com lealdade à empresa e manter reserva sobre os seus negócios. Embora também seja albergado por uma certa subjetividade, o dever de lealdade nos parece mais fácil de ser identificado, embora às vezes a falta de observância deste dever pode estar conjugada com a do dever de diligência. Referida “facilidade” se denota diante dos parâmetros traçados pela Lei, nos incisos do mesmo dispositivo legal, pelos quais podemos destacar que uma regra geral é composta por dois requisitos, que são uma ação ou omissão oriunda da função exercida e que cause um dano à empresa. Além dos exemplos de infração ao dever de lealdade trazidos nos incisos do artigo 155, os parágrafos deste dispositivo trazem, também, que o sigilo está incurso no dever de lealdade. Aliás, entendemos ser o sigilo um dos pontos cruciais para o desenvolvimento da empresa, eis que se este não for observado, o segredo mais importante da empresa poderia ser revelado ao concorrente, de modo a prejudicar profundamente a empresa. Imaginem, por exemplo, se a fórmula do refrigerante de cola mais conhecido do mundo fosse revelado aos seus concorrentes. O que poderia ocasionar a esta empresa? Mas o sigilo mencionado não é adstrito a segredos dessa monta, como também, a informações econômicas da empresa e demais assuntos relativos à exploração da atividade econômica exercida pela companhia. Da mesma maneira que o dever de diligência, as hipóteses previstas no dispositivo que trata sobre o dever de lealdade são meramente exemplificativas, podendo outras condutas também infringir referido dever. Por fim, o dever de informar previsto no artigo 157 da Lei n.º 6.404/76 é restrito às empresas de capital aberto, conforme se depreende de seu texto, o qual transcrevemos a seguir: “Art. 157. O administrador de companhia aberta deve declarar, ao firmar o termo de posse, o número de ações, bônus de subscrição, opções de compra de ações e debêntures conversíveis em ações, de emissão da companhia e de sociedades controladas ou do mesmo grupo, de que seja titular.” Os parágrafos deste artigo também trazem outros fatos que devem ser informados. Os principais destes são os voltados ao mercado de capitais, como, por exemplo, o fato previsto no parágrafo 4o, pelo qual o administrador deve informar pela imprensa oficial qualquer deliberação da assembléia geral ou órgãos de administração, como qualquer outro fato relevante que possa influenciar na decisão dos investidores do mercado de bolsa de valores. Deve-se observar que o dever de informar tem grande relação com o dever de lealdade, principalmente no que diz respeito ao sigilo. Isso porque de um lado há a obrigação de divulgar fatos e de outro há a obrigação de não se divulgar. Para tentar equalizar essa diferença, o parágrafo 3o do artigo 157 prevê que: “A revelação dos atos ou fatos de que trata este artigo só poderá ser utilizada no legítimo interesse da companhia ou do acionista, respondendo os solicitantes pelos abusos que praticarem.” Note-se que essas informações devem ser guardadas em sigilo antes de divulgadas, sendo que ao administrador é vedado se utilizar destas para proveito próprio. Essa norma é destinada a evitar o denominado “insider trading”, que são os administradores que se valem de informações privilegiadas para se beneficiarem. Aliás, cumpre ressaltar que o “insider trading” passou a ser considerado crime no Brasil, tendo em vista sua tamanha lesividade para o mercado empresário. 4. INTRODUÇÃO À RESPONSABILIDADE CIVIL 4.1. Histórico Com relação à evolução da responsabilidade civil a doutrina é de certa forma pacífica, sendo que em conformidade com a teoria clássica a responsabilidade civil é baseada em três pressupostos, quais sejam, o dano, a culpa e o nexo causal entre o ato culposo e o dano. Todavia, nos tempos mais remotos não havia que se falar em culpa, tendo em vista que não havia a atividade jurisdicional do Estado. Assim, a reparação do dano era privada, ocorrendo a denominada reparação do mal pelo mal. Caso a reação não pudesse ocorrer de imediato, sobrevinha a vindita mediata, que foi a precursora da Lei de Talião, cujo objeto era “olho por olho, dente por dente”. Em seguida veio o período em que o prejudicado passa a considerar mais vantajoso a compensação econômica em relação à vingança, o qual é conhecido por período da composição voluntária. A reparação pecuniária foi mantida ao longo dos tempos, sucedendose, entretanto, a composição obrigatória e tarifada preconizada pelos Códigos de UrNammu, Código de Manu e da Lei das XII Tábuas, ocasião em que já havia uma autoridade soberana. Foi nos tempos dos romanos em que a diferenciação entre a pena e a reparação surgiu, através da distinção entre os delitos públicos e privados. Nesta época o Estado assumiu a função de punir. A reparação do dano foi esboçada pela ocasião da Lei Aquília, sendo essa manifestação normativa a que mais continha uma proximidade com o direito moderno, pois esta tratava da injúria ao preconizar “damnum injuria datum”. Há autores que afirmam ser nessa lei encontrada a noção inicial de culpa, embora não o fosse explicitamente. Todavia, foi o direito francês que estabeleceu um princípio geral da responsabilidade civil, apresentando diversos avanços, como, por exemplo, a dissociação da responsabilidade civil da penal. Enfim, foi neste momento em que surgiu a premissa geral da responsabilidade aquiliana, pela qual a culpa, ainda que levíssima, obriga a indenizar. Segue-se na história com o Código de Napoleão, o qual introduziu a noção de culpa abstrata, a distinção entre culpa delitual e contratual, estabelecendo que a responsabilidade civil se funda na culpa, sendo este texto legislativo um precedente para todo o mundo. Outras teorias foram aparecendo ao longo dos tempos, com o fim de dar maior proteção às vítimas do ato ilícito, tais como a teoria do risco e a teoria da culpa objetiva, que será abordada nos próximos capítulos, sendo que o Brasil adotou a teoria da culpa subjetiva como basilar para a responsabilização civil, o que pode ser verificado no artigo 159 do antigo Código Civil, introduzido pela Lei n.º 3.071, de 01 de janeiro de 1916 e no artigo 927 do Novo Código Civil que está em pleno vigor, o qual nos remete aos artigos 186 e 187. 4.2. Responsabilidade Civil Contratual e Extracontratual O dever de indenizar pode ser oriundo de um vínculo obrigacional entre os sujeitos ou por infração a um dever jurídico em sentido lato. Na primeira hipótese, a ação ou omissão do agente que causa o dano ao outro ocorre em desrespeito ao negócio jurídico realizado entre os dois. Assim, se as partes concordam em celebrar um contrato e este é descumprido por uma das partes, causando dano à outra, aquele deve reparar os danos causados. Em síntese, a responsabilidade contratual origina-se do acordo de vontades de onde surgiram as obrigações contraídas que não serão cumpridas por uma das partes. Com relação à responsabilidade extracontratual, também conhecida por aquiliana, o dever de indenizar é oriundo da prática de um ato ilícito, que se caracteriza por uma conduta humana comissiva ou omissiva que viola um dever de cuidado. Ou seja, o dever não está relacionado à existência prévia de um contrato e ao descumprimento de uma obrigação nele existente, mas sim à infração da lei civil, mais precisamente à regra geral traduzida pelo artigo 927 do Novo Código Civil: “Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” Nesse sentido, o artigo 186 do Novo Código Civil traduz o significado de ato ilícito, como sendo a ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violadoras de direito ou causadoras de dano, ainda que moral. A novidade trazida pelo Novo Código Civil, em seu artigo 187, diz respeito ao abuso de direito. Para fins legais, o abuso de direito, consubstanciado pelo excesso ao exercício de um direito, ultrapassando seus fins econômico e social, é considerado ato ilícito, gerando a obrigação de indenizar. A diferenciação entre ambas pode ser melhor ilustrada pelo aspecto probatório gerado em cada uma das espécies de responsabilidade. No caso de responsabilidade contratual, deve a pessoa prejudicada – o credor – provar que a outra parte simplesmente não cumpriu a obrigação prevista no contrato. Em contrapartida, nessa hipótese deverá o suposto causador do dano provar a presença de alguma excludente de responsabilidade, tais como inexistência de culpa, caso fortuito ou força maior. De outro lado, no caso de responsabilidade extracontratual, deve a vítima provar os três pressupostos para a responsabilização do devedor, quais sejam, o dano, a culpa e o nexo de causalidade entre um e outro, sendo que se os três requisitos não forem devidamente comprovados, não haverá a obrigação de indenizar. 4.3. Responsabilidade Objetiva e Subjetiva O estudo da responsabilidade civil objetiva e subjetiva é de suma importância para o desenvolvimento do objeto da presente monografia, como será visto mais adiante. Ademais, de per si o assunto já é interessante, eis que demonstra a evolução das relações humanas ao longo dos tempos. O Código Civil Brasileiro adota a responsabilidade civil subjetiva como a comum e geral, estipulando, em casos específicos, a responsabilidade civil objetiva e a aplicabilidade da teoria do risco, em função da atividade desenvolvida pelo autor do dano. A responsabilidade subjetiva é baseada na teoria da culpa em seu sentido amplo, ou seja, dolo ou culpa em sentido estrito. Assim, o dever de indenizar só surge se a conduta danosa é precedida de culpa do agente, não sendo suficiente a presença dos outros elementos (dano e nexo causal). Desta maneira, o agente deve ter a intenção deliberada de causar dano a outrem, ou, ao menos, que a conduta reflita a violação de um dever de cuidado. A necessidade da existência de culpa é facilmente perceptível no texto do artigo 186 do Código Civil, uma vez que este aduz “aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência...”. Ora, ação ou omissão voluntária é um comportamento na maioria das vezes doloso, enquanto que negligência e imprudência é a falta de um dever de cuidado, ou seja, culpa em sentido estrito. Podemos dizer que a regra geral subjetivista é a irresponsabilidade do agente, até que se comprove seu comportamento culposo e danoso. Assim, o prejuízo será indenizável não como dano em si, porém na razão de ter sido causado por uma conduta culposa do agente. De outro lado, a responsabilidade objetiva independe da existência de culpa na conduta danosa, tendo sido impulsionada pela teoria do risco que surgiu a partir do século XIX. Por esta teoria, todo dano deve ser reparado, independentemente do mesmo ter ocorrido em virtude de um comportamento culposo do agente que o provocou. Portanto, em determinadas situações, aquele que expõe terceiros a risco de dano, em função de sua atividade, fica obrigado a repará-lo, caso este venha a ocorrer. De acordo com a larga doutrina, a teoria do risco tomou força em virtude dos anseios da sociedade, tendo em vista a dificuldade de se comprovar a culpa, o que foi verificado com o grande desenvolvimento industrial, já que tornavase difícil para a vítima comprovar, por exemplo, a culpa do industrial por ato praticado por seu funcionário. A esse respeito bem trata Caio Mário da Silva Pereira7, in verbis: “A insatisfação com a teoria subjetiva tornou-se cada vez maior, e evidenciou-se a sua incompatibilidade com o impulso desenvolvimentista 7 Caio Mário da Silva Pereira, Responsabilidade Civil, p. 262. de nosso tempo. A multiplicação das oportunidades e das causas de danos evidenciaram que a responsabilidade subjetiva mostrou-se inadequada para cobrir todos os casos de reparação. Esta, com efeito, dentro da doutrina da culpa, resulta da vulneração de norma preexistente, e comprovação de nexo causal entre o dano e a antijuridicidade da conduta do agente. Verificou-se, como já foi esclarecido, que nem sempre o lesado consegue provar estes elementos. Especialmente a desigualdade econômica, a capacidade organizacional da empresa, as cautelas do juiz na aferição dos meios de prova trazidos ao processo nem sempre logram convencer a exist6encia da culpa, e em conseqüência a vítima remanesce não indenizada, posto se admita que foi efetivamente lesada. Impressionados com esta situação, juristas da maior envergadura se rebelaram contra os termos restritivos do art. 1382 do Código de Napoleão (Gaston Morin, Saleilles, Josseranda, Georges Ripert), e por via de processo hermenêutico entraram a buscar técnicas hábeis a desempenhar mais ampla cobertura para a reparação do dano. E assim veio nascer a doutrina objetiva...” Destaca-se, então, que o elemento fundamental da responsabilidade objetiva é a não necessidade de se comprovar a culpa do agente que causou o evento danoso, em virtude de expressa disposição legal e nos casos que a legislação especifica. 5. PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL Pudemos analisar, brevemente, que a teoria geral da responsabilidade civil no Brasil é subjetiva, e que o dever de reparar o dano é vinculado à prática de um ato ilícito. Pois bem, para simplificar nosso estudo, traçaremos abaixo as características do ato ilícito como sendo os pressupostos da responsabilidade civil subjetiva, que são o dano, a culpa e o nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta culposa do agente. Embora muitos doutrinadores tratem da ação ou omissão do agente em conjunto com o elemento da culpa, há outros que as estudam de forma dissociada de tal pressuposto, atitude esta tomada neste trabalho. Passemos a analisar, então, referidos pressupostos. 5.1. Ação ou Omissão do Agente Podemos dizer que a conduta do agente, que pode ser uma ação ou omissão, consiste em um fato deste dominável ou controlável por sua vontade. Em outras palavras, a conduta é um comportamento humano voluntário que se exterioriza por meio de uma ação ou omissão, produzindo conseqüências jurídicas. Desta forma, poder-se-ia afirmar que a ação ou omissão é o aspecto físico da conduta, sendo a vontade o seu aspecto psicológico. Por essa razão, há autores que denominam esse elemento de conduta culposa e outros simplesmente de culpa, pois para que haja a responsabilização, não basta uma conduta, esta deve ser revestida por um fato dominável ou controlável, ou seja, culpa. Ademais, a conduta deve ser violadora de um direito, podendo ser este oriundo de um contrato (descumprimento de obrigação contratualmente prevista), da lei (conduta diretamente contrária à qualquer lei, em sentido amplo) ou do comportamento social (a conduta foge à finalidade social a que ela se destina). Com relação à conduta comissiva não há grandes problemas em se imaginá-la, diferentemente da conduta omissiva. Para que o causador do dano seja responsabilizado por sua conduta omissiva, é necessário que tenha ele o dever jurídico de praticar determinado ato e que do descumprimento deste dever seja oriundo o dano. Desta feita, depreende-se que a omissão não é a causa direta do dano, contudo, esta poderá ser a causa jurídica do dano, desde que presente os dois requisitos acima delineados, quais sejam, o dever legal de agir e a conexão entre o descumprimento do dever e o prejuízo. Vale destacar que não é suficiente a verificação da conduta do agente, devendo estar presentes, cumulativamente, os demais requisitos que serão estudados. 5.2. Culpa A culpa é o segundo pressuposto de ato ilícito na responsabilidade civil subjetiva. A definição mais abrangente desta é dada por Caio Mário da Silva Pereira8, segundo o qual: “(...) pode-se conceituar culpa como um erro de conduta, cometido pelo agente que, procedendo contra direito, causa dano a outrem, sem a intenção de prejudicar, e sem a consciência de que seu comportamento poderia causá-lo.” Todavia, o conceito acima reflete apenas a culpa em sentido estrito, que é uma das partes que compõem a culpa no sentido amplo, a qual é referendada pela responsabilidade civil subjetiva. A outra parte da culpa lato sensu é o dolo, que inicialmente era definido, em linhas gerais, como a transgressão a uma norma jurídica, com a vontade do agente de promover o resultado. De outro lado, há doutrina moderna tem ensinado que, para a configuração do dolo, basta a atitude danosa com a consciência do resultado por parte de seu agente (teoria do dolo eventual). De qualquer maneira, o importante é deixar claro que a culpa, para fins de responsabilidade civil, abrange a culpa em sentido estrito e o dolo, conforme dito anteriormente. Em ambas as modalidades (dolo e culpa em sentido estrito) a culpa implica a violação de um dever de diligência, ou seja, a violação do dever de previsão de certos fatos ilícitos e da adoção das medidas capazes de evitá-los9. Para se aferir essa mencionada diligência, nosso sistema jurídico vem adotando a teoria do homem médio, aquele que tem a capacidade de prever o dano e precavidamente o evita. O dispositivo atinente ao ato ilícito aduz sobre negligência ou imprudência e, embora não mencione, há de se entender que exista a previsão para a imperícia. Para melhor elucidar os termos abrangidos no artigo 186, esclarece-se que na negligência há um desajuste psíquico traduzido no procedimento antijurídico, ou uma omissão de certa atividade que teria evitado o resultado danoso. 8 Responsabilidade Civil, p. 69. Na imprudência o agente procede precipitadamente ou sem prever as conseqüências da ação. Já a imperícia refere-se à falta de diligência inerente a uma determinada profissão ou atividade. O Código Civil, em seu artigo 945, prevê que se a pessoa que sofreu o dano também agiu com culpa (caso de culpa concorrente), a indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade desta, em confronto com a do autor. Portanto, tem-se que culpa concorrente não exclui o dever de indenizar. 5.3. Dano Por muitos e muitos anos a doutrina nacional baseava-se na tese de que, para fins de responsabilização, era a lesão ao patrimônio, sendo que este se consistia no conjunto de relações jurídicas de uma pessoa, apreciáveis em dinheiro. Para o nosso bem, tal conceito foi se aperfeiçoando, chegando-se, hoje em dia, a se considerar dano como toda desvantagem experimentada em qualquer bem jurídico, podendo ser patrimônio, corpo, vida, saúde, honra, entre outros. 9 Carlos Roberto Gonçalves, Responsabilidade Civil, p. 331. Foi nesse contexto que tomou força a idéia de dano moral. Portanto, considera-se que o dano é indenizável, ainda que a desvantagem não possa ser traduzida em um quantum monetário. Nesse sentido, há lições que ensinam que dano moral não é indenizável, mas, sim, compensável ou reparável, isso porque o significado da palavra indenização é restituir a coisa ao seu estado de origem, ante de ter sofrido o dano. Assim sendo, o proprietário de um automóvel danificado em uma colisão pode receber uma indenização, que será o recebimento de uma quantia par consertar seu veículo, a fim de deixá-lo na mesma situação em que se encontrava anteriormente ao acidente. Continuam alegando que o dano moral, por ser uma dor psíquica insuportável, um sentimento profundo, não é passível de ser indenizado, pois ainda que a pessoa receba uma grande quantia de dinheiro, seu estado psíquico jamais voltará ao status quo ante. Voltando-se ao cerne do capítulo, temos que o dano é o principal pressuposto para que se fale em responsabilidade civil, não só a subjetiva, como também a objetiva, eis que nesta última, se não houver a culpa, deverá o agente responder pelos danos mesmo assim, o que não ocorre se o dano não for comprovado. Não basta existir o dano e os outros pressupostos para que o agente seja responsabilizado. O dano deve ser, ainda, atual e certo, sendo estes dois requisitos imprescindíveis para fins de responsabilização. Aliás, é muito fácil se perceber porque devem estar presentes os requisitos acima. Ora, para que o dano seja passível de ressarcimento, este deve ser presente ao momento da ação indenizatória, fundado em um fato preciso e não hipotético. Outrossim, deve, também, observar a certeza, pois é um contra-senso se requerer indenização pela possibilidade de sofrer um dano, que poderá não se concretizar. 5.4. Nexo de Causalidade Excluindo-se as hipóteses que o Código Civil traz, com relação à responsabilidade de uma pessoa por ato de terceiro (artigos 932 e incisos, 936, 937 e 938, todos do Código Civil), deve-se procurar a existência da relação de causa e efeito entre a conduta praticada pelo agente e o dano sofrido. Nesse sentido, o disposto no artigo 927 do Código Civil é bem claro na necessidade de existência desse liame, ao aduzir “aquele que,..., causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”. Assim, tem-se que só há de se falar em responsabilização se houver a comprovação que o dano suportado é oriundo da conduta, omissiva ou comissiva, do agente. Caio Mário bem tratou deste pressuposto10: “É necessário se estabeleça uma relação de causalidade entre a injuridicidade da ação e o mal causado, ou, na feliz expressão de Demogue, ‘é preciso esteja certo que, sem este fato, o dano não teria acontecido. Assim, não basta que uma pessoa tenha contravindo a certas regras; é preciso que sem esta contravenção, o dano não ocorreria’ (Traité dês Obligaciones em General, vol. IV, n.º 366)” Para a culpa aquiliana, o nexo de causalidade é essencial, para fins de responsabilização, enquanto que para a culpa contratual, basta a prova do descumprimento da obrigação prevista no instrumento. Ocorre, entretanto, que na prática nem sempre é fácil de se verificar qual a verdadeira conduta que deu causa ao dano, principalmente quando ocorrem as denominadas concausas, que são a presença de alguns comportamentos que, de alguma forma, contribuíram para a efetivação do dano. Referidas concausas podem ser simultâneas ou sucessivas, considerando se ocorreram no mesmo momento ou sucessivamente. Com relação às 10 Caio Mário da Silva Pereira, Responsabilidade Civil, p. 75 concausas simultâneas, o parágrafo único do artigo 942 do diploma civil prevê a solidariedade dos agentes que concorreram para a realização do dano. De outro lado, no caso das concausas sucessivas, onde ocorre, no decorrer do tempo, uma cadeia de comportamentos e condições que dão causa ao dano, a verificação de qual das condutas é a responsável pela provocação do dano é mais difícil. Com o fim de auxiliar na verificação das concausas sucessivas, a doutrina brasileira criou algumas teorias. Para Carlos Roberto Gonçalves11, “três são as principais teorias a respeito: a da causalidade das condições, a da causalidade adequada e a que exige que o dano seja conseqüência imediata do fato que a produziu.” Como o objetivo deste trabalho não é elaborar um tratado de direito civil, nos ateremos ao estudo da teoria adotada por nosso ordenamento jurídico. Portanto, abordaremos a teoria dos danos diretos e imediatos, pela qual estabelece-se uma relação direta e imediata entre causa e efeito, ou seja, causa é o fato que, necessariamente, proporcionou o dano. 11 Responsabilidade Civil,.p. 372. Esta teoria está inserta no artigo 403 do Código Civil, segundo qual, “ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, a perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato...”. 6. A RESPONSABILIDADE CIVIL DOS ADMINISTRADORES DE ACORDO COM A LEI DAS SOCIEDADES ANÔNIMAS 6.1. Fundamento da Responsabilização A responsabilidade dos administradores tem como pressuposto sua condição de órgãos sociais, através dos quais se expressa a vontade coletiva emanada das deliberações da Assembléia Geral. Partindo-se de tal pressuposto, o artigo 158 da Lei nº 6.404/76 prevê, como regra geral, a irresponsabilidade pessoal do administrador pelas obrigações que este contrair em nome da sociedade. Ademais, a irresponsabilidade se justifica porque, atuando a pessoa física do administrador como órgão da sociedade, ele exprime a vontade do ente coletivo e, portanto, para com terceiros é a sociedade que se obriga. 6.2. Responsabilidade da Pessoa Física do Administrador Em que pese a regra geral ser a de irresponsabilidade da pessoa física do administrador, há hipóteses em que este será obrigado a reparar o dano causado por atos de sua gestão. Para que se mantenha a irresponsabilidade, é necessária a observância ao denominado ato regular de gestão, conforme determina o artigo 158 da Lei das Sociedades Anônimas, o qual se transcreve: “Art. 158. O administrador não é pessoalmente responsável pelas obrigações que contrair em nome da sociedade e em virtude de ato regular de gestão; responde, porém, civilmente, pelos prejuízos que causar, quando proceder”: I- dentro de suas atribuições ou poderes, com culpa ou dolo; II- com violação da lei ou do estatuto. (...)” Conforme se depreende do dispositivo acima transcrito, tem-se que a não cumpre ato regular de gestão o administrador que agir, com culpa ou dolo, dentro de suas atribuições ou poderes que o estatuto lhe outorgar, bem como aquele que age com violação da lei ou estatuto, sendo essas as hipóteses que autorizam a responsabilidade pessoal do administrador pessoa física. Primeiramente, tendo em vista os incisos I e II acima, deve-se separar as atribuições de cada órgão administrativo, a fim de que se possa aferir se realmente houve a violação de suas atribuições, lei ou estatuto. Isso porque, um diretor não pode ser responsabilizado, por exemplo, por não observar alguma atribuição que é outorgada para os membros do Conselho de Administração. 6.2.1. Dolo ou Culpa No primeiro caso, a lei trata da responsabilidade civil subjetiva, onde devem ser demonstrados o prejuízo, o ato danoso, revestido de culpa em sentido amplo, e o nexo de causalidade entre ambos. Frise-se que, nesse caso, a sociedade concorre como obrigada, tendo, entretanto, o direito de regresso contra o administrador, sendo necessário, para tanto, observar o disposto no artigo 159 do mesmo diploma legal. Com relação à concorrência da sociedade, Guerreiro12 nos ensina que: “Evidentemente, não pode a sociedade deixar de responder perante terceiros que com ela se relacionaram, exempli gratia, celebrando determinado contrato, porquanto a tais terceiros não se poderá exigir mais do que a normal diligência em verificar se o administrador que representa a sociedade procede, no caso, consoante as normas que lhe determinam seus poderes e atribuições...” Realmente parece-nos óbvia a concorrência da sociedade, pois, do contrário, imaginem que em todo e qualquer negócio executado com a sociedade os terceiros de boa fé tenham que solicitar os estatutos da sociedade, as atas de assembléia, e demais documentos societários, a fim de verificar se não há impedimento das pessoas ali envolvidas. 12 José Alexandre Tavares Guerreiro, Responsabilidade dos Administradores de Sociedades Anônimas, in Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro Por que os administradores respondem pelo dano se agiram dentro de suas atribuições? Isso ocorre porque, embora o ato seja revestido de legalidade, o dolo ou culpa desvirtuam o ato praticado, dando-lhe finalidade diversa daquela que o interesse social exige. Se o administrador agiu com dolo, este não observou o dever de lealdade, pois, ao invés de agir para o interesse da sociedade, o fez com vistas a uma vantagem pessoal ou para terceiros, trazendo, por conseqüência, prejuízo para a sociedade, acionistas ou terceiros, sendo, portanto, obrigado a repará-lo. Com relação à conduta culposa do administrador, sua aferição é mais difícil, eis que esta se mostra atrelada ao dever de diligência, que, como já estudamos, é um critério muito subjetivo. Assim, o correto seria analisar-se a culpabilidade do administrador, a fim de se verificar se o agente poderia, diante das circunstâncias, ter atuado de modo a evitar o dano. 6.2.2. Violação da Lei ou do Estatuto A lei e o estatuto prescrevem certos deveres aos administradores, alguns desses objetivos e outros subjetivos, tais como a observância aos deveres previstos nos artigos 153 e 155 da Lei das Sociedades Anônimas. A análise do inciso II do artigo 158 do mesmo diploma legal é um pouco mais profunda do que nos parece à primeira vista. Tal dispositivo menciona apenas a violação da lei ou do estatuto como requisito para o administrador reparar os danos causados, ensejando, assim, uma presunção de culpa do administrador, quase que se equiparando à responsabilidade objetiva. Todavia, não se pode admitir essa interpretação. Conclui-se que o inciso atribui sim uma presunção de culpa, mas se esta não é devidamente comprovada, não se pode responsabilizar o administrador por ter violado estes normativos. Assim, devem ser levados em conta dois elementos valorativos para se responsabilizar o administrador, quais sejam, o objeto social da empresa e o interesse social. O objeto social serve como elemento para se limitar a discricionariedade da gestão, enquanto que o interesse social serve como base para aferir se o ato praticado o atende, tendo em vista que este representa o fim a ser perseguido pela administração. O festejado jurista Nelson Eizirik13 escreveu em um artigo sobre a presunção de culpa do administrador, dizendo que esta presunção é relativa, posição à qual nos filiamos: “Assim, se o administrador viola a lei ou estatuto, presume-se a sua culpa; tal presunção não é, porém, absoluta, admitindo portanto prova em contrário. O administrador, nesse caso, deve provar que, embora tenha violado a lei ou o estatuto, agiu sem culpa ou dolo. Conforme referido na doutrina, tal pode ocorrer no caso em que o administrador procede contrariamente à lei ou ao estatuto como única alternativa viável para favorecer a companhia diante de uma situação de impasse. Em tal circunstância, caberia a ele demonstrar que, embora tendo agido voluntariamente, não foi negligente nem imprudente, muito menos teve a intenção de causar prejuízos.” Assim, tem-se que a hipótese do inciso II se trata de uma espécie de responsabilidade em que o ônus da prova é invertido, já que deve o administrador provar que, embora agindo contra a lei ou estatuto, não teve culpa ou dolo em causar dano. Entretanto, Fábio Ulhoa Coelho14 não comparte desta posição, entendendo que os incisos I e II são interdefiníveis. Vejamos: “Os dois incisos do art. 158 da LSA são interdefiníveis: não há conduta que se enquadre num deles que não se possa enquadrar, também no outro. Não é correto, portanto, considerar que cada dispositivo expressa um 13 Nelson Eizirik. Responsabilidade Civil e Administrativa do Diretor de Companhia Aberta, in Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro. 14 Curso de Direito Comercial, v.2, p. 259. sistema diferente de responsabilidade civil dos administradores de sociedade anônima.” 6.3. Da Responsabilidade Perante Terceiros A responsabilidade civil dos administradores, em linhas gerais, pode ser definida da mesma maneira que a responsabilidade civil subjetiva clássica, exceto na hipótese do inciso II, artigo 158 da Lei das Sociedades Anônimas. Portanto, tendo um administrador causado dano a qualquer terceiro, em razão de sua gestão, pode este ser demandado diretamente pelo prejudicado, desde que seu ato tenha violado a lei, estatuto, ou tenha sido revestido de dolo ou culpa. A esse respeito à lei prevê referida possibilidade no parágrafo 7º, artigo 159, do mesmo diploma legal: “Art. 159. (...) §7º. A ação prevista neste artigo não exclui a que couber ao acionista ou terceiro diretamente prejudicado por ato do administrador.” Através da leitura do dispositivo, percebe-se que o ato de gestão do administrador deve ser diretamente causador do dano ao terceiro prejudicado, de modo que se for uma concausa muito remota, não se vislumbra a possibilidade de responsabilização. Se assim não fosse, imaginem que o administrador, em violação ao estatuto ou agindo com dolo ou culpa, efetue algum negócio em nome da companhia e que, indiretamente, tenha levado um antigo fornecedor à bancarrota. Seria o administrador responsabilizado pelo prejuízo enfrentado? Por outro lado, se o administrador agir com a intenção de causar o dano, deve ser responsabilizado. 6.3.1. Solidariedade da Companhia Como previsto na legislação brasileira, a solidariedade não se presume, deve advir de lei ou de vontade das partes. Desta feita é que surge a questão da solidariedade da empresa para ressarcir o dano causado por seu administrador. Sabe-se que as condições financeiras de um administrador não são iguais à da companhia, portanto, seria interessante para o prejudicado demandar ação indenizatória também em face da empresa, a fim de garantir o recebimento do quantum indenizatório. Mais uma vez nos deparamos com um critério subjetivo para se avaliar a responsabilidade. Isso porque a doutrina preleciona que em certas situações é imprescindível que a empresa seja responsabilizada, pois, do contrário, não haveria meios de se ressarcir o dano, devido à insuficiência patrimonial do administrador. Assim, é lecionado que se o administrador pratica ato que extrapola os limites atribuídos ao seu cargo ou viola a lei, de forma clara e notória ao homem médio, então a empresa não deve ser responsabilizada pelo prejuízo causado. Em contrapartida, se o dano é causado por um ato do administrador que é comum na prática empresarial e que aparentemente não há violação ao estatuto, por exemplo, a companhia deveria responder pelo ressarcimento do dano, solidariamente com o administrador. Tavares Guerreiro15, em seu artigo, leciona que a boa fé dos terceiros deve ser tutelada, sob pena de inversão dos valores jurídicos: “O rigor de tal conclusão não deve, todavia, ser tomado em sentido absoluto, em nome do postulado que assegura proteção à boa fé de terceiros. A própria relação orgânica entre sociedade e administrador deve induzir, em determinadas hipóteses, a aparência do direito, cuja eficácia constitui um dos mais relevantes aspectos evolutivos da teoria jurídica. Saber-se se a sociedade se obriga por ato ultra vires praticado por diretor tende a ser uma determinação valorativa, em cada caso concreto, 15 José Alexandre Tavares Guerreiro, Responsabilidade dos Administradores de Sociedades Anônimas, in Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro. porquanto o erro de terceiro contratante há de ser avaliado em relação a um padrão médio de pessoa, de conhecimentos relativos.” Portanto, o critério subjetivo estaria em se verificar se o contratante, por sua condição empresarial, teria condições de saber se o ato do administrador extrapola ou não os limites de sua função. 6.3.2. Solidariedade entre os Administradores A solidariedade entre os administradores ocorre apenas nos casos em que a lei prevê sua aplicação. Portanto, com relação à Lei das Sociedades Anônimas, as hipóteses previstas nos parágrafos 1º, 2º e 5º do artigo 158: “Art. 158. (...) § 1º. O administrador não é responsável por atos ilícitos de outros administradores, salvo se com eles for conivente, se negligenciar em descobri-los ou se, deles tendo conhecimento, deixar de agir para impedir a sua prática. (...) § 2º. Os administradores são solidariamente responsáveis pelos prejuízos causados em virtude do não-cumprimento dos deveres impostos por lei para assegurar o funcionamento normal da companhia, ainda que, pelo estatuto, tais deveres não caibam a todos eles. (...) §5º. Responderá solidariamente com o administrador quem, com o fim de obter vantagem para si ou para outrem, concorrer para a prática de ato com violação da lei ou do estatuto.” Dos casos previstos acima, nenhum se aplica aos danos causados a terceiros, pois tratam apenas de hipóteses de danos causados para a sociedade. Portanto, aplica-se para os terceiros prejudicados as mesmas norma da responsabilidade civil subjetiva clássica, com a qualificadora dos incisos I e II do mesmo dispositivo acima, no caso de outro administrador ter concorrido para o evento danoso. Outra discussão diz respeito à solidariedade dos membros de órgão colegiado, que, no caso, seria o Conselho de Administração. Ora, como sabido, as decisões de órgãos colegiados só surtem efeitos se tomadas em conjunto, pois, do contrário, seriam nulas. Portanto, há estudos que afirmam serem os membros dos órgãos colegiados solidários, pois o evento danoso foi oriundo de decisão coletiva. Em se tratando de responsabilidade para com a sociedade, entendemos que não há solidariedade dos membros dos órgãos colegiados, mas sim uma responsabilidade coletiva. Entendemos dessa maneira porque, com já mencionado, a solidariedade não se presume, portanto, como não há previsão para tanto, não há que se falar em solidariedade. Entretanto, parece-nos favorável a tese de que a responsabilidade é coletiva. A diferença é gritante entre ambos institutos. Na solidariedade, qualquer um dos demandados responde pelo todo, enquanto que na responsabilidade coletiva, todos respondem em partes iguais pelo prejuízo causado, podendo ser demandado apenas por sua parte devida e não pelo todo. A responsabilidade coletiva é preferível justamente porque o concurso na tomada das decisões não é voluntário, mas sim obrigatório. Seria injusto, então, se um conselheiro que seja voto vencido em uma deliberação responda por todo um dano causado pelo conselho. Com relação à solidariedade perante terceiros, nos posicionamos da mesma forma que foi defendida a tese de solidariedade da sociedade, pois o terceiro de boa fé deve ter seus direitos preservados, a fim de não causar o locupletamento indevido até mesmo da companhia. CONCLUSÃO Diante do conteúdo apresentado acima, pode-se concluir que responsabilidade civil subjetiva é aplicada aos administradores de Sociedades Anônimas que compõem os órgão administrativos destas, assim como é aplicada às demais relações humanas extracontratuais. Todavia, para com a sociedade, a responsabilização da pessoa física do administrador deve obedecer as normas estipuladas no artigo 159 da Lei n.º 6.404/76, o qual trata da ação de responsabilidade a ser promovida pela sociedade em face dessas pessoas. Já com relação aos terceiros diretamente prejudicados pela condutas ilícitas dos administradores, que agiram em total desconformidade com a lei ou com o estatuto da empresa, excedendo-se em seus legítimos poderes, a ação de responsabilização pode ser proposta normalmente. Todavia, deve-se ter em mente que caberá ao autor dessa ação a prova dos três pressupostos da responsabilidade civil subjetiva. Via de regra, tanto a sociedade quanto os demais administradores não são solidariamente responsáveis pelas condutas lesivas do agente, haja vista não haver previsão legal nesse sentido. Todavia, dependendo da situação fática, pode-se alegar que a referida solidariedade existe, com base na necessidade de inclusão da empresa no pólo passivo da demanda judicial, para fins de garantia da eventual liquidação do dano, bem como na aparência de conduta lícita do administrador, quando da efetivação do evento danoso. BIBLIOGRAFIA BORBA, José Edwaldo Tavares. Direito Societário. 3a ed., Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1997. CARVALHOSA, Modesto; LATORRACA, Nilton. Comentários à Lei de Sociedades Anônimas. II e III v., São Paulo: Saraiva, 1997. COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial. 5a ed., 2 v., São Paulo: Saraiva, 2002. EIZIRIK, Nelson. Responsabilidade Civil e Administrativa do Diretor de Companhia Aberta, in Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro. Nº 56, outubro-dezembro/1984. São Paulo: Nova Série, 1984. GOMES, Luiz Roldão De Freitas. Elementos de Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2000. GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. 5a ed., São Paulo: Saraiva, 1994. GUERREIRO, José Alexandre Tavares. Responsabilidade dos Administradores de Sociedades Anônimas, in Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro. Nº 42, abril-junho/1981. São Paulo: Nova Série, 1981. LEÃO, Adroaldo. A Responsabilidade Civil dos Administradores de Empresas. Rio de Janeiro: Forense, 1988. MARTINS, Fran. Curso de Direito Comercial. 27a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2001. MENDONÇA, J. X. Carvalho De. Tratado de Direito Comercial Brasileiro, atualização por Ruymar de Lima Nucci. 1a ed., Campinas: Bookseller, 2001. NEVES, Vanessa Ramalhete Santos. Responsabilidade dos Administradores de Sociedades Anônimas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002. OLIVEIRA, Valdeci Mendes De. Obrigações e Responsabilidade Civil Aplicadas. 2a ed., Bauru: Edipro, 2002. PAES, Paulo Roberto Tavares. Responsabilidade Civil dos Administradores de Sociedades. 3a e,. São Paulo: Atlas, 1999. PEREIRA, Caio Mário Da Silva. Responsabilidade Civil. 9a ed., Rio de Janeiro: Forense, 1999. SAMPAIO, Rogério Marrone De Castro. Direito Civil : responsabilidade civil. São Paulo: Atlas, 2000. STOCO, Rui. Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial. 4ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. WAISBERG, Ivo. Responsabilidade Civil dos Administradores Comerciais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. de Bancos
Download