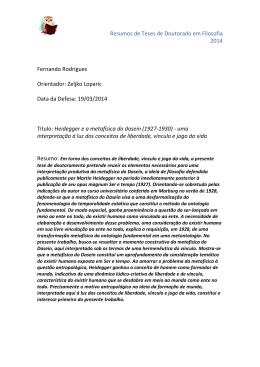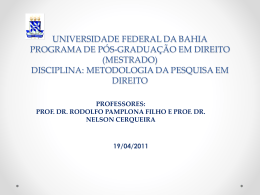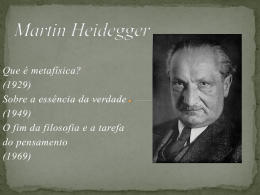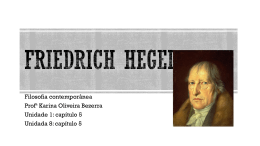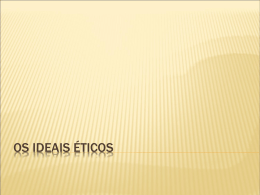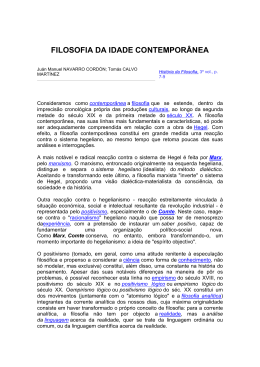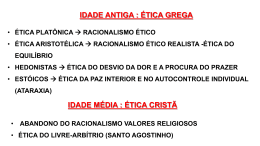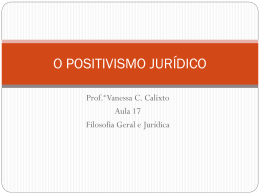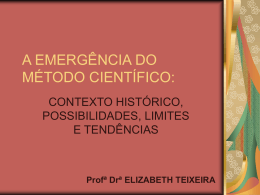Para que, ainda, filosofia?1 Theodor W. Adorno Diante de uma questão como “Para que, ainda, filosofia?“, por cuja formulação sou eu mesmo o responsável e cujo caráter amadorístico não nego, espera-se em geral uma resposta ou uma argumentação que acumulará todas possíveis dificuldades e escrúpulos para finalmente desembocar, com maior ou menor prudência, a um “e, no entanto“ e para afirmar o que retoricamente coloca em dúvida. Essa conclusão bem conhecida revela uma atitude conformista e apologética; considera-se como positiva e antecipa compreensão. Afinal, não se deve confiar em que aqueles que praticam a filosofia profissionalmente e cuja existência civil ela afirma continuem a praticá-la; e que aqueles cujos próprios interesses costumeiros seriam atingidos se manifestem contra ela? Mas, julgo-me no direito de colocar esta questão, pois na verdade desconheço-lhe a resposta. Quem defende algo que o espírito do tempo abandonou como coisa passada e supérflua coloca-se em posição incômoda. Seus argumentos apresentam-se frouxos e inexperientes. “Sim, mas pense bem...como se pode?” dizem diante de alguém que se recuse a discutir a questão. Esta fatalidade envolve quem se relaciona com a filosofia. Deve saber que não é mais técnica de domínio da vida (técnica tanto no sentido literal quanto no figurado), a que tantas vezes se limitava. E, além dessas técnicas, a filosofia não mais aparece como meio de formação cultural, como acontecia na época de Hegel, quando por quase duas breves décadas os intelectuais alemães puderam compreenderse por meio dessa linguagem coletiva. A crise do conceito de formação humanista, sobre a qual é desnecessário gastar muitas palavras, é atribuída, na consciência pública, à filosofia como disciplina primeira depois que, aproximadamente desde a morte de Kant, tornou-se suspeita de más relações com as ciências positivas, pelo menos com as ciências da natureza. O renascimento kantiano e hegeliano, cuja fragilidade já aparece na expressão, pouco mudou a situação. Por fim, a filosofia na situação generalizada de 1 Tradução do texto “Wozu noch Philosophie”, In Theodor W. Adorno Gesammelte Schriften - Band 10 (“Kulturkritik und Gesellschaft: Eingriffe, Stichworte). Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1996. Tradução de Newton Ramos de Oliveira e Revisão técnica de Bruno Pucci. especialização acabou por se tornar também uma disciplina especializada, ou seja, purificou-se de todo conteúdo objetivo. Dessa maneira, renegou o que seu próprio conceito implicava: liberdade espiritual, que o imperativo de ciência especializada não admite. Por meio da abstinência de conteúdo determinado, seja como lógica formal e teoria científica, seja como saga de um ser que se oculta diante de todo ente, a filosofia declarou sua ruptura frente a fins sociais efetivos. Na verdade, assim colocou um ponto final a um processo que se prolongou por toda sua história. Cada vez mais se apartavam dela novos domínios objetivos que passavam a integrar a esfera das ciências; não lhe restou outra opção que converter-se ela mesma numa ciência, ou num reduto mínimo tolerado, que, nestes termos, entrava em contradição com o que pretendia: um conhecimento não particularizado. Pois ainda a física de Newton era chamada filosofia. A moderna consciência científica veria nela um resíduo arcaico, um rudimento daquela época da remota especulação grega, na qual a firme explicação natural e a metafísica sublime que invocava a essência das coisas ainda estavam indistintas. Alguns mais afoitos proclamaram este estrato arcaico como o único filosófico e tentaram restabelecêlo. Mas a consciência, que sofre a situação de ruptura e que ainda lamenta a unidade necessariamente perdida, contradiz o conteúdo que aspira a dar-se. Daí que deva recorrer a uma linguagem original, embora arbitrária. A restauração na filosofia é tão transitória quanto nos demais campos. Teve que resguardar-se da cultura pedante e também das concepções mágicas do mundo. Não deve também conceber-se como trabalho especializado científico-teórico nem pavonear-se com investigações. A filosofia, porém, que se abstém de tudo isto entra em contradição irreconciliável com a consciência dominante. Não por outra razão atrai as suspeitas de apologética. A filosofia que se satisfaz com o que quer ser, sem correr infantilmente atrás de sua história e do real, tem seu nervo vital na resistência contra a prática hoje corrente; e no que se refere ao que serve, o que ela mesma é, encontra sua justificação. Mesmo a especulação mais alta até hoje, a de Hegel, não mais é obrigatória. Mesmo quem pelas classificações da opinião pública é bem aceito em suas produções públicas e visto como pensador dialético têm que deixar claras as diferenças em relação a Hegel. Não se trata de movimento individual, mas de exigência do próprio objeto ao qual Hegel pretende que o pensamento simplesmente se entregue. Não se pode separar da apologética a pretensão de totalidade da filosofia tradicional, que culmina na tese da racionalidade do real. Mas isto se tornou absurdo. A filosofia que ainda se visse como total, como sistema, cairia num sistema alucinado. Mas se abandona esta pretensão de totalidade, se não mais pretende extrair de si própria a totalidade em que consistiria a verdade, então entra em conflito com toda a tradição. Eis o preço que deve pagar ao curar-se dessa loucura que se chama realidade. Não mais é auto-suficiente nem uma relação com fundamento. Sua situação na sociedade, em que deveria penetrar e não rejeitar, corresponde à dúvida constante que é de sua índole: na necessidade de formular o que, sob o título de absurdo, já foi concebido pela maquinaria. A filosofia, a responsabilizar-se sozinha pelo todo, não deveria considerar-se capaz de dominar o absoluto; deveria proibir-se de pensar nele e, no entanto, para não traí-lo, conservar o conceito enfático de verdade. Essa contradição a caracteriza, a determina negativamente. A famosa frase de Kant segundo a qual só a via crítica continuaria aberta é uma dessas frases em que a filosofia, de que se originam, se põe à prova naquilo em que, como fragmento, supera o sistema. Com certeza, a idéia de crítica pertence à hoje desorganizada tradição filosófica. Enquanto, porém, o âmbito de todo conhecimento é tomado pelas ciências especiais de tal modo que o pensamento filosófico se sente aterrorizado e teme ter que submeter-se à acusação de puro diletantismo quando chega a algum conteúdo, o conceito de origem ganha, por reação, uma honra imerecida. Quanto mais penetrável o mundo, quanto mais densa a rede que lançou sobre a natureza, tanto mais o pensamento que lança essa rede reivindica ideologicamente ser natureza e experiência originária. Desde os enaltecidos pré-socráticos, a tradição nos apresenta filósofos que são críticos. Xenófanes, a cuja escola remonta o atual conceito do ser oposto ao pensar, pretendeu desmitologizar as forças da natureza. A hipótese platônica do conceito de idéia foi reexaminada por Aristóteles. Nos tempos modernos, Descartes julgou a escolástica da dogmatização como mera opinião. Leibnitz foi crítico do empirismo e Kant foi crítico dos seguidores de Leibniz e, ao mesmo tempo, dos de Hume; Hegel criticou Kant; Marx fez a crítica de Hegel. Em todos eles, a crítica não foi simples conseqüência do que, no jargão da ontologia de trinta anos atrás, recebeu a denominação de “projetos”. Não evidencia atitudes adotadas por simples gosto, mas alimenta-se dos argumentos justos. Estes pensadores tiveram na crítica a própria verdade. Ela apenas, enquanto unidade de problemas e de argumentos, ⎯ e que não é recepção de novas teses ⎯ fundamentou o que pode valer como unidade produtiva na história da filosofia. Tais filosofias encontram seu núcleo temporal no desenvolvimento da crítica; aí alcançaram o valor de sua inserção histórica, cujo conteúdo teórico permanece na eternidade e no atemporal. A crítica filosófica hoje só se depara com duas escolas; que enquanto espirito do tempo, queiramos ou não, atuam para além dos limites acadêmicos. Diferenciam-se e, ao mesmo tempo, se complementam. Sobretudo nos países anglo-saxões, o positivismo lógico, inaugurado pelo Círculo de Viena, conquistou terreno a ponto de chegar a monopólio. Muitos julgam-no moderno, no sentido de uma explicação mais conseqüente que, como se diz, torna-se adequada à era tecnocientífica. Desconsidera-se que o que está implícito nele é apenas um resíduo da metafísica, da mitologia inconsciente ou da arte ⎯ para usarmos a linguagem dos que são avessos à arte. Opostas a ele, sobretudo no âmbito da língua alemã, posicionam-se as orientações ontológicas. Entre essas, destaca-se a de Heidegger, que, em suas publicações posteriores à chamada “virada”, abstém-se de mencionar a palavra “ontologia, como a mais arcaica, enquanto em sua modalidade francesa, o existencialismo, a atitude ontológica se transforma em iluminista e em engagement político. O positivismo e a ontologia são, entre si, anátemas; aquele, por intermedio de um de seus maiores expoentes, Rudolf Carnap, atacou ⎯ aliás, injustamente ⎯ a teoria de Heidegger como destituída de sentido. Por outro lado, o pensamento positivista aparece à ontologia heideggeriana como tendo se esquecido do ser; e, assim, profana a própria questão. Teme-se sujar as mãos com simples entes, que o positivismo quer tratar com exclusividade. Tanto mais surpreendente, daí, que as duas orientações coincidam em algo decisivo. Ambas denunciam a metafísica como inimigo comum. Que o positivismo não admita a metafísica por ultrapassar o fático é algo que não requer maior esclarecimento, quando se adverte que ele, por seu próprio nome, quer ater-se ao positivo, ao existente, ao dado. Mas também Heidegger, formado na tradição metafísica, tenta expressamente dela separar-se. Batiza de metafísico o pensamento, desde, pelo menos, Aristóteles, (se é que não desde Platão) por separar ser e ente, conceito e conceituado, ou, como se poderia dizer numa linguagem, que, com certeza, seria desprezada por Heidegger: por separar sujeito e objeto. O pensamento ⎯ que diferencia e divide em partes destruindo, através da reflexão, o que as próprias palavras dizem, ou seja, aquilo que Hegel chamava de elaboração e rigor do conceito e que equiparava à filosofia ⎯ é já uma queda desta sem reparação e prevista no próprio ser como correspondente ao “ser historicamente”. Nos dois casos, seja com os positivistas, seja com Heidegger (pelo menos em sua última fase) se insurge contra a especulação. Naqueles, o pensamento, que com autonomia e significativamente se eleva sobre os fatos e que deles não pode ser extraído sem resíduos, é denunciado como vazio e como mero jogo conceitual; e, de acordo com Heidegger, o pensamento, em seu sentido configurado pela história ocidental, perde a verdade em sentido profundo. Esta seria algo que por si aparece e se oculta e o pensamento nada mais é que a capacidade de percebê-la. Num sentido subjacente, a filologia torna-se instância filosófica. Na aversão comum contra a metafísica há menos paradoxo do que se pode julgar à primeira vista. Há pouco, um discípulo de Heidegger, Walter Bröcker, que é professor em Kiel, quis combinar o positivismo e a filosofia do ser, outorgando ao positivismo o terreno total dos entes e colocando a doutrina do ser numa camada acima, expressamente como mitologia. O ser, em cujo nome a filosofia de Heidegger cada vez mais se recolhe, é para Bröcker algo imediato que se apresenta, como uma aparência, à consciência passiva, independentemente da mediação do sujeito, do mesmo modo como aos positivistas se apresentam os dados sensíveis. O pensar torna-se, para as duas orientações, um mal necessário, desacreditado por sua parcialidade. Perde o caráter de independência. A autonomia da razão desaparece, aquilo que nela não se esgota no refletir sobre algo previamente dado, ao qual se conforma. Com isso também desaparece a concepção da liberdade e, virtualmente, a autodeterminação da sociedade humana. Se seu sentido humano não lhes impedisse ir tão longe, a maioria dos positivistas teria que exigir também da práxis a adequação aos fatos, diante dos quais o pensamento é impotente, pura antecipação ou classificação que fracassa diante ao único que conta, diante do que é apenas por uma vez. Em Heidegger, no entanto, o pensar, como uma atenção ao ser ⎯ respeitosa, passiva e destituída de conceitos ⎯, que apenas se proclama a si mesmo, carece do direito de crítica e se vê obrigado a capitular, sem fazer distinções, diante do poderio brilhante do ser. A submissão de Heidegger ao regime ditatorial de Hitler não foi um ato de oportunismo, mas derivado de uma filosofia que identificava o ser e o Führer. Se a filosofia ainda é necessária, então terá que ser cada vez mais como crítica; como resistência a uma heteronomia que se expande, como tentativa impotente do pensamento para manter-se senhor de si e colocar a mitologia proposta no lugar que sua própria medida lhe concede. Nela a liberdade teria que buscar refúgio, enquanto a ela não renuncie como ocorreu na Atenas cristianizada em fins da Antigüidade. Não se pode esperar que venha eliminar as tendências políticas que, no mundo cotidiano, menosprezam a liberdade interior e exterior e cujo domínio se insere profundamente até nas argumentações filosóficas. O que se consuma no interior do conceito sempre reflete algo do movimento real. Se ambas heteronomias são a não verdade, e se isto pode ser demonstrado de maneira estrita, então não acrescenta nova articulação à cadeia desesperançada das filosofias, mas também se ergue uma réstia de esperança de que a falta de liberdade e a opressão ⎯ males que não requerem uma demonstração filosófica para ser o que são, pois que existem ⎯ não prevalecerão como palavras finais. Uma crítica deste tipo teria que firmar as duas tendências dominantes como momentos divididos de uma verdade que historicamente viu-se forçada a cindir-se. Como não é possível reuni-las numa pretensa síntese, deve-se refletir sobre elas mesmas. O falso no positivismo é que a divisão do trabalho imposta em algum momento entre as ciências e a práxis social e que supõe ser a ciência a medida da verdade, impeça qualquer teoria de evidenciar que esta divisão do trabalho é derivada, mediada, o que eliminaria sua falsa autoridade. Se a filosofia, na época da emancipação, pretendeu-se fundamento da ciência e se, em Fichte e em Hegel, foi interpretada como a única ciência, então para os positivistas se converte em experiência endurecida subtraída às ciências, nas maneiras destas se comportarem, já configuradas e socialmente endurecidas em atividade autojustificada, círculo ante o qual, surpreendentemente pouco se incomodam os fanáticos do rigor lógico. A filosofia renuncia ao se colocar no mesmo nível daquilo que dela deveria receber luz. A existência da ciência em si mesma, como se apresenta no emaranhado social com todas as suas incoerências e irracionalidades, torna-se critério de sua própria verdade. Com tal relação diante das coisas, o positivismo é uma consciência coisificada. Em que pese toda sua oposição à mitologia, o positivismo trai o impulso antimitológico da filosofia, que assume o que o homem fez para conduzi-lo à sua medida humana. A ontologia fundamental, no entanto, torna-se cega contra a mediação não do fático, mas do conceito. Sublinha a compreensão de que essas essências, ou como quer que sejam chamadas numa sublimação progressiva de que lança mão contra o positivismo, sempre são pensamento, sujeito, espírito. Exatamente o fato de ser sujeito e ser condicionado traz de volta um ente que não surgiu por um acaso do ser: o homem socializado. No santuário da morada em que a filosofia da repristinação se entricheira da profanidade dos meros fatos e dos conceitos, que se separam dos fatos e subordinam-se a eles como unidades que os captam, voltam a reunir-se os que estavam cindidos e diante dos quais se supunham imunes os mensageiros do indiviso. Suas palavras são inevitavelmente conceitos, por longe que se esteja de deverem ser pensados; o pensamento, porém, continuará, como teoria do ser, a ser um arcaísmo integral. Como, no entanto, por seu próprio sentido, os conceitos requerem um conteúdo; como, na intuição insuperável de Hegel, o simples pensamento da identidade exige um nãoidêntico, do qual apenas cabe reivindicar a identidade: assim os conceitos mais puros são imanentes e de maneira alguma polares na medida em que dirigidos ao Outro. O próprio pensar, do qual todos os conceitos são funções, não pode ser representado sem a atividade de um pensador que diga a palavra “pensar”. Nessa retrospectiva já se encontra compreendido como momento o que no uso idealista do conceito será apenas constituído e que, na mitologia do ser, deve ser, com o conceito, epifenômeno de uma terceira coisa. Sem a determinação desses dois momentos, este terceiro seria totalmente indeterminado; dizer-lhe o nome já implica sua determinação por meio dos momentos assiduamente negados. Mesmo o sujeito transcendental kantiano, cuja herança o ser transcendental, carente de sujeito assumiria de bom grado, precisa, enquanto unidade, do múltiplo assim como, por sua vez, a multiplicidade precisa da unidade racional. Independentemente dos conteúdos, que são os unificados, não é possível captar o conceito correspondente a eles, nem sequer cabe magicamente extrair dos conteúdos o rastro de algo fático ou a diferença do conceito que deles se requer. Por formal que seja e mesmo tratando-se de pura lógica, nenhuma unidade pode ser concebida apenas como possibilidade daquilo de que provém; mesmo este algo formal é a proposição do material cuja exclusão é o orgulho da lógica pura. O fundamento da razão chamada por Günther Anders de pseudoconcreção do pensamento ôntico, e com isso, de todo o engano que se estendeu a seu redor, consiste em que este vê sua própria pureza na falta de contato com o que, no entanto, ele próprio é e com o que, como concreto, a ele corresponde. Seu triunfo, ele o festeja na retirada estratégica. Por meio de uma ambigüidade mítica, oculta simplesmente a limitação determinada de seus elementos, dos quais pode tão pouco libertar-se como a própria consciência condicionada. Porque na mitologia ôntica, o ente e o conceito permanecem artificialmente separados, aparecendo o ser como se estivesse por cima tanto do ente quanto do conceito e, assim, obtém para falar com Kant, seu caráter absoluto. É também consciência coisificada na medida que rebaixa a participação humana nos conceitos superiores e que os diviniza. Mas a dialética nada mais é que insistir na mediação do aparentemente imediato e nos muitos graus que se desenvolvem em todos os estratos de mediatos e imediatos. A dialética não é um terceiro ponto de vista, mas a tentativa de, por meio da crítica imanente, superar os pontos de vista filosóficos e a arbitrariedade do pensamento. que a eles se agrega. Diante da ingenuidade da consciência arbitrária, que julga ilimitado o limitado que lhe apresenta, a filosofia seria a obrigação estrita de não admitir esta ingenuidade. Num mundo que, totalmente socializado, coloca-se tão poderosamente contra todo particular que só lhe resta aceitá-lo tal como se apresenta, esta ingenuidade se reproduz ininterrupta e fatalmente. Converte em natureza o que lhe impõe um aparato desmedido, que os próprios homens formam e ao qual se vinculam, aparato que virtualmente elimina os momentos naturais. A consciência coisificada é perfeitamente ingênua e, como coisificação, é também completamente não ingênua. Caberia à filosofia, dissipar a aparência do compreensível por si mesmo, bem como do incompreensível A integração da filosofia e da ciência, que ressalta já virtualmente nos mais antigos documentos da metafísica ocidental, quis proteger o pensamento da tutela do dogmatismo, com o qual tem afinidade por pura arbitrariedade, o negativo de toda liberdade. A esta se orienta, no entanto, o postulado da “presença” imediata do espírito, que vitalmente se consuma em todo conhecimento e que, tem sido, desde Spinoza, a norma imprescindível da evidência. Trata-se, na mera lógica, da imagem antecipatória de uma situação real em que os homens se encontrariam finalmente livres de toda autoridade cega. Mas isto se modificou. Invocar a ciência, suas regras de jogo, a validez de seus métodos, a respeito dos quais se desenvolve, tornou-se instância de controle que censura o pensamento livre, sem proteção, sem domesticação, e que só tolera do espírito o que está metodologicamente aprovado. A filosofia, o medium da autonomia, se converteu num instrumento de heteronomia. O que interessava foi cortado, entregue à casualidade do difamado aperçu, desonrado até que, isolado, reduziu-se, de fato, a batepapo de concepções do mundo. A crítica filosófica do cientificismo, que combate de forma concludente a esse sistema de pensamento, não é, por isso, aquilo de que lhe acusam seus bem intencionados inimigos, mas, na verdade, a destruição da destruição. A crítica das filosofias existentes não defende o desaparecimento da filosofia, nem sequer sua substituição por disciplinas especializadas, como a sociologia. Quer, na verdade, prestar apoio formal e material àquela forma de liberdade espiritual que não é acolhida pelas tendências filosóficas dominantes. O pensamento, que aberto e conseqüente se dirige a obter um conhecimento progressivo dos objetos, está também livre perante este na medida que não aceita a imposição de regras a partir do saber organizado. Volta à essência da experiência de objetos nele acumulada, rompe a trama social que a oculta e a redescobre. Se a filosofia desprende-se do medo que o terrorismo das tendências dominantes propaga ⎯ no caso das ontológicas, a tendência de pensar apenas o puro; no caso das científicas, a tendência de apenas aceitar o que está justificado pelo conjunto admitido de descobertas cientificamente reconhecidas como válidas ⎯ poderia conhecer o que lhe está vedado por este medo, aquilo que uma consciência não tolhida teria buscado ver. O sonho da fenomenologia de ir “às coisas mesmas” como num sonho desperto poderia aplicar-se a uma filosofia que não espera atingir tais coisas com o recurso mágico da intuição eidética, mas que se utiliza de mediações subjetivas e objetivas, porém sem orientar-se segundo um primado latente do método estabelecido, o qual sempre apresenta às orientações fenomenológicas meros fetiches, concepções auto-fabricadas, em vez das coisas desejadas. Se todas as formulações positivistas não fossem tão profundamente suspeitas, então poder-se-ia imaginar que só uma consciência ao mesmo tempo livre e auto-reflexiva desenvolva o que a filosofia tradicional se impede quando se confunde com o que quer significar. O cansaço da filosofia tradicional nas mutantes regras de seu jogo contém o potencial de uma filosofia que evitaria a proscrição. É incerto, no entanto, que a filosofia enquanto atividade do espírito compreensivo tenha ainda tempo ou se ficou para trás daquilo que tem que compreender: uma situação que leva o mundo à catástrofe. Para a contemplação parece ser muito tarde. O que em sua índole absurda está na ordem do dia, coloca-se contra o compreender. Há mais de cem anos que se apontou o fim da filosofia. Que o Leste proclame como filosofia marxista o materialismo dialético (Diamat), que seria, sem mais, identificável com a teoria marxista, demonstra a conversão do marxismo num dogma estático, contrário a seu próprio conteúdo ou, nas próprias palavras deles, numa ideologia. Quem hoje filosofa só o pode fazer se negar a tese marxista de que a interpretação está superada. Esta tese pensou a possibilidade de modificação radical do mundo como algo a existir aqui e agora. Mas apenas por teimosia poder-se-ia assim pensar hoje. O proletariado a que ele se referia ainda não estava integrado: a olhos vistos se empobrecia enquanto que, do outro lado, o poder social não contava ainda com os meios para se afirmar, em casos graves, como uma força avassaladora. A filosofia, como pensamento simultaneamente coerente e livre se encontra numa situação totalmente diferente. Marx teria sido o último a arrancar o pensamento de seu curso histórico real. Hegel que intuiu a transitoriedade da arte e profetizou seu término, fez sua continuidade depender da “consciência dos perigos”. O que se aplica à arte é válido também para a filosofia, cujo conteúdo de verdade converge com o da arte, ainda que suas formas de experiência sejam diferentes. A duração não diminuída do sofrimento, a angústia e a ameaça, exigem do pensar, que não pode realizar-se, o não se abandonar. Após a oportunidade desaproveitada, cumpriria reconhecer, sem renúncias, porque o mundo que agora e aqui poderia ser o paraíso, poderá tornar-se amanhã um inferno. Um conhecimento deste tipo já seria filosofia. Seria anacrônico pôr de lado uma práxis que serviria para eternizar irresistivelmente uma situação cuja crítica é assunto específico da filosofia. Uma práxis que motiva a constituição de uma humanidade racional e madura, permanece na trilha do doentio se não conta com uma teoria que pense a totalidade em sua não verdade. Não se faz necessária qualquer explicação de que esta não deva voltar a tratar do idealismo, mas, sim, tomar em consideração a realidade social e política com sua dinâmica. Nos últimos quarenta ou cinqüenta anos, a filosofia tem afirmado, em grande parte equivocadamente, que se opõe ao idealismo. O que havia de verdade era a oposição contra o enunciado decorativo, a oposição à hybris do espírito que se alça ao absoluto, contra a explicação do mundo como se já se tratasse da própria liberdade. O antropocentrismo que existe em toda concepção idealista não pode ser salvo; basta recordar, em grandes linhas, as modificações da cosmologia há cento e cinqüenta anos. Com certeza, entre as tarefas da filosofia, não será o menor apropriar-se das experiências científico-naturais para o espírito, sem recorrer a analogias e sínteses elementares. Estas experiências e o chamado reino do espírito abrem-se um ao outro, mas de forma infrutífera. tanto que, às vezes, a ocupação do espírito consigo mesmo e com o mundo social aparece como jogo frívolo. Se a filosofia nada mais tivesse a fazer do que levar a consciência dos homens a condições de tudo que já sabem da natureza, para que não vivam por detrás do próprio conhecimento do cosmo, como habitantes da caverna em que se escoa a penosa existência da pouco sábia espécie humana, já se teria obtido algo. À vista dessa tarefa e ao conhecimento não limitado das leis do movimento da sociedade, a filosofia muito dificilmente se apresenta como afirmativa, de estabelecer algo que tenha sentido positivo. A este respeito, se aproxima do positivismo e, ainda mais, da arte moderna, cujos fenômenos são negados, como destituídos de relação, no que hoje se pensa filosoficamente. Mas a virada, anunciada à saciedade, contra o idealismo não consiste numa explicação militante, mas em resignação. O pensamento atemorizado não ousa mais alçar-se nem mesmo à resignada ontologia fundamental sujeita ao ser. Contra tal resignação, brota no idealismo um momento de verdade. O materialismo realizado seria, hoje, o fim do materialismo, da cega e humanamente indigna dependência do homem diante das relações materiais. O espírito não é o absoluto, mas também não se esgota no ente. E apenas reconhecerá o que é se não o suprimir. A força de tal contradição é hoje a única medida da filosofia. Tão inconciliável é hoje com a consciência coisificada como o foi com o entusiasmo platônico; somente seu excesso permite nomear por seu próprio nome o universalmente condicionado. Deseja a paz com esse outro, o ente, que as filosofias afirmativas humilham enquanto a elogiam e se adaptam a ele. Para elas tudo é funcional; até mesmo a adequação ao ente lhes serve de pretexto para sua submissão ao espírito. Mas o que está aí não deve ser justificado. O que tem uma função permanece enfeitiçado no mundo funcional. Somente o pensamento ⎯ e desde que sem reservas mentais, ilusões de um reino interior que corresponda a sua falta de funcionalidade e a sua impotência ⎯ é capaz talvez de alcançar uma visão da ordem do possível, do não ente, em que os homens e as coisas estariam em seu lugar correto. Como a filosofia não serve para nada, ainda não envelheceu; nem sequer lhe seria lícito , se não se quiser insistir às cegas em sua culpa, reclamar-se a auto-postulação. Esta culpa é transmitida pela idéia de uma philosophia perennis, a que se confiou a verdade eterna. A surpreendente frase de Hegel segundo a qual a filosofia é o próprio tempo captado no pensar, a fez explodir. Tal exigência lhe parecia tão evidente que não hesitou em expô-la como definição. Como primeiro alcançou o insight do cerne temporal da verdade. A ela se vinculava ainda a confiança de que cada filosofia significativa, ao expressar o próprio grau de consciência, expressa também, como momento necessário do todo, a própria totalidade. Que esta confiança estivesse, com a filosofia da identidade, frustrada, não diminui apenas o pathos das filosofias posteriores, mas também seu próprio status. O que para ele era subentendido é hoje impossível afirmar das filosofias dominantes. Não mais captam intelectualmente sua própria época. Apesar de seu provincianismo, os ontólogos tentavam fazer algo. O fiel contraponto a esta tentativa é a irremediável pobreza conceitual dos positivistas. Suas regras de jogo estão recortadas para que a consciência coisificada dos bright boys alienados de espírito possa ser considerada como clímax do espírito do tempo. Mas não passam de seu sintoma; falseiam o que lhes falta, como virtude inviolável de quem não se deixa enganar por falsas aparências. Como espírito do tempo, as duas orientações são, no máximo, formas regressivas; os que estavam “atrás do mundo” na linguagem de Nietzsche, se tornaram os que estão “atrás da selva”. Diante deles, a filosofia deveria conservar-se como consciência mais evoluída, convencida da força daquilo que seria de outra maneira e amadurecida diante do poder do regressivo, sobre o qual se elevará somente depois de incorporá-lo e captá-lo como peso morto. E se o arcaísmo de hoje fala, diante dessa exigência, que adverte com cuidado, o faz a partir da antiga verdade; e se trata o progresso que apenas estorvou como se tivesse superado, com rigor não passa de algo fraudulento. Não basta dialética alguma para legitimar um estado espiritual, que só se considera a salvo enquanto não ingressa em seus domínios; até do que se desprende a objetividade na qual ele mesmo está implicado e que cuida de que toda invocação à salvação sirva para reforçar imediatamente a desgraça. O sentido profundo que se justifica a si mesmo e que trata à consciência evoluída de canaille é superficial. Reflexões que ultrapassam as fórmulas mágicas, bem como as vérités de fait dos positivistas não são, como supõem humoristas de publicações baratas, loucuras da moda, mas estão motivadas pelos mesmos estados de coisas que tanto os ontólogos quanto os positivistas pretendem considerar seriamente. Enquanto a filosofia responda ainda aos menores ecos do título de um livro publicado há mais de trinta anos por um antigo kantiano, “Do rincão dos filósofos”, continuará sendo o divertimento que farão com ela os que a depreciam. Não será por mediação de conselhos de tio experiente que se alçara sobre a prática das ciências. Toda sabedoria se reduziu a uma sabedoria de salvação. Também não lhe será proveitoso o comportamento daquele professor que ao sentir-se, no período que antecedeu ao fascismo, levado a julgar seu tempo, inspecionava o filme “O anjo azul”, de Marlene Dietrich, para investigar por intuição direta quanto degenerada estava a situação. Tais fugas ao concreto levam a filosofia, como resíduo, ao plano da história, com cujo sujeito se confunde como lembranças culturais. Não seria o pior padrão de uma filosofia hoje evitar em nada igualar-se a tudo isto. Não lhe cabe reunir informações com aborrecida arrogância, mas tomar posições integrais e sem reservas mentais, das quais se afastam os que não querem deixar-se arrebatar o princípio de que algo positivo tem que ser alguma vez extraído em toda filosofia. A frase de Rimbaud il fault être absolument moderne não é um programa estético para estetas, mas um imperativo categórico da filosofia. A tendência histórica desmorona-se com aqueles que nela nada puderam criar. Não promete qualquer salvação e como possibilidade de esperança apenas a do movimento do conceito, que busca ao extremo.
Download