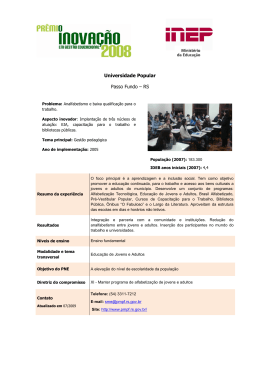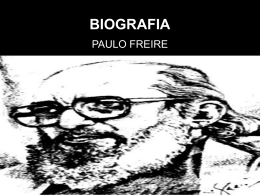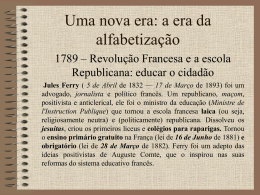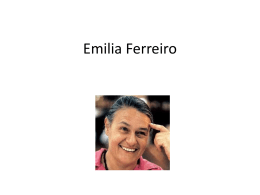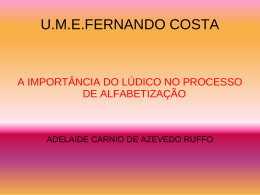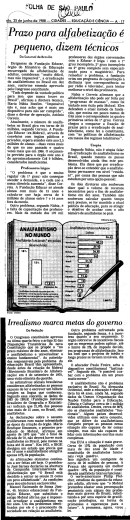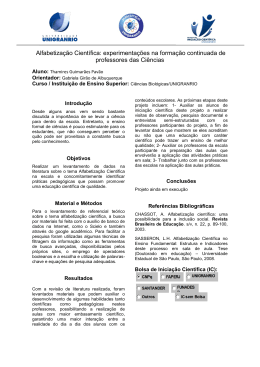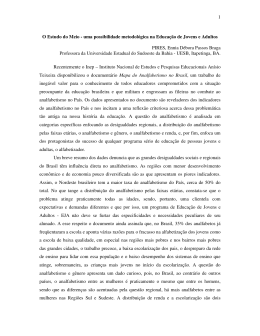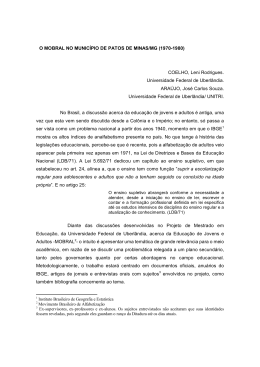CONTEXTUALIZANDO A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO BRASIL Maria Inês Muller – 2011 Até fins do século XIX, as oportunidades de escolarização eram restritas às elites proprietárias e aos homens livres das vilas e cidades. O primeiro recenseamento nacional brasileiro foi realizado durante o Império em 1872 e constatou que 82,3% das pessoas, com mais de cinco anos, eram analfabetas. Com o início do processo de industrialização e a concentração populacional nos centros urbanos, que se deu a partir de 1930, a questão do analfabetismo, que até então “não atrapalhava”, passou a ser um entrave para o desenvolvimento e para a organização da sociedade brasileira. Foi criado então um sistema público de educação elementar que traçou diretrizes educacionais, delegando aos Estados e Municípios a responsabilidade de administrar e financiar a educação elementar para as crianças. Somente na década de 40, o governo estendeu o ensino elementar aos adultos. Com o final da 2ªª Guerra Mundial foi criada a O. N. U. – Organização das Nações Unidas com o objetivo de promover a paz e a democratização. O governo brasileiro viu-se pressionado a implantar várias medidas políticas. Na área da Educação, uma dessas medidas seria uma ação mais efetiva no combate ao analfabetismo, uma vez que mais da metade da população era analfabeta. Nesse mesmo período, fatores internos também pressionaram o governo a ações nesse sentido, tais como: a necessidade de aumentar a base eleitoral, de promover a integração entre os imigrantes e de incrementar a produção. Em 1947 foi lançada Campanha de Educação de Adultos, primeira política pública destinada à instrução de jovens e adultos, sob a coordenação do professor Lourenço Filho. Nos primeiros anos a campanha conseguiu resultados significativos; num curto espaço de tempo foram criadas várias escolas supletivas e elaborado material didático específico para os adultos: o “Primeiro Guia de Leitura” que orientava o ensino pelo método silábico a partir de palavras-chaves selecionadas segundo suas características fonéticas. O entusiasmo dessa campanha não durou muito, quando se constatou a sua ineficiência nas ações desenvolvidas nas zonas rurais, já no início da década de 50. Importante frisar que até esse período, o analfabetismo era considerado uma vergonha nacional e uma das causas dos problemas sociais. Segundo essa visão, o adulto analfabeto era incapaz, marginal e identificado psicológica e socialmente como uma criança. Em 1958 é lançada a Campanha Nacional de Erradicação do Analfabetismo. Inúmeras críticas foram dirigidas a essas campanhas, devido ao caráter superficial do aprendizado, em face do curto período de tempo e da inadequação dos programas, modelos e materiais pedagógicos, que não consideravam as características dos adultos e a diversidade regional. Desse período sobreviveu apenas a rede de escolas supletivas, sob a administração e financiamento dos Estados e Municípios. No final da década de 50 e o início dos anos 60 o Brasil vivia um período de liberdade política, crescimento industrial e investimentos externos em larga escala, que acentuaram as diferenças sociais e impulsionaram a formação de vários movimentos, conhecidos como Movimentos de Cultura Popular (MEB – Movimento de Educação de Base, ligado à CNBB; o CPC’s – Centros de Cultura Popular – ligados a UNE- União Nacional dos Estudantes; os Movimentos de Cultura Popular dos quais participavam artistas e intelectuais, apoiados por administrações municipais). Esses movimentos, inspirados pelos ideais pedagógicos de Paulo Freire possuíam uma dimensão social, cultural, política e ética e implicavam numa relação de profundo comprometimento do educador com os educandos, com base no diálogo. O analfabetismo agora era visto como uma conseqüência da precária condição social da maioria do povo brasileiro. Para Paulo Freire, os analfabetos deveriam ser reconhecidos como sujeitos produtivos, portadores de uma cultura e toda ação educativa deveria valorizar a realidade existencial dos educandos, através da identificação de seus problemas no sentido de superá-los. Paulo Freire aboliu as cartilhas, pois estas tratavam de uma realidade alheia ao educando, e desenvolveu um conjunto de procedimentos pedagógicos que ficou conhecido como Método Paulo Freire. Com base nesses princípios, foram implantados diversos programas de educação popular, no período de 1961 a 1964. Com o golpe militar, esses programas passaram a ser vistos como uma ameaça a ordem social e política do país. Inicia a perseguição política, pressionando o exílio político de muitos brasileiros que lutavam por justiça social, inclusive Paulo Freire, que se exilou inicialmente no Chile. Sobreviveram apenas os programas de alfabetização de adultos de cunho assistencialista e conservador. Mas, os ideais de Paulo Freire atravessaram as fronteiras e eram mais fortes que a própria repressão, a ponto do governo militar adotar alguns procedimentos sugeridos pelo educador para a implantação do programa que seria o carro chefe da ditadura militar: o Mobral – Movimento Brasileiro de Alfabetização, lançado em 1967. Esse programa propunha a alfabetização a partir de palavras-chave, retiradas da vida simples do povo, mas esvaziadas de qualquer sentido crítico e problematizador. O governo militar investiu um significativo volume de recursos no combate ao analfabetismo, lançando uma campanha massiva em 1969. Na década de 70, o Mobral expandiu-se por todo o território nacional, diversificando-se em vários programas. O mais importante, denominado de PEI – Programa de Educação Integrada, uma condensação do curso primário, permitiu aos recém alfabetizados e aos analfabetos funcionais, a continuarem seus estudos. Em 1971, a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB 5692/71 contempla, pela primeira vez na história da educação do Brasil, um capítulo dedicado a educação de jovens e adultos, sob o título “Ensino Supletivo”. Importante frisar que essa lei dava ênfase ao tecnicismo e as teorias comportamentalistas importadas principalmente dos Estados Unidos. Com o início da abertura política na década de 80 e o gradativo crescimento dos movimentos sociais, novos projetos de alfabetização e pósalfabetização foram sendo criados. Os Estados e Municípios maiores foram conquistando autonomia, acolhendo educadores com propostas mais progressistas que auxiliaram na reorientação dos programas de educação básica de adultos vigentes. O Mobral já não se enquadrava dentro da nova ordem que se instalava, sendo extinto em 1985. O seu lugar foi ocupado pela Fundação Educar, entidade que não executava diretamente os programas educacionais, apenas apoiava técnica e financeiramente as iniciativas de governos, entidades civis e empresas a ela conveniadas. A Fundação Educar representou um retrocesso em relação ao Mobral, uma vez que foram reduzidos drasticamente os recursos para a alfabetização de adultos. A Constituição de 1988 restituiu o direito de voto aos analfabetos, em caráter facultativo; concedeu aos jovens e adultos o direito ao ensino fundamental público e gratuito e comprometeu os governos com a superação do analfabetismo. A década de 80 foi muito fértil na área da educação. Os postulados de Paulo Freire e estudos da lingüística e da psicologia passaram a orientar as práticas de alfabetização. Reforçam-se as críticas às cartilhas e ao método silábico. Os trabalhos da psicopedagoga Emília Ferreiro (l983) apresentaram grandes contribuições para a superação das limitações dos métodos baseados na silabação. Com relação aos adultos analfabetos, Emília Ferreiro mostrou que eles possuíam uma série de informações sobre a escrita e que eles elaboravam uma série de hipóteses semelhantes as das crianças (Ferreiro 1983). Novas propostas pedagógicas para adultos foram apresentadas juntamente com a produção de materiais didáticos. Os educadores brasileiros passam a estudar as relações entre pensamento e linguagem, pensamento e cultura, cultura oral e cultura letrada, conceitos espontâneos e conceitos científicos. Preocupam-se também em incluir nos programas de educação de jovens e adultos o ensino da matemática e de ciências sociais e naturais. Em 1990, a Fundação Educar foi extinta, criando um enorme vazio em termos de políticas educacionais para jovens e adultos, que agora dependiam de recursos e da boa vontade dos estados e municípios ou das organizações sociais, tais como a Alfabetização Solidária e os Movimentos de Alfabetização (Movas). Ironicamente, esse ano foi considerado pela O. N.U. – Organização das Nações Unidas, o Ano Internacional da Alfabetização. Outro evento internacional importante foi a Conferência Mundial de Educação Para Todos, em Jontien, que definiu como meta até o ano 2000 reduzir o analfabetismo pela metade em relação aos anos 90. A “Declaração de Quito” em 1991, elaborada por ministros da Educação da América Latina e do Caribe e a “Declaração de Salvador” em 1993, por representantes dos países ibero-americanos, revelam a necessidade desses países de assumirem políticas mais efetivas no combate ao analfabetismo. Paralelamente a esses movimentos internacionais, estava em discussão no Brasil, desde o final da década de 80, a nova LDB – lei 9394/96 que contempla algumas alterações que serão alvo de muitas críticas por parte de muitos intelectuais da educação. O artigo 208 suprimiu a obrigatoriedade do Estado em relação à oferta do ensino fundamental para os que a ele não tiveram acesso na idade própria, mantendo apenas a gratuidade. A implantação de programas de Educação de jovens e adultos passou a ficar então condicionada a boa vontade dos Estados e Municípios ou de órgãos não- governamentais. O Estado abre mão de sua responsabilidade de formação limitando-se a garantir apenas os mecanismos de creditação e certificação. A nova lei reduz a idade mínima para a realização dos exames supletivos: 15 anos para o Ensino Fundamental e 18 anos para o Ensino Médio. No início do terceiro milênio, a alfabetização de jovens e adultos volta a constar na agenda das políticas públicas nacionais com o lançamento, em 2003, do Programa Brasil Alfabetizado e a progressiva inclusão da modalidade no Fundo de Financiamento da Educação Básica (FUNDEB), a partir de 2007. BIBLIOGRAFIA HADDAD, Sérgio. A educação de pessoas jovens e adultas e a nova LDB. In: BRZEZINSKI, I. (Org). São Paulo: Cortez, 1997. HADDAD, Sergio e PIERRO, Maria Clara Di. Satisfação das necessidades básicas de aprendizagem de jovens e adultos no Brasil: contribuições para uma avaliação da década da Educação para Todos. São Paulo: Cortez, 1998. UNESCO. Alfabetização de jovens e adultos no Brasil: lições da prática. Brasília: UNESCO, 2008.
Download