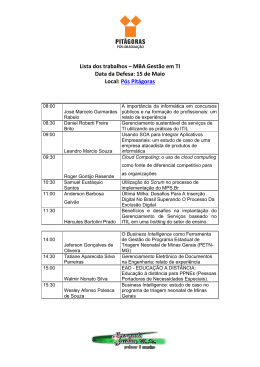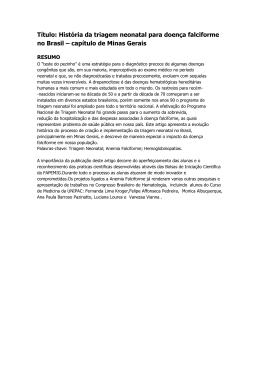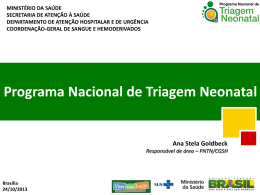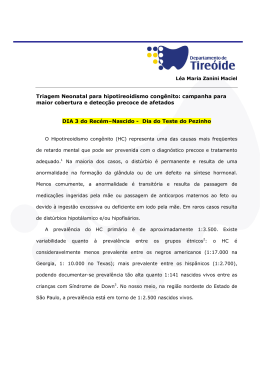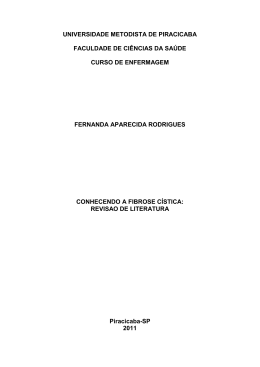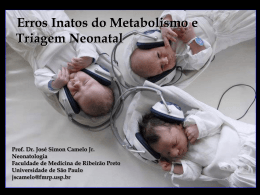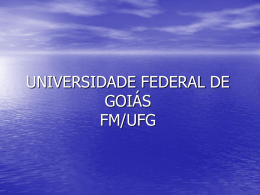IBPEX - INSTITUTO BRASILEIRO DE PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO JACEMAR CRISTINA ROCHA DA COSTA TÂNIA REGINA PINHEIRO FLORES MÁRCIA REGINA ZANELLO PUNDEK ANÁLISE DA TRIAGEM NEONATAL NO PARANÁ, EM 2004 Curitiba 2005 2 JACEMAR CRISTINA ROCHA DA COSTA TÂNIA REGINA PINHEIRO FLORES MÁRCIA REGINA ZANELLO PUNDEK ANÁLISE DA TRIAGEM NEONATAL NO PARANÁ, EM 2004 Trabalho apresentado para a obtenção do Título de Especialista no Curso de Pós-Graduação em Saúde Pública. Orientação metodológica: Telma Picheth Curitiba 2005 3 JACEMAR CRISTINA ROCHA DA COSTA TÂNIA REGINA PINHEIRO FLORES MÁRCIA REGINA ZANELLO PUNDEK ANÁLISE DA TRIAGEM NEONATAL NO PARANÁ, EM 2004 Trabalho apresentado para a obtenção do Título de Especialista no Curso de Pós-Graduação em Saúde Pública, realizado pelo IBPEX - Instituto Brasileiro de Pós-Graduação e Extensão Aprovado em _____/_____/_____. ______________________________ Professor Corretor: Telma Picheth Curitiba 2005 4 AGRADECIMENTOS Agradecemos à Fundação Ecumênica de Proteção ao Excepcional - FEPE Serviço de Referência em Triagem Neonatal no Paraná - Centro de Pesquisas. 5 RESUMO Neste trabalho foi realizada a análise do Programa de Triagem Neonatal no Paraná em 2004, com a identificação das doenças triadas tais como: Hipotiroidismo Congênito, Fenilcetonúria, Fibrose Cística, Hemoglobinopatias e Deficiência de Biotinidase, e a sua associação com o peso, sexo, cor e prematuridade. Os resultados obtidos através das fichas de coleta de triagem neonatal foram selecionados no Excel e analisados no Statsoft com os seguintes resultados: foram rastreados 176.905 recém-nascidos na FEPE com 95 casos de doenças triadas, sendo 74,07% confirmadas, cuja cobertura do Programa foi de aproximadamente 99%, e a maior freqüência ocorreu fora de Curitiba e da região metropolitana com 84,95%. A enfermidade triada mais freqüente foi o Hipotiroidismo Congênito (51) 53,68% seguida da Fenilcetonúria (19 ) 20%, das Hemoglobinopatias (17 ) 17,89% ,da Deficiência de Biotinidase (6 ) 6,32% e da Fibrose Cística (2 ) 2,11%. Em nenhuma das doenças houve predomínio do sexo; houve predomínio da cor branca (78 ) 86,67% e da não prematuridade (86)91,49% , tendo uma média de peso de 3233,05g e desvio padrão de 683,28. As hemoglobinopatias demonstraram um menor percentual da cor branca (12 ) 75% ; a maior média de peso foi do Hipotiroidismo Congênito com 3327,45g e o menor percentual de doença confirmada foi a Fenilcetonúria (4 ) 21,05%.A prevalência das doenças foram: Hipotiroidismo Congênito 1:4.422; Hemoglobinopatias 1:16.103; deficiência da Biotinidase 1:35.460; Fenilcetonuria 1:44.247 e da Fibrose Cistica zero. Não há como comparar a análise das cinco doenças triadas dentro do Programa Nacional de Triagem Neonatal do Paraná, com os outros Estados devido aos vários estágios de sua implantação no país. PALAVRAS-CHAVE: Fenilcetonúria; Triagem Neonatal; Hipotiroidismo Congênito; Fibrose Cística; Hemoglobinopatias; Deficiência de Biotinidase. 6 ABSTRACT The present work is the result of the analysis of Neonatal Screening Program, in Paraná in 2004, with the identification of screened diseases such as: Congenital Hypothyroidism, Phenylketonuria, Cystic Fibrosis, Hemoglobinopathies and Biotinidase Deficiency, and their association with weight, sex, skin color and prematurity. Results obtained of the collection fiche screening neonatal were selected in Excel and analysed in Statsoft with the following results: were analysed 176.905 new born babies in FEPE with 95 screened for diseases cases. In these cases, 74,07% were confirmed with nearly 99% of Program coverage and the highest frequency ocurred out of Curitiba with 84,95%. The most predominant screening disease was Congenital Hypothyroidism (51) 53,68% followed by Phenylketonuria (19) 20%,Hemoglobinopathies (17) 17,89%,Biotinidase deficiency (6 ) 6,32% and Cystic Fibrosis (2 ) 2,11 %.The prevalence diseases were: Congenital Hypothyroidism 1:4.422; Hemoglobinopathies 1: 16.103; Biotinidase Deficiency 1: 35.460 ;Phenylketonuria 1:44.247 and Cystic Fibrosis zero.There was no predominance of sex in any of these cases; there was white colored predominance (78) 86,67% and non-prematurity (86) 91,49% with the average weight of 3233,05g and 683,28 average deviation. The Hemoglobinopathies presented a minor percentage in white babies (12) 75%; the highest average-weight was Congenital Hypothyroidism with 3327,45g and the minor disease confirmed percentage was Phenylketonuria (4) 21,05 %. It is not possible to compare the analysis of the five-screened diseases in Neonatal Screening Program in Parana with others states due to the various stages of its implementation in the country. KEY WORDS: Phenylketonuria; Neonatal screening; Congenital Hypothyroidism; Cystic Fibrosis; Hemoglobinopathies; Biotinidase Deficiency. 7 LISTA DE QUADROS QUADRO 1. FREQÜÊNCIA E PREVALÊNCIA DAS DOENÇAS EM 2004.... 22 QUADRO 2. PREVALÊNCIA DA TRIAGEM DAS DOENÇAS SEGUNDO O SEXO.................................................................. 23 QUADRO 3. PREVALÊNCIA DA TRIAGEM DA DOENÇAS SEGUNDO A COR.................................................................... 23 QUADRO 4. PREVALÊNCIA DA TRIAGEM DAS DOENÇAS SEGUNDO A PREMATURIDADE.............................................. 24 QUADRO 5. PREVALÊNCIA DA TRIAGEM DAS DOENÇAS SEGUNDO O PESO.................................................................. 25 QUADRO 6. ASSOCIAÇÃO ENTRE AS DOENÇAS CONFIRMADAS E NÃO CONFIRMADAS........................................................................... 25 8 SUMÁRIO 1. INTRODUÇÃO............................................................................................ 2. OBJETIVOS.................................................................................. 4 2.1. OBJETIVOS GERAIS.................................................................. 4 2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS........................................................ 4 3. DOENÇAS TRIADAS..................................................................... 5 3.1. FENILCETONÚRIA (PKU)........................................................... 5 3.2. HIPOTIREOIDISMO CONGÊNITO: H.C. ..................................... 7 3.3. FIBROSE CÍSTICA: FC............................................................... 10 3.4. HEMOGLOBINOPATIAS ............................................................ 13 3.5. DEFICIÊNCIA DE BIOTINIDASE................................................. 16 4. METODOLOGIA........................................................................... 20 5. RESULTADOS............................................................................. 22 1 6. CONCLUSÕES.......................................................................................... 26 REFERÊNCIAS............................................................................................... 28 9 AUTORIZAÇÃO PARA DISPONIBILIZAÇÃO GRATUITA DE TEXTO INTEGRAL DO TCC – ARTIGO Nome dos autores: JACEMAR CRISTINA ROCHA DA COSTA - RG. nº. 07.308 - Ac. TÂNIA REGINA PINHEIRO FLORES - RG. 7.265.224-0 - Pr. MÁRCIA REGINA ZANELLO PUNDEK - RG. 2.074.412-0 - Pr Curso/Programa: CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA. Centro: IBPEX - Curitiba - Paraná Artigo ( x ) Título: ANÁLISE DA TRIAGEM NEONATAL NO PARANÁ EM 2004. Autorizamos a Facinter – Faculdade Internacional de Curitiba, através da Biblioteca da Faculdade, disponibilizar, gratuitamente, em sua base de dados, sem ressarcimento dos direitos autorais, o texto integral do artigo de nossa autoria, em Formato PDF, para fins de leitura e/ou impressão pela internet, a partir desta data: Curitiba, ____/____/________. Jacemar Cristina Rocha da Costa: _____________________________________ Tânia Regina Pinheiro Flores: _________________________________________ Márcia Regina Zanello Pundek: ________________________________________ 10 1. INTRODUÇÃO O Programa Nacional de Triagem Neonatal (PNTN) tem como objetivo identificar precocemente e prevenir a deficiência mental, inabilidades ou a morte precoce. No Paraná o serviço é gratuito e obrigatório aos usuários, sendo triadas as seguintes doenças: Fenilcetonúria, Hipotireoidismo Congênito, Anemia Falciforme, Fibrose Cística e a Deficiência da Biotinidase. A história do Programa de Triagem Neonatal teve início em 1961 com o Dr. Robert Guthrie, médico pesquisador que desenvolveu o método de coletar amostras de sangue em papel filtro, em Jamestown, New York (USA), com a pesquisa da Fenilcetonúria em crianças de dois hospitais e cujas amostras de sangue eram enviadas ao laboratório da Escola Estadual Newark; o Estado de Massachussetts (USA), foi o primeiro a estabelecer uma lei obrigando a realização do teste em todos os recém-nascidos do Estado. A partir daí, o Teste de Triagem Neonatal para Fenilcetonúria foi considerado o padrão para este tipo de metodologia (SILVA, 2002). No Brasil, o Programa de Triagem Neonatal para Fenilcetonúria teve início em 1976, com o Dr Benjamim José Schmidt, médico pediatra que, juntamente com outros médicos, criaram um laboratório na APAE - Associação de Pais e Amigos de Excepcionais, de São Paulo. Em 1986, o Programa de Triagem Neonatal foi implementado com a pesquisa também do Hipotireoidismo Congênito e com o ambulatório da APAE/São Paulo, através de uma equipe multidisciplinar. O Programa de Triagem Neonatal de São Paulo, através da APAE/SP, e seu coordenador, Dr. Schmidt, contribuíram significativamente para a aprovação da Lei Estadual nº. 3914/73 (SÃO PAULO, 1973), que foi a primeira lei no Brasil tornando obrigatória a realização do Teste de Triagem Neonatal para Fenilcetonúria; e em 1990, veio também a obrigatoriedade para a pesquisa do Hipotireoidismo Congênito, que passou a ser chamado e conhecido como o “Teste do Pezinho”, devido ao local da punção capilar para a coleta do sangue ser o calcanhar do bebê (SILVA, 2002). Também no mesmo ano foi aprovada a Lei Federal nº 8069/90 (BRASIL, 1990). No Paraná, o Serviço de Referência em Triagem Neonatal é a Fundação Ecumênica de Proteção ao Excepcional (FEPE), uma instituição filantrópica cuja missão é a pesquisa, prevenção, diagnóstico, bem como a educação, habilitação, reabilitação e integração das pessoas portadoras de deficiências (SILVA; et al., 2004). A entidade realiza a sua missão há cerca de trinta anos, através de diversos programas como a Escola Ecumênica (sede e subsede), Estimulação Precoce, atendimento de portadores de Múltipla Deficiência, a Profissionalização e o Centro de Pesquisas. A FEPE que iniciou suas pesquisas para Fenilcetonúria em 1981, como projeto piloto em Curitiba, expandindo-se em 1987, com a pesquisa também do Hipotireoidismo Congênito, através da Lei Estadual nº 8627 de 9 de dezembro de 1987 (PARANÁ, 1987). Trata-se de um Programa importante no contexto da saúde coletiva, porque todos os bebês, com o teste positivo para as doenças pesquisadas, terão diagnóstico precoce e assim, receberão tratamento especializado de equipe interdisciplinar, evitando as seqüelas que podem ser irreversíveis. Estas crianças têm, desta forma, a sua saúde garantida, mantendo seguimento do Centro de Pesquisas da FEPE, em ambulatório do Hospital de Clínicas, devido a um convênio entre a 11 FEPE e a Universidade Federal do Paraná, como cumprimento das seguintes Leis: Lei Federal nº 8069 de 13 de julho de 1990. Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei Federal nº 8078 de 11 de setembro de 1990. Código de Defesa do Consumidor. Portaria Ministerial – MS/GM nº 822, de 6 de junho de 2001. Resolução de 1246/88 do Conselho Federal de Medicina. Código de Ética Médica. Secretaria de Saúde do Estado do Paraná – Diretoria dos Sistemas de Saúde – Ofício Circular nº 001/2002/ASS (SILVA; et al., 2004 ). O tratamento e orientação são proporcionados gratuitamente ao usuário por meio dos serviços de referência do PNTN, cujo Programa é financiado pelo Ministerio da Saúde e SESA (Secretaria de Saúde do Estado do Paraná). Em 2001, a Portaria do Ministério da Saúde do Governo Federal, MS/GM nº. 822/01 de 08 de junho de 2001 implantou o PNTN para diagnóstico neonatal de Fenilcetonúria, Hipotireoidismo Congênito, Fibrose Cística, Anemia Falciforme e outras hemoglobinopatias. Para que o Programa obtenha resultados satisfatórios é necessário que o distúrbio metabólico preencha os seguintes requisitos: O distúrbio se não tratado acarreta consequências graves para a saúde do afetado; existe um tratamento que pode modificar substancialmente a historia natural da doença; o tratamento é significamente mais eficaz quando implantado na fase pré clinica da doença; existe um teste de triagem que seja simples , eficiente, aplicável em larga escala, de baixo custo e com alta sensibilidade e especificidade (SOUZA; et al., 2002). No Paraná, o Serviço de Referência em Triagem Neonatal, sob a responsabilidade da FEPE, pesquisa também a Deficiência da Biotinidase, responsabilizando-se voluntariamente com o ônus desta triagem. Por outro lado, o PNTN encontra algumas dificuldades tais como: alta precoce, má coleta, erros no preenchimento da ficha cadastral, mudança de endereço e demora no envio das amostras. 12 2. OBJETIVOS 2.1. OBJETIVOS GERAIS Fazer análise dos resultados da Triagem Neonatal no Paraná em 2004, contribuindo para o aprofundamento dos conhecimentos sobre as doenças triadas. 2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS A. Analisar a prevalência das doenças triadas no Paraná. B. Avaliar as associações entre os dados dos recém-nascidos segundo sexo, peso em gramas, cor e prematuridade e a prevalência das doenças. 13 3. DOENÇAS TRIADAS 3.1 FENILCETONÚRIA (PKU) Doença autossômica recessiva, resultante da mutação do gene localizado no cromossomo 12 q22-24.1 (BRANDALIZE; et al., 2004). Sua prevalência alcança a proporção de 1:12.000 nascidos vivos, cujos pais são portadores da doença. Ocorre uma deficiência da enzima hepática fenilalanina – hidroxilase (PAH), que transforma a fenilalanina (FAL) por hidroxilação em tirosina, pois, se não ocorrer esta reação química haverá o acúmulo de fenilalanina e outros metabólitos causando lesão cerebral com conseqüente deficiência mental (MURAHOSCHI,2003). Ocorre também em 1 a 3 % dos pacientes, a deficiência na síntese ou na regeneração do cofator para o funcionamento da enzima PAH, a tetrahidropterina (BH4). Estes indivíduos apresentam graves problemas neurológicos no primeiro ano de vida, pois este cofator é essencial para a síntese de vários neurotransmissores (KOPELMAN; et al., 2004). As principais causas secundárias da elevação da fenilananina incluem a prematuridade, a doença renal ou hepática e o uso de medicações (trimetropim, agentes quimioterápicos) como ensinam SOUZA; et al (2002); e a e a tirosinemia. O diagnóstico clínico na criança com mais de um ano baseia-se em: criança de cabelos loiros e finos, pele clara e delicada e olhos azuis com vômitos persistentes e intensos, irritabilidade acentuada, eczema rebelde (pela inibição que o excesso de fenilalanina causa sobre a síntese de melanina), urina com “cheiro de rato” ou mofo (presença de ácido fenilacético), associação com outras anomalias, tais como: dentes incisivos muito separados, pés planos, sindactilia, microcefalia, deficiência mental grave, convulsões, comportamento hipercinético, deficiência estatural (MURAHOVSCHI, 2003). A hiperfenilalaninemia, nome genérico dado a elevados níveis de fenilalanina no sangue, pode ser encontrada em diferentes formas: a PKU clássica, com nível de FAL acima de 10mg/dl, e a hiperfenilalaninemia persistente (HPAP), com nível de FAL acima de 4 até 10 mg /dl. (BRANDALIZE; et al., 2004). No Paraná o método adotado com aparelho fluorimétrico detecta a dosagem de fenilalanina, cujo valor cut off é de até 3,0 mg/dl. Na avaliação do Programa de Prevenção e Promoção de Saúde de Fenilcetonúricos, segundo BRANDALIZE, et al. (2004), foram analisadas 32 crianças com diagnóstico e tratamento precoces no Estado do Paraná de 1996 a 2001 e observou-se que o total de 27 crianças foram diagnosticadas até 60 dias após o nascimento. O escore motor, instrumento de medição da função motora grossa (MFMG), cujo valor medio para PKU (98,71± 1,97) e HPAP (95,92 ± 6,31) foi aplicado nos 32 casos (PKU e HPAP ) variou de 86,4 a 121,5 pontos, com 2 casos ( 6,25%) apresentando desenvolvimento motor abaixo da expectativa e inicio do tratamento de 31 a 60 dias, também 2 casos (6,25%), que se desenvolveram acima da expectativa para a sua idade com inicio do tratamento de 8 a 30 dias e a grande maioria (87,49) apresentou escore motor dentro dos limites da normalidade perfazendo(93,75%) de desenvolvimento motor satisfatório. 14 O tratamento consiste em administração de dietas com baixa taxa de fenilalanina o mais precoce possível e por toda vida com fórmula láctea especial sendo orientada pelo profissional da Nutrição. O aleitamento materno deve ser evitado ou utilizado sob estreita recomendação médica ou do nutricionista. A alimentação da criança com PKU é restrita, com teor reduzido e conhecido de FAL, e o controle da dieta, que é relativamente fácil nos primeiros anos de vida, pode tornar-se difícil a partir da idade escolar. Esta dieta resulta em baixa ingestão de proteínas de alto valor biológico, similar a uma dieta vegetariana, contendo uma mistura de aminoácidos livres que provê 50% a 80% de equivalentes de proteínas, 90 a100% de vitaminas e de elementos traços, e 50-70% de energia (MIRA; et al., 2000). Por outro lado FIGUEIRÓ FILHO; et al., (2004) orienta que sejam proscritos os grãos (feijão, ervilha, soja, grão-de-bico, trigo e gérmen de trigo) e as proteínas de origem animal (leite, carnes e ovos), mas os carboidratos e lípidios de origem vegetal podem ser consumidos livremente. No momento, os hidrolisados protéicos com baixo teor de FAL representam uma alternativa satisfatória, pois contém todos os aminoácidos essenciais, sendo isento de fenilalanina acrescido de tirosina (MIRA; et al., 2000). Segundo estes autores, a interrupção prematura do tratamento dietético põe em risco as funções cognitiva e emocional, incluindo perda de QI, do aprendizado, aliados à ansiedade, distúrbios de personalidade e anormalidade de raciocínio. Já MALLORY-DINIZ; et al., (2004), demonstraram que, quando a dieta é iniciada nas primeiras semanas de vida e mantida continuamente, os indivíduos com PKU desenvolvem-se normalmente, mas déficits nas funções executivas têm sido observados, mesmo em crianças cujo tratamento foi iniciado precocemente e mantido continuamente. Também crianças com altos índices de fenilalanina apresentam desempenho significativamente pior do que as demais crianças. Em relação à fenilcetonúria materna, FUMERO (2003) relata que, sendo uma embriopatia que ocorre em crianças de mães com PKU que não receberam tratamento dietético adequado preconcepcional nem durante a gravidez (pois o feto não tem capacidade de metabolizar a fenilalanina que recebe de sua mãe através da placenta), e ainda considera que as concentrações de fenilalanina materna superior a 6mg/dl sejam teratogênicos para o feto. Os sinais clássicos são: retardo mental, microcefalia, crescimento intraútero retardado, defeitos congênitos diversos, como os cardiovasculares, digestivos, oculares (catarata), sindactilia e dismorfia facial. As mães afetadas que chegam à idade reprodutiva, devem ser acompanhadas pelo médico de família e especialista em aconselhamento genético e ter uma dieta restritiva. 3.2 HIPOTIREOIDISMO CONGÊNITO: H.C. É um distúrbio causado pela produção deficiente de hormônio da tireóide, geralmente devido a um defeito na formação da glândula ou a um problema bioquímico que ocorre na síntese dos hormônios tireoidianos. Na infância a causa mais freqüente é o Hipotiroidismo Congênito, sem bócio, o que sugere ausência de estímulo central, ausência de resposta da tireóide ao TSH, ou a presença de uma glândula não reativa, o que corresponde a uma agenesia da tireóide rudimentar 15 (MURAHOVSCHI, 2003). Cerca de 85% do hipotireoidismo primário é denominado disgenesia tireoidiana e evidências sugerem que mutações nos fatores de transcrição (TTF2, TTF1 e PAX-8) e no gene do receptor de TSH podem ser responsáveis pela doença. Os defeitos hereditários da síntese hormonal podem ser devido à mutações nos genes NIS (natrium-iodide symporter), pendrina, tireoglobulina (TG), peroxidase (TPO ), segundo PERONE; et al., (2004). A maioria dos neonatos com H.C. é geralmente assintomática até o terceiro mês de vida, mesmo com dano cerebral já ocorrendo progressivamente. Crianças não tratadas precocemente são acometidas de retardo mental (em graus variáveis), retardo de crescimento, surdez e outros sintomas metabólicos graves. Vários estudos demonstram deficiência intelectual e alterações comportamentais em crianças acometidas com H.C. Estudo realizado no Rio Grande do Sul por ANDROVANDI; et al., (2004), com uma amostra de 22 crianças entre 6 anos e 12 anos e 9 meses, com diagnóstico e tratamento da doença entre 0 e 90 dias de vida, demonstrou que pela Escala de Inteligência Wechsler para Criança (WISC), 81,8% das crianças apresentaram desempenho satisfatório, com classificações na média ou acima, e 18% das crianças apresentaram desempenho abaixo da média. Crianças com pais de maior escolaridade obtiveram melhores escores na escala utilizada, assim como também tiveram melhores escores crianças de família com maior renda. A conclusão foi de que é reconhecida a importância do diagnóstico e tratamento precoces do H.C. para um bom prognóstico, pois a deficiência mental decorrente da doença é um grande problema de saúde pública, sendo a segunda desordem endócrina mais freqüente em crianças. Este estudo corrobora com outros estudos que demonstram a importância do diagnóstico e tratamento precoces de crianças com H.C. no seu prognóstico, pois a capacidade intelectual é preservada em grande número de casos. É importante ressaltar que a baixa escolaridade dos pais e a baixa renda familiar também prejudicam o desenvolvimento intelectual destas crianças. Segundo dados do Centro de Triagem Neonatal de Porto Alegre, referentes ao mês de dezembro de 2000, a prevalência neste local é de 1 caso para 3500 nascidos vivos (SOUZA; et al., 2002). A triagem para o H.C. possui especificidade favorável (poucos resultados falso-positivos) e boa sensibilidade (poucos resultados falso-negativos), segundo RAMOS; et al., (2003). O diagnóstico clínico nos recém-nascidos é geralmente muito difícil, já que a maioria deles parece normal. Aos 3 meses de idade, no entanto, a sintomatologia pode ser mais evidente tais como: letargia, sonolência, dificuldade de alimentação (sucção fraca, engasgos), dificuldade respiratória (respiração ruidosa, obstrução nasal, episódios de apnéia), choro rouco, cianose periférica e padrão mosqueado, constipação, macroglossia, extremidades frias, palidez, lanugem, livedo reticularis, fontanelas grandes, suturas amplas, icterícia neonatal prolongada, hipotonia muscular, abdome distendido, hérnia umbilical, sopro cardíaco, cardiomegalia, anemia refratária aos hematínicos, bócio (raramente presente no recém-nato). Com a evolução há atraso do crescimento pondero-estatural e do desenvolvimento do sistema nervoso (retardo mental grave), como descreve MURAHOVSCHI (2003). 16 Em estudo realizado em Florianópolis por NASCIMENTO; et al., (2003), foram analisadas 390.759 crianças no período de janeiro de 1994 a dezembro de 1998, com a cobertura de 81%, sendo detectadas 123 crianças com H.C.. A prevalência foi de 1: 3177, sendo atendidas no Hospital e recebendo a dose média de L-T4 prescrita de 12,5 mg/kg/dia. Das crianças detectadas pelo programa, todas vieram por alteração no teste de rastreamento. Em Campina Grande, Estado da Paraíba, um estudo realizado por RAMOS; et al., (2003), durante o período de março de 2000 a fevereiro de 2001, foram registrados 7.325 nascidos vivos, com a cobertura do programa de 32,2%, não sendo registrado nenhum caso de H.C. ou PKU no período estudado, demonstrando suas dificuldades regionais. O diagnóstico laboratorial é feito através da idade óssea atrasada, TSH elevado e T4 baixo. Dosagens de TSH acima de 50 mU/ml são consideradas altamente suspeitas de doença. Após a repetição do exame em plasma, deve-se iniciar o tratamento o mais cedo possível, com a administração oral de T4. O paciente deve seguir acompanhamento clínico com endocrinologista, além de seguimento laboratorial, com o objetivo de manter os níveis de TSH inferiores a 4 mU/ml (SOUZA; et al., 2002). No Paraná, o teste realizado para diagnóstico laboratorial é a dosagem do TSH pelo método imunofluorimétrico, cujos valores normais variam de: 0 a 48 horas = até 15 mU/ml.; 48 horas a seis meses = até 10 mU/ml.; e acima de seis meses = até 5 mU/ml. O tratamento o mais precoce possível com T4 (levotiroxina) evita as complicações e, quando administrado mais tardiamente, traz melhora das manifestações clínicas. 3.3. FIBROSE CÍSTICA: FC Doença genética autossômica recessiva, a fibrose cística é freqüente na população caucasóide, pouco freqüente na raça negra e rara em orientais. A proteína anômala resultante da mutação do gene CFTR (regulador da condutância da transmembrana), acarreta disfunção do canal transmembrana e conseqüente distúrbio do transporte do cloro através do epitélio e um influxo compensatório de sódio que traz consigo água, o que leva à desidratação da superfície celular, com a formação de muco espesso característico da doença (MURAHOVSCHI, 2003). De todas as mutações do gene CFTR, a mais freqüente é a mutação do ♠F 508, uma deleção de um códon para a fenilalanina na posição 508 da proteína. Este mutante está presente em aproximadamente 70% dos cromossomos de fibrocísticos brancos e europeus. Entretanto, a freqüência relativa da mutação ♠F 508 tem uma variedade muito grande entre diferentes regiões geográficas e distintos grupos étnicos (CABELLO; et al., 2003). Ocorre uma disfunção das glândulas secretoras do corpo (pâncreas, glândulas salivares, sudoríparas, intestinais e das vias reprodutoras), fígado, pulmões, caracterizando uma doença crônica, progressiva e de expressão clínica variada como: tosse crônica, produtiva, paroxística, taquidispnéia, pneumonia/ bronquite recorrente, fraqueza muscular, cianose, baqueteamento de 17 dedos, evacuações volumosas (esteatorréia), abdome distendido, flatulência; no recém-nato, íleo meconial com vômitos biliosos, ausência de eliminação de mecônio, impactação intestinal (escolares), azoospermia obstrutiva (infertilidade), prolapso retal devido à diarréia crônica, tosse persistente e desnutrição; intolerância à glicose e diabete mellitus, cálculo bilear, curva ponderal insuficiente, sem causa aparente devido à deficiência de crescimento e desnutrição (insuficiência pancreática e pneumopatia), podendo ocorrer nas primeiras semanas de vida ou aos dois anos ou até mesmo, mais tarde (MURAHOVSCHI, 2003). Na Fibrose Cística a má-absorção é predominantemente ocasionada pela disfunção préepitelial e decorre da rejeição dos nutrientes não hidrolisados no lúmem pela insuficiente secreção pancreática, ocorrendo deficiência de absorção de lipídios, proteínas e, em menor escala, de carboidratos, causando esteatorréia, azotorréia e perda de vitaminas lipossolúveis (FIATES; et al., 2001). O diagnóstico laboratorial é feito na triagem neonatal através da dosagem da enzima tripsina imunorreativa (IRT) que é o precursor da enzima pancreática, tripsinogênio, encontrando-se elevado em RN com FC no sangue da criança. (CABELLO; et al., 2003). Esta dosagem é fundamental que seja realizada preferencialmente entre o 2º e 5º dias, quando a substância IRT se encontra mais elevada nos casos da doença. O teste do suor pode ser realizado a partir do segundo mês de vida. O IRT pode ser seguido da análise da mutação ♠F 508 nos casos com IRT elevados. O índice de falsos-positivos pela dosagem de IRT tem se mostrado alto (5 - 10%). Os falso-negativos estão associados à presença de íleo-meconial e ao tempo de vida do recém-nato, visto que os valores de IRT tendem a cair após a terceira semana de vida (SOUZA; et al., 2002). No Paraná, o método utilizado é o imunofluorimétrico, cujo valor normal do IRT é de até 70ng/ml. Em um estudo realizado por SANTOS; et al., (2003), no Paraná, foram triados de agosto de 2001 a abril de 2004, 456.982 crianças, obtendo 4.028 crianças cujo primeiro resultado na dosagem de IRT foi acima do ponto de corte (70 ng/ml), perfazendo 0,9% do total de crianças triadas. A média de peso ao nascer foi de 3.074g, mas, no momento do diagnóstico, 16 ( 33,3%) tinham peso e/ou estatura abaixo do terceiro percentil esperado para a idade, havendo predomínio da raça branca (89%) e a relação feminino/masculino foi de 1:1; cinco pacientes tinham história familiar positiva e 10% apresentaram íleo-meconial, com uma prevalência de 1:9.520 nascimentos no Estado. Em outro estudo realizado por ALVAREZ; et al., (2004), foram analisados 104 pacientes fibrocísticos onde demonstrou-se que os pacientes com a mutação ♠ F 508 apresentavam balanço de gordura nas fezes alterado, com maior freqüência que os pacientes que não tinham esta mutação (p< 0,05). Foram avaliados geneticamente, 96 pacientes: 18,75% (18) eram ♠F 508 homozigoto e 62,5% (60) eram ♠F 508 heterozigotos. Os homozigotos não apresentavam nenhuma característica diferente, quando comparados aos heterozigotos para esta mutação. Diversas medidas terapêuticas têm melhorado a qualidade de vida e sobrevida dos pacientes como: relacionamento médico-paciente, promoção da boa nutrição e crescimento adequados, prevenção ou retardo do desenvolvimento de doença, reconhecimento e tratamento de 18 suas complicações, fornecendo uma dieta hipercalórica, hiperprotéica e normal em gorduras, vitaminas lipossolúveis, sal a vontade, suplementação enzimática, fisioterapia respiratória, mucolíticos, expectorantes, antibióticos correlacionados com a cultura das secreções e substituição do gene afetado por sua seqüência normal (ainda em fase experimental). (MURAHOVSCHI, 2003). Existem evidências atuais de que a maior sobrevida ocorre em pacientes tratados em centros onde há atuação de equipe multiprofissional (FIATES; et al., 2001). Um questionário sobre Qualidade de Vida em Fibrose Cística foi instituído no ambulatório de especialidades do Departamento de Pediatria da Unicamp, com o propósito de conhecer o perfil psicológico de 25 pacientes com Fibrose Cística com idade de 5 meses até 23 anos e de seus familiares. Após avaliação dos questionários, concluiu-se que a doença gera estresse, depressão, ansiedade, angústia e pobre contato social em adolescentes doentes e seus familiares. As crianças apresentam mais desordens alimentares. Adultos doentes e familiares experimentam sintomas de negação para poder enfrentar o impacto psicossocial da doença,oscilando com fases de aceitação do diagnóstico. Os adolescentes se preocupam mais com a aparência, e muitas vezes apresentam sentimentos de menos valia. A família e o paciente modificam suas atividades rotineiras, comportamentais, e apresentam indícios de crise afetiva mais acentuada do que o quadro típico do estar doente. A partir destes dados, concluiu-se que familiares e pacientes, devido à cronicidade da doença e suas intercorrências, necessitam acompanhamento psicológico na rotina terapêutica (BAGGIO; et al., 1999). 3.4. HEMOGLOBINOPATIAS É uma anemia hemolítica hereditária, autossômica recessiva, decorrente de mutação do DNA, locado no braço curto do cromossoma 11, gerando uma hemoglobina anormal HbS, a qual tem valina no lugar de glutamina, acarretando uma anomalia química na qual, quando em baixa tensão de oxigênio, ocorre polimerização da molécula de hemoglobina HbS. Conseqüentemente ocorre distorção das formas das hemáceas (em forma de foice), tornando-se rígidas e aderindo às células endoteliais, ocasionado obstrução do fluxo sanguíneo, levando ao infarto, isquemia, necrose, dor e disfunção. Esta doença ocorre essencialmente em negros e compreende 3 entidades: a) Anemia Falciforme HbSS (homozigoto SS) b) Hemoglobinopatia Sb (heterozigoto HbS e talassemia) c) Hemoglobinopatia SC (heterozigoto HbS e HbC) (MURAHOVSCHI, 2003) Em um estudo realizado por ARAÚJO; et al., (2004), em Natal, foram analisadas 1940 amostras de sangue de cordão umbilical de recém-nascidos de três maternidades, entre os meses de 19 janeiro a dezembro de 2001. As amostras que apresentaram hemoglobinas anormais foram submetidas à eletroforese em gel de agar com pH de 6,2 para confirmação. Foram identificadas 37 (1,91%) amostras com hemoglobinas anormais, das quais 29 (1,50%) com traço falciforme (Hb FAS), 0,6 ( 0,31%) com HbC, 1 ( 0,05%) apresentou Hb BART’S, sugerindo Alfa talassemia. No Brasil, as hemoglobinas S e C são as mais prevalentes, ambas de origem africana. Vários outros estudos foram realizados no Brasil tais como o de DAUDT; et al., (2002), em Porto Alegre, onde foram analisadas 1615 amostras consecutivas dos neonatos que participaram da coleta do “Teste do Pezinho” no período de 18 de março a 30 de outubro de 1999, com peso médio de 3.175g (DP ± 616g), 48,8% do sexo feminino e 50% do sexo masculino; na distribuição das raças dos pais (208 casos) foi encontrada entre os pais, 66,2% brancos, 23,2% negros, 10,6% mistos; entre as mães 69,2% brancas, 22,6% negras e 8,2% mistas. Das 1615 amostras, 39 foram classificadas como alteradas, sendo identificadas por eletroforese por focalização isoelétrica a presença da hemoglobina S em 20 amostras (1,2%) de portadores para anemia falciforme e de hemoglobina C em 6 amostras( 0,4%)de portadores de gene da doença da hemoglobina C; em 2 amostras se identificou a presença de Hb BART’S (0,12%). Esses dados sugerem que a inclusão da triagem neonatal para hemoglobinopatias nos projetos já implementados para Fenilcetonúria e Hipotiroidismo Congênito, apresenta muitas vantagens e deve ser considerada pelos programas de saúde. Por outro lado, BACKES; et al., (2005), em Florianópolis, analisaram crianças nascidas no período de 1º de janeiro a 30 de julho de 2003, no Estado de Santa Catarina, pelo Programa Nacional de Triagem Neonatal (PNTN), perfazendo um total de 40.028 amostras, sendo que 38.998 (97,4%) eram crianças da cor branca, 790 (1,9%) de cor negra, 90 (0,2%) de cor amarela, e 150 (0,4%) não foram incluídas nas categorias citadas anteriormente. Dos 40.028 recém-nascidos analisados, 399 (1%) apresentavam hemoglobina variante. Desses, 353 (88,47%) apresentavam fenótipo AS; 31 (7,76%) AC; 9 (2,25%) AD; 3 (0,75%) SS; 2 (0,5%) SC e 1 (0,25%) fenótipo inconclusivo. Embora a forma homozigótica tenha maior importância clínica, devido ao seu alto índice de morbidade e mortalidade, a forma heterozigótica tem interesse preventivo através do aconselhamento genético. Há uma variação ampla individual na gravidade da doença tais como: dactilite (mãos e pés dolorosos) até os 3 - 4 anos de idade, esplenomegalia e adenopatia generalizada, e em escolares ocorre redução do baço, gânglios linfáticos e amígdalas, fenômenos dolorosos e inflamatórios em articulações e ossos, icterícia, dores abdominais, episódios febris freqüentes, dor torácica aguda, maior suscetibilidade às infecções, criança hipodesenvolvida, episódios de hematúria, osteomielite, predisposição para sepse, puberdade atrasada, episódios de acidente vascular cerebral, priapismo, colecistite, úlcera nas pernas, colelitíase (MURAHOVSCHI, 2003). Alguns estudos têm demonstrado que o manejo precoce da Anemia Falciforme, mesmo em indivíduos assintomáticos, melhora a morbi-mortalidade relacionadas às complicações desta patologia (SOUZA; et al., 2002). O diagnóstico laboratorial consiste no hemograma (anemia normocítica normocrômica, hemáceas em alvo, reticulocitose, leucocitose com neutrofilia, plaquetose), eletroforese de 20 hemoglobina (HbS – 80-90%; HbC – 2-20%), HbA1 ausente, presença de HbS em ambos os pais (MURAHOVSCHI, 2003). Como o traço falciforme é uma característica genética prevalente devido a quantidade de negros na população brasileira e do processo de miscigenação, um estudo realizado em Brasília- DF por DINIZ; et al., (2005), demonstra a importância de identificar os portadores do traço falciforme que são considerados potenciais geradores de crianças com Anemia Falciforme de forma que o aconselhamento deveria ser um serviço ofertado durante a fase de preenchimento do questionário pré-doação de sangue, ocasião em que o doador consentiria ou não em participar, mantendo assim o seu direito de confidencialidade. No Paraná, o método utilizado é de focalização isoelétrica, cujo valor normal é: hemoglobina FA ou AA. A conduta terapêutica orientará sobre as situações de emergência, com suporte humano médico, psíquico e social, incluindo apoio nutricional, com dieta equilibrada e alimentos ricos em ferro e ácido fólico, vacinas contra haemophilus, meningococos, influenza, pneumococos e hepatite B; antibioticoterapia profilática, oxigenação, analgésicos, transfusão de concentrado de hemáceas lavadas (evitar Acidente Vascular Cerebral), hidroxiuréia, ácido butírico, transplante de medula óssea, hidratação, e no futuro, terapia gênica (MURAHOVSCHI, 2003). 3.5 DEFICIÊNCIA DE BIOTINIDASE Foi descrita pela primeira vez por Wolf em 1983, sendo uma doença hereditária e ocorre por um erro inato da reciclagem da biotina que causa diminuição da biotina livre. A biotina é uma vitamina hidrossolúvel do complexo B não sintetizada pelo ser humano, sendo obrigatória na dieta, e tem a função de ativar enzimas (carboxilases) que são sintetizadas no organismo na forma inativa, enzimas estas importantes para a gliconeogênese, síntese de ácidos graxos e degradação de aminoácidos. A biotinidase é uma glicoproteína de produção hepática com finalidade específica de hidrólise, rompendo a ligação da biotina à proteína, produzindo biotina livre. Conseqüentemente, na deficiência de biotinidase, há diminuição de biotina livre, e não ativação das carboxilases mitocondriais. As características bioquímicas resultantes são acidose metabólica com acidose lática e, freqüentemente, acidúria orgânica. Pode haver também hipoglicemia. A deficiência de Biotinidase no Brasil tem uma das incidências mais altas conhecidas. Concluiu-se que o teste realizado com sangue do bebê em papel filtro para triagem da deficiência de Biotinidase é efetivo, e a confirmação final pode ser feita com análise de mutação, e que, como no Brasil a sua prevalência é mais elevada (1:9000) que em muitos outros países, deve-se incluí-la no grupo de desordens a serem triadas (NETO; et al., 2004). As manifestações clínicas são principalmente sintomas neurológicos, dermatites e predisposições à infecções por alterações no sistema imunológico celular e humoral (PINTO; et al., 21 1998). Ataxia, convulsão generalizada tônico-clônica (é a mais comum e geralmente refratária aos anticonvulsivantes), atraso no desenvolvimento,hipotonia ou hipertonia, alopécia e ceratoconjuntivite são comuns.(NETO; et al.,2004) O sistema nervoso central é acometido de forma irreversível, na maioria dos casos. A hipoacusia neurosensorial já foi descrita pelo acometimento das vias auditivas do tronco cerebral. Pode ocorrer sinais oftalmológicos como neuropatia óptica. A idade do início dos sintomas varia de uma semana a dois anos, em média cinco meses. O início dos sintomas pode ser tardio, pois durante a gestação, o feto estoca biotina no fígado, ou pela dieta no primeiro ano de vida com leite de vaca que tem duas vezes mais biotina que o leite humano. Quando já existem manifestações clínicas, as alterações metabólicas podem ser revertidas com melhora das lesões cutâneas, da disfunção imunológica, dos sintomas neurológicos, do desenvolvimento psicomotor, do tônus muscular e da ataxia com o tratamento, já a hipoacusia neurosensorial e a atrofia óptica não são reversíveis (FEPE, 2005). O diagnóstico é realizado através da determinação da atividade da enzima (método qualitativo de Wolf), devendo ocorrer no período neonatal, antes das manifestações clínicas. O teste não é influenciado pelo tempo de vida do recém-nato, ou pela alimentação recebida durante o período neonatal, nem pelo eventual uso de biotina. Resultados falso-negativos podem estar associados ao uso de sulfonamidas, à realização de transfusão de sangue e, eventualmente, à prematuridade (SOUZA; et al., 2002). No Paraná o método utilizado é colorimétrico, cujo resultado é a atividade classificada de “ativa” pela presença da enzima. A deficiência pode ser “parcial”, quando o valor da atividade enzimática se situa entre 10 e 30% do valor normal, e “total”, quando este valor for menor ou igual a 10%. Entre 24 de janeiro de 1984 a 31 de dezembro de 1988, estabeleceram-se 29 Programas de Triagem Neonatal para Deficiência da Biotinidase em recém-natos de 12 países, e 4.396.834 recémnatos foram catalogados. Foram detectados 72 casos; 32 tinham deficiência profunda da Biotinidase e 40 tinham deficiência parcial. A incidência de casos foi de 1 para 61.067 nascidos vivos, sendo que, nos casos profundos, ocorreu em 1 para 137.401 nascimentos, e na deficiência parcial foi de 1 caso para 109.921 nascimentos. Os níveis encontrados de biotinidase ativa foram entre zero e níveis normais. Seis crianças com deficiência profunda eram sintomáticas no momento ou logo após o diagnóstico; nenhuma criança com deficiência parcial tornou-se sintomática, mas pouco se sabe sobre a historia natural de crianças com deficiência parcial. Algumas crianças cuja deficiência foi detectada na triagem neonatal eram brancas, uma era negra e uma hispânica; não houve nenhum caso em crianças orientais (WOLF; et al., 1990). Em estudo realizado no Brasil, em Porto Alegre, com 225.136 bebês, 272 apresentaram ausência ou atividade baixa de biotinidase na analise do exame realizado (NETO; et al., 2004). As famílias foram contactadas e solicitado soro dos bebês para dosagem quantitativa da atividade enzimática sérica; foram enviados amostras de 240 bebês. Destes, 36 tinham menos de 30% do nível sérico normal; 14 tinham menos de 10% e 22 tinham níveis enzimáticos entre 10 e 30%. A análise mutacional confirmou ou excluiu o diagnóstico de deficiência de biotinidase em todas as crianças 22 testadas. O sangue total foi solicitado para estas 36 crianças e seus familiares, para análise de mutações, mas apenas 21 das famílias concordaram em fazê-lo. Confirmou-se nas 21 análises de mutação de DNA, que 3 tinham deficiência profunda da biotinidase e 10 tinham deficiência parcial; 1 era homozigoto para deficiência parcial, 4 eram heterozigotos, tanto para deficiência parcial como profunda, e 3 eram normais. Em 14 ou 66.7% se confirmou a desordem baseada na análise de mutações e requereram tratamento continuado com biotina. Em outro estudo realizado no Paraná por PINTO; et al., (1998), foram triadas 125 mil recémnascidos no período de 8 meses, sendo identificados 2 casos, um de deficiência total de biotinidase e outro de deficiência parcial, com uma prevalência de 1: 62000 nascidos vivos cuja sensibilidade do teste semi-quantitativo colorimétrico foi calculado em 100% e a especificidade em 99,88%. Na Inglaterra, em estudo realizado, fez-se um follow-up de crianças com diagnóstico de deficiência de biotinidase na triagem neonatal tratadas pré-sintomaticamente, e de crianças não triadas mas diagnosticadas e tratadas na vigência dos sintomas. Médicos e parentes destas crianças responderam questionário e obteve-se informações de 37 delas. Todas as 11 crianças sintomáticas tinham atividade enzimática residual de < 1%, e apresentavam como seqüelas: alterações auditivas (2), atrofia óptica (2), ou ambos (2). Também apresentavam alto risco para atraso motor e desenvolvimento da fala. Nenhuma criança com deficiência cujo diagnóstico foi feito na triagem neonatal (25) teve perda auditiva ou visual, e o desenvolvimento da fala e motor se deu na idade apropriada. Não houve diferença significativa na adaptação social entre os dois grupos. Crianças sintomáticas freqüentemente têm desenvolvimento atrasado e risco de danos irreversíveis na audição, visão, ou função nervosa central. Portanto, crianças com deficiência de Biotinidase (estabelecida pré-sintomaticamente na triagem neonatal) tratadas com suplementação de biotina, não experimentam estes efeitos( WEBER; et al., 2004). O tratamento deve ser o mais precoce possível, com a administração de biotina via oral diariamente, na dose de 5 a 20 mg/dia, prevenindo as manifestações da doença. 23 4. METODOLOGIA Para a realização deste trabalho, desenvolveu-se um estudo epidemiológico retrospectivo para o ano de 2004, fundamentado em dados coletados na Fundação Ecumênica de Proteção ao Excepcional (FEPE), que são recebidos diariamente, através da ficha de coleta de Triagem Neonatal provenientes dos Hospitais e Unidades de Saúde de todo o Estado do Paraná, sendo realizada a análise destes dados. Para a análise dos dados da pesquisa foram efetuados os cálculos,utilizando a fórmula para o cálculo de cobertura do PNTN = Número de rastreados x 100/número de nascidos vivos (RAMOS; et al.;2003) e a fórmula para a prevalência =número de casos da doença em determinado período x 100 /população durante o mesmo período. E, posteriormente, foi utilizado o Microsoft Excel e o Statsoft. A metodologia da coleta e o registro para o" Teste do Pezinho" são os seguintes : nesta ficha de coleta contém o número da Declaração de Nascidos Vivos (DNV), nome completo da mãe e do pai, endereço completo, cidade e estado, referência perto da moradia, telefone, código do Hospital ou da Unidade de Saúde, dia, mês, ano, hora e minuto do nascimento e da coleta, se é a primeira coleta, sexo, peso em gramas e cor do bebê, se foi amamentado com leite, se fez transfusão, se foi prematuro e se eram gêmeos, e, no final, o nome de quem fez a coleta de forma legível. No verso há orientação para a enfermeira e para os pais, e o comprovante de coleta é destacado e entregue ao responsável. Na lateral da ficha encontram-se os círculos de papel filtro que serão preenchidos totalmente com o sangue do recém-nato. Usam-se os seguintes materiais para coleta: Ficha de Coleta (descrita acima); Lanceta para punção cutânea: estéril, medindo 2, 3mm de profundidade, 1,5 cm de largura e 0,5 cm de espessura; Luva de procedimentos; Lista nominal das mães; Envelope carta-resposta com porte pago; Material de apoio: adesivo de orientação da coleta e código da entidade, estante para secagem do material, cartaz de divulgação, folheto explicativo do “teste do pezinho”, manual de normas técnicas para coleta (SILVA; et al., 2004) A técnica de coleta é a seguinte: Selecionar o local adequado para coleta de sangue, que deve ser no calcanhar do bebê; Fazer assepsia no local da punção, com álcool 70%; Utilizar material adequado; Colocar o pé do bebê voltado para baixo para facilitar a saída de sangue; Puncionar o local escolhido com lanceta estéril apropriada; Eliminar o primeiro sangue com algodão seco; 24 Permitir que uma boa gota de sangue caia sobre o meio do círculo do papel filtro; A gota deve se espalhar rapidamente para as laterais do círculo; Preencher os quatro círculos da mesma forma; Pressionar o local puncionado com algodão seco, e evitar curativos. (SILVA; et al., 2004). Se o sangue do bebê foi coletado com menos de 48 horas de vida, ou o bebê não foi alimentado com leite materno ou outro, o exame deve ser repetido em uma semana na Unidade de Saúde. Se a amostra é positiva, uma segunda amostra é repetida para confirmação diagnóstica na Unidade de Saúde do Município de residência da mãe. 25 5. RESULTADOS Em todo o Paraná foram rastreados 176.905 recém-nascidos pela FEPE em 2004, com 158.624 nascidos vivos pelo ISEP ( Instituto de Saúde do Estado do Paraná), com cobertura do PNTN de aproximadamente de 99 %; sendo triados 95 recém-nascidos, 60 (74,07%) de doença confirmada, 79 (84,95%) fora de Curitiba e da região metropolitana com a seguinte freqüência e prevalência: Hipotiroidismo Congênito (51) 1:4.422; Hemoglobinopatias (17) 1:16.103; Fibrose Cistica (2) zero; Fenilcetonúria (19) 1:44.247; Deficiência de Biotinidase (6) 1:35.460. (Quadro 1). QUADRO 1. FREQÜÊNCIA E PREVALÊNCIA DAS DOENÇAS EM 2004 DOENÇA FREQÜÊNCIA Hipotireoidismo PERCENTUAL PREVALÊNCIA 51 53,68 1: 4.422 Hemoglobinopatias 17 17,89 1: 16.103 Fibrose Cística 02 2,11 zero Fenilcetonúria 19 20,00 1: 44.247 Biotinidase 06 6,32 1: 35.460 TOTAL 95 100,00 Congênito Nas doenças triadas (95) houve 50,53% (48) do sexo masculino e 49,47% (47) do sexo feminino, observando-se que as prevalências se repetem quase iguais para cada doença (Quadro 2). QUADRO 2. PREVALÊNCIA DA TRIAGEM DAS DOENÇAS SEGUNDO O SEXO SEXO DOENÇA MASCULINO Hipotireoidis- Hemoglobi- Fibrose Fenilce- mo Congênito nopatias Cística tonúria Biotinidase 26 08 01 10 03 50,53 % 50,98% 47,06% 50,00% 52,63% 50,00% FEMININO 25 09 01 09 03 49,47 % 49,02% 52,94% 50,55% 47,37% 50,00% 51 17 02 19 06 TOTAL (95) Em relação à cor, houve 78 (86,67%) de cor branca e 12 (13,33%) da cor não branca, com as Hemoglobinopatias apresentando o menor percentual da cor branca 12 (75%) (Quadro 3). 26 QUADRO 3. PREVALÊNCIA DA TRIAGEM DA DOENÇAS SEGUNDO A COR COR DOENÇA Hipotireoidis- Hemoglobi- Fibrose Fenilce- Deficiência de mo Congênito nopatias Cística tonúria Biotinidase Branca 42 12 02 17 05 86,6% 89,36% 75,00% 100,00% 89,47% 83,33% 05 04 00 02 01 13,33% 10,64% 25,00% 00% 10,53% 16,67% TOTAL 47 16 02 19 06 Não Branca Considerando que na prematuridade houve 86 (91,49%) de bebês não prematuros e (8) 8,51% de prematuros, evidencia-se o predomínio da não prematuridade em cada doença triada (Quadro 4). QUADRO 4. PREVALÊNCIA DA TRIAGEM DAS DOENÇAS SEGUNDO A PREMATURIDADE PREMATU- DOENÇA RIDADE Hipotireoidis- Hemoglobi- Fibrose Fenilce- Deficiência de mo Congênito nopatias Cística tonúria Biotinidase 46 14 01 19 06 90,20% 87,50% 50,00% 100,00% 100,00% 05 02 01 00 00 8,51% 9,80% 12,50% 50,00% 00% 00% TOTAL 51 16 02 19 06 Não Premat. 91,49% Sim Analisando a média do peso da triagem de todas as doenças, que foi de 3233,05, com desvio padrão de 683,28, variando o peso mínimo de 750g e o máximo de 5600 g, e ainda, a media do peso de cada doença triada, observa-se que a Fenilcetonuria(3098,16) e a Deficiência da Biotinidase (3080) apresentaram as menores médias de peso.(Quadro 5). 27 QUADRO 5. PREVALÊNCIA DA TRIAGEM DAS DOENÇAS SEGUNDO O PESO DOENÇA PESO N. Minimo Máximo Médio Desvio padrão Hipotireoidismo 51 750 5600 3327,45 733,69 Hemoglobinopatias 17 1620,00 4100,00 3126,18 666,48 Fibrose Cística 02 3400 3550,00 3475,00 106,07 Fenilcetonúria 19 2100 4800 3098,16 653,14 Biotinidase 06 2410 3560 3080,00 429,33 TOTAL 95 750 5600 3233 Congênito 683,28 Na associação das doenças confirmadas (60) 74,07% e as não confirmadas (21) 25,93%, a Fenilcetonuria apresentou o menor percentual de confirmação (4) 21,05%. (Quadro 6). QUADRO 6. ASSOCIAÇÃO ENTRE AS DOENÇAS CONFIRMADAS E NÃO CONFIRMADAS DOENÇA DOENÇA CONFIRMADA Hipotireoidis- Hemoglobi- Fibrose Fenilce- Deficiência de mo Congênito nopatias Cística tonúria Biotinidase 04 01 00 15 01 9,09% 8,33% 00% 78,95% 16,67% 40 11 00 04 05 74,07% 90,91% 91,67% 00% 21,05% 83,33% TOTAL 44 12 00 19 06 Não 25,93% Sim 28 6. CONCLUSÕES As enfermidades mais prevalentes foram Hipotiroidismo Congênito(1: 4.422) e as Hemoglobinopatias (1: 16.103), havendo predomínio da cor branca e da não prematuridade. No Paraná não houve nenhum caso confirmado de Fibrose Cística neste periodo estudado, mas esta doença causa distúrbios físicos e psicossociais ao paciente e aos seus familiares, devido ao impacto de sua cronicidade e de suas intercorrências, necessitando que seja inserida no PNTN em todo país. A Fenilcetonúria apresentou uma média de peso menor (3098,16g) que as outras doenças, exceto para a Deficiência de Biotinidase (3080g), devido aos distúrbios metabólicos intra-útero. E também apresentou o menor percentual de doença confirmada (21,05%), pois este diagnóstico deve ser confirmado após um período de 48 horas de vida, tempo suficiente para que o recém-nato tenha recebido o aleitamento materno ou a mamadeira. Em todas as doenças houve predomínio da cor branca (86,67%) e da não prematuridade (91,49%), mas não houve predominância em relação ao sexo; a freqüência maior foi para fora de Curitiba e da região metropolitana (84,95%). A prevalência mais significativa foi a do Hipotiroidismo Congênito em todo o Paraná; este resultado demonstra que o diagnóstico e tratamento precoces (de 0 a 90 dias) assumem grande importância para a Saúde Pública na prevenção e redução de seqüelas graves, melhorando muito o prognóstico da doença, e preservando a capacidade intelectual em grande número de casos. Mostrou-se através do estudo feito que a prevalência de Deficiência de Biotinidase foi de 1: 35.460, demonstrando a sua necessidade na inclusão da triagem neonatal em todos os Estados. Nas hemoglobinopatias houve 75% da cor branca e 25% da cor não branca enquanto que, em cada doença triada, o percentual foi maior que 83% e também o percentual de cor branca em todas as doenças triadas foi de 86,67%, evidenciando a influência da miscigenação no Brasil desta enfermidade. O PNTN teve uma cobertura em 2004 de aproximadamente 99%, justificado pelo alto índice de pacientes rastreados que não tinham ainda a Declaração de Nascidos Vivos (DNV) ou pelo não preenchimento adequado da ficha de coleta com o número desta declaração. Conclui-se que não houve grande divergência quanto aos resultados da literatura já existentes em relação ao Hipotireoidismo Congênito, porém não há como comparar a análise das cinco doenças triadas dentro do PNTN do Paraná com outros Estados devido aos vários estágios de sua implantação no país, notadamente sobre o estudo de sua prevalência e incidência regionais. 29 REFERÊNCIAS ALVAREZ, A.; RIBEIRO, A. F.; HESSEL, G.; BERTUZZO, C. S.; RIBEIRO, J. D. Fibrose cística em um centro de referência no Brasil: características clínicas e laboratoriais de 104 pacientes e sua associação com o genótipo e a gravidade da doença. J.Pediatr. Porto Alegre, v. 80, n. 5, 2004. ANDROVANDI, C.; NUNES, M. D. T. Avaliação intelectual de escolares com hipotireoidismo congênito. Aletheia, v. 20, p. 55-64, jul./dez. 2004. ARAÚJO, M. C. P. E.;SERAFIM, E. S. S.; CASTRO JUNIOR, W. A. P. de; et al. Prevalência de hemoglobinopatias anormais em recém-nascidos da cidade de Natal, Rio Grande do Norte, Brasil. Cad. Saúde Pública, v. 20, n. 1, p. 123-128, fev. 2004. BACKES, C. E.; MALLMAN, F. G.; DASSI, T.; et al . Triagem neonatal como um problema de saúde pública. Ver. Bras. Hematol. Hemoter. v. 27, p. 43-47, mar. 2005. BAGGIO, L. F.; RIBEIRO, A. F.; KEIRALLA, D. M. B. Qualidade de vida em crianças e adolescentes com fibrose cística. Um estudo qualitativo. Rev. Paul. Pediatria, v. 17, n. 4, p. 169-77, dez. 1999. BRANDALIZE, S. DO R. C.; CZERESNIA, D. Avaliação do Programa de Prevenção e Promoção de Saúde de fenilcetonúricos. Rev. Saúde Pública, v. 38, n. 2, p. 300-306, abr. 2004. BRASIL. Lei Federal nº 8069, de 13 de julho de 1990. Estatuto da Criança: do direito à vida e à saúde. Art. 10º. Brasília, 1990. BRASIL. Portaria do Ministério da Saúde do Governo Federal, MS/GM nº. 822/01 de 08 de junho de 2001. Implantou o PNTN para diagnóstico neonatal de Fenilcetonúria, Hipotireoidismo Congênito, Fibrose Cística, Anemia Falciforme e outras hemoglobinopatias. Brasília, 2001. CABELLO, G. M. K.; CABELLO, P. H.; ROIG, S. S.; FONSECA, A.; CARVALHO, E. C.D.; FERNANDES,O. Rastreamento da fibrose cística usando-se a análise combinada do teste de IRT neonatal e o estudo molecular da mutação dF508. J. Bras. Patol. Med. Lab., v. 39, n. 1, p.15-20, 2003. DAUDT, L. E.; ZECHMAISTER, D.; PORTAL, L.; et al. Triagem neo-natal para hemoglobinopatias: um estudo piloto em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. Cad. Saúde Pública, v. 18, n. 3, p. 833-841, maio/jun. 2002. DINIZ, D.; GUEDES, C. Confidencialidade, aconselhamento genético e saúde pública: um estudo de caso sobre o traço falciforme. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 21, n. 3, maio/jun. 2005. 30 FEPE. FUNDAÇÃO ECUMÊNICA DE PROTEÇÃO AO EXCEPCIONAL Deficiência da biotinidase, Curitiba, 2005. Disponível em : <http:www.fepe2005.net.> Acesso em: 13 jul. 2005. FIATES, G. M. R.; BARBOSA, E.; AULER, F.; et al. Estudo nutricional e ingestão alimentar de pessoas com fibrose cística. Rev. Nutr., v. 14, n. 2 , p. 95-101, ago. 2001. FIGUEIRÓ FILHO, E. A.; LOPES, A. H. A.; SENEFONTE, F. R. de A.; SOUZA JÚNIOR, V. G.; BOTELHO, C. A; DUARTE, G. Fenilcetonúria materna: relato de caso. Rev. Bras. Ginecol. Obstet., v. 26, n. 10, p. 813-817, dez. 2004. FUMERO, R. A. Síndrome da fenilcetonúria materna. Rev. Cubana Obst. Ginecol., v. 29, n. 3, 2003. KOPELMAN B. I.; SANTOS, A. M. N.; GOULART, A. L.; ALMEIDA, M. F. B.; MIYOSHI, M. H.; GUINSBURG, R; Diagnóstico e tratamento em neonatologia. Rio de Janeiro: Atheneu, 2004. MALLOY-DINIZ, L. F.; MARTINS, C. C.; CARNEIRO, K. C.; CERQUEIRA, M. M. M.; FERREIRA, A. P. A .; AGUIAR, M. J.; STARLING, A. L. Funções executivas em crianças fenilcetonúricas: variações em relação ao nível de fenilalanina. Arq. Neuro-Psiquiatr., v. 62, n. 2b, p. 473-479, jun. 2004. MIRA, N. V. M.; MARQUEZ, U. M. Importância do diagnóstico e tratamento da fenilcetonuria. Revista Saúde Pública, v. 34, p. 86-96, fev. 2000. MURAHOVSCHI, J; Pediatria: diagnóstico e tratamento. 6 ed. São Paulo: Sarvier, 2003. p.125; 129132; 334-337; 679-683. NASCIMENTO, M. L.; PIRES, M. M. S.; NASSAR, S. M.; et al. Endocrinologia. Arq. Bras. Endocrinologia Metab. v. 47, n. 1, p. 75-81, fev. 2003. NETO, E. C.; SCHULTE, J.; RUBIN, R.; LEWIS, E.; DEMARI, J.; CASTILHOS, C.; BRITES, A.; GIUGLIANI, R.; JENSEN, K. P.; WOLF, B. Newborn screening for biotinidase deficiency in Brazil. Biochemical and Biol. Res. v. 37, n. 3, p. 295-309, mar. 2004. PARANÁ. Lei nº 8627 de 9 de dezembro de 1987. Torna obrogatória a realização do ¨Teste do Pézinho¨: Por que coletar na alta hospitalar? Rev. Eletrônica de Enfermagem, v. 5, n. 2, p. 50-54, 2003 PERONE, D.; TEIXEIRA, S.S.; CLARA, S. A.; SANTOS, D. C dos; NOGUEIRA, C. R. Aspectos genéticos do hipotireoidismo congênito. Arq. Bras.Endocrinol. Metab. v. 48, n. 1, p. 62-69, fev. 2004. 31 PINTO, A. L. R.; RAYMOND, K. M.; BRUCK, I.; et al. Estudo de prevalência em recém-nascidos por deficiência de biotinidase. Rev. Saúde Pública, v. 32, n. 2, p. 148-152, abr. 1998. RAMOS, A. J.; ROCHA, A. M.; COSTA, A. D. M.; et al. Avaliação do programa de rastreamento de doenças congênitas em Campina Grande, PB, Brasil. Arq. Bras, Endocrinol. Metab. v. 47, n. 3, p. 280-284, jun. 2003. SANTOS, G. P.; CHERMIKOSKI, D.; MOUSELINE, T.; WITTIG, E. O.; et al. Programa de triagem neonatal para fibrose cística no Estado do Paraná: avaliação após 30 meses de sua implantação. J. Pediatr. Rio de Janeiro. v. 81, n. 3, p. 240-244, jun. 2003. SÃO PAULO. Lei nº 3914 de 1973. ¨Torna obrigatória no Estado de São Paulo, a realização do Teste de Triagem Neonatal para Fenilcetonúria¨. São Paulo, 1973. SILVA, M. M. B. G. Programa de Educação Continuada a Distância na Triagem Neonatal, 2002. 68 p. Monografia. (Especialização em Projetos Assistenciais de Enfermagem). Curso de Pós –Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Paraná. Curitiba. SILVA, M. M. B. G.; DOMINGOS, M. T.; WITTIG, E. O. Manual de normas técnicas para coleta de sangue no "teste do pezinho". Curitiba - PR, 2004. SOUZA, C. F.; MOURA D. E.; SCHWARTZ, I. V.; GIUGLIANI, R. Triagem neonatal de distúrbios metabólicos. Ciênc. Saúde Coletiva, v. 7, n. 1, p. 129-137, 2202. WEBER, P.; SCHOLL, S.; BAUMGARTNER, E. R. Outcome in pacients with profound biotinidase deficiency: relevance of newborn screening. Dev. Med. Child. Neurol. v. 46, n. 7, p. 481-4, jul. 2004. WOLF, B.; HEARD, G. S. Screening for biotinidase deficiency in newborns : worldwide experience. Pediatrics. v. 85, n. 4, p. 512-7, abr. 1990.
Download