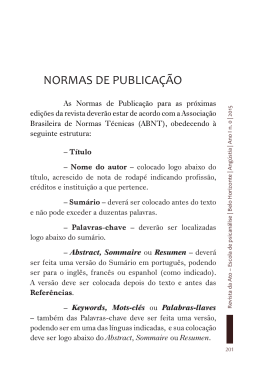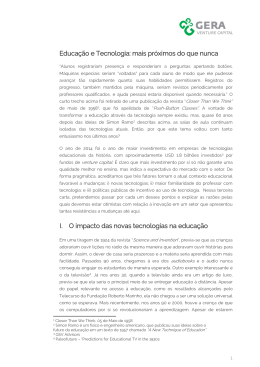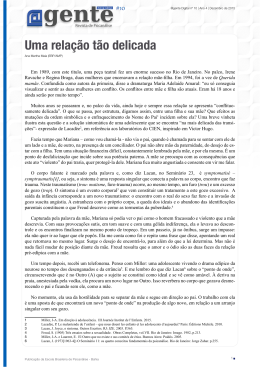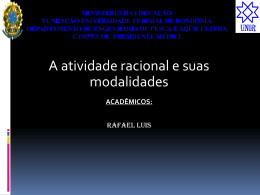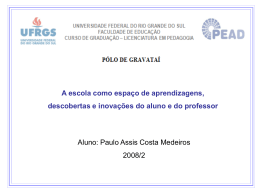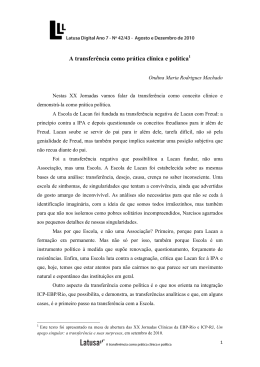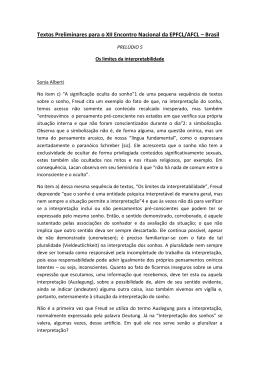UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ UFC CENTRO DE HUMANIDADES Programa de Pós-Graduação em Psicologia MESTRADO EM PSICOLOGIA DISSERTAÇÃO DE MESTRADO Os Nomes-do-Pai no Grande Sertão: Veredas para a feminilidade? Magaly Ferreira Mendes Fortaleza, 23 de março de 2007 Os Nomes-do-Pai no Grande Sertão: Veredas para a feminilidade? Magaly Ferreira Mendes Dissertação de mestrado apresentada no Programa de Pós-graduação em Psicologia da Faculdade de Psicologia da Universidade Federal do Ceará como requisito parcial para a obtenção do grau de Mestre em Psicologia Orientadora: Profa. Dra. Laéria Fontenele Fortaleza, Março de 2007 II MENDES, Magaly Ferreira. Os Nomes-do-Pai no Grande Sertão: Veredas para a feminilidade? Magaly Ferreira Mendes. – Fortaleza: [s.n.], 2007 191 f.: il.; 30cm Orientadora: Laéria Fontenele Dissertação (mestrado) – Universidade Federal do Ceará. Programa de Pós-graduação em Psicologia. 1- Grande Sertão: Veredas 2- função paterna 3feminilidade. I- Fontenele, Laéria. II- Universidade Federal do Ceará Programa de Pós-graduação em Psicologia. III- Os Nomes-do-Pai no Grande Sertão: Veredas para a feminilidade? III Os Nomes-do-Pai no Grande Sertão: Veredas para a feminilidade? Magaly Ferreira Mendes Dissertação de mestrado submetida ao corpo docente da Pós-Graduação em Psicologia da Faculdade de Psicologia da Universidade Federal do Ceará – UFC, como parte dos requisitos necessários à obtenção do grau de Mestre. Banca Examinadora: Profa. Dra. Laéria Fontenele Prof. Dr. Ivan Corrêa Profa. Dra. Nadiá Paulo Ferreira Fortaleza, Março de 2007 IV A meu pai, pelos desenhos. À minha mãe, pela música. O meu amor. V TRAVESSIAS A primeira vez que li a obra Grande Sertão: Veredas foi há muito tempo. Nesta época, não estava aqui, na Fortaleza próxima ao sertão. Ao contrário dessa, eu me encontrava longe, bem longe dele. Estava num Porto Alegre, mais próxima da campanha. No entanto, levei para lá livros de psicanálise, Os Sertões e o Grande Sertão. Não pensei no porquê de estar levando estes dois. Tampouco sabia se os leria. Li-os, é claro. A distância e a saudade criaram o espaço e o tempo do desejo de fazê-lo e de lá, mais afastada, apreciei o sertão. Depois, estando de volta, o Grande Sertão ficou sendo para mim uma espécie de livro de cabeceira. Algumas pessoas costumam abrir a Bíblia ao acaso buscando algum saber. Eu fiz isso, durante estes anos, com esse romance. Se me perguntassem por quê, não saberia dizer. Agora sei que é porque o amo. Recentemente, minha filha me apresentou um novo termo colhido de um livro que ela estava a ler, intitulado Um defeito de cor, de Ana Maria Gonçalves (2006). Nele, se encontra um termo inusitado - “serendipidade”. Para explicá-lo, a autora recorre a Horace Walpole, que o empregou pela primeira vez no ano de 1754: “Serendipidade então passou a ser usada para descrever aquela situação em que descobrimos ou encontramos alguma coisa enquanto estávamos procurando outra, mas para a qual já tínhamos que estar, digamos, preparados” (Walpole apud Gonçalves, 2006, p.9). Talvez para mim, o Grande Sertão tenha funcionado como mais um caso de serendipidade, pois, quando o descobri, na realidade, procurava outra coisa. Mas faço uma ressalva: nesta ocasião, eu não estava preparada. Por isso o romance teve de passar tantos anos ecoando até que, enfim, eu de alguma forma o ouvisse. Assim, de um movimento que se originou de um afastamento, de uma deserção do sertão, comecei a tecer um discurso sobre este deserto. O resultado foi esta minha dissertação. Nela, falo apenas do que me foi possível encontrar naquilo que ouvi. Sei que, se juntei coragem para falar agora sobre isso, não foi exatamente por me sentir preparada, mas pelo anseio de buscar as condições que me permitiriam dizer alguma coisa sobre meus achados. Nesta busca, dei-me conta de que ler livros é, ao mesmo tempo, abrir e percorrer veredas, construir caminhos. A empreitada é instigante e deliciosa. Mas, ao mesmo tempo, tem-se de enfrentar veredas de difícil VI acesso e até mesmo perigosas. Passa-se por trechos de grande solidão. Muitas vezes, perdi-me entre veredas. No entanto, nas horas mais arriscadas, tive a sorte e a alegria de poder contar com a ajuda, imprescindível, de muitos. Sem eles, sei que não teria conseguido - ou talvez tivesse, mas aí teria sido tremendamente árduo. Talvez eu desistisse. Quando atravessou o Grande Sertão, Riobaldo, personagem das criativas veredas de Guimarães Rosa, foi com muitos companheiros. Ele cita 80 deles. Eu, olhando para trás, olhando o caminho que fiz, posso dizer como Riobaldo que “se agüentava aquilo, era por causa da boa camaradagem” (GSV1, p.242). Como ele, tive ao meu lado “[g]2ente certa. E no entre esses, que eram, o senhor me ouça bem:” (GSV, p.242) Ivan Corrêa, meu supervisor, “indo à frente, e não sediava folga nem cansaço”3; a Laéria – que foi minha analista e depois ficou sendo minha orientadora: “sabendo [desta], o senhor sabe minha vida”. A Tarciana, minha filha, “de ferro e ouro”; o João Paulo, meu filho, “cumpridor de tudo e [rapaz] de muito respeito”; o Tiago, também meu filho, rapaz “desmarcado de forçoso: capaz de segurar as duas pernas dum poldro” - meus três amores. A Magda, esta “nunca se [esquece] de nada”; Baby, “quase [menina], [filha] de todos no afetual paternal”; Odilo, “que [ganha] em todo jogo de” sinuca; o Vicente, “filho dum [...] que se chamava” Francisco de Assis, meu avô, grande pai; o Bosco, também filho deste, “muito parecido” com o pai dele; a Edwiges, “[mulher cordata] – a [ela estou] devendo, sem me lembrar de pagar, a quantia de dezoito mil-réis”; Jerzuí, amiga “de minha melhor estimação”; o Ronald, “rastreador, [...] sabente”; o Hamilton, “outro rastreador, [...], boa pessoa”; o Secundo, “faquista, perigoso nos repentes”; Iracema, “caçador[a] muito [boa]”; o Carlos, “amigo em tanto”; o Anderson, “que achava os lugares d’água”, José Maria Arruda, “competente sujeito”, Ricardo Barrocas, “valente demais e esquentado”, a Nadiá, que “[entende] de toda mandraca”. “E – que ia me esquecendo – a Léa, “entendid[a] de curar qualquer doença” de ortografia. “A mais, que nos dedos conto:” mulheres e homens, pais e filhas, que dia 1 A título de simplificação, quando nos referirmos ao romance Grande Sertão: Veredas, adotaremos a abreviatura, “GSV” seguida da página onde se poderá localizar a citação. Todas as citações constantes no corpo deste trabalho foram retiradas da 15ª edição publicada no ano de 1982 pela José Olympio Editora. 2 Ao longo deste trabalho, transcreveremos passagens de várias fontes. A fim de que estas se harmonizem com o corpo do trabalho, procedemos a adaptações, às quais, mesmo estando entre aspas, por estarem entre colchetes, hão de fazer parte do texto original do autor citado. 3 A partir deste ponto, e até o final destes agradecimentos, não farei mais referência à página onde as citações que se seguem podem ser localizadas. Saiba-se que todas elas se encontram nas páginas 242 e 243 do Grande Sertão: Veredas. Depois, ao longo do texto, a citação seguirá em conformidade com o que estabecemos na nota 1. VII após dia vão ao meu consultório e lá contam suas histórias; os companheiros do Centro de Estudos Freudianos do Recife, queridos amigos; os do Corpo Freudiano de Fortaleza, também; os professores do Mestrado de Psicologia da UFC, a Jaqueline da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará; os amigos do Hospital de Saúde Mental de Messejana e os do CAPS Nilse da Silveira; os pacientes que atendo nestes lugares. “Afora algum de que eu me esqueci – isto é: mais muitos... Todos juntos, [isso] tranqüiliz[ou] os ares”. Sinceramente, agradeço a todos, tão amáveis. Agora só me resta dizer que atravessei o Grande Sertão como pude e por ele também fui atravessada. O que falo sobre suas Veredas é de minha exclusiva responsabilidade. Assim são as travessias. VIII RESUMO MENDES, Magaly Ferreira. Os Nomes-do-Pai no Grande Sertão: Veredas para a feminilidade?, 2007. 191 f. Dissertação (Mestrado em Psicologia – Área de concentração: Psicanálise). UFC. Fortaleza. Este trabalho realiza um estudo sobre a especificidade da relação entre pai e filha para interrogar se a função paterna teria alguma influência sobre o advento da feminilidade para uma filha. Desta maneira, seu objetivo principal consiste em identificar, a partir da análise do romance Grande Sertão: Veredas, de João Guimarães Rosa, os caminhos que viabilizem um novo dizer no que concerne à relação entre a função paterna e a feminilidade e que esteja alicerçado nas elaborações de Sigmund Freud e Jacques Lacan. Ao recorrer tanto ao romance de Guimarães Rosa quanto às elaborações psicanalíticas de Freud e Lacan, a presente investigação constata a abertura epistêmica promovida por estes textos em torno das questões sobre o pai bem como sobre a feminilidade e se insere na continuidade das reflexões sobre o tema. Para tanto, apóia-se nas formas inéditas de dizer viabilizadas pela criação literária, nos avanços teóricos promovidos pela obra freudiana e nas ampliações destas mesmas aquisições teóricas proporcionadas pelas elaborações lacanianas. Especificamente no que diz respeito a estas últimas, o trabalho conta com o alargamento das reflexões sobre a função paterna na contribuição teórica de Lacan ao introduzir o conceito de Nome-do-Pai. Daí o título desta investigação - “Os Nomes-do-Pai no Grande Sertão: Veredas para a feminilidade?” – ser interrogativo, portanto, não-conclusivo, uma vez que não poderia pretender a insensatez de um fechamento das questões aqui abordadas, tampouco da obra literária. Isto, evidentemente, não impede que algo mais seja dito. Portanto, a hipótese levantada neste trabalho consiste em verificar se, no Grande Sertão: Veredas, a relação mantida entre o personagem Diadorim e seu pai, Joca Ramiro, impediu ou viabilizou o acesso daquele à feminilidade. Ao final, o que se conclui é que esta relação favoreceu um acesso muito peculiar de Diadorim ao infinito em que a feminilidade se constitui. Por conseguinte, as veredas da investigação se mantêm em aberto suscitando novas descobertas. Palavras-chave: Grande Sertão: Veredas; função paterna; feminilidade. IX RÉSUMÉ Ce travail réalise une étude sur la spécificité du rapport entre père et fille pour intérroger si la fonction paternelle aurait quelque influence sur l’avènement de la féminisation pour une fille. De cette manière, son objectif principal consiste à identifier, à partir de l’analyse du roman Diadorim qui porte le titre original de Grande Sertão : Veredas, de João Guimarães Rosa, les chemins qui viabilisent une nouvelle façon de dire en ce qui concerne la relation entre la fonction paternelle et la féminisation et qui soit basée sur les élaborations de Sigmund Freud et Jacques Lacan. Lors de la recherche basée sur le roman de Guimarães Rosa et aussi sur les élaborations psychanalytiques de Freud et Lacan, cette investigation constate l’ouverture épistémologique promue par ces textes autour des questions sur le père ainsi que sur la féminisation et s’insère dans la continuité des réflexions sur le thème. Pour le faire, l’investigation s’appuie sur les formes inédites de dire rendue viables par la création littéraire, sur les progrès théoriques promus par l’oeuvre freudienne et dans l’agrandissement de ces mêmes acquisitions théoriques proportionnées par les élaborations lacaniennes. Spécifiquement en ce qui concerne ces dernières, le travail compte sur l’élargissement des réflexions sur la fonction paternelle dans la contribution théorique de Lacan lorsqu’il introduit le concept de Nom-du-Père. C’est pourquoi l’investigation a le titre – “Os Nomes-do-Pai no Grande Sertão : Veredas para a feminilidade?” – c’est-à-dire être interrogatif et, par conséquence, ne pas être conclusif, puisqu’il ne pourrait pas avoir l’intention d’une conclusions des questions y traitées ni de l’oeuvre littéraire non plus. Évidemment cela n’empêche pas que d’autres choses soient dites. Donc, l’hypothèse suscitée dans ce travail consiste à vérifier si, chez Grande Sertão : Veredas, le rapport entre le personnage Diadorim et son père, Joca Ramiro, a empêché ou a rendu possible l’accès de celui-là à la féminisation. A la fin nous arrivons à la conclusion que ce rapport a favorisé un accès très particulier de Diadorim vers l’infini où la féminisation se consistue. Par conséquence, les sentiers de l’investigation continuent ouverts suscitant de nouvelles découvertes. Mots-clés : Grande Sertão : Veredas ; fonction paternelle ; féminisation. X SUMÁRIO Prelúdio ...................................................................................................................... 13 I POR CAUSA DAS LACUNAS 1.1 Introdução.......................................................................................................... 20 1.2 A ficção e a psicanálise ...................................................................................... 24 1.3 A ficção e a literatura......................................................................................... 26 1.4 As lacunas que motivam a caminhada ................................................................ 30 1.5 Em busca de um caminho................................................................................... 32 II UMA ESTÓRIA QUE NASCE DO CAOS PARA VIVER MUITAS GUERRAS EM NOME-DO-PAI 2.1 Introdução .......................................................................................................... 35 2.2 Do caos ao “homem dos avessos”....................................................................... 35 2.3 O “redemunho” do Nome-do-Pai........................................................................ 38 2.4 O des-tino dos nomes ......................................................................................... 41 2.5 Uma figura estonteante....................................................................................... 44 2.6 Por causa de um olhar anterior ao olhar .............................................................. 47 2.7 Do vazio ao corte ............................................................................................... 50 2.8 Um Juiz Supremo ............................................................................................... 52 2.9 Sobre a condição para que o pai funde a lei ........................................................ 57 2.10 O Grande Sertão e a “excomunhão maior”......................................................... 64 XI III VESTÍGIOS DE MULHER 3.1 Introdução.......................................................................................................... 72 3.2 Torções.............................................................................................................. 72 3.3 “Um Diadorim assim meio singular”.................................................................. 75 3.4 Um Menino “Dessemelhante”............................................................................ 78 3.5 Um menino “diferente, muito diferente...”.......................................................... 81 3.6 Um Menino-Moço e o amor vindo “de um-que-não-existe” ............................... 82 3.7 Mulheres belas e instigantes............................................................................... 87 3.8 Os batedores investigam os vestígios de mulher ................................................. 95 3.9 Amor de ouro................................................................................................... 108 3.10 Amor de prata, outros amores e outros casos.................................................... 113 IV UMA MULHER 4.1 Introdução........................................................................................................ 121 4.2 “um feio dia” ................................................................................................... 122 4.3 Uma música inaudível...................................................................................... 125 4.4 Joca Ramiro: um sol de alegria para Diadorim ................................................. 131 4.5 As roupas de Diadorim .................................................................................... 135 4.6 Em nome do pai............................................................................................... 141 4.7 Grilhão de elos imponderáveis ......................................................................... 146 4.8 Para além do traje, o ultraje de Diadorim ......................................................... 158 4.9 A pedra começa a rolar .................................................................................... 164 4.10Para Riobaldo, o êxtase e o horror. Para Diadorim, o horror e o êxtase ............... 170 CONCLUSÃO .......................................................................................................... 182 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ..................................................................... 187 XII PRELÚDIO “Que não existe, que não, que não, é o que minha alma soletra” (GSV1, p.229), afirma o narrador do romance Grande Sertão: Veredas, de João Guimarães Rosa. Nesta idéia, parece-nos ecoar uma espécie de síntese do trabalho que pretendemos realizar: um estudo sobre a relação entre pai e filha, considerando-a, em suas implicações, sobre a constituição da feminilidade, e efetivado a partir do referencial teórico da psicanálise e da análise do romance rosiano. Por que reconhecemos ressonâncias entre a afirmação do narrador rosiano e uma síntese do nosso estudo? O intuito desta introdução seria, então, o de nos mostramos decididos a assumir, como faz o narrador do Grande Sertão, o tom persuasivo sobre a não existência de algo? Acaso estaríamos, desde já, reiteradamente procurando nos convencer de que não existe relevância em investigarmos as possíveis implicações da relação entre pai e filha no que diz respeito aos rumos que esta pode adotar frente à feminilidade? Devemos prontamente responder que não, pois, muito ao contrário, o que a observação clínica, a teoria psicanalítica, e a própria narrativa do romance rosiano nos propiciam é a oportunidade de soletrarmos a importância desta relação sobre o devir da feminilidade. No entanto, em nenhum destes campos do saber, essa possibilidade nos é dada como já completamente explicitada. Antes, tanto a clínica quanto a teoria psicanalíticas - bem como o Grande Sertão - nos incitam a realizar uma travessia procedente de questões lacunares que assim se mantiveram em decorrência de alguns paradoxos e impossibilidades. Frente a estes, as soluções muitas vezes conduziram à suspensão e à perplexidade. Um dos paradoxos diz respeito exatamente à confrontação de Freud - o inventor da psicanálise - e de Riobaldo - o narrador do romance - com a própria noção de existência que remete, grosso modo, à tentativa de definição ou delimitação de algo. No caso de Riobaldo, o que ele reitera é a não existência do “Outro – o figura, o morcegão, o tunes, o cramulhão, o debo, o carocho, o pé-de-pato, o mal-encarado, aquele – o-que-não-existe!” (GSV, p.229). Portanto, pela soletração, ele procura tornar inteligível que o Demônio, enquanto alteridade absoluta e enquanto algo da ordem do ser, não existe. 1 Cf. nota nº 1, p. VII. 13 O narrador do Grande Sertão não se confunde: existência não é o mesmo que essência. A ligação enclítica das palavras efetuada na expressão “o-que-não-existe” parece-nos indicar a não existência de um ser que possamos denominar plenamente. Mesmo ao recorrermos, como faz o narrador, ao uso dos hífens - que, pela promoção de uma união, visa representar a perda do acento de cada palavra em favor da composição de uma única expressão -, ainda assim não conseguimos ter acesso a uma definição acabada da essência, não temos acesso à totalidade dos predicados de algo. Deparamo-nos, portanto, com uma impossibilidade, pois, antes, o que costuma acontecer é termos de recorrer a várias expressões quando queremos nomear alguma coisa. Sobre este aspecto, chama especial atenção a profusão de referências feitas ao demônio no Grande Sertão: numa riqueza referencial ímpar, o narrador chega a empregar 92 denominações diferentes para referir-se a ele (MARTINS, 2001). No que tange à construção da teoria psicanalítica, Freud também não se confundiu. Ao estudar um objeto2 cuja manifestação clínica se dava através de uma objetividade3 incontestável, mas para a qual, até então, não se dispunha de dispositivos adequados para proceder a uma abordagem objetiva, Freud enfrentou o caráter inefável de seu objeto de estudo, o inconsciente, e superou várias aporias. Mais do que tentar reduzir o inconsciente ao consciente - o que na verdade é impossível -, Freud abordou este objeto, inabordável pela consciência, forjando instrumentos que não apenas permitiram algum acesso ao saber inconsciente, mas fundaram uma ciência inédita: a psicanálise. O avanço inquestionável promovido pela teoria freudiana pode ser constatado pela coerência de sua metodologia, que - apesar de influenciada por modelos contemporâneos de decifração científica - viabilizou o entendimento das manifestações do inconsciente sem se deixar restringir pelas concepções científicas de então, e assim chegou mesmo a superá-las. Além disto, o rigor teórico de Freud pode também ser 2 Segundo Abbagnano (2000, p.723), “objeto” é o termo “de qualquer operação, ativa, passiva, prática, cognoscitiva, ou lingüística. O significado dessa palavra é generalíssimo e corresponde ao significado de coisa. Objeto é o fim a que se tende, a coisa que se deseja, a qualidade ou a realidade percebida, a imagem da fantasia, o significado expresso ou o conceito pensado”. 3 Ainda seguindo com Abbagnano (2000, p.721) empregamos o termo “objetividade” tanto como o “caráter daquilo que é objeto”, quanto como o “caráter da observação que procura ver o objeto como ele é não levando em conta as preferências ou os interesses de quem o considera, mas apenas procedimentos intersubjetivos de averiguação e aferição”. Apesar de a objetividade ser um ideal - especificamente, um ideal da ciência -, consideramos que o método freudiano não abriu mão deste ideal e se constituiu como um excelente exemplo desta prática, pois, como veremos, ele superou as limitações dos métodos científicos de sua época e forjou uma técnica mais eficiente para se aproximar do inconsciente enquanto objeto de sua investigação. 14 confirmado por sua determinação em não se deixar capturar por qualquer tipo de cosmovisão. Portanto, a teoria e a clínica psicanalíticas lidam com um objeto cuja existência só pode ser depreendida se a considerarmos a partir de seus efeitos e jamais por sua delimitação precisa como se tratássemos de uma essência. Sobre o inconsciente, assim como sobre o Demônio, podemos dizer muito, podemos elucidar suas formações, porém, ambos permanecem indomáveis e inapreensíveis. O inconsciente não é predicável, isto é, universal, um ser. Ele é impredicável4. Sendo assim, não podemos atribuir-lhe valores tais como verdadeiro ou falso. O incorpóreo verdadeiro participa da verdade e esta pode habitar uma mentira do mesmo modo que a ficção pode veicular uma verdade. Nossa tarefa nesta introdução é justamente dar a entender que o enredamento da função paterna com o acesso de uma filha ao âmbito da feminilidade deve ser pesquisado não no campo de uma essência5 da paternidade ou do tornar-se mulher, mas no campo de afinidade da função paterna e da feminilidade com o indizível e o inaudito. Ainda que impredicáveis, indizíveis e inauditas, tanto a função paterna quanto a feminilidade foram amplamente estudadas e elucidadas por Freud. No entanto, a exaustiva investigação freudiana sobre a feminilidade acabou por conduzi-lo à perplexidade: “O que quer uma mulher?”, interrogou Freud em uma de suas cartas a Marie Bonaparte, no momento em se aproximava do final de suas elaborações. A questão sobre a feminilidade foi, por conseguinte, deixada em suspensão. Já no que diz respeito ao entendimento da função paterna, Freud também deslindou grande parte da problemática aí envolvida. Contudo, sua produção teórica continuou a suscitar uma melhor formalização. Não que a elaboração freudiana sobre o pai seja inconsistente. Pelo contrário, sua teorização permanece sustentável sob diversos aspectos. No entanto, por falta de recursos científicos que surgiram apenas depois de sua morte, Freud teve de apoiar sua construção teórica sobre a função paterna em dois mitos: o mito de Édipo e o mito do pai da horda primitiva. Quer dizer, na obra freudiana, tanto a conceitualização da função paterna quanto da feminilidade, restaram em aberto – qualidade princeps de um corpo teórico 4 A noção de “impredicável” será esclarecida ao longo do próximo capítulo. Aqui o termo “essência” deve ser entendido não apenas como aquilo que indicaria as características ou as qualidades do pai e do tornar-se mulher, mas também enquanto aquilo que designaria a substância, quer dizer, a estrutura que necessariamente estaria por baixo – a sub-estância -, destes. Veremos, com Freud e Lacan, que é impossível definir, declarar, a essência substancial do pai e da feminilidade. 5 15 que não pretende compor uma visão de mundo. Isto, obviamente, instigou novas formalizações. Estas nos chegaram através dos esclarecimentos e da perspectiva inovadora de Jacques Lacan. A partir da retomada mais precisa dos fundamentos freudianos, Lacan pôde não apenas fazer ruir os desvirtuamentos de que o texto de Freud vinha sendo vítima, mas ampliar o entendimento do inconsciente bem como da transmissão do saber psicanalítico. Assim como Freud, Lacan também se empenhou em dar um estatuto de cientificidade à psicanálise e, tal qual aquele, não se deixou seduzir por ideologias ou argumentações falaciosas. Soube escapar aos reducionismos e não se furtou de efetuar transições e rupturas quando estas assim o exigiram. Lançou mão da referência a outros registros tais como o registro do Real, do Simbólico e do Imaginário e introduziu um conceito de nosso particular interesse: o conceito de Nome-do-Pai. Veremos com Lacan (1995, p.209) que é impossível abordar o pai em sua essência. Por isso ele indicou mais uma questão em aberto na psicanálise ao questionar: “O que é ser um pai?”. Como resposta, ele propôs que se transferisse a questão sobre o pai para o nome, o Nome-do-Pai, a metáfora da função paterna. Por conseguinte, nosso intuito é o de trabalhar com questões sobre as quais podemos agora enumerar algumas peculiaridades. Primeiro, tratam-se de questões em aberto, logo, permitem mais algumas elaborações. Segundo, como a afirmação sobre a não existência do Demônio e as questões sobre a feminilidade e a função paterna nos remetem ao inominável, temos de reconhecer que estamos lidando com noções que se desviam das regras de delimitação, ultrapassando-as para se constituírem como exceções. Terceiro, em conseqüência desta ultrapassagem e como inerência das exceções, encontramo-nos no campo em que o particular garante a validade do universal, uma vez que a exceção confirma a regra. Encontramo-nos no campo da exceção e do excesso. Mas ainda nos resta justificar melhor nossa escolha do romance Grande Sertão: Veredas, aqui tomado como objeto de uma análise que pretende investigar os destinos da feminilidade a partir da intervenção da função paterna. Dissemos que a referência ao Demônio feita pelo narrador do Grande Sertão sintetiza nosso percurso de trabalho. Fundamentamo-nos na observação de que a figura demoníaca tem como origem as concepções gregas do Daimónion e do Diaballein. Nestas, demônio e diabo não detinham a conotação aviltante que ordinariamente se lhes 16 atribui. Ao contrário. Tratava-se de divindades propulsoras da diferenciação, da saída do caos. Não era atribuída a elas qualquer conotação pejorativa. A afinidade entre as concepções do Demônio e de Deus só veio a se desfazer por volta dos séculos III e II a.C. e se generalizou com o Novo Testamento. Por conseguinte, originariamente, o Demônio nos remete a Deus, o primeiro motor, a causa ordenadora do mundo, seu criador - o Pai. Ao nos questionarmos sobre a função paterna, somos levados, inevitavelmente, a refletir sobre a idéia de deus e do demônio tal como o faz o narrador rosiano. Mas não é só isso. Depois da diferenciação estabelecida entre Deus e o Diabo, com o passar do tempo, mais especificamente, no final da Idade Média, instaurou-se a espantosa associação do Demônio à mulher. Esta que, em várias culturas primitivas, ocupara o lugar do sagrado ou usufruíra da possibilidade de governar junto com o homem e que, mesmo na alta Idade Média, teve oportunidade de desenvolver-se através do acesso às artes e ciências, vivenciou durante quatro séculos um fenômeno assustador: “a caça às bruxas” (KRAMER e SPRENGER, 2000). Apesar de aparentemente surpreendente, este fenômeno não se deu de forma gratuita. O final do feudalismo germinou o que viriam a ser as nações modernas. Tomado como nascedouro do capitalismo, iniciou um processo de controle do corpo, condição sine qua non para se manter a alienação do trabalhador, sedimento da lógica capitalista. Foi por esta motivação que o Demônio - agora plenamente identificado a uma categoria hierarquicamente inferior a Deus, mas que, paradoxalmente, contava com a autorização deste para exercitar, através dos homens, toda espécie de sórdidos desígnios -, teve de ser banido. O ponto da vulnerabilidade humana, através do qual o Demônio exercia sua influência, era a sexualidade. A mulher - descendente de Eva, que pecara ao aquiescer com o Demônio - era tida como aquela que incorporava a fruta do pecado e compactuava com o Demônio. Acreditava-se mesmo que algumas delas copulavam com ele. A mulher era vista, então, como a própria “má sã”6. Com isto, queremos esclarecer que a perseguição às bruxas não se direcionou exclusivamente às histéricas. Ela também se estendeu àquelas que ascendiam à feminilidade. É sob este aspecto que nos interessamos pelo Demônio. 6 Devemos esta feliz articulação ao Prof. Dr. Ricardo Lincoln, comunicada oralmente durante o curso de mestrado em Psicologia da UFC, no dia 14 de maio de 2005. 17 Mas, nosso interesse tem ainda outro motivo: o Demônio e o Diabo grassam soltos no Grande Sertão: Veredas, cujo subtítulo parece-nos representar as contorções realizadas pelo próprio fio da narrativa: “O diabo na rua, no meio do redemoinho...”. Se acertarmos ao afirmar que a narrativa se desenvolve ao modo de um redemoinho, portanto, que ela descreve um movimento espiralar, nos permitiremos ir mais além para acrescentar que seu eixo de rotação consiste, justamente, no questionamento sobre a função paterna. Por consideramos que, em torno deste eixo, giram os vários desdobramentos do relato - sendo, inclusive, o ponto central do romance marcado pelo assassinato do pai -, procuraremos demonstrar que, no Grande Sertão, o acesso de uma filha à feminilidade também gira em torno da função do pai. Portanto, associaremos a feminilidade ao movimento do redemoinho. Quer dizer, para nós, o móbil da feminilidade é inapreensível qual um redemoinho. Apesar disto, interessa-nos averiguar se a feminilidade e o Pai rodopiam pelas ruas do Grande Sertão, as veredas. Na tentativa de percorrer essas ruas, nos dedicaremos inicialmente à fundamentação de nossa pesquisa e aproveitaremos a oportunidade para explicitar nossa metodologia. Uma vez que pretendemos trabalhar no interstício da psicanálise com a literatura, trataremos dos vínculos da ficção com a psicanálise e a literatura. Ao lado disso, indicaremos as lacunas teóricas que incitam nosso interesse e definiremos os caminhos a ser explorados. Em seguida, lançaremos a hipótese de que a função paterna se mostra amplamente representada no Grande Sertão. A nosso ver, esta representação se dá a perceber através do fio narrativo que descreve - como dissemos - um movimento espiralar qual um redemoinho. Assim sendo, nos conduziremos não apenas pelas voltas da narrativa - que está sempre retornando à questão paterna -, mas também pelos giros de Freud e Lacan em torno do pai. Guiaremos nosso estudo pela perspectiva freudiana apoiada no mito de Totem e tabu, e seguiremos pela perspectiva de Lacan, que promoveu uma passagem para esta problemática ao retirá-la do campo da cultura para considerá-la a partir do campo da estrutura. Em virtude deste giro, trataremos das noções forjadas por Lacan para viabilizar esta passagem. Depois, tendo estudado os desbobramentos teóricos da função paterna, explicitaremos de que maneira estes acabaram por nos conduzir às veredas da feminilidade. Neste enveredamento, continuaremos a consultar nossos batedores, Freud, Lacan e o próprio Grande Sertão. Em Freud, constataremos que sua preocupação com o 18 feminino remonta aos escritos pré-psicanalíticos e se estende aos textos finais de sua obra. Comentaremos alguns estudos de nosso particular interesse. Com Lacan, teremos a oportunidade de alargar nossa compreensão sobre a diferença sexual e nos aproximar dos impasses da feminilidade: a impossibilidade de nomeação que lhe é intrínseca e que divide a mulher entre o nome e o gozo da feminilidade. Pelo Grande Sertão, encontraremos vários aspectos relacionados ao feminino: conheceremos várias santas, muitas putas, uma perversa, uma anoréxica e duas lésbicas. Finalmente, tendo atravessado o Grande Sertão, investigaremos se as veredas para a feminilidade implicam, ou não, numa encruzilhada com a função paterna. Apesar do percurso realizado até agora, precisamos, no entanto, reconhecer que estamos longe de saber a que descobertas ele nos convida. Teremos, portanto, de continuar a girar em torno de nossa questão assim como ocorre no romance. Neste, a história é contada e recontada, a cada vez de forma mais ampla. Está-se sempre voltando ao ponto central. Por isso, comprometidos como pretendemos nos manter com a inerência do texto literário, nos vemos na contingência de seguir com o narrador que, tal qual Scheherazade7, conta e reconta, deixa a história em suspensão, conta mil outras histórias, adia a revelação que lhe fará perder a cabeça ao vivenciar a “doidagem” (GSV, p.455). Apesar disto, o movimento avança e, ao final, depois que o encanto se desfaz num encanto mais “terrível” (GSV, p.454), nos damos conta de que rodopiamos em torno de questionamentos para os quais obtivemos muitas respostas, sendo que nenhuma delas se apresenta como definitiva. O Grande Sertão transmite um saber, mas um saber que não se fecha. Assim usufruímos da abertura promovida por uma travessia que se dirige para o infinito. A interrogação permanece. 7 Esta percepção nos foi transmitida por nossa orientadora, a Profª. Drª. Laéria Fontenele. 19 I POR CAUSA DAS LACUNAS 1. 1 Introdução Por que tratar da relação entre pai e filha? Acaso esta relação guardaria alguma especificidade? Acaso a função paterna teria alguma influência sobre o advento da feminilidade para uma filha? E mais, por que proceder a uma investigação sobre a feminilidade a partir do estudo desta relação? Dito de outra forma: o que nos faria interrogar se a função paterna tem alguma implicação sobre a constituição da feminilidade? Estas são as questões que animam nossa pesquisa cujo objetivo principal consiste em identificar, a partir da análise do romance Grande Sertão: Veredas, de João Guimarães Rosa, as sendas que viabilizem um novo dizer no que concerne à relação entre a função paterna e a feminilidade e que esteja alicerçado nas elaborações de Sigmund Freud e Jacques Lacan. Tomamos como argumento inicial, em favor da relevância destas questões, o fato de constatarmos que elas reiteradamente fazem suas aparições no espaço privilegiado da escuta psicanalítica. De antemão, isto já nos leva a supor que a relação entre pai e filha detém algumas peculiaridades. Além disto, como se não fora suficiente justificar esta pesquisa por tal observação referente à prática clínica, contamos ainda com o fato de estarmos lidando, no nível teórico, com noções que suscitam a continuidade das reflexões sobre o tema, pois, tanto no que diz respeito ao que é uma mulher, quanto ao que é um pai a questão continua em aberto. Vale comentar que a constatação da existência de questões em aberto na teoria psicanalítica, antes de indicar uma insuficiência, representa a expressiva demonstração do compromisso da psicanálise com a manutenção de um rigor teórico que, efetivamente, não se deixa seduzir pelos atrativos de teorias totalizantes que visam à construção de uma “visão de mundo” (Weltanschauung). Segundo Freud (1980[1932], v. XXII, p.193), 20 a Weltanschauung é uma construção intelectual que soluciona todos os problemas de nossa existência, uniformemente, com base em uma hipótese superior dominante, a qual, por conseguinte, não deixa nenhuma pergunta sem resposta e na qual tudo o que nos interessa encontra seu lugar fixo. Por conseguinte, verificamos que a abstinência freudiana em dar resposta a todas as inquietantes perguntas da humanidade respalda-se na construção de um corpo teórico sobre o qual Freud (1980[1932], vol. XXII, p.220) pôde sustentar uma subordinação “à verdade” e à “rejeição das ilusões”. Devemos ter em mente, além disso, que pretender realizar uma pesquisa em psicanálise implica na consideração da metodologia empregada por Freud. Este, frente ao inusitado, teve de forjar instrumentos de abordagem capazes de respeitar a singularidade de um objeto até então inabordável, por se situar para além da consciência: o inconsciente. No entanto, não devemos considerar que, a partir disto, o inconsciente tenha passado a ser um objeto abordável. Ele permanece, paradoxalmente, inabordável. Como indica Corrêa (1993, p.14, grifo do autor) a partir do paradoxo de Russell, o inconsciente é impredicável: É bem conhecido o paradoxo de Russell. O conjunto de todos os conjuntos que não contém a eles mesmos, deve ou não conter a ele mesmo? Se ele não se contém, é incompleto. Se ele se contém, está em contradição com sua definição, pois contém um conjunto que não se contém a ele, mesmo. [...] Russell criou a noção de impredicável para demonstrar a inconsistência lógica de seu paradoxo. [...] a noção de impredicável pode se aplicar ao inconsciente. O impredicável é uma propriedade que não pode ser predicada dela mesma. Assim, a propriedade de ser inconsciente é impredicável porque é uma idéia consciente. Abordar o inconsciente como uma totalidade suscetível de se tornar consciente é atribuir-lhe predicados, atribuir-lhe uma lógica. Porém, como ainda assinala Corrêa (1993, p.13), o inconsciente nos defronta não com uma lógica, mas com uma “A-Lógica”, que é “incomensurável, inapreensível, inextinguível e indomável, como o próprio inconsciente”. Por conseguinte, não podemos presumir que exista uma “lógica do inconsciente”, pois, como afirma Corrêa (1993, p.13), isto faria supor que haveria uma lógica consciente e outra que é inconsciente. [...] A lógica, como a “ciência da prova” (Stuart Mill), na qual o que é lógico concerne à técnica do discurso correto, da expressão formal do pensamento, e por isso, distingui-se do racional, que implica a ordem inteligível (não somente 21 das palavras, mas também das coisas), não comporta esses predicados de Consciente/Inconsciente. [...] se digo “lógica do inconsciente”, com este genitivo, sou conduzido a um impasse, fazendo do inconsciente uma substância, da qual se pudesse predicar alguma coisa, um atributo. Se assim procedêssemos, estaríamos restringindo nosso entendimento do inconsciente à lógica da tradição filosófica grega sem levarmos em consideração que esta incitou posteriores discussões no sentido de esclarecer se as relações entre a linguagem e o discurso, entre o pensamento e o conhecimento, estariam ou não submetidas a alguma lei de uso e funcionamento. Este problema - inaugurado pela discussão entre Heráclito e Parmênides - foi abordado também por Platão e Aristóteles, passou pelas reflexões filosóficas da Idade Média para enfim chegar ao entendimento contemporâneo da lógica a partir da matemática. Seria supérfluo dizer que tal preocupação da filosofia em relação à lógica decorre, é claro, de seu empenho em encontrar algum acesso à verdade8 através de uma prática da linguagem. O trabalho executado por Freud consistiu, portanto, na pesquisa de um objeto a-lógico e sobre o qual nenhuma lei havia sido explicitada. Deste esforço, ele 8 Sobre os desdobramentos desta problemática na filosofia, podemos resumir que a discussão entre Heráclito e Parmênedes consistiu no fato de que o primeiro considerava que os seres se encontram submetidos ao perpétuo fluxo das mudanças, quer dizer, ao fluxo dos contrários, enquanto o segundo acreditava que as contradições seriam meras aparências e que o real, o verdadeiro, nunca mudaria, seria idêntico a si mesmo não comportando, portanto, qualquer contradição. O impasse foi retomado por Platão, para quem o mundo das sensações seria uma aparência, uma sombra do mundo verdadeiro e, este sim, conteria a essência imutável dos seres. Por isso, Platão propôs o método dialético através do qual se realiza a separação dos opostos em pares e, então, se determina qual dos termos é aparência e qual é verdade ou essência. Já para Aristóteles, o método dialético de Platão se presta bem para as disputas retóricas onde o que impera é a persuasão e não a demonstração de uma verdade. Assim, Aristóteles criou uma lógica, chamada por ele de “analítica”, que deve ser tomada enquanto instrumento do conhecimento. Para Aristóteles, o raciocínio é uma operação do pensamento que consiste em inferir, isto é, tirar - de uma ou mais premissas - uma conclusão. Ao encadeamento de premissas, Aristóteles, denominou de silogismo e considerou que este pode ser de dois tipos: dialético ou científico. O silogismo dialético, característico da retórica, é composto por premissas que podem ser apenas possíveis ou prováveis, quer dizer, hipotéticas. Já o silogismo científico só pode conter premissas universais - cujos predicados se referem à totalidade do sujeito - e premissas necessárias, isto é, aquelas em que o predicado faz parte, necessariamente, da essência do sujeito. Este último não visa às premissas hipotéticas, mas às apodíticas, àquelas premissas que se mostram irrefutáveis já que os predicados atribuídos ao sujeito são indubitáveis. Com os filósofos da Idade Média, a questão se ampliou. Estes passaram a dar relevo não apenas ao sujeito das premissas, mas também a seus predicados. Além disto, tornaram mais evidente o vínculo entre a lógica e a linguagem e estabeleceram regras para as funções sintáticas e semânticas do latim. No século XVII, Leibinz chegou a propor uma Arte Combinatória inspirada na álgebra com a finalidade de obter uma linguagem perfeita, isenta das ambigüidades ou dos contra-sensos usuais na linguagem cotidiana. Esta ambição por uma linguagem perfeita teve seu apogeu no século XIX com Boole e Morgan. Depois, na passagem do século XIX ao XX, Frege, Peano, Bertrand Russell e Whitehead realizaram uma profunda transformação da lógica que consistiu na formalização desta seguindo os moldes da formalização matemática. Quer dizer, a partir de então os lógicos se mostraram cada vez menos preocupados com o conteúdo das proposições e com as operações intelectuais do sujeito do conhecimento. A lógica contemporânea formaliza-se, portanto, ao ponto de priorizar os símbolos algébricos, a letra (ABBAGNANO, 2000). 22 pode demonstrar que as formações do inconsciente são regidas por uma lógica não aristotélica e foi pela observação dos efeitos paradoxais desta outra lógica que Freud identificou as regras do funcionamento inconsciente (CORRÊA, 1993). Um dos paradoxos deste funcionamento diz respeito exatamente à relação entre o inconsciente e o saber, pois, Corrêa (1993, p.11) faz notar que “[a]9 abertura do inconsciente se produz num momento de exclusão do sujeito de seu próprio pensamento. Para poder saber é necessário primeiro ser excluído do saber”. Temos uma ilustração disto se observarmos que, quando cometemos, por exemplo, algum lapso de linguagem, não sabemos de onde isso nos veio. Chegamos mesmo a considerar a possibilidade de que se trata de algo inconsciente, no entanto, se nos pusermos a pensar sobre a motivação inconsciente para tal lapso, tudo o que conseguirmos pensar daí em diante não será inconsciente, mas consciente. Por isso, como afirma Assoun (1996, p.42), o objeto da pesquisa freudiana se mostra “ao mesmo tempo problemático e de uma imediatez ofuscante”. Mal aparece já se desvanece. Além disto, precisamos atentar para o fato de que a psicanálise - embora enfrente um objeto a-lógico - lida, tal qual a lógica, com a linguagem, pois se ocupa com o inconsciente. Contudo, sobre a relação do inconsciente com a linguagem, lembremos a advertência de Lacan (2003, p.490), “o inconsciente é estruturado como linguagem, eu não disse pela”. Portanto, segundo Lacan (2003, p.490) a linguagem “[...] é a condição do inconsciente”. Como conseqüência disto, Corrêa (2003, p.19, grifos do autor) considera que [...] a Psicanálise é um lugar comum onde se imbricam a Tropologia, o lugar dos “tropos” literários, da literatura, [...], da retórica, e da Topologia, o lugar das relações, dos laços, da vizinhança, da continuidade e dos invariantes instituídos e presentes na linguagem. Em virtude destas particularidades do inconsciente, talvez se possa afirmar com Assoun (1996, p.43) que, em psicanálise, “a pesquisa clínica não tem outra lei senão a de seu objeto”. Rematemos: em psicanálise, tratamos com um objeto ao qual - por ser alógico, evanescente e impredicável - não se pode atribuir valores tais como falso ou verdadeiro. Podemos dizer que as formações do inconsciente mantêm uma afinidade 9 Cf. nota nº 2, p. VII. 23 com o tropos que, segundo Corrêa (2003, p.21, grifos do autor) é definido pelos gregos como sendo “o desvio que se faz na linguagem para produzir uma figura retórica”, e pelos estóicos “como sendo uma suspensão do julgamento”. Como decorrência destas peculiaridades, encontramos entre os componentes da lei do objeto que rege a pesquisa, um que requisita o exame mais detido de nossa parte já que temos em perspectiva realizar uma investigação situada no campo de interseção da psicanálise com a literatura. Este componente é a ficção. 1. 2 A ficção e a psicanálise Se, por um lado, a ficção nos remete ao fingimento, à farsa, à criação fantasiosa, por outro, é bem certo que ela nos remeta também, como no caso da criação artística, a uma leitura particular e geralmente original da realidade. Desse modo, como ressalta Assoun (1996, p.57), ao considerar a definição geral do termo “ficção” segundo o Vocabulário de Lalande, [u]ma ficção não é simplesmente o “não verdadeiro”, semblante ou aparência, mas um construto portador de virtualidades de conhecimentos: se construímos alguma coisa de que se sabe que “nada (lhe) corresponde na realidade”, é que, por uma estratégia epistêmica deliberada, esperamos retirar disso um efeito que, sem esse “ficcionamento”, seria impossível. Há aí a idéia de indiferença metodológica pela “realidade” objetiva da “imagem” (fictícia). Mas, então, em que medida a ficção estaria implicada na clínica psicanalítica? Fontenele (2002-a, p.12) esclarece que “[...] o analista, [...] convoca um sujeito particular a produzir um saber sobre sua verdade; saber que, por ser absolutamente singular, tem nesse limite seu valor universal”. Desta tensão entre o particular e o universal da verdade produzida pelo sujeito, Fontenele afirma que resultarão “micronarrativas que não geram nenhuma cosmovisão [...]” Poderíamos então, neste caso, inferir algo da ordem de “uma estratégia epistêmica” que favoreceria, tal como é proposto por Assoun, o acesso a um efeito impossível de ser alcançado sem o recurso ao “ficcionamento”? Para respondermos a esta questão, retornemos à avaliação feita por Fontenele (2002-a, p.34) sobre o caráter das micronarrativas produzidas pelo sujeito em análise: Em primeiro lugar, a autora esclarece que o caráter das micronarrativas “sustenta-se, ao feitio literário, na tessitura da verdade como ficção do sujeito, onde se 24 dão a ver as estratégias estilísticas pelas quais se diz o que não se pode por meios usuais”. Em segundo lugar, Fontenele (2002-a, p.34) esclarece que este recurso ao ficcionamento para se dizer o que não pode ser dito, promove a superação de obstáculos decorrentes dos mecanismos de defesa do eu, constituindo-se, portanto, como “a forma de lidar com o desconforto e o desprazer”. Além disto, precisamos considerar que o material inconsciente se mostra inacessível pela ação da censura que atua de maneira a produzir cortes sobre a narrativa. A censura, portanto, deforma, produz falhas, espaços em branco, falta de trechos da narrativa, torna a produção inconsciente ininteligível. Freud (1980[1892-99], v. I, p.369) faz uma ilustrativa analogia deste processo à censura de cunho político numa carta dirigida a seu amigo Fliess: “Você já viu alguma vez um jornal estrangeiro que passou pela censura russa da fronteira? Palavras, cláusulas e frases inteiras estão obliteradas, de modo que aquilo que restou se torna ininteligível”. A propósito desta analogia feita por Freud, Assoun (1996, p.145) chama atenção para o fato de que exatamente os espaços em branco do texto censurado é que dão a perceber ao leitor “que o texto deve ser lido”. Por conseguinte, frente à narrativa do sujeito, o analista dispõe de dois recursos: a “interpretação” e a “construção”. Segundo Freud (1980[1937], v.XXIII, p.295), a interpretação consiste na intervenção do analista sobre “algum elemento isolado do material [narrativo], tal como uma associação [...]” ou um ato falho. Quanto à “construção”, esta consiste no fornecimento, por parte do analista, de “um fragmento da história” do sujeito. Como afirma Fontenele (2002-a, p.32), “[t]anto a interpretação quanto a construção referem-se, de acordo com Freud, à reconstituição da história daquele que se submete a uma análise”. Sobre a “história do sujeito”, faz-se necessário lembrar ainda com Fontenele (2002-a, p.33), que, para Freud, há uma distinção “entre o vivido e a realidade psíquica”, pois, ele percebeu que “os eventos da vida do sujeito assumiam, em seu discurso, uma forma fantasística”. Esta forma fantasística – inerente à realidade psíquica - decorre do trabalho realizado pelo inconsciente, o qual consiste em transformar, ou ainda, como afirmamos antes, em deformar, seus produtos. O trabalho do inconsciente resulta, portanto, no que Assoun (1983, p.103) denomina por “Phantasieren”, ou seja, fantasiar. Ora, se o material produzido em análise traduz-se por um “fantasiar”, como seria possível o acesso à verdade do sujeito? Seguimos com Assoun (1996, p.70, grifo 25 do autor) para afirmar que este acesso será viabilizado somente através do reconhecimento ou mesmo da “sanção” dada pelo sujeito em análise às interpretações e construções praticadas pelo analista. Como nos lembra este autor, em psicanálise, “o objeto é... o sujeito” e este “é o único habilitado a legitimar as “ficções” interpretativas do intérprete”. Feitas estas breves considerações sobre o estatuto da ficção em psicanálise, passemos agora a considerá-la no âmbito da criação literária a partir, justamente, do entendimento do autor de Grande Sertão: Veredas. 1. 3 A ficção e a literatura Em um dos quatro prefácios do seu livro de contos intitulado Tutaméia, Rosa (2001, p.29) faz a contundente afirmação: “A estória não quer ser história. A estória, em rigor, deve ser contra a História. A estória, às vezes, quer-se um pouco parecida à anedota”. Partimos do pressuposto que esta contraposição do arcaísmo “estória” à “História” feita por Guimarães Rosa, nos leva ao encontro de mais alguns aspectos da ficção. Primeiro, explicita a diferença entre ambas no sentido de permitir entender a “História” numa concepção geral que, segundo Abbagnano (2000, p.502), “indica a resenha ou narração dos fatos humanos”, enquanto a “estória” nos remeteria à narrativa de ficção. Segundo, apesar da explicitação da diferença entre estória e História, a aparente oposição se desfaz quando Guimarães Rosa compara aquela à anedota. Mais à frente, neste mesmo prefácio, veremos Rosa (2001, p.30) realizar uma urdidura entre as anedotas e um elemento de grande interesse para nós, o “nãosenso”. Ouçamo-lo: Talvez porque mais direto colidem [as anedotas] com o não-senso, a ele afins; e o não-senso, crê-se, reflete por um triz a coerência do mistério geral, que nos envolve e cria. A vida também é para ser lida. Não literalmente, mas em seu supra-senso. E a gente, por enquanto, só a lê por tortas linhas. Está-se a achar que se ri. Ora, através desta relação estabelecida por Guimarães Rosa, somos levados a considerar sua concordância com as observações feitas por Freud em alguns textos tais como A interpretação dos sonhos (1900), Psicopatologia da vida cotidiana (1901) e Os chistes e sua relação com o inconsciente (1905). Nestes, Freud elucida a relação das 26 manifestações do inconsciente - quais sejam os sonhos, os atos falhos e os sintomas com o não-senso. Especialmente no texto de 1905, Freud esclareceu também que os chistes devem ser considerados como mais uma das manifestações do inconsciente, pois, como estas, os chistes encontram-se submetidos às mesmas leis. Como as leis que regem o inconsciente são leis da linguagem, todas as suas manifestações se organizam através de metáforas e metonímias, de condensações e deslocamentos. No entanto, lembremos que, embora Freud tenha elucidado estas leis, isso não significa que o inconsciente possa ser apreendido. Tal eventualidade consistiria, inclusive, num paradoxo, pois se o inconsciente pudesse ser apreendido pela consciência, conseqüentemente perderia seu estatuto de não-consciência, o que representa uma impossibilidade. Em relação ao inconsciente, lidamos sempre com uma falta que lhe é constitutiva. Esta falta se manifesta no discurso e se mostra intimamente relacionada ao não-senso. Como afirma Fontenele (2002-b, p.64), [a] manifestação da falta no discurso é a instauração do sem-sentido, do desconexo e do contraditório, como meios de produção de um sentido. Tais procedimentos relacionam-se com a criação de neologismos, alterações na lógica gramatical da língua, ou, ainda, com a utilização de uma palavra com o sentido de outra. Quando a fala assim se manifesta, ocorre a quebra da relação linear que os elementos da frase mantêm entre si; com isso, dá-se a alteração ou suspensão do significado, que é subsumido por outra forma de significá-lo. Sendo assim, acreditamos que nosso entendimento sobre a contraposição do arcaísmo “estória” versus “História” possa ser um pouco mais ampliado se considerarmos agora com Simões (ROSA apud SIMÕES, s/d, p.13-14) que Guimarães Rosa busca, ao longo de toda sua produção artística, realizar um projeto de escritura explicitado pelo próprio autor nos seguintes termos: Molgável, moldável, dirigente assim – e não me refiro só à língua literária – ela mesma se ultrapassa; como a arte deve ser, como é o espírito humano: faz e refaz suas formas. Sem cessar, dia a dia, cedendo à constante pressão da vida e da cultura, vai-se desenrolando, se destorce, se enforja, malêia-se, faz mó do monótono, vira dinâmica, vira agente, foge à esclerose torpe dos lugarescomuns, escapa á viscosidade, à sonolência, à indigência; não se estatela. Seus escritores não deixam. Neste projeto de escritura - cuja proposta de fuga à “esclerose torpe dos lugares-comuns” deve ser buscada apesar da “pressão da vida e da cultura” - pode-se vislumbrar, para além do projeto literário, o posicionamento crítico que respalda a visão do autor no referente à relação do homem com a cultura. Esta crítica que irmana a arte e 27 o espírito humano ao fazer a “mó do monótono” e virar “dinâmica”, virar “agente”, fundamenta a produção literária de Guimarães Rosa, que libera uma saída “à sonolência” e “à indigência”. Mas de que maneira o texto literário promoveria escapes à sonolência? Para tentarmos responder a esta questão, supomos ser interessante abordá-la a partir de duas perspectivas: a do texto e a do leitor. Na relação dialética entre um texto e seu leitor, ocorre o que Assoun (1996, p.127) define como sendo um “teatro organizado pela leitura” onde se daria o “encontro entre um sujeito e aquilo que se oferece ao ler”. Se deste teatro, resulta - como afirma Guimarães Rosa - um despertar, uma saída da sonolência, esta se mostra paradoxalmente precedida por um movimento semelhante ao adormecimento. Sobre este movimento que deve ser entendido como inerente à leitura, citamos novamente Assoun (1996, p.131): Talvez não exista ingresso no devaneio induzido pela leitura sem uma condição secretamente regressiva, aquela que, análoga ao adormecimento, desliga o sujeito dos investimentos de realidade para orientá-lo em direção ao signo verbal. [...] Deve-se saber, com o mesmo movimento, ausentar-se (do real) e apresentar-se (à letra), o que é designado pelo próprio movimento de abertura do livro. O sujeito deve fechar-se à realidade para abrir-se à letra. Seguimos ainda com Assoun (1996, p.131) para esclarecermos que toda esta “ritualização da leitura” tem por objetivo criar condições para que o leitor possa “seguir o trem das associações posto nos trilhos por um outro”, o narrador, “aquele que dá a ler”. Mas o que haveria de tão atrativo nisto que o narrador dá a ler? O que atrai é, exatamente, a possibilidade de realizar um cruzamento da fantasia que é dada a ler pelo narrador, com a fantasia do leitor. Citamos Assoun (1996, p.132): Ler é realmente, neste sentido, subtratar a fantasia do “narrador” pela própria fantasia. Longe de ser necessário postular uma transferência mecânica de fantasias, o que o autor efetua por sua própria conta – a restituição, sob pressão, de sua fantasia – é que funciona como distração para o leitor. A operação de leitura tem, pois, isto de inesperado: ela deixa a fantasia exposta. Convenhamos que tal exposição não se dá sem conseqüências. A possibilidade de acesso à própria fantasia permite a alusão às duas faces de uma mesma moeda. Por um lado, como foi percebido por Guimarães Rosa, a língua literária se mostra capaz de fazer “mó do monótono”, o que nos remete a uma espécie de mobilidade da fixidez. Por outro lado, Assoun (1996, p.130, grifo do autor) indica que a 28 leitura enquanto “ato ao mesmo tempo salutar e perigoso” – já que mobilizadora de fantasias - promove uma mobilidade fixa do leitor: “Daí a móvel fixidez do leitor: se é o desfile dos restos verbais que ele acompanha, tão literalmente, com o olhar, é a coisa dita e jamais totalmente dita que ele fixa e que o obnubila [...]”. Porém, será justamente neste ponto de obnubilação que poderemos localizar o despertar promovido pela criação literária. Um despertar que se direciona para um não-senso, para uma outra cena que não a cena da realidade consciente. Um despertar que se dirige para a cena faltosa sobre a qual se constitui o inconsciente e que remete o sujeito a um indizível. Como afirma Fontenele (2002-a, p.67), A particularidade da expressão literária do inefável, [...], reside no fato de ele referir-se a uma experiência na qual o sujeito vê-se, por um instante, tomado por uma gama de sensações que carecem de expressão. Por se situarem fora da linguagem, essas sensações são acolhidas, pelo corpo daquele que as experimenta, através de uma forma particular de gozar o sentido, que a linguagem ordinária não possibilita, exatamente porque estão, diretamente, atreladas às dimensões imaginárias e simbólicas da pertença do sujeito no mundo. Além disto, através destas sensações que se encontram fora da linguagem, o sujeito se depara com algo de real viabilizado pelo roteiro ficcional de sua própria fantasia inconsciente. Sendo assim, como afirma Valas (2001, p.69), a fantasia inconsciente “não é mais apenas uma ficção; ela se torna, [...] uma “fixão” do real”. Desta forma, por nos encontrarmos imersos na linguagem, o que se engendra entre o escritor e o leitor é uma mensagem com valor de verdade apesar de sua estrutura ficcional. Como realça Ferreira (2005, p.17), [o] ser humano, quando passa a habitar o mundo da linguagem e de suas leis, é impelido por chamas que ardem, queimam e mantêm viva a falta que inflama o desejo. Falar põe em cena a posição de um sujeito em relação ao Outro. Para o escritor, o leitor passa a ocupar o lugar de representante desse Outro ao qual toda fala se dirige. A literatura, como fala do desejo, é um discurso que engendra uma mensagem com valor de verdade. A mensagem, como lugar do sentido e da verdade, tem estrutura de ficção. Por último, consideremos também que, sem pretender ser “História”, esta que, segundo Lacan (2003, p.484), faz que os historiadores se deparem com a miséria de “só poder ler o sentido, ali onde não lhes resta outro princípio senão valerem-se dos documentos da significação”, a “estória” continua, por sua aproximação com a anedota, a se dirigir ao sublime. 29 Em relação a este, se lembrarmos com Lacan (1985, p.23), que o sublime representa “o ponto mais elevado do que está em baixo” – pois, segundo Houaiss10, “sub” assinala um ponto hierarquicamente inferior e “lime” remete a “dano, ruína, maus-tratos” -, poderemos, então, interrogar com Rosa (2001, p.39): “E não será esse um caminho por onde o perfeitíssimo se alcança? Sempre que algo de importante e grande se faz, houve um silogismo inconcluso, ou, digamos, um pulo do cômico ao excelso”. 1. 4 As lacunas que motivam a caminhada Tendo refletido sobre a interseção estabelecida entre o despertar promovido pelas aberturas inerentes à obra literária e a questão do inconsciente estruturado como um texto, resta-nos, agora, iniciar nossa reflexão sobre os caminhos passíveis de conduzir à feminilidade a partir do estudo da relação entre pai e filha. Como afirmamos anteriormente, quando nos voltamos para a teoria psicanalítica, percebemos que tanto a feminilidade quanto as elaborações em torno do pai se apresentam em aberto, o que nos incita a empreender uma investigação sobre tais questões. Desde os textos que compõem os primórdios da psicanálise - os manuscritos e cartas de Freud endereçadas a Fliess, bem como n’O Projeto para uma psicologia científica, de 1895 –, nos encontramos com as tentativas iniciais de Freud de fazer uma esquematização da sexualidade. Destas, já podemos depreender antecipações sobre a feminilidade de tal pertinência que as reencontramos, melhor formalizadas, não apenas ao longo de toda a elaboração freudiana, como também na releitura do texto de Freud empreendida por Jacques Lacan. Então, da forma que percebemos, seria como se encontrássemos nos textos de origem da psicanálise os elementos in germen da revelação freudiana sobre a feminilidade. Vale, no entanto, ressaltar que, apesar dos inestimáveis esclarecimentos fornecidos por Freud sobre a sexualidade feminina, ao final de sua obra ele se confrontou com uma questão que reflete toda sua perplexidade frente à mulher. Referimo-nos, obviamente, à interrogação feita por Freud à Marie Bonaparte quando 10 Por diversas vezes recorreremos ao Dicionário eletrônico Houaiss da língua portuguesa. Esclarecemos que se trata da versão eletrônica do ano de 2001. 30 reconhece que, após trinta anos de exaustivos e esclarecedores estudos sobre o que concerne ao feminino, persistia uma indagação: “O que quer uma mulher?”. O desenvolvimento da elaboração freudiana sobre a mulher culmina, portanto, numa revelação em seu sentido mais amplo, pois, demonstra o ponto em que algo volta a se mostrar encoberto, ao mesmo tempo em que se descerra como perspectiva de novos horizontes epistêmicos. Tanto é assim que foi pelas qualidades de obstáculo e abertura deste ponto indicado por Freud na questão da feminilidade, que a teoria psicanalítica veio a se enriquecer com os avanços promovidos por Lacan. Mais à frente, teremos oportunidade de observar como este - ao tomar a lógica freudiana como ponto de partida - franqueou o acesso a uma outra lógica para verificar mais efetivamente as peculiaridades da feminilidade. Num mesmo relevo teórico, vamos encontrar as elaborações freudianas relativas ao pai, desde a teoria da sedução. Esta foi posteriormente questionada a partir da próton pseudos, ou seja, das elaborações de Freud em torno da primeira mentira histérica, e cujo mecanismo foi previsto por ele já no texto de 1895, conhecido simplesmente por Projeto11. Depois, a teoria da sedução foi definitivamente abandonada por ele em favor da teoria da causalidade psíquica. Podemos, então, afirmar que as reflexões sobre o pai perpassam a obra freudiana desde seu início até um texto tardio como Moisés e o monoteísmo, de 1939. No tratamento destas, Freud manteve a mesma atitude epistêmica que fundamentou, não apenas seu estudo sobre a sexualidade feminina, mas toda a construção psicanalítica. Como já dissemos, Freud esteve votado ao entendimento do inconsciente, quer dizer, ao estudo de um objeto inédito, frente ao qual ele teve de forjar novos dispositivos de acesso a este objeto. Tais instrumentos preservam a própria característica do objeto, e dão passagem a um saber inusitado e inesgotável que suscita, por conseguinte, novas elaborações. É na perspectiva dessas novas elaborações que recorremos mais uma vez a Lacan. Ao realizar uma minuciosa leitura dos textos freudianos, ele destacou a importância de uma retomada da formalização feita por Freud em torno do pai. Parece-nos interessante ressaltar que, assim como encontramos no estudo sobre a sexualidade feminina, a indicação de Freud da lacuna teórica relativa ao querer 11 Em Projeto para uma psicologia científica, texto elaborado em 1895 e publicado em 1950, encontramos o item intitulado “A Proton Pseudos [Primeira Mentira] Histérica”. Neste Freud (1980[1895], v.I, p.469) já começa a observar que “a liberação sexual provinha de uma lembrança e não de uma experiência”. 31 feminino, no estudo sobre o pai, é Lacan quem nos indica uma outra questão lacunar: para ele, Freud considera o pai pelo viés da sua primazia na constituição da realidade psíquica o que não esgota a questão sobre o que vem a ser um pai. Como veremos, Lacan parte da mesma concepção freudiana do pai enquanto incerto seguindo o aforismo Mater certíssima. Pater incertus est. Em decorrência de uma série de retomadas do texto de Freud, Lacan propôs, então, que, para além do entendimento do pai como responsável pela constituição da realidade psíquica, este devia ser entendido tal qual um termo de referência. Portanto, o pai é aquele a quem se refere algo e este algo é da ordem do inconsciente. Para dar conta desta ampliação do entendimento sobre a função paterna, Lacan forjou a noção de Nome-do-Pai, pois, já que o pai é incerto, não há uma verdade de experiência que possa nomeá-lo de maneira garantida. Daí a necessidade de que a garantia se dê pela fé na nomeação, quer dizer, na denominação de algo que não tem nome. Portanto, o Nome-do-Pai designa a função do pai, é a metáfora desta função. Diante destas constatações, podemos dizer, grosso modo, que tomamos como pano de fundo da nossa proposta realizar um cruzamento entre as lacunas indicadas por Freud e Lacan para interrogarmos: o que é o pai no que diz respeito à questão freudiana: “que quer uma mulher?”. Na consecução deste intento, nos foi necessário restringir nossa pesquisa ao estudo das implicações da função paterna sobre o devir da feminilidade de uma filha. É neste sentido que a análise do romance Grande Sertão: Veredas, de João Guimarães Rosa, se nos apresenta como oportunidade ímpar de alargar nosso entendimento sobre o tema. 1. 5 Em busca de um caminho Através do Grande Sertão, ouviremos a estória12 - contada pelo jagunço Riobaldo - de uma menina que, desde a infância, se faz passar por homem. Esta menina adotou para si dois nomes: Reinaldo e, num outro momento, Diadorim. Vestia-se como menino e, na vida adulta, entrou para a jagunçagem. Neste contexto, ela tomou para si a obrigação de vingar a morte de seu pai, Joca Ramiro. Sublinhamos desde já que o 12 Especificamente sobre esta abordagem do romance rosiano enquanto uma “estória”, esclarecemos que tal procedimento parece-nos autorizado pelo próprio Guimarães Rosa já que este considera relevante a manutenção do arcaísmo “estória” ao qual contrapõe a “História”. Conseqüentemente, empregaremos o termo “estória” quando nos referirmos ao relato realizado no Grande Sertão. 32 assassinato deste pai se constitui como o evento central da narrativa. A vingança de Diadorim contra os assassinos de seu pai foi levada às últimas conseqüências, apesar do amor que sentia por um outro homem, aquele que narra a sua estória, Riobaldo, e que por várias vezes lhe pediu que desistisse da vendeta para acompanhá-lo e sair da jagunçagem. Tudo isto se deu sem que Riobaldo soubesse que Diadorim era uma mulher. Por isso lhe dedicou um tratamento de amigo perpassado por um intenso e inexplicável amor, contra o qual se debatia. Esclarecemos que nossa perspectiva metodológica pretende indicar, em primeiro lugar, a coerência passível de ser apreciada no Grande Sertão em relação à psicanálise, sendo este um dos pontos essenciais a nortear nossa abordagem deste romance. Conseqüentemente, consideraremos o texto literário a partir da escuta de suas ressonâncias em torno das questões aqui propostas para, desta forma, nos beneficiarmos com as aberturas promovidas pela narrativa na medida em que estas ampliem nosso entendimento sobre o vínculo entre pai e filha. Em nossa articulação do texto literário com a psicanálise pretendemos nos empenhar na elucidação dos desdobramentos realizados por Freud e Lacan em torno das noções de função paterna e de feminilidade. Diante disto, tivemos de decidir por qual destas noções iniciaríamos nosso estudo. Cabe frisar que esta decisão não se tratou de uma livre escolha. Na análise do Grande Sertão, identificamos que a narrativa nos apresenta, de chofre, inusitadas interrogações referentes ao pai. Portanto, submetidos que estamos aos elementos constitutivos do texto literário, nenhum outro caminho nos pareceu mais adequado senão aquele que nos leva a iniciar nosso estudo pela elucidação da função paterna neste relato. Assim, dedicamos nosso segundo capítulo ao estudo desta função. Como já dissemos, a função paterna foi elaborada por Freud em vários textos aos quais, evidentemente, recorremos. Além destes, e por levarmos em conta que a função paterna se encontra intimamente relacionada à noção criada por Lacan de Nomedo-Pai, também recorremos a este referencial teórico para fundamentar nossa análise. Assim procedendo, constatamos que a construção do conceito de Nome-doPai nos remete, como uma de suas conseqüências, à questão sobre o que quer a mulher. Desta forma, na seqüência, dedicamos nosso terceiro capítulo ao estudo sobre a feminilidade. Neste desígnio, nos propomos a fazer ecoar a interrogação que tomamos como fundamento de nossa investigação - o que é o pai no que diz respeito ao que quer 33 uma mulher – sobre uma outra interrogação, um tanto mais restrita e especifica e que apresentamos sob o título desta pesquisa: “O Nome-do-Pai no Grande Sertão: Veredas para a feminilidade?”. 34 II UMA ESTÓRIA QUE NASCE DO CAOS PARA VIVER MUITAS GUERRAS EM NOME-DO-PAI 2. 1 Introdução Partimos, inicialmente, da hipótese de que, na apreciação do Grande Sertão: Veredas, podemos vislumbrar uma notável representação da função paterna. Assim, nos deparamos com um Grande Sertão, através do qual seremos conduzidos pela fala do jagunço Riobaldo, que na velhice assume a condição de barranqueiro, e por ocasião da chegada inesperada de um visitante, - “um moço de fora” (GSV, p.10), “com carta de doutor” (GSV, p.22) -, inicia, de maneira surpreendente, seu relato de uma longa, bela e instigante estória. Visitante e leitor, somos todos subitamente introduzidos por um travessão, na travessia de um mundo enigmático aberto por uma única palavra, “- Nonada”13 (GSV, p.9), que, paradoxalmente, remete a “tudo” - ao “não-nada”. Como argumenta Francis Utéza (1994, p.66), desvela-se então o “caos telúrico conjugado ao caos humano: nem barreira, nem medida, nem ordem social”. É desta forma que, a partir do caos, portanto, emergindo do Nada, a fala de Riobaldo inicia seu descortinamento de um lugar que se dá a conhecer por si mesmo, “Lugar sertão se divulga” (GSV, p.9), em toda a sua infinitude, “Esses gerais são sem tamanho” (GSV, p.9), e em sua onipresença, “O sertão está em toda parte” (GSV, p.9). 2.2 Do caos ao “homem dos avessos” A que nos remete este sertão onipresente, infinito e que conhece a si mesmo? A impressão que temos é a de iniciar uma caminhada rumo ao inefável de uma abertura que também é como um abismo insondável: 13 Reproduzimos, para melhor entendimento, a explicação dada por Martins (2001, p.354, grifos da autora) n’O Léxico de Guimarães Rosa, sobre a palavra “Nonada”: “Nada; coisa sem importância. // Forma arcaica resultante da aglutinação de non + nada. É a palavra que abre o romance, constituindo sozinha a primeira frase e a primeira estranheza e está também no último paráfrafo. Heloísa V. de Araújo diz: “A palavra ‘nonada’, que inicia o livro, poderia, assim, ser indicação de que o mundo de Grande Sertão: Veredas estaria, numa imitação da Criação, sendo criado ex-nihilo” (Roteiro de Deus, p.337)”. 35 - NONADA. Tiros que o senhor ouviu foram de briga de homem não, Deus esteja. Alvejei mira em árvore, no quintal, no baixo do córrego. Por meu acerto. Todo dia isso faço, gosto; desde mal em minha mocidade. Daí vieram me chamar. Causa dum bezerro: um bezerro branco, erroso, os olhos de nem ser – se viu -; e com máscara de cachorro. Me disseram; eu não quis avistar. Mesmo que, por defeito como nasceu, arrebitado de beiços, esse figurava rindo feito pessoa. Cara de gente, cara de cão: determinaram – era o demo. Povo prascóvio. Mataram (GSV, p.9). Acontece então que, deste abismo insondável, que remete ao vazio primordial, vem à luz o sertão como se fora uma primeira organização do caos, uma espécie de saída do abismo, promovida pela fala de um narrador que se diferencia da massa, não sendo ingênuo como o povo. Sua fala nos fará retornar a um determinado tempo. Sobre este tempo, o tempo em que a estória é narrada, Roncari (2004), Bolle (2004) afirmam, junto com Utéza (1994) que ele, o tempo, “adquire forma nos limites históricos da República Velha e de suas lutas entre coronéis, que disputam o poder por via dos jagunços” (UTÉZA, 1994, p.67). O Grande Sertão é, portanto, uma estória que nasce do caos, para viver várias guerras travadas por jagunços, um tipo de homem que “já é por alguma competência entrante do demônio” (GSV, p.11). Daí as interrogações do narrador, ele próprio um jagunço, sobre a existência do diabo - “O diabo existe e não existe?” (GSV, p.11) - e sobre os procedimentos de Deus: Deus não se comparece com refe, não arrocha o regulamento. Pra que? Deixa: bobo com bobo – um dia, algum estala e aprende: esperta. Só que, às vezes, por mais auxiliar, Deus espalha, no meio, um pingado de pimenta... (GSV, p.16). Ora, adiantamos que o questionamento sobre Deus e o Diabo perpassará todo o romance e isto procede de uma referência ao saber. Além disto, gostaríamos de ressaltar que se constitui num ponto pacífico entre os diversos críticos do Grande Sertão que o fio desta narrativa realiza um percurso labiríntico14. Esta observação nos permite entender mais um aspecto original do romance de Guimarães Rosa: seu subtítulo: “O diabo na rua, no meio do redemoinho...”. Este subtítulo se constituirá num dos leitmotivs principais da obra. Nossa intenção ao sublinhar sua importância baseia-se em algumas observações: 14 Sobre a apresentação labiríntica da narrativa deste romance, conferir Francis Utéza (1994), Antônio Cândido (2000), Márcia Marques de Morais (2001), Willi Bolle (2004), dentre muitos outros. 36 Primeiro, este leitmotiv pode ser considerado em sua musicalidade: ele se repete e se transmuta15 ao longo de todo o romance, vindo, por conseguinte, expor uma diferença, uma alteridade, como se pode constatar, por exemplo, em sua primeira aparição no corpo do romance: “... O diabo na rua, no meio do redemunho...” (GSV, p.11, grifo nosso). Com Utéza (1994, p.71, grifos do autor), consideramos que esta repetição explicita de maneira surpreendente a alteridade, pois “[...] com esta pequena diferença: o redemoinho meteorológico transforma-se no redemunho, com um eco sonoro em que ressoa a referência demoníaca”. Segundo, para tornar mais clara nossa intenção de articulação, afirmamos que o interesse por este leitmotiv se dá pelo vislumbre de uma saída do caos - lugar da indiferenciação -, o que nos parece ser endossado pelo narrador do Grande Sertão quando, ainda na primeira página do romance, interroga abruptamente: “Do demo? Não gloso. Senhor pergunte aos moradores. Em falso receio, desfalam no nome dele – dizem só: o Que-Diga. Vote! não... Quem muito se evita, se convive” (GSV, p.9). Qual a importância da aparição desta figura nomeada obliquamente - que requisita a simulação de um receio e que se presentifica pela evitação? Acreditamos, como Roudinesco (2003, p.21), que através do demônio chegamos à figura do demiurgo, criador e organizador do Universo, o qual nos conduz também a uma outra idéia, a idéia do pai dos tempos arcaicos que, “[h]eróico ou guerreiro, [...]é a encarnação familiar de Deus, verdadeiro rei taumaturgo, senhor das famílias. Herdeiro do monoteísmo, reina sobre o corpo das famílias e decide sobre os castigos infligidos aos filhos”. E de fato: no Grande Sertão, logo mais adiante, o narrador nos explica que “o diabo vige dentro do homem, os crespos do homem – ou é o homem arruinado, ou o homem dos avessos” (p.11) sendo que [...] o que gasta, vai gastando o diabo de dentro da gente, aos pouquinhos, é o razoável sofrer. E a alegria de amor [...]. Família. Deveras? É e não é. [...]. Tudo é e não é... Quase todo mais grave criminoso feroz, sempre é muito bom marido, bom pai, e é bom amigo de seus amigos! [...] Só que tem os depois – e Deus, junto. [...] Mas, em verdade, filho, também, abranda (GSV, p.12). 15 Sobre a repetição e as transmutações da apresentação deste leitmotiv ao longo do romance, reproduzimos a percepção de Lauro Belchior Mendes (1998, p.56-57) no ensaio “Imagens visuais em Grande Sertão: Veredas”, onde este autor indica as nove transformações sofridas por este leitmotv, e argumenta que “a dimensão plástica colocada na folha de papel do livro se une a uma espécie de caligrafia musical”. 37 Assim, saídos do caos, começamos a adentrar no mundo do “homem dos avessos”, o mundo ainda regido por uma dualidade – Demo e Deus – que virá a ser abrandada pelo filho. Estas observações nos levam a propor que o fio narrativo do Grande Sertão realiza um movimento espiralar. Parece-nos que o relato se contorce, gira, passa e repassa pela questão sobre o pai, ampliando o entendimento da questão a cada retorno. 2. 3 O “redemunho” do Nome-do-Pai Retornando ao leitmotiv “... O diabo na rua, no meio do redemunho...”, já fizemos sobressair a percepção de Utéza (1994) do eco que nos remete do “redemunho” ao demônio. Acontece, porém, que, por esta percepção, não podemos deixar de notar um outro aspecto: esta frase nos depara com o demônio e com o diabo e o que é preciso atentar nisto é que os dois não são a mesma coisa. O termo Demônio, originário do grego, (daimónion), esclarece-nos Brandão (1993, p.187) refere-se “a deus, divindade, deus de categoria inferior, destino, como por vezes aparece em Homero. [...] Em princípio, portanto, demônio não tem conotação alguma pejorativa”. Por outro lado, o Diabo, etimologicamente também vindo do grego Diaballein, significa, conforme Utéza (1994, p.57), a divisão e implica um movimento que estabeleceria uma diferenciação numa massa amorfa, condensada, o que vai conduzir Utéza a associá-lo ao redemoinho: “mostrando-se no centro do Turbilhão, na origem das mutações, a besta multiforme aparece, pois, também como o animador infatigável daquilo que, sem ele, seria apenas uma massa amorfa”. Além disto, mostra-se oportuno lembrar que, apesar de misturados, a aproximação entre Deus e o Demônio foi modificada, mas apenas posteriormente, quando as concepções sobre o demônio passaram a associá-lo às divindades inferiores ou subordinadas (ABBAGNANO,2000). Segundo Brandão (1993, p.187), o demônio, na acepção de Satanás, “não é documentado no Antigo Testamento. Ao que parece, com a acepção que hodiernamente se lhe atribui, o ‘demônio’ surgiu a partir dos Septuaginta16 (Séc. III e II a.C.), generalizando-se depois no Novo Testamento”. 16 Septuaginta é denominação dada ao grupo 72 rabinos reunidos por Ptolomeu II que realizaram em Alexandria nos séculos II e III a tradução grega da Bíblia Hebraica (PORGE: 1998, p.172). 38 Feitas estas considerações, observamos que o Grande Sertão se inicia pelo relato de um assassinato: “[...] determinaram – era o demo. Povo prascóvio. Mataram”. Este assassinato sucede à determinação de que se tratava do Demo, poderia, portanto, também se tratar de Deus, se consideramos a afinidade primordial entre Deus e o Demo. Desta forma, temos, logo nas primeiras linhas desta narrativa, o avesso do relato do assassinato de Deus, do assassinato do Pai. Ora, essas mesmas observações nos servem para abordar a questão em torno do pai pelo viés da psicanálise. No texto de 1913, intitulado Totem e tabu, Freud se utiliza da noção de complexo de Édipo para forjar o mito do pai da horda primitiva cuja característica era a de poder gozar de todas as mulheres. Em decorrência desta prerrogativa paterna, os filhos teriam se insurgido e assassinado o pai. No lugar deste, Freud então argumenta que teria surgido Deus. Este seria, portanto, um substituto nostálgico do pai assassinado e um recurso ao qual se recorreria na tentativa de expiação da culpa pelo crime cometido. Esta construção freudiana foi, no entanto, posteriormente criticada por Lacan: para ele, no mito de Totem e tabu, Freud restringe o pai à potência do falo e isto não exaure o que se pode dizer sobre o pai. É assim, que já no primeiro seminário realizado por Lacan em sua própria residência no ano de 1951 - um seminário dedicado ao estudo do caso relatado por Freud intitulado como o Homem dos lobos – ele irá propor uma nova perspectiva ao entendimento do problema em torno do pai. Segundo Porge (1998, p.26), que dispõe das notas inéditas deste seminário de 1951, é nele que aparece pela primeira vez o termo Nome-do-Pai. Em relação a este, Porge comenta inclusive que “Lacan não explica a introdução deste novo termo no campo analítico. A única indicação que nos dá é a de sua proveniência, a religião, e ainda por cima não precisa qual”. Além disto, ainda com Porge, na interpretação do caso do Homem dos lobos, Lacan entende o termo Nome-do-Pai como um produto de degradação do pai simbólico: “Ele [o homem dos lobos] nunca teve pai que simbolize e encarne o pai, deu-se-lhe o Nome-do-Pai em lugar disso”. Portanto, parece-nos essencial tecer uma breve apreciação dos desdobramentos desta noção dentro do corpo teórico modelado por Lacan. Neste, a noção de Nome-do-Pai ganha um destaque especial: primeiro, tratase de um recurso teórico criado por Lacan. Isto implica em reconhecermos, junto com Roudinesco e Plon (1998, p.541), que estamos diante de um conceito distinto dos demais por não ter sido “retirado de um corpus” teórico pré-existente. 39 Segundo, apoiando-nos no minucioso estudo realizado por Porge (1998) sobre a origem, incidências e repercussões deste termo - não apenas no plano teórico, mas inclusive pessoal e institucional -, vamos constatar sua relevância ao longo de toda a elaboração lacaniana. Como já expusemos, a noção de Nome-do-Pai aparece pela primeira vez em 1951, no seminário sobre o Homem dos lobos. No ano seguinte, em um seminário realizado ainda em sua residência, Lacan recorre às categorias de real, simbólico e imaginário para estudar o caso do Homem dos ratos. Segundo Julien (1999, p.33), Lacan inventou os três adjetivos, real, simbólico e imaginário, para promover a passagem do Édipo freudiano “para algo de estrutural ao invés de cultural”. Desta forma, inicialmente, estes três adjetivos “qualificavam o pai: o pai simbólico, o pai imaginário e o pai real”. Mais à frente, retornaremos a estas categorias. Por hora, gostaríamos de ressaltar que, no seminário de 1951, o Nome-doPai é, segundo Porge, mencionado de forma muito passageira. Este autor conjectura, então, sobre a existência de um hiato inicial entre o Nome-do-Pai e os registros real, simbólico e imaginário que, ao mesmo tempo, indica a íntima ligação tecida entre estes no decorrer das ulteriores elaborações de Lacan. Porge demonstra inclusive a alternância de aparição entre o Nome-do-Pai e o registro ternário nos seminários de Lacan que resultará num entrelaçamento a uma outra noção introduzida por ele que é a de sujeito suposto saber. Terceiro, seguindo as indicações de Porge (1998, p.46), mostra-se imprescindível frisar que pela concepção do Nome-do-Pai, Lacan realizou uma “inversão metodológica” no que diz respeito à concepção freudiana do mito de Totem e tabu: enquanto para Freud, Deus seria um substituto nostálgico do pai assassinado, para Lacan, o que está em primeiro lugar é a questão de Deus. A partir da primazia desta questão, Lacan realizou o esforço de apresentar cientificamente o Nome-do-Pai. Com isto, ele visava substituir a teoria do complexo de Édipo segundo Freud, pela noção de Nome-do-Pai que, segundo Porge (1998, p.41), “contém o germe de uma desconstrução da teoria de Freud” sobre o Édipo. Assim é que, no seminário transcorrido entre os anos de 1956 e 1957, intitulado A relação de objeto, Lacan (1995, p.215) justifica que Freud teve de forjar o mito de Totem e tabu, “um mito moderno [...], para explicar o que permanecia em hiância em sua doutrina, a saber – Onde está o pai?”. Por último, temos de ressaltar que esta percepção de Lacan nos interessa sobremaneira, pois, neste seminário de 1956, ele deixa evidente a lacuna teórica que é, 40 ao mesmo tempo, o ponto de orientação da pesquisa freudiana: “- toda a interrogação freudiana se resume no seguinte: O que é ser um pai? Este foi para ele [Freud] o problema central, o ponto fecundo a partir do qual toda sua pesquisa realmente se orientou” (Lacan, 1995, p.209). Daí parece-nos que, quando nos voltamos para o Grande Sertão, também encontramos um narrador que tenta perscrutar os segredos de Deus, do Demo e, por conseguinte, do Nome-do-Pai. A nosso ver, ele parte, tal como Freud e Lacan, da incerteza sobre o pai, “pater incertus”, de forma que sua fala entretece certo discurso sobre um lugar incerto: o Sertão17. 2. 4. O des-tino dos nomes Ao continuar a caminhada pela incerteza deste sertão, onde “Viver é muito perigoso” (GSV, p.16), vamos, então, encontrar a série dos nomes de homens que “puxavam o mundo para si, para consertar o consertado”: Montante, o mais supro, mais sério – foi Medeiro Vaz. [...] Seu Joãozinho Bem-Bem, o mais bravo de todos [...]. Joca Ramiro – grande homem príncipe! – era político. Zé-Bebelo quis ser político mas teve e não teve sorte [...]. Sô Candelário se endiabrou [...]. Titão Passos era o pelo preço de amigos [...]. Antônio Dó – severo bandido. Mas por metade [...]. Andalécio, no fundo, um bom homem-de-bem, [...]. Ricardão, mesmo, queria era ser rico em paz: para isso guerreava. Só o Hermógenes foi que nasceu formado tigre e assassim. E o “Urutú-Branco”? Ah, não me fale. Ah, esse... tristonho levado, que foi – que era um pobre menino do destino... [...]. Esta série de nomes nos coloca diante de vários aspectos sobre os quais nos parece importante tecer alguns comentários. Primeiro, sob o ponto de vista teórico, nos deparamos com mais um ângulo de entendimento da questão sobre o pai, pois 17 Por termos em mente efetuar outras articulações a partir do termo “sertão”, reproduzimos a esclarecedora investigação realizada por Gilberto Mendonça Teles (1996, p.137) no livro A escrituração da escrita: teoria e prática do texto literário, onde o autor trata da origem desta palavra: “Embora em lat. Clássico o conceito de SERTÃO tenha sido expresso por mediterrânea, -orum, ou seja, “as terras do centro de um pais” [...] chamo a atenção para uma possível explicação etmológica por intermédio do supino de sérere, sertum, com significado próprio de “trançado”, entrelaçamento”, e com o figurado de “embrulhado”, “enredado”, “enfileirado”. Isto porque a raiz desta forma verbo-nominal é a mesma de desertum, supino de désere. A forma desertum (de-sertum: o que sai da “fileira”) passou à linguagem militar para indicar o “desertor”, aquele que sai (de-) da ordem e desaparece. Daí o substantivo desertanum para o lugar desconhecido para onde foi o desertor, estabelecendo-se, ainda no lat. Clássico, a oposição entre lócus certus e o “lugar incerto”, desconhecido e, figuradamente, impenetrável. As duas formas verbais provêm da mesma raiz indo-européia, SER-, como no grego eirô (por seryô): “atar”, “entrelaçar”, “tecer ou entretecer uma fala, um discurso”; e como no lat. sérere, “entrelaçar”[...]; e daí também o lat. sermo, -onis, “conversa”, “sermão”, dissertatio, “dissertação” e desertum, “lugar desconhecido e seco”, isto é, lugar fora do conhecimento (não entrelaçado nele). 41 acreditamos que a menção a cada um dos chefes jagunços nos permite dar continuidade à reflexão sobre o Nome-do-Pai. Ao fazermos tal articulação, baseamo-nos no seminário sobre A identificação, proferido nos anos de 1961 e 1962, onde Lacan (2003, p.128) afirma: “O que está em questão é que a ordem de função que introduzimos com o Nome-do-Pai é essa alguma coisa que, ao mesmo tempo, tem seu valor de universal, mas que remete a você, ao outro, o encargo de controlar se há um pai ou não dessa natureza”. Ora, depreendemos daí que o Nome-do-Pai é da ordem de uma função e, como tal, esta pode ser ou não preenchida. Assim sendo, uma vez que a função tenha sido preenchida, este preenchimento pode se dar através de vários argumentos18. Desta forma, deduzimos que o narrador persiste em sua interrogação sobre o pai, ao exclamar, “Esses homens! Todos puxavam o mundo para si [...]” (GSV, p.16), pois eles mostramse passíveis de vir a preencher a função Nome-do-Pai ao ocuparem pelo menos uma das faces implicadas no Nome-do-Pai: a das atribuições imaginárias, idealizadas. Notamos que todos esses chefes de jagunços são, até certo ponto, idealizados pelo narrador. Como observa Bolle (2004, p.286), esta idealização atinge seu auge até a primeira metade do romance. Depois, “quando se inicia a segunda metade da história, acentuam-se os sinais de desidealização e degradação do sistema [jagunço]” e, a nosso ver, isto se estende de certa forma, a seus chefes. Um segundo aspecto ao qual o rumo da narrativa conduz também nos leva a propor mais uma articulação teórica. Ainda no seminário sobre A identificação, Lacan definiu pela primeira vez o que caracteriza o nome próprio. Esta caracterização visa justificar a importância do nome no Nome-do-Pai (PORGE, 1998). Para Lacan (2003, p.90) o nome próprio “é da ordem da letra”. Assim concebido, o nome próprio mantém uma afinidade com a marca que é “a designação direta do significante como objeto”19 (p.94). Com isto, Lacan afirma que não se trata de apreender o nome próprio como Russell, que o entende como “uma palavra para designar as coisas particulares como tais” (p.85). Ao contrário deste, Lacan, “insere” na questão do nome próprio “uma função que é a do sujeito, não do sujeito no sentido psicológico, mas do sujeito no sentido estrutural” (p.94), pois, na seqüência, Lacan situa 18 Empregamos o termo “argumento” em sua acepção matemática de “elemento sobre o qual se aplica uma operação, uma função etc” (Houaiss, Dicionário eletrônico Houaiss da língua portuguesa). 19 A noção de “significante” será tratada mais detalhadamente adiante. 42 o sujeito como sendo estruturalmente dividido entre aquilo que o nomeia e seu nome próprio. Em relação a estas conclusões, Porge (1998, p.16) nos esclarece: O nome próprio - [...] – divide o sujeito, pois, quando o sujeito quer agarrar sua identidade através do seu nome próprio, ele aí encontra uma determinação exterior que o ultrapassa e que faz obstáculo à auto-apreensão de sua identidade. O nome e prenome que o identificam lhe vêm de seus pais e a tomada da sua identificação, por este meio, confronta-o com o desejo do Outro. É o que se traduz por nomen omen, o nome fixa o destino. Então, a partir deste raciocínio, nos deteremos num comentário sobre a aparição de dois, dos vários nomes de chefes citados pelo narrador: O primeiro nome de que gostaríamos de tratar é o do chefe “Urutu-Branco”. Ressalve-se que este não se trata de um nome, mas de um cognome. É uma alcunha que associa este chefe à “urutú”, uma serpente. Conforme esclarece Utéza (1994, p.126), [a] urutu – substantivo feminino em brasileiro – é negra, marcada com uma cruz na cabeça; qualificada de branco esta serpente venenosa se torna simbólica, portadora das duas cores iniciais da alquimia. Se a isto acrescentarmos cobra voadeira, constata-se que pertence ao mundo aéreo. Ctoniana por seu corpo, torna-se uraniana pelo alcance de sua picada. Feminino-masculino, cruz na cabeça, preto-branco, terra-céu, é a união dos contrários. A importância deste cognome se dá pelo fato dele dissimular a apresentação do narrador da estória cujo nome é Riobaldo. Além disto, “Urutu-Branco” é um cognome que sucede a outro cognome: “Tatarana”. Este primeiro cognome foi dado a Riobaldo em reconhecimento às suas habilidades com armas de fogo. Como afirma Utéza (1994, p.201), seus sucessivos cognomes representam metamorfoses: “Tatarana, a lagarta-de-fogo, se metamorfoseou: dos seus despojos surgiu a serpente mística, erguendo-se da terra para o céu: Urutú-Branco, cobra voadeira”. De fato, Riobaldo se transforma ao longo da estória. De raso jagunço, ele chega a ocupar a posição de chefe da jagunçada. Isto se dá por uma espécie de cerimônia de batismo oficiada por Zé Bebelo que diz a Riobaldo: “- [...] você é outro homem, você revira o sertão... Tu é terrível, que nem um urutu branco...” (GSV, p. 331). E Riobaldo então reconhece este re-nome, como sendo um nome seu: “O nome que ele me dava, era um nome, rebatismo desse nome, meu”. Feitos estes esclarecimentos sobre os cognomes e renomes desta personagem, cabe agora esclarecer que, ao seguirmos as elaborações de Lacan no tocante à relação entre o nome próprio e o Nome-do-Pai, constataremos que ele amplia 43 a questão no seminário realizado entre os anos de 1964 e 1965, intitulado Problemas cruciais da psicanálise. Nesta oportunidade, como indica Porge (1998, p.96-99), a retomada feita por Lacan sobre a problemática do nome próprio não será “mais ligada tão diretamente ao Nome-do-Pai”. Logo, o nome próprio não é o Nome-do-Pai. Em contrapartida, segundo a interpretação deste autor, no seminário de 1964, Lacan antecipa a problemática do nome no nível do furo que será detalhada posteriormente no seminário intitulado RSI quer dizer, “Real, Simbólico, Imaginário” - ocorrido entre 1974 e 1975. Porge fundamenta esta sua observação no seguinte esclarecimento dado por Lacan na aula de 6 de janeiro de1965: “O particular é denominado por um nome próprio, é neste sentido que ele é insubstituível, isto é, que pode faltar, que ele sugere o nível da falta, o nível do furo” (LACAN apud PORGE, 1998, p.180). Ora, se considerarmos que este furo nos reenvia à divisão do sujeito naquilo que ele não sabe sobre si mesmo e isto está relacionado ao desejo do Outro, entendemos que daí decorra o reconhecimento de Riobaldo em relação àquilo que ele está tristemente submetido: o “destino”. Neste, não podemos deixar de ouvir o eco daquilo que não se sabe, daquilo com que não se atina, do não-tino, do des–tino do nome. 2. 5 Uma figura estonteante Dentre tantos saberes com os quais, pelo menos até certo ponto da estória, Riobaldo não atina, localizamos a questão em torno do outro chefe, aquele chamado Joca Ramiro. É sobre as particularidades desta personagem que passaremos a tratar agora. “José Otávio Ramiro Bettancourt Marins”, conhecido simplesmente por Joca Ramiro, é uma representação bastante instigante do pai. Reproduzimos a seguir a análise deste nome feita por Utéza (1994, p.302): Joca, hipocorístico de José, realça em primeiro lugar a relação afetuosa do pai para com os filhos. O prenome desbobra-se em José Otávio: José é o nome de um dos doze patriarcas chefes das tribos do Antigo Testamento; Otávio, o do mais glorioso dos Imperadores romanos, igualmente sinônimo de plenitude e harmonia. Ramiro, o primeiro patronímico, evoca a glória dos cavaleiros germânicos – Mir: ilustre; Ran: nascimento, linhagem; e esta glória repercurte também nos outros dois: Bettancourt Marins, onde as antigas famílias portuguesas reúnem os filhos do mar - Marins - e os donos da terra – através do germânico Betto: domínio, e do latim cohors: divisão do castro militar. 44 Portanto, a nobreza de José Otávio Ramiro Bettancourt Marins remonta às origens, até o Pai. Já sabemos que o nome próprio não é o Nome-do-Pai, no entanto, se nos detivemos na análise esmiuçada de Utéza, foi apenas ao intuito de aproveitarmos a oportunidade para refletir sobre uma das faces do pai implicada na construção da noção de Nome-do-Pai. Refletiremos, portanto, sobre o pai pela perspectiva imaginária. O nome Joca Ramiro nos põe diante do chefe maior da jagunçada. Ele é o “grande homem príncipe” (GSV, p.16). Portanto, além de ser o maior, Joca Ramiro é principal. Afirmamos isto não apenas porque ele comanda os demais chefes, mas porque, em torno dele, gravitam questões essenciais ao entendimento do romance. Como veremos, uma destas questões diz respeito à construção desta personagem que se mostra tão relevante a ponto de influenciar a própria estruturação da narrativa. Assim, no comando geral da jagunçada está Joca Ramiro. Porém o número de comandados é tão grande e são tantas as empreitadas que estes se apresentam divididos em subgrupos comandados por cinco lugar-tenentes de Joca Ramiro, quais sejam: Titão Passos, Sô Candelário, João Goanhá, Hermógenes e Ricardão. Dissemos que Riobaldo não lembrava quem era Joca Ramiro, mas eis que chega o dia de reconhecê-lo: o dia em que os subgrupos se reúnem. A chegada de Joca Ramiro se dá de maneira repentina e triunfal: Antes foi uma coisa acontecida repentina: aquele alvoroço, na cavalhada geral. Aí o mundo de homens anunciando de si e sobre o vasto chegando, da banda do Norte. Joca Ramiro! – “Joca Ramiro!” – se gritava. [...] E, no abre-vento, a toda cavaleirama chegando, empiquetados, com ferragem de cascos no pedregulho. Eram de ser uns duzentos, quase tudo manos-velhos baianos, gente nova trazida. Gritavam vivas para a gente, saudavam (GSV, p.189). A descrição desta chegada nos leva a associá-la a um evento de ordem apoteótica. Esta nossa impressão de uma espécie de deificação de Joca Ramiro é compartilhada por Utéza (1994, p.303) nos seguintes termos: Vindo das alturas – sobre o vasto, do Norte, de todos os altos – e tomando a forma a partir do vazio – materialização que implicam as etimologias de vasto, bem como de chegar -, a corte precede o Príncipe num redemoinho – no abrevento – que as ferraduras dos cavalos fincam na terra. No centro a imagem de carne, a aparência humana do Pai – figura, de fingere, fictus: moldar na argila – montado num corcel de luz. 45 Esta apresentação nos possibilita refletir sobre o pai como imagem. O pai imaginário é, afirma Julien (1999, p.37), “uma imagem forte, majestosa, digna de ser amada e estimada”. Além disto, ele remete à autoridade “enquanto imagem”. Segundo o autor, “[é] isto que Freud explica como aquilo que permite deixar a mãe e receber do pai ou bem o traço identificatório da virilidade, ou bem um filho como substituto do falo”. Mais à frente, explicitaremos esta noção de falo. Por hora, consideremos que na perspectiva de Lacan, o pai imaginário, é o pai privador, pois, como explica Julien (1999, p.37), “[e]le priva a mãe no sentido de que ele tem o que ela não tem; e ele dá isto a ela quando quer”. Apreciemos então como Joca Ramiro viabiliza a identificação viril: E Joca Ramiro. A figura dele. Era ele, num cavalo branco – cavalo que me olha de todos os altos. [...] E ele era um homem de largos ombros, a cara grande, corada muito, aqueles olhos. Como é que vou dizer ao senhor? Os cabelos pretos anelados? O chapéu bonito? Ele era um homem. Liso bonito. Nem tinha mais outra coisa em que se reparar (GSV, p189-190). Repara-se, inequivocamente, que Joca Ramiro era “um homem”, mas, realmente, não havia mais outra coisa a se reparar, ou Riobaldo afirma isto porque, como ele observa mais adiante, “[a] gente olhava, sem pousar os olhos” (GSV, p.190) sobre aquela figura estonteante? Acaso haveria algo que se evitava olhar? E mais: porque, logo em seguida, o narrador expressa um medo paradoxal quando reconhece que “A gente tinha até medo de que, com tanta aspereza da vida, do sertão, machucasse aquele homem maior, ferisse, cortasse” (GSV, p.190)? Ora, o esperado seria que “um homem” assim “maior”, “bonito” e de “largos ombros” antes machucasse a ser machucado. Mas deixaremos, por enquanto, estas interrogações em suspensão, para nos determos na caracterização do pai imaginário feita por Lacan. Em A relação de objeto, Lacan (1995, p.225) esclarece que o pai imaginário é o pai com que lidamos no dia a dia e a quem “se refere, mais comumente, toda a dialética, a da agressividade, a da identificação, a da idealização pela qual o sujeito tem acesso à identificação ao pai”. Ao considerar que a relação de identificação com o semelhante se dá, por um lado, através da fascinação - que busca capturar o objeto fascinante - e, por outro, através da agressividade incitada pela constatação de que a total captura do objeto é impossível, Lacan (1995, p.225) especifica as características do pai imaginário: ele “é o pai assustador que conhecemos no fundo de tantas experiências 46 neuróticas, e que não tem de forma alguma, obrigatoriamente, relação com o pai real da criança”. A partir deste esclarecimento não causará estranheza deduzir que a fascinação inspirada pela figura de Joca Ramiro possa incitar o medo de que ele, Ramiro, seja machucado. Afinal, o medo de que a “aspereza da vida, do sertão” o fira implica na pressuposição de que ele é passível de vir a ser agredido. Ou seja, este medo vela o pressentimento dos riscos a que Joca Ramiro se encontra exposto, ao mesmo tempo em que os incita. Nossa compreensão se amplia ainda mais se considerarmos, com Eric Porge (1998, p.38) que o pai imaginário “é o pai com o qual se está em rivalidade fraterna”. Mais adiante voltaremos a tratar desta questão. 2. 6 Por causa de um olhar anterior ao olhar A partir do medo manifestado por Riobaldo em relação ao que possa ferir Joca Ramiro, nos surge ainda uma outra forma de apreensão do pai: a do pai real. Na continuação do seminário A relação de objeto, Lacan (1995, p.226) reconhece a dificuldade implicada na apreensão do pai enquanto real. Para ele, isto decorre do “fato de que temos uma enorme dificuldade de apreender aquilo que há de mais real em torno de nós, isto é, os seres humanos tais como são”. Tal comentário decorre do fato ressaltado por Fontenele (2005)20 de que, inicialmente, Lacan trata a noção de real como algo que se refere ao evanescente. Nesta fase de suas elaborações, ainda existe uma confusão com a noção de realidade. Porém, como indica Fontenele, esta concepção do real já remete a algo de ordem material e não de ordem metafísica: “É algo que traz um elemento novo, algo que faz com que o sujeito se remeta a ele mesmo”. Somente a partir de 1964 é que Lacan desenvolverá a noção de real diferenciando-a da realidade. Em Os quatro conceitos fundamentais da psicanálise, Lacan (1985, p.57) conclui “que o sistema de realidade, por mais que se desenvolva, deixa prisioneira das redes do princípio de prazer uma parte essencial que é, no entanto, e muito bem, da ordem do real”. Mais à frente, ele argumenta que o real “pode ser representado pelo acidente, pelo barulhinho, a pouca-realidade, que testemunha que não estamos sonhando” (1985, p.61). 20 Comunicação oral proferida durante aula do curso de mestrado da UFC no dia 23 de setembro de 2005. 47 Retornemos ao paradoxo do que se passa com Riobaldo ao contemplar Joca Ramiro: “Não tinha mais outra coisa em que se reparar” diz ele, no entanto, ele olhava sem pousar os olhos, seu olhar vagueava. Entendemos que este olhar se dispersou, se separou, da cena que o dominava - a figura fascinante de Joca Ramiro -, ao ter percebido a “aspereza da vida, do sertão”. Por considerar que o olhar está para além de uma fenomenologia do visual, Lacan recorre a Maurice Merleau-Ponty para explicar que o visível depende de algo anterior ao olhar daquele que vê. Este algo Lacan chama de empuxo. Ele fala, por conseguinte, de algo que pré-existe ao olhar e que o empurra para este olhar que antecede o olhar. Daí Lacan (1985, p.73) afirma: “- eu só vejo de um ponto, mas em minha existência sou olhado de toda parte”. Na cena em questão, encontramos um bom exemplo disto quando Riobaldo diz: “E Joca Ramiro. A figura dele. Ele era num cavalo branco – cavalo que me olhava de todos os lados” (GSV, p.189, grifos nossos). Sem nos atermos à ambigüidade deste enunciado que funde a figura de Joca Ramiro a um cavalo branco, perguntamos: qual o lugar ocupado por este cavalo que olha “de todos os lados” para o protagonista, senão o de estar no lugar do olho que pré-existe ao olhar de Riobaldo e empurra seu olhar para fora daquilo que lhe fascina? É evidente que a aparição deslumbrante de Joca Ramiro captura o olhar de Riobaldo, mas não completamente. Algo, da ordem do real, se impõe e favorece a percepção de que a imagem magnífica do pai - portanto, o pai imaginário - pode ser ferida. Pensamos que se Riobaldo pode perceber isto foi porque, em alguma medida, ele teve oportunidade de fazer o luto do pai ideal. Encontramos com Julien (1999, p.38) uma explicação sobre a forma como o pai real se acha relacionado ao luto do pai imaginário: [...] é este pai real que permite à criança, ao menino ou à menina, à medida que cresce, operar com o luto, isto é, operar o luto da grande imagem, que ela, a criança, pede ao pai: fazer o luto do pai ideal. Isto é muito difícil: é impossível para o neurótico – o neurótico não faz o luto do pai ideal, do pai privador. Só o pai real permite ao adolescente ou à adolescente reconhecer que o pai ideal não existe. Por quê? Porque o real do pai não é ideal e é isto que permite ao filho ou à filha não procurar um líder na sociedade política ou religiosa, um grande chefe, porque o papai, coitadinho, não está à altura. [...] O nascimento da democracia é o luto do pai ideal. 48 Ao nosso argumento quanto à possibilidade de Riobaldo não se mostrar completamente capturado pela teia da relação alienante com o pai ideal, acrescentamos também a observação de Bolle (2004, p. 142) sobre esta personagem: Enquanto jagunço letrado, o narrador rosiano pertence simultaneamente ao universo da violência (no meio rural) e à classe culta (urbana). Ele realiza assim o trabalho de mediação entre duas esferas culturais muito diferentes; ao mesmo tempo é capaz de distanciar-se criticamente de cada uma delas. Estas observações ampliam nosso entendimento em relação a Riobaldo e nos permitem afirmar, então, que ele é capaz de se distanciar e não ficar submetido a um pai despótico. Como indica Julien (1999, p.40), um pai que esteja “acima de todas as coisas [...] é um pai que faz de seu filho o seu próprio gozo. O pai real, ao contrário, introduz a diferença entre as gerações”. A introdução desta diferença se dá através da proibição do incesto. Sobre a questão do incesto, vários estudos antropológicos têm confirmado, como assinala Roudinesco e Plon (1998, p.372) que “[n]a quase totalidade das sociedades conhecidas, [...], o incesto sempre foi severamente castigado e, mais tarde, proibido”. Tal proibição está no fundamento da regra que obriga à exogamia, portanto, incita o estabelecimento de laços sociais que favorecem a passagem da natureza para a cultura. Em Totem e tabu, Freud considerou que a proibição do incesto está não apenas na origem da cultura, mas também na origem da relação do sujeito com a lei e com o desejo incestuoso recalcado de forma que daí resultará o horror ao incesto. Diz Freud (1980[1912-13], v.XIII, p.37): “Somos levados a acreditar que essa rejeição é, antes de tudo um produto da aversão que os seres humanos sentem pelos seus primitivos desejos incestuosos”. Ora, a rejeição dos primitivos desejos incestuosos está intrinsecamente ligada á construção de uma outra noção psicanalítica: o complexo de castração. Assim, o abandono do desejo incestuoso decorre da ameaça de castração e o agente desta ameaça é o pai. Apenas a título de exemplo daquilo que poderia equivaler a uma reatualização desta ameaça: quem desconhece a advertência impingida com certa freqüência por adultos às crianças de que “se você fizer isso vou cortar seu pinto”, ou “vou cortar o seu dedinho”, ou “seu pinto vai cair”, etc? Num entendimento mais amplo destas noções, Lacan (1995, p.226) pôde enunciar no seminário A relação de objeto que “[s]e a castração merece efetivamente ser isolada por um nome na história do sujeito, ela está sempre ligada à incidência, à 49 intervenção, do pai real”. Isto é o que fundamenta sua consideração de que o pai real é o agente da castração que incide sobre o objeto imaginário. Daí Lacan (1995, p.224) afirmar que a castração “atua sobre o sujeito sob a forma de uma ação incidindo sobre um objeto imaginário”. Mas o que seria este objeto imaginário? A castração não é uma operação que se refira ao órgão anatômico. É uma operação subjetiva, pois, diz Lacan (1995, p.224), “[p]or definição o real é pleno”. Sendo assim, fica fácil entender, por exemplo, que no real do corpo não falta nada, é perfeito. Porém, subjetivamente, lidamos sempre com a idéia de que nos falta alguma coisa, que fomos privados de algo. Passamos então a tentar simbolizar isto que falta. Ocorre que, aquilo que simbolizamos como ausente, acaba por nos fazer supor que é possível torná-lo presente. Lacan (1995, p.224) explica esta operação da seguinte forma: “Indicar que alguma coisa não está ali é supor sua presença possível, isto é, introduzir no real, para recobri-lo e perfurá-lo, a simples ordem simbólica”. Interrogamos, então, a partir desta perspectiva: a que mais o medo sentido por Riobaldo de que Joca Ramiro viesse a ser machucado, cortado, poderia estar associado senão ao medo frente à ameaça de castração? Observemos que pela suposição de que em relação a Joca Ramiro “[n]em tinha mais outra coisa em que se reparar” (GSV, p.190), somos remetidos a algo perfeito, tanto no imaginário quanto no real. Porém, ao reconhecer que Joca Ramiro não precisa de qualquer reparo, na acepção mesma do conserto, Riobaldo não terá produzido um furo nesta perfeição no exato momento em que tenta simbolizá-la? Para tratarmos desta questão, necessário se faz esclarecer uma outra face do pai, qual seja a do pai simbólico. 2. 7 Do vazio ao corte Ainda no seminário A relação de objeto, Lacan (1995, p.225) afirma que a noção de pai simbólico implica algumas dificuldades a mais que as noções de pai imaginário e real, pois nos é necessário aceitar o pai simbólico “como um dado irredutível do mundo do significante”, quer dizer, do mundo da linguagem no qual estamos imersos. Procuremos, então, entender algumas destas dificuldades. Ora, se a simbolização é uma operação significante, isto quer dizer que ela presentifica algo ausente. Daí podemos entender que Lacan (1995, p.225) considere o pai simbólico como uma construção mítica, pois esta representa algo que “não está 50 representado em parte alguma”. Além disto, é preciso considerar também que representar algo que não existe produz, como veremos adiante, um efeito. Um exemplo disto é o mito. Sobre a função do mito podemos dizer, com Eric Porge (1998, p.76), que ele desempenha o papel de fazer laço social uma vez que “permite à sociedade constituir-se em universo ficcional”. Por conseguinte, o mito “assegura uma representação dos fundamentos” e mais, “[o] que ele simboliza é o vazio, o nada da origem.”. Mas como pode acontecer que o vazio, o nada, possa ser representado? Vamos encontrar uma explicação disto junto a Corrêa (2001, p.55) que diz: O vazio como tal é algo em torno do que eu também posso construir alguma coisa. A metáfora é de Heidegger (1956), com a questão do oleiro. Heidegger questiona qual é a matéria prima do oleiro. É o barro que ele vai utilizar ou é o vazio? O barro para o oleiro vai ser a borda, mas o que vai fazer com que o vaso, o pote, seja de determinada forma é o vazio que vai estar circundado por esta argila. [...] Neste sentido a argila vai ser exatamente o limite ou a fronteira do vaso, vai delimitá-lo. Então, o vazio pode ser representado se, ao redor dele, traçarmos uma borda. Por esta alusão, temos uma boa idéia do efeito produzido por uma borda: ela produz um corte. Portanto, fica estabelecida uma diferença entre o que está de um lado e outro daquilo que marca um limite. Seguindo este raciocínio, podemos, então, entender que mesmo a representação de algo que não existe é capaz de produzir um efeito, qual seja, o corte que marca a diferença. Assim é que o pai simbólico, apesar de ser uma representação de algo que não está em lugar nenhum, apesar de representar um vazio, ele produz o efeito de corte e estabelece a diferença. A propósito da noção de diferença, ela nos indica a existência de um elemento que, exatamente por diferir quanto a sua posse, se mostra comum a dois elementos postos em relação (ABBAGNANO, 2000). Exemplifiquemos: o branco e o não-branco têm em comum aquilo que os difere: a peculiaridade de ter ou não a cor branca. Logo, o “branco” é diferente do “não-branco”. A partir disto podemos então perguntar: através de qual elemento o pai simbólico realiza o corte que estabelece a diferença e a que diferença estamos nos referindo? Já dissemos que o pai estabelece a diferença entre as gerações: “eu sou o pai, você é o filho ou a filha”. Ele também estabelece a diferença entre os sexos: “você é um menino ou uma menina”. Além disto, gostaríamos de acrescentar, com Lacan (1995, 51 p.233), que o pai simbólico introduz o “reino da lei”. Então, qual é o elemento que marca todas estas diferenças? Aprendemos com Freud que este elemento é o falo. O emprego deste termo antecede à psicanálise e, originalmente, designa o pênis no sentido simbólico. Como ressalta Roudinesco e Plon (1998, p.221), “[o] termo falo, [...], só muito raramente foi empregado por Freud, [...], e muitas vezes como sinônimo de pênis”. Porém, é a partir desta concepção que Freud lança mão do adjetivo “fálico” para tratar da diferença entre os sexos. Para ele, o falo é entendido enquanto símbolo do sexo masculino e é em relação a este símbolo que se estabelece a diferença entre os sexos. Lacan esclareceu esta tese freudiana ao indicar que tal noção não se restringe ao pênis. No texto intitulado “A significação do falo”, Lacan (1998, p.699) define que, “[o] falo é o significante privilegiado [...] onde a parte do logos se conjuga com o advento do desejo”. O que podemos apreender desta afirmação? Em primeiro lugar que, para Lacan, a noção de falo remete a algo que pode ser tanto consciente, o logos, quanto inconsciente, o desejo. Além disto, a relação do sujeito com seu desejo inconsciente é representada e determinada por este elemento do discurso denominado por Lacan como “significante”. Portanto, o falo, enquanto significante, ocupa um lugar no discurso que faz referência a um desejo. Com esta concepção do significante, Lacan reitera a relação que Freud já havia exaustivamente ressaltado entre o inconsciente e a linguagem. Se é a partir do falo que se estabelece a diferença sexual e se o falo é um elemento do discurso, a diferença entre os sexos transcende à mera constatação biológica e remete a diferença sexual ao que é da ordem da linguagem. Somos ditos “homem” ou “mulher”, por essa ordem que nos é anterior e exterior. Por conseguinte, isto nos conduz a um terceiro, a uma alteridade, a partir da qual somos denominados, independentemente da anatomia. Lacan denominou esta alteridade da linguagem de “Outro”. Feitos estes esclarecimentos, voltemos ao Grande Sertão para entender alguns eventos que giram em torno da figura de Joca Ramiro pela oportunidade que estes nos dão de apreender a noção de pai simbólico no exercício da função de instaurar “o reino da lei”. 2. 8 Um Juiz Supremo 52 Os eventos que antecedem à chegada majestosa de Joca Ramiro estão relacionados à guerra motivada pelo antagonismo existente entre ele e um outro grande chefe, Zé Bebelo. Precisamos esclarecer que o narrador, Riobaldo, inicia sua vida de jagunço lutando do lado dos “bebelos” (GSV, p.183), no entanto, por um motivo que indicaremos somente no próximo capítulo, ele se passa para o lado do bando de Joca Ramiro. Sobre este contexto de sangrenta guerra, Riobaldo dá seu parecer: “Me pareceu que daí adiante, a partir disso, o tudo era para só ser a desatinada doidice” (GSV, p.185). De fato, os eventos seguintes são conseqüência desta guerra e ensejam um acontecimento que mudará o rumo da narrativa. Por este motivo, nos alongaremos um pouco mais em sua análise. Além deste, temos ainda um outro motivo para adotarmos tal procedimento: consideramos este julgamento uma das cenas-chave para o entendimento do tema a que nos propomos investigar. No momento oportuno, demonstraremos por quê. Assim, ao final desta guerra, Joca Ramiro sai vencedor. Seu bando captura Zé Bebelo que exige: “- Assaca! Ou me matam logo, aqui, ou então eu exijo julgamento correto legal!...e foi. Aí Joca Ramiro consentiu, [...], prometeu julgamento já...” (GSV, p.194, grifos do autor). Como ressalta Utéza (1994, p.308), ao consentir na instalação de um tribunal em pleno sertão, “Joca Ramiro abre as portas do desconhecido”. Continuando, este autor também faz ressaltar a incongruência do pedido de Zé Bebelo, pois, “[d]e acordo com a lei antiga, o vencido não tem nenhum direito”. Desta forma, a narrativa do julgamento de Zé Bebelo nos põe diante de uma ocorrência inaudita. Neste aspecto, seu relato nos lembra a construção de um mito. Encontramos apoio a esta nossa articulação na seguinte apreciação de Utéza (1994, p.308): In illo tempore, o acusado encarna a potência dionisíaca criadora frente à medida apolínea simbolizada pelo vencedor. Opostas e complementares, as duas faces do Pai estão encenando em duo o Mito Fundador. O comportamento extravagante e provocador de Zé Bebelo encontra sempre na tranqüila segurança de Joca Ramiro o contraponto adequado que permite o desenvolvimento total do drama, em conformidade com um ritual cujo alcance é globalmente percebido por todos os participantes. Já comentamos a importância desta questão do mito em relação à lacuna teórica identificada por Lacan (1995) no texto freudiano. Tal lacuna diz respeito à 53 impossibilidade de se responder o que é um pai. Segundo Lacan, foi em decorrência da impossibilidade de se representar o pai das origens, que Freud forjou o mito de Totem e tabu. Então, mostraremos a seguir que o julgamento narrado no Grande Sertão, um evento cheio de simbologias, apresenta algumas semelhanças com o mito forjado por Freud, no sentido de também tentar simbolizar o pai. O lugar escolhido para o julgamento foi a Fazenda Sempre-Verde que, segundo Utéza (1994, p.307), tem nome predestinado já que remete à “Vida Eterna”. Neste lugar que eterniza, os jagunços todos começam a se reunir e era “aquele mundo de gente, que fazia vulto. Parecia um mortório” (GSV, p.196). Isto já causa alguma estranheza: porque a reunião parecia um “mortório”, quer dizer, um velório, um funeral? Acaso reuniam-se para realizar algum sepultamento? Voltaremos a esta questão adiante. Os chefes todos também estavam lá: “Daí, Joca Ramiro, Sô Candelário, o Hermógenes, o Ricardão, Titão Passos, João Goanhá, eles todos reunidos no meio do eirado, numa confa” (GSV, p.197). Os chefes confabulavam. Porém, no decorrer do julgamento, uma divisão vai se formar: de um lado, Sô Candelário, Titão Passos e João Goanhá defendem a idéia de que a vida de Zé Bebelo deve ser poupada. De outro, Hermógenes e Ricardão argumentam em favor da lei de jagunço que “é o momento, o menos luxo” (GSV, p.204). Cabe a Joca Ramiro determinar a sentença final, pois “[e]le mesmo, Joca Ramiro, como de lei, deixava para dar opinião no final, baixar sentença” (GSV, p.200). Convém chamar atenção para o fato de que, apesar deste julgamento ser uma prática inusitada no sertão regido pela lei de jagunço, o lugar de Joca Ramiro já está estabelecido: é o lugar do “Juiz Supremo”, como argumenta Utéza (1994, p.308): “Pólos de expressão das energias da egrégora, os chefes se haviam repartido por afinidades, de um lado e de outro do Juiz Supremo”. Mas, afinal, o que estava posto em julgamento? Hermógenes, o que “precisava de muitas vinganças” (GSV, p.200), foi o primeiro a acusar Zé Bebelo: “ninguém não provocou, não era inimigo nosso, não se buliu com ele. Assaz que veio, por si, para matar, para arrasar, [...]. Veio a pago do Governo. [...]. Merece ter vida não” (GSV, p.201). Sô Candelário, apesar de se dispor a sacrificar a própria vida num duelo com Zé Bebelo, não indica crime neste homem que, segundo ele, “[v]eio guerrear, como nós 54 também. Perdeu, pronto! A gente não é jagunços? [...] Crime que sei é fazer traição, ser ladrão de cavalos ou de gado... não cumprir a palavra...” (GSV, p.203). Já o “famoso Ricardão, [...]. Amigo acorçoado de importantes políticos” (GSV, p.203), considera que Zé Bebelo “veio caçar a gente, no Norte do sertão, como mandadeiro de políticos e do Governo, se diz até que a soldo...” (GSV, p.204). Com este “razoado”, Ricardão vota com Hermógenes por considerar que “tem outro despacho não, [...]; só um: é a misericórdia duma boa bala, de mete-bucha, e a arte está acabada e acertada” (GSV, p.204). Quanto a Titão Passos, este acha que Zé Bebelo “não tem crime constável. [...] Ele quis vir guerrear, veio – achou guerreiros” (GSV, p.205). Por último, João Goanhá vota com Sô Candelário e Titão Passos: “Tem crime não. Matar, não” (GSV, p.206). Na interpretação de Bolle (2004, p.125), O julgamento na Fazenda Sempre-Verde visa muito além da pessoa empírica de Zé Bebelo. Discute-se ali a instituição representada alegoricamente pelo seu nome. “Bebelo” ou “Rebêlo” de re-bellum – aquele que sempre volta a praticar a guerra, [...] – é uma figuração da própria guerra. Valemo-nos da indicação de Bolle de que este julgamento visa algo mais além, para aí acrescentarmos alguns esclarecimentos relativos à articulação que fizemos anteriormente entre este evento e o mito de Totem e tabu. Por um lado, teremos, paradoxalmente, que iniciar explicitando uma divergência entre eles. No mito inventado por Freud, o pai é o pai original, antes dele não havia nenhum outro. Aqui, no relato do julgamento de Zé Bebelo não se trata disto. Além do que, contamos dois pais - Zé Bebelo e Joca Ramiro - encenando, como afirma Utéza (1994, p. 308), o “duo do Mito Fundador”. Neste aspecto, a cena do julgamento não apresenta afinidade alguma com o mito do pai da horda primitiva, senhor absoluto de tudo e de todos. Como argumentamos anteriormente, se há algo no relato do Grande Sertão que poderia nos remeter ao medonho pai da horda primitiva, este algo seria o “bezerro branco, erroso, de olhos de nem ser”, cujo assassinato, praticado pelo “Povo prascóvio”, foi relatado logo na abertura do romance. O tribunal do Grande Sertão retrata antes, o pai pós-democrático que cede o direito de fala aos filhos: “– Que tenha algum dos meus filhos com necessidade de palavra para defesa ou acusação, que pode depor” (GSV, p.206, grifos nossos). 55 Por outro lado, a partir do que acabamos de expor, é na fala de um dos filhos, Riobaldo, que encontramos nosso primeiro apoio ao que supomos deter certa afinidade, senão com o mito, pelo menos com a intenção de se forjar um e que, na seqüência, nos permitirá entender um dos aspectos implicados na construção do conceito Nome-do-Pai. Logo que Joca Ramiro concedeu a fala aos braços de arma - seus “filhos” -, Riobaldo se armou “dum repente” (GSV, p.207) para falar, mas dois outros jagunços se anteciparam a ele. Quando, enfim, toma a palavra, “feito menino em escola” (GSV, p.208), anuncia que tem uma “verdade forte para dizer” (GSV, p.208). Lembra a todos que já lutou ao lado de Zé Bebelo e isto lhe permite testemunhar que ele “é chefe jagunço, de primeira, sem ter ruindades em cabimento, nem matar os inimigos que prende, nem consentir de com eles se judiar...” (GSV, p.208). Contudo, o que, especificamente, pretendemos realçar na argumentação de Riobaldo é o fato de que, a nosso ver, seu poder de persuasão derivou do apelo, feito por ele, à possibilidade de que a estória desta guerra viesse a se eternizar através do relato: - “... A guerra foi grande, durou tempo que durou, encheu este sertão. Nela todo o mundo vai falar, pelo Norte dos Nortes, em Minas e na Bahia toda, constantes anos, até em outras partes... Vão fazer cantigas, relatando as tantas façanhas... Pois então, xente, hão de se dizer que aqui na Sempre-Verde vieram se reunir os chefes todos de bandos, com seus cabras valentes, montoeira completa, e com o sobregoverno de Joca Ramiro – só para, no fim, fim, se acabar um homenzinho sozinho – se condenar de matar Zé Bebelo, o quanto fosse um boi de corte? Um fato assim é honra? Ou é vergonha?...” (GSV, p.209). Desta forma, Riobaldo propõe uma simbolização não apenas da guerra, mas dos feitos gloriosos do pai, aquele que está no “sobregoverno”. Com exceção de Ricardão e Hermógenes, a proposta de Riobaldo empolga a todos. Sobre este aspecto é que identificamos o desejo dos “filhos” de se forjar uma espécie de mito em torno do pai Joca Ramiro. Como já comentamos anteriormente, no ensino de Lacan, a construção do mito não esgota a questão sobre o pai. Por conta disto, no seminário de 1957 a 1958, intitulado As formações do inconsciente, Lacan retoma o termo Nome-do-Pai para apresentá-lo de maneira científica. Segundo Porge (1998, p.41), tal procedimento “visa substituir a teoria do Édipo segundo Freud, pretendendo reduzi-la ao que tem de essencial e de estruturante”. 56 Ora, se por um lado, esta redução acarreta a explicitação da lógica implicada no mito, por outro, ela promove uma desconstrução assinalada por Porge (1998, p.41): “O Nome-do-Pai contém o germe de uma desconstrução da teoria de Freud”. Sendo assim, neste seminário de 1957, Lacan faz interessantes observações sobre a lei associando-a ao Nome-do-Pai. Na aula de 08 de janeiro de 1958, Lacan (1999, p.152) afirma: Aqui chamamos de lei aquilo que se articula propriamente no nível do significante, ou seja, o texto da lei. [...] Com efeito, o que autoriza o texto da lei se basta por estar, ele mesmo, no nível do significante. Trata-se do que chamo de Nome-do-Pai, isto é, o pai simbólico. Este é um termo que subsiste no nível do significante, [...]. É o significante que dá esteio à lei, que promulga a lei. A partir destes esclarecimentos, Lacan nos faz observar ainda que, em relação ao Édipo, enquanto um mito criado por Freud, há algo essencial, fornecido pelo próprio Freud, no sentido de justificar que a lei seja fundada no pai. Acreditamos que este “algo” também se encontra presente no relato do Grande Sertão. É sobre ele que trataremos a seguir. 2. 9 Sobre a condição para que o pai funde a lei Chegada a hora de Joca Ramiro baixar sentença, ele inicia sua fala relembrando a força e amplitude de sua decisão: “– “O julgamento é meu, sentença que dou vale em todo este norte. Meu povo me honra. [...] A sentença vale [...]”” (GSV, p.213). E a sentença estipulada por ele determinava que Zé Bebelo fosse embora para Goiás. Além disto, ele também estipulou o prazo de validade desta resolução: “Até enquanto vivo eu for, ou não der contra-ordem...” (GSV, p.214). Após o anúncio de tais decretos, Joca Ramiro se levantou e Ah, quando ele levantava, puxava as coisas consigo, parecia – as pessoas, o chão, as árvores desencontradas. E todos também, ao em um tempo – feito um boi só, ou um gado em círculos, ou um relincho de cavalo. Levantaram campo. Reinou zoeira de alegria. No dia seguinte, Joca Ramiro deu partida “de volta para São João do Paraíso” (GSV, p.217). Saiu ladeado por Sô Candelário e Ricardão. Para Riobaldo, restou a incerteza quanto à legitimidade daquele julgamento: 57 O que nem foi julgamento legítimo nenhum: só uma extração estúrdia e destrambelhada, doideira acontecida sem senso, neste meio do sertão... [...] Pois: por isso mesmo. Zé Bebelo não era réu no real! Ah, mas no centro do sertão, o que é doideira às vezes pode ser a razão mais certa e de mais juízo! (GSV, p.217). Porém, como a incerteza engendra a fé, Riobaldo se apóia nesta para afirmar: “Daquela hora em diante, eu cri em Joca Ramiro” (GSV, p.217). Riobaldo creu em Joca Ramiro como o quê, senão como sendo um pai no exercício de sua função? Mas porque recorrer à fé para crer no pai? Ora, sabemos que o pai é sempre incerto. Mesmo quando o consideramos em seus atos, não obtemos a certeza de uma verdade que possa nomeá-lo. Daí a necessidade de que a garantia sobre o pai se dê pela fé na nominação deste, quer dizer, na denominação de algo que não tem nome, já que é incerto. Foi a partir desta constatação que Lacan forjou a noção de Nome-do-Pai. E foi pela fé neste nome que Riobaldo pode se apaziguar: “Por isso, o julgamento tinha dado paz à minha idéia – por dizer bem: meu coração” (GSV, p.217). Ele pôde também descansar e despedir-se da incerteza rogando proteção a Deus, o pai: “Dormi, adeus disso” (GSV, p.217, grifo nosso). Depois, o que reinou foram “bondosos dias” (GSV, p.218) durante os quais Riobaldo lembrou do “não-saber” (GSV, p.218) até o dia em que tentou escapar saindo em busca de “outra gente” (GSV, p.219). Nesta tentativa, constatou que “[o] mundo estava vazio” (GSV, p.218) e que quanto mais andava “querendo pessoas” (GSV, p.219), parecia, antes, que entrava “no sozinho do vago” (GSV, p.219). Tal pensamento o levou a concluir: “Eu tinha a culpa de tudo, na minha vida, e não sabia como não ter” (GSV, p.219). Assim, tomado por uma tristeza “da pior de todas, que é a sem razão de motivo” (GSV, p.219), Riobaldo adormeceu. Quando acordou, não acreditou que “tudo o que é bonito é absurdo – Deus estável” (GSV, p.219). Na realidade, o absurdo da estabilidade perdurou apenas dois meses (GSV, p.222). Riobaldo e uma parte do bando encontravam-se num lugar cujo nome – Guararavacã do Guaicuí - não pode ser esquecido já que foi palco das “grandes coisas, antes de acontecerem” (GSV, p.220). Neste lugar, onde a lógica do tempo se encontra subvertida, Riobaldo teve acesso a uma revelação sobre si mesmo: “[...] foi nesse lugar, no tempo dito” (GSV, p.220), ou seja, num tempo que se antecipa aos acontecimentos por um dizer, “que meus destinos foram fechados” (GSV, p.220). Tamanha predição, ou predestinação, levou o narrador a questionar: “Será que tem um 58 ponto certo, dele a gente não podendo mais voltar atrás? Travessia de minha vida” (GSV, p.220). Trataremos mais adiante da revelação que provocou em Riobaldo o questionamento sobre este ponto de sua travessia, pois agora, já sentindo “[q]ue jagunço amolece, quando não padece” (GSV, p.223), ele e outros começavam a sentir falta dos combates. Sobre este sentimento Bolle (2004, p.126) faz uma observação que corrobora com a manifestação de incerteza de Riobaldo em relação à legitimidade daquele julgamento que mais parecia “doideira acontecida sem senso, neste meio do sertão”: O julgamento do caçador de jagunços, absolvido por “jagunços civilizados”,(GSV: 212) tem o mesmo valor desta expressão irônica: é apenas uma encenação. Na verdade, trata-se de encobrir um acordo muito pouco civilizado que se trata ali entre as partes envolvidas: a legitimação da guerra e do sistema vigente. Com efeito, o julgamento controverso vai engendrar “outra guerra” como constatam “aliviados” Riobaldo e seus companheiros de armas(GSV:226). Constatamos, então, que naquele tempo de “[t]udo igual”, onde “às vezes é uma sem-gracez” (GSV, p.224) e, apesar de se saber que “[...] não se deve de tentar o tempo” (GSV, p.224), o céu começou a trovejar prenunciando a aproximação de “um feio dia” (GSV, p.224). Este dia foi aquele da chegada ao acampamento de “um brabo [...], de sonome Gavião-Cujo” (GSV, p.224), trazendo uma notícia “urgente”, “enorme” (GSV, p.224): “- Mataram Joca Ramiro!...” (GSV, p.224). Aqui encontramos nosso segundo apoio à aproximação entre o mito de Totem e tabu e os eventos narrados no Grande Sertão, pois - tal como se tratasse de uma reencenação do assassinato do pai primevo -, aconteceu do assassinato de Joca Ramiro, assassinato de um pai, causar nos “filhos” o sentimento de que “[...] não havia mais chão, nem razão, o mundo nas juntas se desgovernava” (GSV, p.225). Diante disto, ficou então estabelecido que, de agora em diante, “[e]ra a outra guerra” (GSV, p.226) contra aqueles que, apesar de também serem “filhos”, haviam assassinado o pai: Joca Ramiro foi morto pelas mãos do Hermógenes, mas a traição era dele e de muitos: “[...] Os homens do Ricardão... O Antenor... Muitos...” (GSV, p.225). Dissemos anteriormente que o inaudito julgamento realizado no centro do sertão pode ser entendido como prelúdio de um acontecimento que mudaria o rumo da narrativa. Referíamo-nos exatamente a este evento do assassinato de Joca Ramiro - o qual identificamos como cerne da narrativa. Nossa observação é endossada e ampliada por vários críticos. 59 Constituindo não apenas o centro da narrativa, mas localizado nas páginas centrais do livro, ao máximo de tensão em torno da questão do pai sobrevém uma distensão, ou seja, um retesamento, um prolongamento, uma continuação, provocada por sua morte. A narrativa continua, porém, o relato do evento da morte de Joca Ramiro se distende de uma forma tal que o romance resta cortado em duas metades quantitativamente iguais (ROSENFIELD apud DUARTE, 2001). Ainda apreciando os efeitos de tal divisão mediana do romance, Duarte (2001, p.157) recorre a mais dois críticos para afirma que, segundo Benedito Nunes, a divisão do romance promove uma “recapitulação” e, segundo Walnice Galvão, conduz a uma “reformulação de tudo”. Assim, temos de considerar que o alcance dos efeitos deste corte repercute no próprio fio da narrativa. Esta, a partir daí, “se reescreve depois com outra ordem, que se repete, depois da morte de um pai, do pai e chefe Joca Ramiro” (MORAIS apud DUARTE, 2001, p.158, grifos da autora). Parece-nos ainda importante ressaltar que esta repetição não se mostra imobilizante, como ocorreria num movimento circular fechado. Como já argumentamos, o percurso do fio narrativo descreve, antes, um movimento espiralar, promovendo assim um deslocamento e uma abertura - um redemoinho - por onde o narrador busca um saber sobre si e sobre o Outro. Em apoio ao nosso entendimento quanto à abertura promovida pelo movimento acima referido, ressaltamos ainda que, apesar das tentativas do narrador de encerrar a estória, o movimento narrativo continua; passa por um ponto onde é anunciado que “Aqui a estória se acabou. Aqui, a estória acabada. Aqui a estória acaba” (GSV, p.454); e vai, paradoxalmente, manter uma travessia pelo avesso, prolongando a narrativa por mais seis páginas. Ao final destas, constatamos que a travessia conduz a uma abertura para o infinito, para a lemniscata (∞), símbolo que encerra o romance (GSV, p.460). A abertura promovida pela narrativa associada à questão do saber apresenta uma significativa relação com o Nome-do-Pai. Mas, para avançarmos nesta articulação precisamos, antes, retornar à questão deixada em aberto sobre o que condiciona o pai enquanto fundador da lei. Como dissemos, no seminário As formações do inconsciente (1957-1958), Lacan (1999, p.152) estudou o mito do Édipo e observou que, através dele, Freud nos forneceu algo essencial no sentido de justificar que a lei seja fundada no pai. Assim, quando Lacan se referiu ao texto da lei, ele considerou que, neste, a lei se articula no 60 nível do significante. Além disto, fez observar também que não há necessidade da presença de uma pessoa “para sustentar a autenticidade da fala e dizer que há alguma coisa que autoriza o texto da lei”, pois, o que autoriza este texto “se basta por estar, ele mesmo, no nível significante”. A isto que Lacan tratou como sendo o pai simbólico, ele chamou de Nome-do-Pai. Se retornarmos à descrição da figura grandiosa de Joca Ramiro feita pelo narrador, teremos a oportunidade de perceber que ele atende à condição de pai simbólico tal como acabamos de demonstrar a partir da perspectiva lacaniana, pois, “quando ele saía, o que ficava mais, na gente, como agrado em lembrança, era a voz. Uma voz sem pingo de dúvida, nem tristeza. Uma voz que continuava” (GSV, p.190, grifos nossos). Ainda no seminário sobre As formações do inconsciente, Lacan (1999, p.152) observou que existe uma outra condição a ser atendida para que a lei seja fundada no pai: “é preciso haver o assassinato do pai”. Mas por que isto? Consideremos, em primeiro lugar, que, tal como ocorreu com a concepção de real – e com muitas outras noções que compõem o corpo teórico construído por Lacan – a conceituação do simbólico passou por modificações. Assim, como ressalta Fontenele (2005)21, na fase inicial de sua obra, Lacan se serve da noção de símbolo segundo a concepção de Lévi Strauss. Nesta perspectiva, o símbolo é entendido como uma realidade que antecede ao sujeito, pois, como indica Roudinesco e Plon (1998, p.714) ao citar Levi Strauss, “[o]s símbolos são mais reais do que aquilo que simbolizam. O significante precede e determina o significado”. Isto permitiu a Lacan entender o mito de Totem e tabu de uma maneira diferente da concepção evolucionista de Freud, para quem o mito do assassinato do pai primevo teria determinado a passagem do caos para a sociedade. Segundo Freud (1980[1912-13], v.XIII, p.170): O violento pai primevo fora sem dúvida o temido e invejado modelo de cada um do grupo de irmãos: e, pelo ato de devorá-lo, realizavam a identificação com ele, cada um deles adquirindo uma parte de sua força. A refeição totêmica, que é talvez o mais antigo festival da humanidade, seria assim uma repetição e uma comemoração desse ato memorável e criminoso, que foi o começo de tantas coisas: da organização social, das restrições morais e da religião. 21 Comunicação oral proferida pela Profª. Drª. Laéria Fontenele durante aula do curso de mestrado da UFC no dia 23 de setembro de 2005. 61 Já para Lacan, ao entender, inicialmente, o símbolo tal como Levi Strauss, a questão do assassinato do pai da horda primitiva - bem como a do complexo de Édipo será tratada a partir da noção de estrutura22. Desta forma, para Lacan, a neurose, a psicose e a perversão são concebidas como estruturas e, conforme seja a estrutura do sujeito, este manterá uma relação peculiar com o simbólico, ou seja, com a linguagem. Nesta perspectiva, o assassinato do pai da horda primitiva deve ser entendido como uma simbolização. Pode-se, então, dizer que é pelo simbólico, portanto, pela linguagem, que o homem se humaniza. Não fosse este acesso ao simbólico, o filhote humano permaneceria capturado numa relação desmedida com a imagem. O mito do pai primevo tem, por conseguinte, a função de simbolizar o pai e favorecer que se escape da alienação na imagem deste. No seminário intitulado As psicoses (1955-1956), Lacan (1992, p.233) esclarece o que pode acontecer no caso do sujeito permanecer capturado numa relação desmedida com a imagem do pai: Se a imagem capturadora é desmedida, se a personagem em questão se manifesta simplesmente na ordem da potência, e não na do pacto, é uma relação de rivalidade que aparece, a agressividade, o temor etc. [...] A relação imaginária se instaura sozinha, num plano que não tem nada de típico, que é desumanizante [...]. A alienação é aqui radical. Esta alienação radical é a psicose e o que possibilita ao sujeito escapar de uma relação imaginária exorbitante - conseqüentemente, desumanizante -, é o complexo de Édipo que, afirma Lacan (1992, p.226), “é essencial para que o ser humano possa aceder a uma estrutura humanizada do real”. No que diz respeito ao acesso à realidade viabilizado pela vivência do complexo de Édipo, Lacan (1992, p.226) acrescenta: “para que haja realidade, acesso suficiente à realidade, para que o sentimento da realidade seja um justo guia, para que a 22 No seminário sobre as psicoses, Lacan (1992, p.210, grifos do autor) define a estrutura enquanto uma concepção psicanalítica e a relaciona ao significante: “A estrutura é em primeiro lugar um grupo de elementos formando um conjunto covariante. Eu disse um conjunto, e não uma totalidade. A estrutura se estabelece sempre pela referência a algo que é coerente com algo diverso, que lhe é complementar. Mas a noção de totalidade só intervém se lidamos com uma relação fechada com um correspondente, de que a estrutura é solidária. Pode haver, ao contrário, uma relação aberta, que chamaremos suplementariedade. [...] Interessar-se pela estrutura é não poder negligenciar o significante. Na análise estrutural, encontramos, como na análise da relação entre significante e significado, relações de grupos fundadas em conjuntos, abertos ou fechados, mas comportando essencialmente referências recíprocas. Na análise da relação entre significante e significado, aprendemos a insistir na sincronia e na diacronia, e isso se acha na análise estrutural”. 62 realidade não seja o que ela é na psicose, é preciso que o complexo de Édipo tenha sido vivido”. Assim sendo, a vivência do complexo de Édipo implica na articulação da realidade com o que Lacan denomina de “simbólico” e ao qual ele relaciona uma parte da realidade. Esta parte constitui a realidade psíquica. Ela não é homóloga à realidade exterior, pois, como explica Lacan (1992, p.56): “No momento em que desencadeia sua neurose, o sujeito elide, [...], uma parte de sua realidade psíquica, ou, numa outra linguagem, de seu id. Essa parte é esquecida, mas continua a fazer-se ouvir. Como? [...] – de uma forma simbólica”. Aqui temos mais um argumento que nos permite entender que Joca Ramiro ocupa o lugar do pai simbólico: sua voz, ao veicular sua lei, continuava a se fazer ouvir mesmo - e porque não dizer, sobretudo - após sua morte. Precisamos, então, ressaltar que, tal como no mito do pai da horda primitiva, o assassinato de Joca Ramiro instaura uma nova ordem: a partir deste evento, os filhos estabelecem entre si um novo pacto, pois, segundo Freud (1980[1912-13], v.XIII, p.172), [o] pai morto tornou-se mais forte do que fora vivo – pois os acontecimentos tomaram o curso que com tanta freqüência os vemos tomar nos assuntos humanos ainda hoje. O que até então fora interdito por sua existência real foi doravante proibido pelos próprios filhos [...]. De fato, depois da morte de Joca Ramiro, vemos surgir no Grande Sertão uma nova ordem, visto que, “agora, tudo principiava terminado” (GSV, p.227). Como conseqüência, e endossando a observação comentada anteriormente, a narrativa recomeça. Neste recomeço “só restava a guerra” (GSV, p.227) e todo o bando se uniu na busca de “doçura de vingança” (GSV, p.227). É em decorrência disto que o narrador afirma que “Joca Ramiro morreu como o decreto de uma lei nova” (GSV, p.227). Acontece que, como percebemos em nossa primeira aproximação deste relato com o mito de Totem e tabu, se, por um lado, eles de assemelham, por outro, eles divergem, pois, como deixar de observar que a morte de Joca Ramiro estabelece uma lei nova e, ao mesmo tempo, “o decreto de uma lei nova” morreu como ele? Morto, Joca Ramiro “se torna mais forte do que fora vivo” (FREUD,1980[1912-13],v.XIII,p.172), portanto, se eterniza. Em sua honra fica estabelecida uma nova lei que, paradoxalmente, é velha pois se retorna à lei de talião. Morta - como Joca Ramiro -, a lei nova também se eterniza, pois, “o que até então fora interdito por sua existência real foi doravante proibido pelos próprios filhos” 63 (FREUD, 1980[1912-13],v.XIII,p.172). É assim que, anunciada aos demais a “notícia de grande morte” (GSV, p.227), todos “[s]e aprontaram num átimo” (GSV, p.227). Concluímos, então, que o lugar onde foi anunciada a morte do pai e de sua lei – Guararavacã do Guaicuí - é um lugar memorável. É lugar de antecipação da origem, lugar do acontecimento único das “grandes coisas, antes de acontecerem” (GSV, p.220). É, ao mesmo tempo, lugar das coisas que “não acontecem mais” (GSV, p.220) e cuja possibilidade de repetição do assassinato do pai evoca o fim de tudo, pois “[s]e um dia acontecer, o mundo se acaba” (GSV, p.220). É o lugar simbólico e singular da interdição: “[...] tão célebre – a Guararavacã do Guaicuí, do nunca mais” (GSV, p.228). Em vista disto, não se poderá esquecer que Guararavacã é, sobretudo, o lugar onde se fez ouvir o grande estrondo de trovões prenunciando a morte, prenunciando o Guaicuí23. 2. 10 O Grande Sertão e a “excomunhão maior” Até aqui, nosso estudo tem caminhado no sentido de entender a lacuna indicada por Lacan na teoria freudiana no que diz respeito à questão sobre o pai. Além disto, e principalmente, através desse procedimento, acreditamos vir a encontrar o caminho que nos conduzirá à reflexão sobre a feminilidade e ao imbricamento desta com a função do pai. No entanto, antes de enveredarmos diretamente pelas reflexões sobre a feminilidade, parece-nos interessante comentar que, ao acompanharmos os desdobramentos da noção de Nome-do-Pai, surgiu-nos a possibilidade de forjar uma outra articulação. Esta, de cunho alegórico, nos permitirá apreciar mais um aspecto da relevância e impacto do Nome-do-Pai na medida em que esse conceito se encontra intimamente relacionado aos efeitos do ensino de Lacan no meio psicanalítico. Porém, como nossa alegoria se relaciona à construção do Nome-do-Pai ao longo da elaboração lacaniana, achamos por bem condicionar sua apresentação a uma exposição resumida do recurso que temos empregado e das referências teóricas que nos têm apoiado. 23 Segundo o Diccionário Castellano-Guaraní de Antônio Guasch (1961, p.517,518,744), o termo “Guarara” remete-nos àquilo que “produz grande estrondo”; “va” significa “o que”. Daí, Guararavacã é “o que produz grande estrondo”. Quanto à “Guacuí”, este termo remete à “morte” e a “velha, anciã”. 64 Em linhas gerais, podemos então dizer que temos procurado identificar, no Grande Sertão, os elementos constitutivos do texto passíveis de serem articulados à concepção psicanalítica do Nome-do-Pai. Como este conceito se encontra essencialmente ligado às noções de pai real, pai imaginário e pai simbólico, temos procurado também depreender da narrativa um entendimento destas noções a partir da análise do personagem Joca Ramiro. Assim procedemos porque, como foi afirmado antes, Lacan criou o termo Nome-do-Pai para responder à questão deixada em aberto na obra freudiana no que diz respeito à função paterna. Foi também nesta perspectiva que ele criou a estrutura tripartida composta pelo pai real, pai simbólico e pai imaginário. Com a criação de tais conceitos, podemos afirmar com Jorge (2000, p.13) que Lacan nos trouxe de volta àquelas regiões cruciais e problemáticas da obra freudiana de uma maneira mais consistente, em que seus contornos estão mais bem definidos e apresentando novas possibilidades de reflexão [de tal forma que] Real-simbólico-imaginário constitui um novo nome, dado por Lacan, ao inconsciente freudiano. Retrospectivamente, seguimos ainda com Porge (1998) para ressaltar como o estudo de Lacan sobre o pai, a partir da obra freudiana, baseou-se - desde seu primeiro seminário que remonta ao ano de 195124 - numa aproximação entre a questão sobre o que é o pai e a introdução das noções de real, simbólico e imaginário. Sobre esta aproximação, Porge (1998, p.29) afirma também que a função paterna é introduzida a partir de dois eixos: “Aquele que vai ser suportado pelo termo, ainda opaco, de Nomedo-Pai e aquele do pai repartido no ternário pai simbólico, pai real, pai imaginário, mais explícito”. Gostaríamos de fazer observar que, na construção de sua teoria, Lacan realizou uma espécie de alternância entre a elaboração dos conceitos de Nome-do-Pai e do ternário Real, Simbólico e Imaginário (PORGE, 1998). Além disto, assinalemos que, depois do seminário de 1957 a 1958 intitulado As formações do inconsciente, até o ano de 1963, são proferidos cinco seminários nos quais nem o Nome-do-Pai, nem o ternário, são abordados diretamente por Lacan25 (PORGE, 1998). 24 Referimo-nos ao seminário sobre O homem dos lobos realizado durante os anos de 1951 e 1952 na residência de Lacan. 25 Citamos Porge (1998, p.45): “Cinco seminários separam As formações do inconsciente do seminário de 20 de novembro de 1963: O desejo e sua interpretação, A ética da psicanálise, A transferência, a indentificação, A angústia. [...] Nenhum destes seminários aborda de frente o Nome-do-Pai (a não ser por algumas poucas exceções) ou o ternário pai simbólico, imaginário e real. [...] Aparentemente o Nome-do- 65 Ora, nosso empenho em ressaltar o estudo de Porge (1998, p.87-88) sobre as incidências do Nome-do-Pai na teoria lacaniana decorre da explicitação feita por este autor do relevo que tal conceito ganhou no ensino de Lacan: “O Nome-do-Pai não é somente um tema de exposição, ele produz efeitos, no retorno, de contagem e de escansão sobre o ensino de Lacan”. Tal afirmação se fundamenta na possibilidade vislumbrada pelo autor de sugerir uma periodização na seqüência dos seminários proferidos por Lacan e na interpretação dos efeitos deste ensino no meio psicanalítico. Em conseqüência, consideramos, como Porge, que estes efeitos detêm certa relação, justamente com a elaboração do conceito Nome-do-Pai, uma vez que foi a partir dele que Lacan questionou e reformulou a teoria freudiana sobre o Édipo. Como afirma Roudinesco e Plon (1998, p.448), Lacan propôs “uma releitura universalista da interdição do incesto e do complexo de Édipo”. Assim, o ensino de Lacan repercutiu no meio psicanalítico de tal forma que a reação por parte de alguns psicanalistas não tardou em se fazer ouvir. Se levarmos em conta que a reação ao ensino de Lacan está relacionada à elaboração do termo Nome-do-Pai, parece-nos imprescindível nos reportarmos a alguns eventos que a marcaram, ainda mais quando consideramos que tal reação se deu de forma dramática e determinou uma mudança na seqüência dos seminários de Lacan. Em 1963, ano em que Lacan iniciaria o seminário intitulado Os nomes do pai, vários acontecimentos, decorrentes da crise gerada em torno do seu ensino, se fizeram notar. Tal crise teve inicio no ano de 1959 quando a Sociedade Francesa de Psicanálise (SFP) fez o pedido de adesão à International Psychoanalytical Association (IPA). Como afirma Porge (1998, p.60), “[n]o centro do que toma ares de uma negociação [...] encontra-se J. Lacan, a duração de suas sessões de análise, o número dos seus analisandos, a presença destes no seu seminário”. A aceitação do pedido de adesão da SFP à IPA fora, então, condicionada ao afastamento de dois psicanalistas da SFP: Lacan e Fraçoise Dolto. Reproduzimos a seguir um trecho da Recomendação de Edimburgo, citado por Porge (1998, p.61): “13.a – Que os doutores Dolto e Lacan tomem distância progressivamente do programa de formação, e que não se lhes envie novos casos de análises didáticas ou de supervisão”. Pai não está no centro das preocupações de Lacan. E no entanto... As abordagens laterais, ou sob a forma de incisões destes seminários, que sobrevêm importam muito”. 66 A querela se acirrou a ponto de, no dia 19 de novembro de 1963, Lacan receber a notícia da perda de sua função de analista didata, ou seja, Lacan perdeu o direito de participar da formação de novos analistas. Porge (1998, p.64) assinala que logo “[n]a manhã seguinte ele suspende seu seminário Os nomes do pai” após pronunciar a primeira e última aula deste seminário. Até então, os seminários de Lacan eram realizados nas dependências do Hospital Sainte-Anne. Depois do acontecimento acima descrito, Lacan deu continuidade a seu ensino em outro local. Porge (1998, p.65) nos fornece mais detalhes sobre as mudanças que se seguiram: Lacan retoma um outro seminário, num outro local, o da Escola Normal Superior (ENS), obtido graças aos cuidados de L. Althusser, a quem ele escrevera na noite de 20 de novembro de 1963 solicitando um encontro. Esta mudança de lugar modifica o público do seminário, notadamente ao abri-lo aos universitários e outros não-analistas. Por outro lado, o título e o tema do seminário também mudam: Lacan anuncia que tratará dos fundamentos da psicanálise. O ato de parar seu seminário sobre os nomes do pai toma então sódepois o sentido não de renunciar a manter um ensino, mas de renunciar a fazer um ensino sobre os nomes do pai, contanto que a questão dos fundamentos fosse, senão asseguradas, pelo menos um pouco mais destrinchada. Temos, portanto, que o seminário sobre Os nomes do pai, resumiu-se a única aula do dia 20 de novembro de 1963. No preâmbulo à recente publicação traduzida para o português desta aula de Lacan (2005, p.8), Jacques-Alain Miller comenta: Lacan sempre se recusou a retomar o tema do seminário subitamente abortado, e até mesmo em publicar em vida o texto da única lição pronunciada. Ao concluir, em função de seus dissabores, que o credenciamento do “discurso psicanalítico” não lhe havia sido dado para erguer, como tinha a intenção, o véu com que Freud recobrira o verdadeiro fundamento da psicanálise, e que tinha sido punido por se mostrar sacrílego, assinalou, para bom entendedor sobretudo com o título irônico que deu a um Seminário posterior, Les nondupes errent26 -, que manteria mão de ferro sobre verdades por demais intempestivas. Assim, após o que Lacan (1988, p.11) denominou - no seminário intitulado Os quatro conceitos fundamentais da psicanálise - de “excomunhão maior”27, isto se 26 Literalmente, “Os não-tolos erram” (Les non-dupes errent), expressão que em francês faz homofonia com “Os nomes do pai” (Les nom du père). 27 “Excomunhão” foi o termo empregado por Lacan para designar sua demissão da IPA. Citamos Roudinesco e Plon (1998, p.118): “Com isso, [Lacan] inscreveu sua ruptura com a legitimidade freudiana na linha direta do herem de Baruch Spinoza (1632-1677), que era um castigo de caráter leigo, e não religioso. Lacan, aliás, comportou-se diante da IPA da mesma maneira que o filósofo frente à sua comunidade: ele mesmo providenciou sua exclusão. E o emprego desta palavra traduz perfeitamente bem 67 referindo a sua saída da IPA, Lacan (1985, p.19) resolveu recomeçar seus seminários procedendo ao que nos parece apropriado considerar como uma “recapitulação” de conceitos fundamentais à psicanálise. Ouçamo-lo: Retornar a esta origem [ou seja, retornar ao desejo de Freud] é absolutamente essencial se queremos colocar a análise de pé. O que quer que ele seja, tal modo de interrogar o campo da experiência, [...], vai ser guiado pela referência seguinte – que estatuto conceitual devemos dar a quatro dos termos introduzidos por Freud como conceitos fundamentais, nominalmente o inconsciente, a repetição, a transferência e a pulsão?. Desta forma, ao realizar um “retorno” que, a nosso ver, pode também ser entendido como uma “recapitulação” da teoria freudiana, Lacan reavivou os fundamentos do ensino de Freud e travou, então, uma luta, ainda mais determinada, contra os desvirtuamentos de que este ensino vinha sendo vítima. Por outro lado, ao criar um “lacanismo”, ou seja, ao propor um movimento de retorno a Freud que, ao mesmo tempo, veio prenhe de elaborações inovadoras, bem como de críticas à teoria freudiana, Lacan correu o risco de provocar uma opinião equivocada a seu respeito. Como ressalta Porge (1998, p.72), [s]eu passo pode ser interpretado – e é isto que não deixa ainda hoje de se produzir – como uma espécie de tentativa metafórica de assassinato do pai (Freud) de acordo com o esquema edipiano, no momento em que justamente ele tenta fazer passar uma mensagem – o Nome-do-Pai – que recoloca em questão o esquema edipiano. Ora, diante de tais acontecimentos, como poderíamos deixar de nos remeter, alegoricamente, ao Grande Sertão? Acaso, neste, assim como na história da psicanálise, depois do que foi entendido, mesmo que equivocadamente, como uma tentativa de assassinato do pai, não se efetivou um corte, uma cisão? Além disto, como deixar de observar que, como efeito deste corte, no meio do Grande Sertão a narrativa recomeça, recapitula, enquanto que no meio psicanalítico a cisão teve como efeito a retomada, ou recapitulação, por parte de Lacan dos conceitos fundamentais da psicanálise? Desta forma, podemos dizer que no caso dos jagunços a narrativa passou a ser “recontada”, assim como no caso dos psicanalistas, a teoria foi “recapitulada”, criticada e ampliada pelo ensino de Lacan. a posição particular ocupada pelo lacanismo na história do freudismo. Ao contrário das outras correntes, que procuravam ultrapassar o freudismo, Lacan instaurou, com efeito, uma retomada ortodoxa dos textos freudianos”. 68 E mais, quando a estória é recontada no Grande Sertão, ficamos sabendo que Zé Bebelo, aquele que foi exilado para Goiás, retornou e se engajou na luta de vingança pela morte de Joca Ramiro. Zé Bebelo lutou, então, ao lado dos guerreiros de um outro grande chefe, Medeiro Vaz, e seu empenho foi tal que ele passou a ser visto como aquele que “herdou brioso comando” (GSV, p.234). Assim, tal como Joca Ramiro e Medeiro Vaz, ele foi capaz de reunir tantos sob seu comando que passou a ser nomeado por Zé Bebelo Vaz Ramiro (GSV, p.238). Quanto aos rumos da história da psicanálise, podemos dizer que Lacan, aquele que foi “excomungado”, retornou ao texto de Freud para dar continuidade a seu ensino e o fez com tal empenho que afirmamos, como Porge (1998, p.75), que “[e]m nenhum momento tratou-se para Lacan de encabeçar um movimento lacaniano que não procederia de uma relação com a letra do texto freudiano”. Assim, o ensino de Lacan se reúne tanto ao ensino de Freud que podemos mais uma vez afirmar, com Porge (1998, p.75), que “[d]e fato, hoje, pode-se dizer que se lê Freud com Lacan, mas não se diz que se lê Freud com Melanie Klein28, por exemplo. Lê-se Freud e Melanie Klein”, lê-se Freud Lacan. Assim, ao nos voltarmos para a leitura de Freud com Lacan, podemos agora interrogar: Afinal, o que Lacan pretendia revelar como tendo sido encoberto por Freud? Para respondermos a esta questão, ouçamos o que diz o próprio Lacan (1985, p.19): [...] a histérica nos põe, eu diria, na pista de um certo pecado original da análise. É preciso mesmo que haja um. O verdadeiro é talvez apenas uma coisa, é o desejo do próprio Freud, isto é, o fato de que algo, em Freud, não foi jamais analisado. Era exatamente aí que eu estava no momento em que, por uma singular coincidência, fui posto em posição de ter que me demitir do meu seminário. O que eu tinha a dizer sobre os Nomes-do-Pai não visava outra coisa, com efeito, senão pôr em questão a origem, isto é, por qual privilégio o desejo de Freud tinha podido encontrar, no campo da experiência que ele designa como o inconsciente, a porta de entrada. Enfim, chegamos ao ponto em que Lacan começa a explicitar sua indicação de que existe uma questão deixada em aberto na teoria de Freud sobre o pai e não é sem 28 Sobre Melanie Klein reproduzimos o comentário de Roudinesco e Plon (1998, p.430): “Melanie Klein foi o principal expoente do pensamento da segunda geração psicanalítica mundial. Deu origem a uma das grandes correntes do freudismo, o kleinismo, e [...] contribuiu para o desenvolvimento considerável da escola inglesa de psicanálise. Transformou totalmente a doutrina freudiana clássica e criou não só a psicanálise de crianças, mas também uma nova técnica de tratamento e de análise didática, o que fizera dela uma chefa de escola”. 69 surpresa que vemo-lo, então, entrelaçá-la a uma outra - reconhecida pelo próprio Freud como uma questão em aberto -, que é a interrogação sobre “O que quer uma mulher?”. Na aula de 22 de janeiro de 1964 do seminário Os quatro conceitos fundamentais da psicanálise, Lacan (1985, p.32) fez referência a este entrelaçamento afirmando que “[q]uanto a Freud e à sua relação ao pai, não esqueçamos que todo o seu esforço só o levou a confessar que, para ele, esta questão permanecia inteira, ele disse a uma de suas interlocutoras - O que quer uma mulher?”. Mas por que Lacan entrelaçou estas duas questões? Que afinidade ele identificou entre elas? Adiante, neste mesmo seminário, quando Lacan aborda o primeiro dos quatro conceitos elaborados por Freud, o conceito de inconsciente, ele relembra que no último capítulo d’A Interpretação dos Sonhos, Freud estabelece a relação entre o inconsciente e o sonho partindo da premissa de que este é a representação de um desejo. Lacan chama a atenção para o fato de que Freud toma, como exemplo desta relação, o sonho de um pai cujo filho acabara de falecer. Este pai, cansado das noites passadas em claro devido aos cuidados prestados anteriormente ao enfermo, adormeceu durante o velório e sonhou, como relata Freud (1980[1900], v.V, p.543), que “seu filho estava de pé ao lado de seu leito, que o apanhou pelo braço e lhe sussurrou em tom de censura: ‘Pai, não vê que estou queimando?’”. O pai então é despertado pela luz de labaredas que, efetivamente, se formavam na sala onde o corpo do filho estava sendo velado, pois, na realidade, aconteceu de uma das velas cair e queimar “as roupas e um dos braços do cadáver”. Segundo Freud, este sonho realiza o desejo do pai de voltar a ver seu filho vivo, tomando-lhe pelo braço e falando-lhe, mesmo que em tom de recriminação. A propósito desta interpretação, Lacan (1985, p.38), no entanto, se pergunta por que Freud escolheu justamente este sonho para exemplificar a realização de um desejo inconsciente quando o que chama mais atenção é a realidade do corpo do filho sendo queimado. Ele então argumenta que este exemplo fornecido por Freud evoca algo mais, pois, “[d]o que é que ele [o filho] queima? – senão do que vemos desenhar-se em outros pontos designados pela topologia freudiana – do peso dos pecados do pai, que carrega o fantasma no mito de Hamlet com que Freud duplicou o mito de Édipo”. Para entendermos este questionamento de Lacan precisamos considerar com ele que, inicialmente, Freud concebeu a noção de desejo a partir de suas descobertas sobre o desejo da histérica. Porém, Lacan assinala ainda que tal concepção só pode ser sustentada por Freud até determinado ponto: aquele em que a própria histérica lhe 70 demonstrou que ele, Freud, não havia formulado corretamente qual é o objeto do seu desejo (LACAN,1985). Daí a interrogação freudiana: “O que quer uma mulher?”. Então, em relação ao desejo, há algo que Freud não pôde ter acesso. Por isso, Lacan (1985, p.41) voltou-se para o estudo do relato de Freud sobre o Caso Dora, publicado em 1905 e de seu artigo “Sobre a psicogênese de um caso de homossexualidade feminina”, publicado quinze anos depois, e observou que, na condução destes tratamentos, “Freud ainda não podia ver – na falta de referenciais de estrutura [...] – ver que o desejo da histérica – [...] – é sustentar o desejo do pai [...]”, enquanto que no caso da homossexual, a solução que ela encontra para esse desejo do pai é desafiá-lo. Aí está! As observações de Lacan sobre a afinidade entre o desejo do pai e a questão incitada pela histérica e pela homossexual, parecem-nos contribuir enormemente para a exeqüibilidade deste estudo que visa, em última instância, elucidar as implicações da função paterna sobre a constituição da feminilidade. Como resultado, acreditamos ter alcançado um ponto onde a vereda traçada por nosso estudo sobre o pai se conjuga com a vereda de um estudo sobre a filha. Por isso, no próximo capítulo, nos empenharemos na caminhada por esta segunda vereda que implica em passarmos pela análise de uma filha e pelas questões da histérica e da homossexual para enfim chegarmos às questões que dizem respeito à mulher. 71 III VESTÍGIOS DE MULHER 3. 1. Introdução Se, ao avançarmos no entendimento da função paterna, acabamos por adentrar as veredas do desejo de uma filha – quer este desejo se manifeste pela via da histeria ou da homossexualidade feminina em suas indagações sobre a função do pai -, resta-nos ir, “sem volvência” (GSV, p.39), de “[v]ereda em vereda, como os buritis ensinam” (GSV, p.46). É certo que esta travessia se dá através de algo bastante intrincado, algo como uma brenha, uma mata brava, emaranhada. No entanto, se, por um lado e apesar das dificuldades, não podemos nos esquivar deste percurso - já que será através dele que encontraremos algum acesso à questão da feminilidade -, por outro, quando recorremos a Freud e a Lacan, constatamos que nosso embrenhamento pode ser enormemente facilitado pela ação destes batedores. Além destes, é claro, continuamos a recorrer à perspicácia ficcional do Grande Sertão, que, tal qual um mateiro, também nos guia pelos cerrados e terrenos alagadiços da caatinga: Veredas. “Constante que com a gente [estão] três bons rastreadores” (GSV, p.39), vejamos de que maneira estes nos guiam e até onde conseguimos chegar nesta busca de um entendimento sobre as veredas para a feminilidade. 3. 2 Torções Na última vez que nos referimos ao texto de Guimarães Rosa, estávamos no ponto central do livro, no meio da estória, no meio do Grande Sertão. Estávamos em Guararavacã do Guaicuí, nome de um lugar que “não tem mais” (GSV, p.220). Logo, é daí que devemos retomar nossa caminhada. Além disto, apesar de Guararavacã se tratar de uma localidade que não existe mais, precisamos considerar o fato de ter sido a partir dela que Riobaldo fez uma importante constatação: “[...] foi neste lugar, no tempo dito, que meus destinos foram fechados” (GSV, p.220). O que teria, então, fechado os destinos de Riobaldo? 72 Dissemos que, depois do julgamento de Zé Bebelo, uma parte do bando passou dois meses acampada em Guararavacã sem travar guerra. Aí os jagunços viveram num “[m]adrugar vagaroso, vadiado” (GSV, p.218). Foi neste espaço de tempo que Riobaldo “sozinho, num repartimento dum rancho, rancho velho de tropeiro” (GSV, p.220), fez a “[t]ravessia de [sua] vida” (GSV,p.220). Esta travessia ocorreu na intimidade de uma borda, num rancho que “era na borda-da-mata” (GSV, p.220). Arranchemos, pois, também nós, na “borda-da-mata”. A mata representa uma área coberta por plantas silvestres. Forma-se na zona entre a orla marítima e o agreste. Uma mata representa, portanto, um limite. Afora isto, uma segunda acepção de “mata” nos remete a “matadura”, quer dizer, ferida, defeito, fato censurável, etc. Então, podemos dizer que Riobaldo estava provisoriamente alojado numa borda, numa extremidade, numa área confinante com algo. De fato, vemos nossa interpretação ser reforçada pelo termo “borda” que significa extremidade de uma superfície, beira. Ora, assim como acontece com o termo “mata”, este segundo termo, “borda”, propicia, outrossim, mais um sentido, pois “borda” é também uma espécie de arma de combate, é uma clava29. Feitas estas considerações, apreciemos o momento em que Riobaldo, flanqueado por suas armas, fez a travessia de sua vida. Diz ele: [...] eu estava deitado numa esteira de taquara. Ao perto de mim, minhas armas. Com aquelas, reluzentes nos canos, de cuidadas tão bem, eu mandava a morte em outros, com a distância de tantas braças. Como é que, dum mesmo jeito, se podia mandar o amor? (GSV, p.220). Ponderemos: Riobaldo, armado como estava com clava ou com armas reluzentes nos canos capazes de mandar “a morte em outros”, interroga-se de que jeito poderia mandar a morte ao amor. Isto - parece-nos – indica claramente que a travessia de Riobaldo envolve uma passagem pelo amor. Indica-nos também que mandar a morte a outros, àqueles que estão à distância de “tantas braças”, não é o mesmo que mandar a morte àquilo que amamos. E mais, o dito de Riobaldo nos conduz por uma superfície que não se mostra plana, pois, nesta, a borda é capaz de marcar um direito e um avesso bem delimitados. Entendemos, por conseguinte, que o dito de Riobaldo percorre, antes, uma superfície em que direito e avesso se confundem e só um acontecimento temporal pode diferenciá-los. 29 Lembramos que todas estas sinonímias podem ser conferidas no Dicionário eletrônico Houaiss da língua portuguesa, versão 2001. 73 Em relação aos efeitos de um acontecimento temporal, lembremos que em Guararavacã o tempo se mostra subvertido. Lá é o lugar das “grandes coisas antes de acontecerem” (GSV, p.220). Lá é o lugar em que, depois da notícia do assassinato de Joca Ramiro, “tudo principiava terminado” (GSV, p.227). Além disto - ou ainda, como decorrência desta subversão do tempo -, em Guararavacã um certo espaço também se encontra subvertido. Referimo-nos, justamente, ao espaço percorrido por Riobaldo. Sobre este espaço, ele mesmo interroga: “Será que tem um ponto certo, dele a gente não podendo mais voltar para trás?” (GSV, p.220). Mas o que produziria um ponto assim, do qual não se pode mais voltar para trás? Partiremos da premissa de que o que se mostra capaz de impedir um retorno deve ser algo da ordem de um obstáculo, uma interrupção, um corte. Pois bem, se estivéssemos acompanhando Riobaldo através de um percurso sobre uma superfície plana, este corte impediria o retorno da narrativa. Porém, sabemos que a estória, depois da morte de Joca Ramiro, paradoxalmente continua, é recontada, e recontada de forma ampliada. Por isso, pensamos poder dizer que no meio do Grande Sertão, nos deparamos com muitos elementos que indicam uma subversão no sentido mesmo da “revolta30”, da transformação decorrente de um retorno que se dá pelo avesso do percurso realizado até então, e de onde ecoam outras verdades. Para visualizarmos como isto é possível, basta que tomemos uma faixa de papel e efetuemos sobre ela uma torção no sentido de seu eixo vertical. Feito isto, se juntarmos as duas extremidades da faixa, teremos transformado uma superfície plana, numa superfície torcida. Ao percorrer esta superfície, podemos observar que um mesmo ponto pertence tanto ao direito quanto ao avesso da faixa. Este artifício foi descoberto em 1861 por Mœbius e se mostra bastante eficiente para representar uma superfície unilátera, quer dizer, sem direito nem avesso, ou ainda, uma superfície onde direito e avesso se apresentam em continuidade. Esta superfície recebeu o nome de seu descobridor, denomina-se “faixa de Mœbius” (GRANON-LAFONT,1996). Abaixo, as figuras 1 e 2 procuram ilustrá-la: 30 Lacan (1992, p.52) nos lembra que, pelos ensinamentos da mecânica celeste, a “revolução” consiste num “retorno ao ponto de partida”. Esclarecemos que nosso emprego do termo “revolta” deve ser entendido com um retorno ao ponto de partida, pois de fato a narrativa volta a este, depois do evento da morte de Joca Ramiro. Entretanto, este retorno nos dá a ver outras verdades. Ele se dá pelo avesso ampliando nosso entendimento sobre fatos já narrados, mas narrados de forma condensada e até mesmo aparentemente caótica. Agora, com este retorno pelo avesso, acreditamos que ele nos permite ouvir os ecos da verdade, pois, como ainda afirma Lacan (1992, p.52), “Avesso é assonante com verdade”, já que em francês, conta-se com assonância entre envers e verité. 74 Fig.1 Fig. 2 Faixa de Mœbius Então, retornando à travessia realizada no rancho da borda-da-mata, descobrimos que ela se deu pelo acesso a um saber sobre o amor. Diz-nos Riobaldo: “Primeiro, fiquei sabendo que gostava de Diadorim – de amor mesmo amor, mal encoberto em amizade. Me a mim, foi de repente, que aquilo se esclareceu: falei comigo. Não tive assombro, não achei ruim, não me reprovei – na hora” (GSV, p.220). Que meandro mais curioso este que envolve um amor distorcido e destorcido em amizade e que se apresenta, de repente, de “Me a mim”! Torções... Até aqui, tendo nos detido na questão da função paterna, vimo-nos na contingência de ter de adiar a apreciação desta personagem instigante que é Diadorim, apesar de sua inesgotável importância para o prosseguimento deste estudo. Eis que nos chega o momento de iniciar nossa passagem por esta vereda. 3. 3 “Um Diadorim assim meio singular” Por que o esclarecimento sobre o amor que sentia por Diadorim - um amor que se disfarçava mal em amizade – consistiu numa travessia para Riobaldo? Por que, pelo menos na hora desta descoberta, ele não achou ruim, não se reprovou? Acaso este saber estaria limitado por alguma borda com tendência à matadura, quer dizer, com tendência a ser um fato censurável? Ouçamo-lo mais: O nome de Diadorim, que eu tinha falado, permaneceu em mim. Me abracei com ele. Mel se sente é todo lambente – “Diadorim, meu amor...” Como era que eu podia dizer aquilo? Explico ao senhor: como se drede fosse para eu não ter vergonha maior, o pensamento dele que em mim escorreu figurava diferente, um Diadorim assim meio singular, por fantasma, apartado completo do viver comum, desmisturado de todos, de todas as outras pessoas – como quando a chuva entre-onde-os-campos. Um Diadorim só para mim. Tudo tem seus mistérios. Eu não sabia. Mas, com minha mente, eu abraçava com meu corpo aquele Diadorim – que não era de verdade. Não era? (GSV, p.221). 75 Era. Diadorim era de “carne e osso” (GSV, p.222). E isto foi o que, em seguida, levou Riobaldo a decidir entre alguns caminhos: Acertei minha idéia: eu não podia, por lei de rei, admitir o extrato daquilo. Ia, por paz de honra e tenência, sacar esquecimento daquilo de mim. Se não, pudesse não, ah, mas então eu devia de quebrar o morro: acabar comigo! – com uma bala no lado de minha cabeça, eu num átimo punha barra em tudo. Ou eu fugia – virava longe no mundo, pisava nos espaços, fazia todas as estradas. Rangi nisso – consolo que me determinou. Ah, então eu estava meio salvo! (GSV, p.222). A título de curiosidade, informamos que no Grande Sertão, a “regra do rei” é a seguinte: “A gente nunca deve de declarar que aceita inteiro o alheio” (GSV, p.20). Por procurar se fundamentar nisto é que Riobaldo estava “meio” salvo. Mas meio salvo, de quê, senão do amor? E mais: assim, salvo pela metade, persistia todo o seu dilema. Um dilema tão profundo que o levou, naquele momento a fazer de conta que olhava para Diadorim e dizer para si mesmo: “Nego que gosto de você, no mal. Gosto, mas só como amigo!...” (GSV, p.222). Daí por diante Riobaldo se acostumou a dizer isto sempre que se encontrava perto de Diadorim e chegou mesmo a acreditar neste dizer. Porém, havia aí uma contradição que ele próprio veio a constatar, “Ah, meu senhor! – como se o obedecer do amor não fosse sempre ao contrário...” (GSV, p.222). Na verdade, o amor entre Riobaldo e Diadorim não continha apenas uma contradição, mas várias. Para começar a tratar de algumas delas, precisamos, no entanto, percorrer outras torções do fio da narrativa e então apreciarmos, não apenas o início deste relacionamento amoroso, mas, Diadorim. Como é o tempo que nos fornece o recurso para deslindar algum verso e anverso deste amor, precisamos considerar que ele nasceu num “outro tempo” (GSV, p.80). É a este tempo, o tempo do primeiro encontro entre Riobaldo e Diadorim, que iremos nos reportar agora. Riobaldo contava por esta época “uns quatorze anos, se” (GSV, p.79). Diadorim tinha um “pouco menos [...], ou devia de regular” (GSV, p.80) a mesma idade que Riobaldo. O encontro ocorreu num local repleto de ambigüidades: eles se encontraram às margens de um dos afluentes do São Francisco, no porto do Rio-deJaneiro que, diga-se de passagem, nos remete às faces opostas do deus Janus, o deus bifronte. Lá é “uma beira de barranco”, lugar de precipício, obstáculo. É lugar de impasse, de encruzilhada: “O de-Janeiro, dali abaixo meia-légua, entra no São 76 Francisco, bem reto ele vai, formam uma esquadria” (GSV, p.79). Além de tudo, é local iniciático, de introdução a um conhecimento sobre algo misterioso ou desconhecido, onde “também principia ali a viagem” (GSV, p.79). Esta viagem do menino Riobaldo o conduziu a um outro menino que ele viu “encostado numa árvore, pitando cigarro” (GSV, p.80). Este menino veio de um outro lado do mundo, “um-meio mundo diverso” (GSV, p.80). O aparecimento deste menino introduziu, portanto, algo “meio” da ordem de uma diversidade. De fato, apesar de Riobaldo ter olhado para ele “com um prazer de companhia” (GSV, p.81), com um deleite capaz de estabelecer uma coexistência harmoniosa, ainda assim, este prazer não deixou de ser inusitado nem impediu que Riobaldo achasse que o menino “era muito diferente” (GSV, p.81). Por conseguinte, o menino representava também uma diferença. Mas, uma diferença que não os afastava. Pelo contrário, em relação ao menino, Riobaldo teve foi o “desejo de que ele não fosse mais embora” e, sobretudo, observou que era correspondido: “Senti, modo meu de menino, que ele também se simpatizava a já comigo” (GSV, p.80). Partiremos, então, da percepção de que o menino - vindo de “um-meio mundo diverso” e sendo “muito diferente” – nos permite sugerir que nesta narrativa, a alteridade31 tem vários nomes. Se esta idéia se mostra precisa, propomos também que um dos nomes da alteridade seja, justamente, o nome atribuído por Riobaldo àquele que ele acabara de conhecer: “Menino”. Contudo, antes de nos determos sobre a noção de alteridade, precisamos antecipar que, só depois, ficaremos sabendo que o menino com quem Riobaldo se encontra às margens do de-Janeiro é Diadorim. Nenhuma menção é feita a este nome ao longo do encontro que finaliza com a chegada da mãe do protagonista: “Minha mãe estava lá no porto, por mim. Tive de ir com ela, nem pude me despedir direito do Menino. [...] Nem sabia o nome dele. Mas não carecia” (GSV, p.86). Ora, o que tornava desnecessário saber o nome daquele que tanto impressionara a Riobaldo senão o fato deste desconhecido lhe ser, ao mesmo tempo, familiar, ao mesmo tempo, desejado e evitado? Mal acabara de ir para perto do menino e Riobaldo já foi “recebendo [...] um desejo de que ele não fosse embora, mas ficasse, 31 Adiantamos que a alteridade será tratada aqui enquanto determinante simbólico do sujeito em relação a seu desejo. Ao longo deste capítulo, tornaremos a considerar o alcance desta premissa explicitada pela psicanálise. Mas antes disto, consideraremos a noção de alteridade em seu aspecto radical que nos remete a um além e a um aquém, pois, no que tange à narrativa rosiana, parece-nos patente que o romance oferece uma fonte abundante de inauditos sobre a alteridade. 77 sobre as horas, e assim como estava sendo, [...] – só meu companheiro amigo desconhecido” (GSV, p.81). Com este “companheiro amigo desconhecido”, Riobaldo realizou, então, uma dupla travessia: a do rio São Francisco, feita numa pequena canoa onde sentaram “virados um para o outro” (GSV, p.81), portanto, submetidos ao fascínio da imagem especular; e a travessia maior, essência de todo o romance, que resultou “[s]ó uma transformação, pesável” (GSV, p.86) e impossível de nomear, já que “[m]uita coisa importante falta nome” (GSV, p.86). Atentemos para o fato de que esta transformação também nos remete a uma torção através da qual podemos ter acesso a elementos substanciais de nossa investigação. Para nós, trata-se de uma torção passível de revelar aquilo que está em hipóstase, quer dizer, aquilo que está por baixo determinando os desdobramentos do romance. Porém, como diz Riobaldo, falta nome para nomear “[m]uita coisa importante”. Muita coisa que, a nosso ver, compõe o sedimento da trama narrativa. Cabe então interrogar: o que pode ser tão inominável? O que é isso que resta fora da linguagem? O que pode ser, assim, tão diferente, tão diverso, sem semelhante, tão outro? 3. 3 Um Menino “Dessemelhante” Apesar do fascínio da imagem do Menino “que era um menino bonito, claro, com a testa alta e os olhos aos-grandes, verdes” (GSV, p.80) - um fascínio que seduz, aproxima, atrai -, apesar da identificação decorrente desta fascinação, Riobaldo percebe ainda que, “[e]le, o menino, era dessemelhante” (GSV, p.82). Temos em mente que esta oportunidade nos permite abordar a noção de alteridade a partir de sua relação com as noções de “diversidade”, “diferença” e com o que não é semelhante, aqui representado por um termo inusitado: “dessemelhante”. Ou seja: levamos em conta que a alteridade faz interseção com a diferença e que esta se mostra aquém daquela (ABBAGNANO, 2000). Neste espaço de interseção, a alteridade é determinada pela diferença. Esta dá a conhecer, nos objetos postos em comparação, a diferença que eles têm em comum. Já num além, ela, a alteridade, também faz interseção com a diversidade que pode ser puramente numérica (ABBAGNANO, 2000). Neste caso, ressaltamos que a 78 alteridade está para além das identificações imaginárias que regulam a relação do sujeito com o outro, seu parceiro, seu semelhante. Por esta última perspectiva, a alteridade nos remete não apenas ao diverso, mas também ao dessemelhante. Ela está para além da relação dual e para além da diferença. A alteridade nos remete, conseqüentemente, a um terceiro. Ela ocupa um outro lugar, uma outra cena que escapa à consciência e constitui o inconsciente. Tratemos um pouco mais da noção de diversidade. Para Abbagnano (2000, p.291), a diversidade indica “a simples distinção numérica quando duas coisas não diferem em nada, exceto por serem numericamente distintas. Neste sentido, a diversidade é a negação pura e simples da identidade”. Assim, postos frente a frente, Riobaldo e o Menino não diferem em nada, são dois meninos: têm a mesma idade, ambos se vestem como é usual aos meninos, etc. O Menino usava, por exemplo, “um chapéu-de-couro, de sujigola abaixada” (GSV, p.80). Além disto, quando embarcaram na canoa para realizar a travessia do de-Janeiro, eles o fizeram na companhia de mais um menino, “[o] remador, um menino também” (GSV, p.81). O número de meninos, então, aumenta, agora são três, porém todos da mesma “laia” (GSV, p.81). No entanto, alguns elementos se interpõem negando a identidade entre eles. A procedência de cada um, por exemplo: O menino canoeiro era habitante ribeirinho do São Francisco: “ “Sou barranqeuiro!” – o canoeirinho tresdisse, repontando de seu orgulho” (GSV, p.84). O menino Riobaldo veio do “baixo da ponta da Serra das Maravilhas, no entre essa e a Serra dos Alegres, tapera dum sítio dito do Caramujo, atrás das fontes do Verde, o Verde, que verte no Paracatu” (GSV, p.35). Já o Menino aquele de “esmerados esmartes olhos, botados verdes, de folhudas pestanas” (GSV, p.81), olhos que eram fontes do verde para Riobaldo, posto que estes olhos “produziam uma luz” (GSV, p.83) -, veio de “Os-Porcos, meio-mundo diverso, onde não tinha nascido. [...] esse lugarim Os-Porcos existe de se ver, menos longe daqui, nos gerais de Lassance” (GSV, p.80, grifo do autor). Assim, como foi dito, o Menino veio de um mundo diverso. Sobre ele e Riobaldo podemos dizer que um não pode, simplesmente, ser substituído pelo outro o que, de certa forma, permitiria fazer dos dois, inteiramente identificados, um só. Cogitamos, que na canoa, “virados um para o outro” (GSV, p.81), o que temos é um “menino” e “mais um menino”, diverso do primeiro. Podemos dizer que este outro menino é um “não-menino”, pois introduzimos a negativa para indicar que, apesar de 79 ambos serem meninos, o segundo não é igual ao primeiro. Esta negativa estabelece, conseqüentemente, um desequilíbrio que não passou despercebido por Riobaldo: “Notei que a canoa se equilibrava mal, balançando no estado do rio” (GSV, p.81). Tratemos agora da noção de alteridade posta em relação com a surpreendente concepção do dessemelhante, pois, “[e]le, o menino, era dessemelhante, [...], não dava minúcia de pessoa outra nenhuma” (GSV, p.82). Propomos que o dessemelhante possa ser entendido a partir de sua oposição com o que é semelhante. Segundo Abbagnano (2000, p.869) o conceito de semelhante representa “aquilo que tem qualquer determinação em comum com uma ou mais coisas”. Este autor nos dá ainda mais algumas definições bastante esclarecedoras sobre o que é considerado semelhante. Citamo-lo: Mais genericamente, Wolff dizia que “são semelhantes as coisas que são idênticas naquilo em que deveriam distinguir-se uma da outra” (Ont.,§ 195). [...] Foi só na matemática moderna que a noção de semelhança recebeu definição diferente, graças à teoria dos conjuntos. São considerados semelhantes os conjuntos que apresentem relação de termo a termo. Russell, por exemplo, diz: “Diz-se que uma classe é semelhante à outra quando existe uma relação de termo a termo, em que uma classe é dominante enquanto a outra é o dominante inverso (Introduction to Mathematical Philosophy, cap.II, trad.it., p.27). Esta noção tem grande importância para a definição matemática do infinito (ABBAGNANO, 2000, p.870, grifos do autor). Pois bem, se o Menino era “dessemelhante” podemos depreender que ele não tinha qualquer determinação em comum com Riobaldo. Tampouco tinha algo em comum com qualquer outra pessoa. Se considerarmos, além disto, as outras definições de semelhante explicitadas acima, podemos também afirmar que o Menino era dessemelhante de Riobaldo, pois, naquilo em que eles deveriam se distinguir, de fato, o Menino não era idêntico a ele. Enfim, podemos dizer que não havia uma relação de termo a termo entre eles. Observemos que, apesar de ambos serem meninos, Ele, o Menino, era dessemelhante, já disse, não dava minúcia de pessoa outra nenhuma. Comparável um suave de ser, mas asseado e forte – assim se fosse um cheiro bom sem cheiro nenhum sensível [...]. As roupas mesmas não tinham nódoa nem amarrotado nenhum, não fuxicavam. A bem dizer, ele pouco falasse. Se via que estava apreciando o ar do tempo, calado sabido, e tudo nele era segurança de si (GSV, p.82). Então, se por um lado, o Menino se distinguia - apesar de podermos compará-lo por meio de suas roupas sem nódoas nem amarrotados -, por outro, ele era incomparável ou comparável apenas a um cheiro bom, mas, paradoxalmente, 80 insensível! Desta forma os termos postos em comparação relacionam-se um a um, até certo ponto, até o ponto em que o Menino se mostra excepcional. A partir deste ponto, instaura-se a dessemelhança, pois a correspondência se perde no infinito. Consideremos com Abbagnano (2000, p.562) que o infinito “é aquilo que pode ser percorrido mas não todo, pois não tem fim”. Sendo neste sentido que a matemática entende a noção de infinito, deparamo-nos, então, como algo que não conseguimos exaurir. Portanto, infinito é aquilo que não se mostra completo, o que não impede que daí se possa tirar algo de novo. Este algo de novo será, no entanto, finito, e sempre diferente. 3. 5 Um menino “diferente, muito diferente...” Desta forma, adentramos a noção de diferença. Ela determina a alteridade, pois a alteridade, em si, não envolve qualquer determinação (ABBAGNANO, 2000). Nos termos da alteridade, podemos dizer, por exemplo, que o Menino é outra coisa que não Riobaldo. Todavia, se implicarmos aí a noção de diferença, poderemos então determinar que o Menino seja diferente de Riobaldo por isso, por aquilo, ou por aquilo outro. Levemos em conta que a noção de diferença se estende a um domínio comum à noção de alteridade. Em nosso segundo capítulo, já comentamos que entre uma e outra é possível estabelecer um campo de interseção o qual se constitui através da indicação de um elemento que difere quanto a sua posse. Ou seja: podemos identificar os elementos que compõem o campo de interseção entre a alteridade e a diferença pelo fato destes elementos possuírem, ou não, determinada propriedade. No encontro de Riobaldo com o Menino, pensamos ter identificado uma cena bastante expressiva para exemplificar como a posse ou a não-posse de determinado elemento participa da interseção entre a alteridade e a diferença. A travessia do de-Janeiro levou os meninos ao “do-Chico”, quer dizer, ao rio São Francisco. Este surge “é de repentemente, aquela terrível água de largura: imensidade” (GSV, p.82). Riobaldo sentiu, então, o “[m]edo maior” (GSV, p.82), sentiu “[m]edo e vergonha” (GSV, p.83), sentiu “o medo imediato” (GSV, p.83). O menino, ao contrário, mostrou-se foi “[q]uieto, composto, confronte” e proferiu um veemente ensinamento: “Carece de ter coragem...” (GSV, p.83). 81 O que tomamos desta passagem como exemplo da posse e da não-posse de algo é, justamente, a coragem ou, se quisermos, seu contrário, o medo. É indiferente. Se Riobaldo possui o medo, o Menino não o possui, ou ainda, se o Menino possui a coragem, Riobaldo não. Vejamos: - “Carece de ter coragem...” ele me disse. Visse que vinham minhas lágrimas? Doí de responder: - “Eu não sei nadar...” O menino sorriu bonito. Afiançou: “Eu também não sei.” Sereno, sereno. Eu vi o rio. Via os olhos dele, produziam uma luz. – “Que é que a gente sente, quando se tem medo?” – ele indagou, mas não estava remoqueando; não pude ter raiva. – “Você nunca teve medo?” – foi o que me veio, de dizer. Ele respondeu: “Costumo não...” (GSV, p.83). Marcada esta diferença, interrogamos agora, como Riobaldo: “Mais, que coragem inteirada em peça era aquela, a dele? De Deus, do demo?” (GSV, p.86). Que coragem era essa, ainda não podemos responder, todavia, pasmamos com Riobaldo ao saber o que a determinou, quer dizer, ao saber qual foi diferença que determinou tal alteridade. Foi, justamente, um dito ouvido pelo Menino sobre a questão do medo: “[...] - “Meu pai disse que não se deve de ter...” Ao que meio pasmei. Ainda ele terminou: - “Meu pai é o homem mais valente deste mundo.” [...]” (GSV, p.84). Assim ficamos como Riobaldo, na condição de ter de continuar a travessia junto com o Menino. Sobre esta travessia já sabemos que ela foi determinada por um dito paterno. Já sabemos que ela implica numa passagem pelas confluências da alteridade com a diversidade, a dessemelhança e a diferença. Sabemos, portanto, que ela conduz ao Outro. Acontece que sobre o Outro - isso que não se exaure, que se perde no infinito -, não podemos dizer tudo. Desse modo, tantas vezes, diante do inaudito, resta-nos a poesia, o verbo em sua plena ação de sonhar, abrindo novas interrogações tal como Riobaldo teve de aprender neste encontro: “Sonhação – acho que eu tinha de aprender a estar alegre e triste juntamente, depois, nas vezes em que no Menino pensava, eu acho que. Mas, para que? por quê?” (GS:V, p.86). 3. 6 Um Menino-Moço e o amor vindo “de um-que-não-existe” Deixemos as margens do de-Janeiro. Ainda mais que depois deste encontro de Riobaldo com o Menino, a vida daquele e, por conseguinte seu relato, “mudou para uma segunda parte” (GSV, p.87). 82 Muitos eventos marcam esta mudança. Citamos alguns: A mãe de Riobaldo que se chamava apenas “Bigrí” (GSV, p.87, grifo do autor) -, morreu. Desta morte Riobaldo herdou umas “miserinhas – miséria quase inocente” (GSV, p.87). Como ele não soubesse quem era seu pai e não conhecesse nenhum outro parente, um dia, um “vizinho caridoso” (GSV, p.87) o levou “para a Fazenda de São Gregório” (GSV, p.87). Esta fazenda era de seu padrinho Selorico Mendes, que o recebeu com “grandes bondades” (GSV, p.87) dizendo-lhe: “De não ter conhecido você, estes anos todos, purgo arrependimentos...” (GSV, p.87). Sob sua tutela, Riobaldo freqüentou escola, tornou-se “rapazinho” (GSV, p.89), urdiu os primeiros namoricos com “meninas por nomes de flores” (GSV, p.89) e aprendeu com Rosa’uarda, “moça feita” (GSV, p.89) mais velha que ele, “as primeiras bandalheiras, e as completas” (GSV, p.90) que juntos fizeram com “anseio e deleite [...] no fundo do quintal” (GSV, p.90). Riobaldo “não gostava [...], nem desgostava” (GSV, p.90) de Selorico Mendes. Porém, como “não soubesse [se] acostumar” (GSV, p.90) com ele, um dia fugiu da fazenda. Todavia, antes disto, ainda na São Gregório, “um grande fato se deu” (GSV, p.90): durante uma madrugada chegaram uns homens que “não eram caçadores” (GSV, p.90), mas jagunços. Vinham pedir a Selorico Mendes “recanto oculto” (GSV, p.91) para suas tropas. Entre eles havia um que “[s]ó de ouvir o nome, [Riobaldo] parou, na maior suspensão” (GSV, p.91). Tratava-se de Joca Ramiro, “chefe dos jagunços, o principal” (GSV, p.91). Dias depois, “[s]e foram” (GSV, p.94). Com a partida do bando, Riobaldo achou que “tudo tinha perdido a graça, o de se ver” (GSV, p.94), mas guardou “no giro da memória [...] aquela madrugada dobrada inteira” (GSV, p.95). Num outro dia, alguém disse a Riobaldo “que não era à-toa que [suas] feições copiavam retrato de Selorico Mendes” (GSV, p.95). Ao ouvir isto, e apesar “de algum encoberto jeito” (GSV, p.95) ele já saber que Selorico Mendes era seu pai, Riobaldo achou que “o mundo todo [lhe] produzia desonra” (GSV, p.95), e fugiu da São Gregório. Tornou-se jagunço (GSV. 90). Conheceu o bando de Zé Bebelo. Aí chegou como professor pensando que iria dar aulas “para os filhos dum fazendeiro” (GSV, p.100). Engano. Era ao próprio Zé Bebelo que ele teria de ajudar a “botar na cabeça o que os livros dão e não” (GSV, p.100). Assim ele desempenhou esta tarefa tal como Lacan (1997, p.212) nos faz notar: “o professor se define como aquele que ensina sobre os ensinamentos: ele recorta nos 83 ensinamentos”. Deste contexto, vivendo junto com o bando de Zé Bebelo - que por esse tempo lutava contra o bando de Joca Ramiro -, Riobaldo mais uma vez fugiu. Foi parar na casa de um tal “Manoel Inácio, Malinácio dito” (GSV, p.106). Nesta casa se deu um encontro que muito nos interessa: chegaram três homens, três tropeiros. Depois destes, mais um. Ao avistar este último, Riobaldo “agüentou aquele nos [...] olhos, e [recebeu] um estremecer, um susto desfechado. Mas era um susto de coração alto, parecia a maior alegria” (GSV, p.107). De imediato Riobaldo conheceu: O moço, tão variado e vistoso, era, pois sabe o senhor quem, mas quem, mesmo? Era o Menino! O Menino, senhor sim, aquele do porto do de-Janeiro, [...], o que atravessou o rio comigo, numa bamba canoa, toda a vida. E ele se chegou, eu do banco me levantei. Os olhos verdes, semelhantes grandes, o lembrável das compridas pestanas, a boca melhor bonita, o nariz fino, afiladinho. Arvoramento desses, a gente estatela e não entende [...]. Eu queria ir para ele, para abraço, mas minhas coragens não deram. Porque ele faltou com o passo, num rejeito, de acanhamento. Mas me reconheceu, visual. Os olhos nossos donos de nós dois. [...] O Menino me deu a mão [...]. E ele como sorriu. Digo ao senhor: até hoje para mim está sorrindo. Digo. Ele se chamava o Reinaldo (GSV, p.107-108). Então era isto: o Menino do de-Janeiro se chamava Reinaldo. Este, agora, era um “Menino-Moço” (GSV, p.109). Sua aparição teve o poder de reacender o amor e os dilemas de Riobaldo: “o amor assim pode vir do demo? [...] Pode vir de um-que-não-existe?” (GSV: p.108). Assim, refletindo sobre as procedências do amor, Riobaldo teceu comparações entre algumas mulheres que passaram por sua vida: uma, Otacília, aquela que depois veio a ser sua esposa, tinha “estilo dela, era toda exata, cinturas de belezas” (GSV, p.109). Outra, a mocinha Nhorinhá, uma prostituta por quem Riobaldo não supriu “outro amor, nenhum” (GSV, p.109). Feitos estes breves esclarecimentos sobre a posição de Riobaldo frente a seus objetos de amor, podemos prosseguir dizendo que, apesar dos dilemas, o fato é que Riobaldo deixou seu bando de origem e seguiu o de Reinaldo. Na companhia deste, as surpresas: o jagunço Reinaldo apreciava as belezas e para ele “o passarim mais bonito e engraçadinho” era “o que se chama o manuelzinho-da-crôa” que anda “sempre em casal” (GSV p.111). Ora, comentário como este, “botava surpresa” (GSV, p.111) e não era para menos. Saído da boca de uma menina-moça estaria bem de acordo, porém, dito por um “Menino-Moço”, composição substantiva inusual referida a alguém que, além do mais, era jagunço, sinalizava um inaudito. Tanto é assim que Riobaldo não entende, porém, aprecia e sente seu amor redobrar: 84 E a maciez da voz, o bem-querer sem propósito, o caprichado ser – e tudo num homem-d’armas, brabo bem jagunço – eu não entendia! Dum outro, que eu ouvisse, eu pensava: frouxo, está aqui um que empulha e não culha. Mas, do Reinaldo, não. O que houve, foi um contente meu maior, de escutar aquelas palavras. Achando que eu podia gostar mais dele (GSV, p.111-112). Aqui estamos diante de um paradoxo, pois se acontece de, por um lado, Reinaldo culhar, quer dizer, “ter coragem, ser macho, ter culhões” (MARTINS, 2001, p.143), por outro, não é bem certo afirmarmos que ele não empulhe, que não haja aí algo da ordem de uma tapeação. E realmente há: ao final do romance, ficamos sabendo que Reinaldo, também chamado Diadorim, na verdade era uma mulher e tinha como nome de batismo “Maria Deodorina da Fé Bettancourt Marins” (GSV, p.458). Perplexidade: é isso que o Grande Sertão nos faz vivenciar! Como pode esta Maria Deodorina ter sido, quando menina, um “Menino” e, quando moça, um “MeninoMoço”? O que poderia justificar tal trajetória? Sobre este Menino-Moço sabemos ainda que, além de apreciar “passarim”, ele também apreciava um homem tanto que pode afirmar: “Riobaldo, você é valente... Você é um homem pelo homem...” (GSV, p.112). Em contrapartida, ser “um homem pelo homem”, quer dizer, ser algo que equivale a si próprio, ser, portanto, capaz de manter certa identidade, é tudo o que Reinaldo não era. Mas, apesar disto, ele almejava uma equiparação a ponto de dizer: “Riobaldo... Reinaldo... [...] Dão par, os nomes de nós dois” (GSV, p.112). Assim, o emparelhamento que Reinaldo consegue realizar é o da poesia, fonte do par possível das rimas, dos simulacros do “um”, do amor. Acreditamos que neste par formado por Reinaldo e Riobaldo, o que se mostra muito bem ilustrado é o sucesso e, ao mesmo tempo, o fracasso das palavras em realizar o objetivo do amor que é o de unir dois num só. Desta forma é que Riobaldo concorda que os nomes dos dois “dão par”, apesar de, ao mesmo tempo, perceber o malogro precipitado pela rima: “A de dar, palavras essas que se repartiram: para mim, pincho no que já estava, de alegria; para ele, um vice-versa de tristeza. Que por que? Assim eu ainda não sabia” (GSV, p.112). Arriscamos dizer que uma das coisas que Riobaldo ainda não sabia é que o amor vem realmente do “um-que-não-existe”, pois no “um” do amor, apesar da unidade que ele promove no sentido de não comportar a falta, ainda assim esta se presentifica. 85 Já no que diz respeito a Reinaldo, arriscamos dizer que seu “vice-versa de tristeza” decorria justamente de certo saber que ele detinha sobre o vice-versa do amor, no qual, pelo avesso do sentimento de completude, o amante se depara com sua própria falta. Se, em relação a Reinaldo, argumentamos que, de alguma maneira, ele detinha este saber sobre o amor, é porque Reinaldo era, assim como Riobaldo, um Menino-Moço, mas, para além deste, era também algo mais. Reinaldo era uma mulher. Sendo assim, é evidente que o homem e a mulher mantêm, cada um, suas peculiaridades em relação ao amor, porém, sem adentrarmos o que consistiria a diferença entre o amor masculino e o amor feminino, uma outra questão se impõe: afinal, o que é ser uma mulher? Demonstrar certas sensibilidades, apresentar “a maciez da voz, o bem-querer sem propósito, o caprichado ser” (GSV, p.111) como observou Riobaldo, poderiam ter sido interpretadas como indicações precisas de que Reinaldo era mulher? Por outro lado, se ele, Reinaldo - conforme os costumes dos que nascem com uma anatomia feminina -, ao invés de vestir-se de jagunço, fosse como Otacília que em suas “cinturas de belezas” usava saias, perfumes e adereços; ou como Nhorinha que não supria amor, mas inspirava desejo; isto seria suficiente para dizer o que é ser uma mulher? Até este ponto, temos seguido quase que, exclusivamente, as indicações do Grande Sertão e é bem certo que, fundamentalmente, continuaremos a fazê-lo. Todavia, para respondermos às interrogações aqui levantadas, doravante se mostra indispensável recorrermos mais à miúde ao auxílio de nossos outros dois batedores: Freud e Lacan. Aprendemos com Freud que as posições masculina e feminina podem ser freqüentadas por ambos os sexos, isto independendo da anatomia. O fato de Maria Deodorina se portar como um “homem-d’armas”, ocupar, portanto, uma posição masculina - assim como o fazem hoje em dia tantas mulheres - não torna patente se ela é ou não uma mulher. Tampouco as manifestações do feminino, seu vestuário, habilidades etc. são capazes de evidenciar o que é uma mulher. Tanto é assim que em meio às guerras do Grande Sertão, Reinaldo, um “brabo bem jagunço”, num momento de baixar a guarda, mostrou a Riobaldo o conteúdo inesperado de sua “capanga”, palavra que nos remete tanto a uma “pequena bolsa”, quanto à “guarda-costas, homem de confiança, jagunço”. [...] rendidos na vigiação, o Reinaldo e eu não estávamos com sono, ele foi buscar uma capanga bonita que tinha, com lavores e três botõezinhos de abotoar. O que nela guardava era tesoura, tesourinha, pente, espelho, sabão verde, pincel e navalha (GSV, p.113). 86 Sem nos determos em maiores comentários quanto ao luxo e à futilidade de tais objetos para um guerreiro, acrescentemos apenas que, não satisfeito em mostrar, Reinaldo deu sua pequena bolsa a Riobaldo: “O Reinaldo mesmo, no mais tempo, comprou de alguém uma outra navalha e pincel, me deu, naquela dita capanga. Às vezes, eu tinha vergonha de que me vissem com peça bordada e historienta; mas guardei aquilo com muita estima” (GSV, p.113). Portanto Reinaldo dá a Riobaldo um objeto bastante sugestivo: presenteia-lhe com uma peça que sinaliza o lugar freqüentado pelo feminino. Além de ser uma peça bordada é, além do mais, “historienta”, comportando, por isso, muitas exigências e dificuldades. Podemos dizer que uma destas dificuldades consiste no fato de que não importam as roupas, os pequenos bens, as atividades, as maneiras, preferências e até mesmo os nomes – Menino, Reinaldo, Diadorim, Maria Deodorina... -, para definirmos o que procura se mostrar, ou tenta se oferecer, a Riobaldo. Afirmamos isto porque nos surge como hipótese que Diadorim, apesar de viver como jagunço, como um homem, procurou caminhar em direção à feminilidade. A propósito do jagunço Diadorim, assim como a propósito de qualquer mulher, os índices de feminilidade acima enumerados não se mostram suficientes para responder o que é uma mulher. Mas por que isto acontece? 3. 7 Mulheres belas e instigantes Recorramos em primeiro lugar a Freud. Apesar de ele ter chegado ao final de sua obra com a curiosa interrogação sobre a mulher, sobre seu querer, concordamos com Assoun (1993, p.20, grifos do autor) quando este nos faz notar que “[a] mulher é aquela que Freud suspeita, lucidamente, de ter permanecido como uma verdade impermeável ao saber que ele produziu a seu respeito”. Contudo, ao longo de todo o seu trabalho investigativo, Freud foi extraordinariamente perspicaz para perceber a contraditória identidade existente entre a psicanálise e mulher (ASSOUN, 1993). Retornaremos a este assunto mais adiante, pois gostaríamos de chamar mais atenção para esta “verdade impermeável ao saber”. Pensamos como Assoun (1993, p.23) que a interrogação freudiana sobre o querer da mulher denota antes uma perplexidade que uma ignorância e, sobre àquela, a perplexidade de Freud, é possível destacar seus efeitos: 87 Através de sua pergunta, Freud lança uma pavorosa suspeita de escárnio sobre os que sabem bem demais o que quer a Mulher, ou por entronizá-la como gerenciadora da Natureza ou da Família, ou até por erigi-la como ideal de gozo. Não se deve confundir o Que quer a mulher? com alguma versão atualizada da ideologia do eterno feminino, eco do famoso “nunca entenderei nada sobre as mulheres”, linguagem do poder decaído. Freud não se ajoelha diante do Eterno feminino, nem tampouco sustenta a linguagem do desprezo: ele avalia a feminilidade a partir do saber analítico e confessa que, no cômputo geral, não consegue descobrir-lhe as cartas – embora, ocasionalmente, decifre muito bem o seu jogo. Então, a partir de que Freud pode muitas vezes decifrar o jogo do inconsciente, bem como o da mulher? Essas possibilidades tiveram seu ponto de partida na escuta que ele dedicou à fala da histérica. Como mencionamos em nosso primeiro capítulo, deste as primeiras publicações psicanalíticas - até mesmo desde as pré-psicanalíticas e as cartas endereçadas a Fliess -, já é possível identificar o interesse de Freud pela questão da feminilidade. Nos seus Estudos sobre a histeria (1893-1894), trabalho realizado em conjunto com Josef Breuer, Freud inicia a descrição do mecanismo psíquico das manifestações histéricas. Estes estudos foram viabilizados pela análise de relatos feitos por mulheres. A respeito disto, vale ressaltar que o saber depreendido por Freud a partir destes relatos detém o caráter peculiar de nos remeter a um estilo, o romanceado: “o que os Estudos sobre a histeria transformam em saber é precisamente a história que é a histeria” (ASSOUN, 1993, p.52, grifo do autor). Desde estas histórias, como o próprio Freud (1980[1905], v.VII, p.5) chegou a registrar, “muitos anos se passaram” até que, em 1905, ele propôs uma maior fundamentação para os conceitos emitidos nos Estudos. Os novos alicerces lançados sobre a construção clínica e teórica em torno da histeria foram obtidos através da apresentação de um caso que recebeu o título de Fragmento da análise de um caso de histeria, conhecido também, simplesmente, como “Caso Dora”. Mencionamos anteriormente a importância deste caso para nossa própria investigação. Devemos, agora, especificá-la um pouco melhor. Na abertura do relato sobre o caso, um comentário de Freud (1908[1905], v. VII, p.14) chama atenção por nos dar a ver a perseverança de seu interesse sobre o que lhe foi apresentado pela histeria: Não mais preciso desculpar-me pela extensão [deste relato de caso], já que se está de pleno acordo de que as severas exigências que a histeria faz ao médico e ao investigador só podem ser satisfeitas pelo espírito de pesquisa mais compreensivo e não por uma atitude de superioridade e desprezo. Pois “Nem só a Arte e a Ciência servem; No trabalho deve ser mostrada paciência” [Goethe, Fausto, Parte I (Cena 6)]. 88 Assim - como resultado desta paciência -, apresentamos a história de Dora, que na verdade chamava-se Ida Bauer: Dora era uma jovem inteligente e espirituosa, filha de um grande industrial. Admirava seu pai e expressava um amor preferencial por ele enquanto mantinha uma relação bastante conflituosa com sua mãe. Aos dezoito anos, Dora iniciou seu tratamento com Freud por apresentar, dentre outros, sintomas de depressão, irritabilidade e idéias de suicídio. Apesar de ter manifestado desde a infância alguns outros sintomas, o pai de Dora decidira levá-la a Freud por considerar que suas manifestações psíquicas se agravavam. O motivo alegado pelo pai de Dora para este agravamento relacionava-se ao fato da jovem ter revelado a sua mãe que havia sido alvo do assédio de um amigo de seu pai, o Sr. K. Acontece que se Dora fez tal revelação a sua mãe foi na expectativa de que ela participasse o ocorrido a seu marido - pai de Dora -, e este tomasse as devidas providências. Uma destas providências consistia, justamente, no corte de relações com o Sr. K e sua esposa, a Sra. K. Ao contrário do que Dora esperava, quando seu pai foi inteirado dos fatos mostrou-se incrédulo, considerou que tudo não passava de uma fantasia da moça e a conduziu ao tratamento com Freud. Ora, com os desdobramentos do caso, ficamos sabendo que o pai de Dora mantinha um relacionamento extraconjugal com a Sra. K e em virtude disto fez com que sua filha fosse considerada como uma simuladora. Sobre a condução deste caso, ressaltamos, com Roudinesco (1998, p.51), que o tratamento realizado por Freud foi capaz de “restituir a Dora uma verdade que sua família lhe roubara”. Contudo, precisamos ainda considerá-lo no que este comportou de dificuldades para Freud. Uma das dificuldades refere-se, exatamente, ao relacionamento que a própria Dora mantinha com a Sra. K, a amante de seu pai. Dora não apenas sabia, mas, até certo ponto, acobertou a aventura amorosa dos dois. Além disto, Dora costumava elogiar a Sra. K e sustentou, também até certo ponto, um vínculo bastante afetuoso com esta e com seu marido. O ponto em que tudo isso se mostrou insustentável foi exatamente aquele em que o Sr. K declarou sua paixão a Dora argumentando que não sentia qualquer interesse por sua esposa. Para Freud, estes eventos podiam ser entendidos a partir da paixão de Dora por seu pai (FREUD,1980[1905]) que, numa formação reativa, teria se transmutado numa paixão pelo Sr. K, já que ela não o rechaçou até o momento em que ele se declarou explicitamente. Freud ainda argumentou junto à Dora que sua excessiva afeição pela Sra. K detinha um 89 caráter homossexual. Apesar da precisão de grande parte dessas interpretações, conseqüentes de um estudo minucioso, a análise de Dora foi interrompida... por ela! A propósito do caráter homossexual da relação de Dora com a Sra. K, Freud (1980[1905], v. VII, p.58), chegou a comentar: “Neste ponto não abordarei mais este importante assunto, que é especialmente indispensável ao entendimento da histeria nos homens, porque a análise de Dora terminou antes que pudesse esclarecer este lado de sua vida mental”. Notemos que esta análise não terminou em conseqüência da questão sobre a homossexualidade que, por sinal, foi apenas aventada. Notemos também que se Freud lamentou seu fim precipitado foi, pelo menos neste momento, por não ter podido avançar no entendimento da histeria “nos homens”. Parece-nos que, de certa forma, Freud não se apercebeu do que lhe dizia a histeria em “uma mulher”. Além disto, precisamos considerar com Assoun (1993, p.74) que: Convém prestar atenção ao fato de que a subestimação desse fato – o apego à Sra. K -, por mais decisivo que fosse, não deve mascarar o que constituiu o problema maior para Freud: foi menos o ter-se esquecido de algo que houvesse por saber do que o não “ter sabido ser hábil”. Ele descobriu não estar longe do sedutor fracassado, o próprio Sr. K., cujo destino evocou logo depois. Mas, finalmente, Freud aceitou sofrer a vingança merecida pelo homem que desperta os demônios e não se esquiva deles: grandeza e limitações da tarefa analítica. Contudo, mesmo não tendo sido hábil, Freud não se esquivou do que lhe dizia esta mulher histérica e, mesmo que de passagem, pôde ainda despertar o demônio 32 da homossexualidade. Precisamos, então, destacar que, já na época deste tratamento, a homossexualidade era entendida por Freud (1980[1905], v.VII, p.57-58) como uma manifestação latente tanto em “casos normais” como em heterossexuais “neuróticos”. Por isso ressaltamos com Roudinesco e Plon (1998, p.352) que o que interessava a Freud “em termos imediatos não era valorizar, inferiorizar ou julgar a homossexualidade, porém compreender suas causas, sua gênese e sua estrutura, do ponto de vista de sua nova doutrina do inconsciente”. Podemos dizer, ainda, que Freud não foi hábil para perceber que Dora fora surpreendida pela falta de desejo do Sr. K pela Sra. K. Isto a colocou de frente com a outra questão, a questão da impotência sexual de seu próprio pai. Então, pode-se dizer que, a todo 32 Segundo Roudinesco e Plon (1998, p.350) a tradição judaico-cristã teve sua cota de participação “na longa história das perseguições físicas e morais infligidas durante séculos aos que eram acusados de transgredir as leis da família e se entregar a práticas sexuais anormais, demoníacas, desviantes, bárbaras e altamente reprovadas pela Bíblia, por Deus, pelos profetas, pela Igreja e pela justiça dos homens”. 90 custo, ela tentou sustentar o desejo destes homens, através de uma outra mulher, a Sra. K. Assim, e principalmente, como é característica da histeria, Dora se empenhara em sustentar o desejo do pai (LACAN: 1985). Mas, pela continuidade do paciente trabalho de Freud podemos observar que, se neste “Caso Dora”, ele não pode perceber o caráter homossexual da relação dela com a Sra K, a questão acabou por ressurgir quinze anos depois no texto Sobre a psicogênese de um caso de homossexualismo feminino (1920). Este texto se reveste de importância por evidenciar o aprofundamento do estudo de Freud sobre a sexualidade nas mulheres. Passemos então à história da jovem homossexual. Freud (1980[1920], v.VIII, p.185- 186) nos conta que uma “bela e inteligente jovem de dezoito anos” tornou-se motivo de grandes preocupações para seus pais por ter demonstrado vivo interesse por “certa ‘dama da sociedade’ cerca de dez anos mais velha que ela própria”. Esta dama, uma cocotte, de comportamento promíscuo tanto com homens quanto com mulheres, não incentivava, mas também não rechaçava a amorosa dedicação da jovem. Um dia, o pai da jovem as encontrou passeando pelas ruas e lançou-lhes “um olhar irado”. Neste instante a moça saiu correndo e se atirou de uma amurada da linha ferroviária. Ela sobreviveu à tentativa de suicídio e ficou apenas com poucas seqüelas. Depois deste evento, os pais se mostraram mais condescendentes com a paixão da filha, mas procuraram Freud na expectativa de que este a curasse de um comportamento assim tão vicioso. Sobre os pais desta jovem, Freud observou que o pai, apesar de nutrir ternura por seus filhos, matinha-se numa rígida distância em relação a eles e repugnava-lhe as atitudes da filha. A mãe era uma mulher jovem e atraente. Freud percebeu que ela não dava o mesmo relevo que o pai ao comportamento da filha e por vezes prestou-se ao papel de confidente da filha. Além disto, tratava os filhos de maneira desigual, sendo áspera com a filha e indulgente com os filhos. Até os dezesseis anos, a jovem não havia manifestado sua preferência por pessoas do mesmo sexo. Porém nesta idade foi surpreendida pelo nascimento de mais um irmão. Em decorrência disto, Freud (1980[1920], v. VIII, p.196) relata que a jovem mostrou-se então “furiosamente ressentida e amargurada, afastou-se completamente do pai e dos homens”. Por considerar que a dama fora tomada pela jovem como uma substituta de sua mãe, Freud (1980[1920], v. VIII, p.197) argumentou ainda que a moça “se transformou em homem e tomou a mãe, em lugar do pai, como objeto de seu amor”. Assim, ao preferir às mulheres, ela criava a possibilidade de agradar à sua mãe uma vez que abria mão dos homens “em benefício” dela. Colocava-se desta forma, a serviço da mãe tal qual se disponha estar a 91 serviço da dama (ASSOUN, 1993). Portanto, através de seus procedimentos, a jovem pretendia aplacar a antipatia materna e vingar-se do pai. Na escolha de objeto homossexual realizada pela jovem, Freud identificou ainda que ela detinha as características das escolhas de objeto realizadas pelos homens, quais sejam: que o objeto fosse um derivado da mãe para poder ser amado, quer dizer, que fosse uma mulher passível de ser identificada à mãe, mas que, ao mesmo tempo, se diferenciasse desta ao se apresentar como um objeto de má reputação, para que pudesse ser desejado. Freud (1980[1920], v. VIII, p.202) entendeu que, apesar de a moça ter consentido em realizar o tratamento demandado por seus pais, esta persistia numa resistência que ele atribuiu à “atitude de desafio e vingança contra o pai”. Ele ainda incluiu nos termos da resistência, os sonhos relatados pela jovem - cujos conteúdos expressavam uma escolha heterossexual de objeto - e os considerou como sonhos enganadores que visavam um duplo objetivo: enganar ao pai e enganar a ele próprio, Freud. Apesar disto, Freud (1980[1920], v. VIII, p.204) soube ressaltar estes sonhos “como uma revivescência [...] do original e apaixonado amor da jovem pelo pai”. Contudo, este tratamento também conheceu um fim precipitado. Desta vez, um fim precipitado... por ele! Freud encaminhou a paciente para uma médica. Ora, o que determinou este procedimento foi a atitude de desafio ao pai sustentada pela jovem. Segundo Freud, a moça sentia-se traída pelo pai que dera um filho à mãe e não a ela. Este pai merecia, portanto, também ser traído. Considerando-se como um sucedâneo do pai da jovem, Freud (1980[1920], v. VIII, p.204) interpretou que a traição estendia-se até ele por meio dos sonhos enganadores e chegou mesmo a afirmar: “ela pretendia enganar-me, tal como habitualmente enganava o pai”. Apesar das dificuldades na condução desta análise, ressaltamos com Roudinesco e Plon (1998, p.352) que o estudo deste caso detém o mérito de nos fornecer uma reflexão sobre a homossexualidade rejeitando “todas as teses sexológicas sobre o ‘estado intermediário’, o ‘terceiro sexo’ ou a ‘alma feminina num corpo de homem’”, como podemos constatar ao ler as considerações finais de Freud sobre este caso. Além disto, ressaltamos também, agora com Assoun (1993, p.120), que através deste texto, “Freud forneceu os elementos para a análise da perversão feminina”, forneceu os instrumentos de estudo da atitude típica da perversão: desafiar ao pai. Não podemos, agora, deixar passar a oportunidade de apreciar a amplitude e a antecedência da investigação freudiana em torno da mulher voltando-nos para um de seus 92 textos que compõem os primórdios da psicanálise. Referimo-nos ao texto intitulado Novos comentários sobre as neuropsicoses de defesa, de 1896. Neste texto, Freud (1980[1896], v. III, p.202) aborda um caso de paranóia crônica em uma jovem de 32 anos, casada e mãe de uma criança de dois anos. Após o nascimento de seu filho, esta mulher passou a apresentar sintomas iniciais que se agravaram a ponto dela acreditar “que estava sendo observada, [...] que as pessoas liam seus pensamentos e sabiam tudo que se passava em sua casa. Uma tarde, repentinamente, ocorreu-lhe que estava sendo observada enquanto se despia, à noite”. Freud (1980[1896], v.III, p.202) recebeu esta paciente durante o inverno de 1985. Ela mesma forneceu-lhe as informações que transcreveremos em alguns trechos a seguir: Já na primavera daquele ano, um dia em que se encontrava sozinha com sua criada, tivera repentinamente uma sensação em seu baixo abdome, e pensara consigo mesma que a garota tivera, naquele momento, uma idéia imprópria. Essa sensação tornou-se mais freqüente durante o verão, [...]. Ela sentia seus genitais como ‘se sente uma mão pesada’. Começou a ver coisas que a horrorizavam – alucinações de mulheres nuas, especialmente da parte inferior do abdome feminino com os pelos púbicos e, ocasionalmente, de genitais masculinos também. [...] Ao mesmo tempo que tinha essas alucinações visuais [...], começou a ser importunada por vozes que não reconhecia nem podia explicar. [...] ouvia às vezes ameaças e censuras. Todos esses sintomas pioravam quando ela estava acompanhada ou na rua. Por essa razão, recusava-se a sair; dizia que comer a nauseava; e seu estado de saúde deteriorou-se rapidamente. Ora, nosso interesse em reproduzir trechos deste relato decorre da importância ressaltada por Assoun (1993, p.122) de que através do estudo realizado por Freud, já nos primeiros tempos da psicanálise, ele foi capaz de nos fornecer as “indicações sobre a ligação do delírio paranóico feminino com a nudez feminina”. Assoun (1993) ressalta ainda o tom exclamativo com que Freud expressou o que assinalaria para ele “o essencial da mulher” (p.122). O autor refere-se especificamente ao seguinte trecho do relato de Freud (1980[1896], v. III, p.202) sobre este caso: As imagens tornaram-se muito atormentadoras, pois ocorriam regularmente quando ela estava em companhia feminina e a faziam pensar que estava vendo a mulher em um indecente estado de nudez, mas que, simultaneamente, a mulher estava tendo dela o mesmo quadro! A perplexidade de Freud se evidencia diante deste delírio onde a paciente se identifica a muitos outros corpos de mulheres nuas e consegue, por este meio, significar, ao mesmo tempo, a vergonha e a exibição de um corpo renegado (ASSOUN, 1993). 93 Num outro caso de psicose - relatado por Freud (1980) em 1915 no texto intitulado Comunicação de um caso de paranóia contrário à teoria psicanalítica da doença vemo-lo fazer mais alguns avanços nas elaborações sobre a psicose em mulheres. A história desta mulher - também “[m]uito atraente e bela, [que] contava trinta anos de idade e parecia muito mais jovem do que na verdade era, possuindo um tipo marcadamente feminino” (FREUD, 1980[1915], v. XIV, p.297) - chegou ao conhecimento de Freud por intermédio de um advogado contratado por ela. Este advogado procurou a Freud por suspeitar que a demanda de sua cliente pudesse ser motivada por algum distúrbio psíquico. Ela o constituíra como advogado por sentir-se perseguida por um colega de trabalho que teria abusado de sua confiança ao conseguir que terceiros fotografassem aos dois enquanto faziam amor. Detentor destas provas, o colega a denegriria moralmente e a forçaria a demitir-se do emprego. A mulher foi conduzida a Freud para avaliação e durante esta ficamos sabendo que, no dia seguinte a um dos encontros amorosos dela com seu colega de trabalho, este conversou com a diretora de ambos - uma senhora que, segundo a paciente, lembrava-lhe sua própria mãe. Ela interpretou, então, que o objetivo do rapaz nesta conversa seria o de falar à diretora sobre seus encontros amorosos com a paciente. Não nos deteremos sobre os desdobramentos deste caso. Porém, precisamos fazer notar que foi através deste estudo que Freud teve acesso à importância da relação entre mãe e filha e foi perspicaz o suficiente para perceber o papel da “Mãe persecutória [...] na gênese da paranóia feminina” (ASSOUN, 1993, p.123-124). Para finalizar esta nossa tentativa de familiarização com os caminhos indicados por Freud através de relatos de casos - que tomamos como rastreamentos sobre as veredas para a feminilidade -, comentaremos apenas que desde textos pré-psicanalíticos tais como o Rascunho G, de 7 de janeiro de 1895; passando pelo estudo dos casos de Emmy von N. e de Anna O., realizados durante o período de 1893 a 1895; e, posteriormente, no texto de 1917 intitulado Luto e melancolia, Freud teve oportunidade de esclarecer o que quer uma mulher, pois se deparou com mulheres que sabiam o que queriam: as anoréxicas (ASSOUN, 1993). Estas, sabendo sobre seu querer, qual seja, justamente, o de se alimentar de nada, mantinham o próprio corpo num subjugo tal que impedia a expressão de seu desejo pelo outro, numa manobra que, em muito, se aproxima da transgressão (ASSOUN, 1993). 94 Como observa Fontenele (2005)33, a anorexia, a bulimia, bem como seu avesso, a obesidade mórbida, ostentam um corpo transgressor no sentido de renegar a diferença sexual, pois nestes corpos se promove um apagamento das formas que remeteriam a uma identificação com o masculino ou com o feminino. Com o desbastamento iniciado por Freud, conseguimos avançar pelo cerrado, rumo às veredas. Estas, por se mostrarem mais férteis, nos permitem prosseguir no sentido de entender que a feminilidade deixa suas pegadas de maneira peculiar em cada um dos caminhos traçados pelas estruturas: neurose, psicose e perversão. Desta forma, os vestígios da feminilidade nos trajetos das três estruturas nos dão a ver como ela consegue, aí, imprimir seu estilo (ASSOUN, 1993). Se - mesmo tendo descoberto os caminhos da neurose, da psicose e da perversão, e ainda perseguido com afinco o entendimento da feminilidade - Freud esbarrou numa interrogação sobre a mulher, isto lhe ocorreu pela falta de alguns recursos. Mas, como sabemos, estes recursos encontram-se com nosso outro batedor, Lacan. 3. 8 Os batedores investigam os vestígios de mulher Lembremos que, enquanto percorríamos as sendas da função paterna, fomos, gradativamente, nos aproximando de um ponto onde esta vereda se confunde com as veredas do desejo da filha em relação ao pai. Confundem-se, com já dissemos, pelo fato observado por Lacan (1985, p.40) de que “Freud, nesta ocasião, deixou de formular corretamente o que era o objeto tanto do desejo da histérica quanto do desejo da homossexual”. O que teria, então, impedido Freud de formular mais amplamente a questão do desejo destas mulheres? Precisamos levar em conta que, apesar de ter escrito a maior parte do “Caso Dora” no final do ano de 1900 e início de 1901, sua escrita e sua publicação, ocorrida em 1905, se deram entre a redação de dois outros grandes textos de Freud: A interpretação dos sonhos (1900) e os Três ensaios sobre a teoria da sexualidade (1905). Estes textos são testemunhas expressivas dos progressos de Freud tanto na elucidação do desejo quanto da sexualidade humana. Sobre o primeiro, podemos dizer, grosso modo, que nele, Freud deslindou magistralmente o mecanismo dos sonhos, o qual consiste na realização de um desejo 33 Comunicação oral proferida no dia 31 de outubro de 2005, durante o curso de mestrado em psicologia da UFC. 95 inconsciente. Quanto aos Três ensaios, podemos tomá-los como marco da superação realizada por Freud das concepções sexológicas da sexualidade que, até então, fundamentavam-se numa visão descritiva e preconceituosa das “aberrações” ou “degenerações” da atividade sexual. Neste texto, pela primeira vez, Freud empregou o termo “pulsão” com o intuito de definir a carga de energia que rege o funcionamento psíquico e que se diferencia do instinto por estar para além da mera satisfação das necessidades. A partir desta diferenciação, mostrou-se possível entender que a sexualidade humana não se encontra submetida a leis biológicas que determinariam a atração de um sexo pelo seu oposto por ter, como fim exclusivo, a reprodução da espécie. Ao contrário. O que muito freqüentemente se observa na sexualidade humana são formas, as mais variadas, de busca de satisfação, não das necessidades, mas do desejo. Com estas observações, Freud descobriu a importância das chamadas pulsões parciais - quais sejam as pulsões oral, anal e fálica -, na escolha do objeto do desejo. Além disto, Freud também descobriu que, em relação à escolha amorosa, esta se dá a partir do primeiro objeto de amor de toda criança - seja ela menino ou menina - que é, especificamente, a mãe. Ora, se as relações entre os humanos não seguem as regras da natureza que se fundamentam na satisfação dos instintos; se os humanos são regidos pela satisfação das pulsões; se, além disto, observamos que apesar da diferenças, homens e mulheres, têm o mesmo objeto primordial de amor que é a mãe; o que poderia garantir que grande parte das relações entre os humanos se empenhe numa prática heterossexual e se disponha a realizar os fins reprodutivos? (SOLLER, 2005). Perguntamos de uma forma mais direta: se o primeiro objeto de amor de meninos e meninas é a mãe, e isto norteará as futuras escolhas amorosas de ambos, o que poderia levar a menina a se voltar para o homem e tomá-lo como objeto de amor? Observamos, então, que o mito do complexo de Édipo foi forjado por Freud para elucidar a estas questões. Este mito prestou-se para elucidar a escolha do objeto sexual para o homem, mas, em contrapartida, a questão se mostrou bem mais complicada de se resolver em relação à escolha de objeto da mulher. A pertinácia de Freud para responder esta questão pode ser constatada na leitura de importantes trabalhos: A organização genital infantil (1923), A dissolução do complexo de Édipo (1924), Algumas conseqüências psíquicas da diferença sexual anatômica (1925), Sexualidade feminina (1931) e a conferência XXXIII, intitulada “Feminilidade” (1932). 96 Em A organização genital infantil (1923), vemo-lo, por exemplo, esclarecer que esta organização se dá a partir da consideração de um único órgão sexual, qual seja, o masculino. Porém, Freud (1980[1923], v.XIX, p.180) deixou claro neste texto que a primazia que se faz presente não é a do órgão, “mas uma primazia do falo”. Desta forma, inicialmente, a criança considera que todos os seres têm o falo. Por conseguinte, a mãe é fálica. Diz Freud (1980[1923], v. XIX, p.183): Mulheres a quem ela [a criança] respeita, como sua mãe, retêm o pênis por longo tempo. Para ela ser mulher ainda não é sinônimo de não ter o pênis. Mais tarde, quando a criança retoma os problemas da origem e nascimento dos bebês, e adivinha que apenas as mulheres podem dar-lhes nascimento, somente então também a mãe perde seu pênis. E, justamente, são construídas teorias bastante complicadas para explicar a troca do pênis por um bebê. As teorias tecidas pelas crianças para explicar a origem e a sexualidade humana, foram abordadas por Freud em 1908 no texto Sobre as teorias sexuais das crianças. No ano de 1924, Freud publicou um outro trabalho onde tratou especificamente do processo que conduziria a criança a resolver sua relação com cada um dos pais. Neste texto, que recebeu o título de A dissolução do complexo de Édipo, Freud (1980[1924], v XIX, p.217) o inicia lançando a hipótese de que o que determinaria a saída da criança da relação edipiana com os pais poderia ser atribuído a alguma experiência de decepção em relação a estes: “As análises parecem demonstrar que é a experiência de desapontamentos penosos. [...] O menino encara a mãe como sua propriedade, mas um dia descobre que ela transferiu seu amor e sua solicitude para um recém-chegado”. Já ao considerar a decepção que levaria a menina a sair da relação edipiana, a hipótese de Freud (1980[1924], v. XIX, p.217) nos parece bastante interessante. Citamo-la: A menina gosta de considerar-se como aquilo que seu pai ama acima de tudo o mais, porém chega a ocasião em que tem de sofrer da parte dele uma dura punição e é atirada para fora de seu paraíso ingênuo. Esclarecemos que, para Freud, o que determina a dissolução do complexo de Édipo é um outro complexo, o de castração. É pela articulação entre esses dois complexos que se processa a dissolução da relação edipiana: em decorrência da ameaça de castração, o menino sai de sua relação edípica com a mãe e se volta para o pai, de quem recebe, através do processo de identificação, as insígnias da virilidade. A partir disto o menino amará à mãe, porém saberá que lhe é proibido desejá-la. 97 Com a menina o percurso é o mesmo, mas até certo ponto: ela sai da relação amorosa com a mãe, volta-se para o pai, o constitui como objeto substituto do amor dedicado à mãe e se apega a ele de maneira idealizada. Contudo, ao contrário do que acontece com o menino, ao voltar-se para o pai, a menina não encontrará junto a ele as insígnias da feminilidade, pois o pai não é uma mulher. Ressaltamos, com Assoun (1993, prefácio, p.VIII), toda a relevância desta travessia realizada pela menina e que é exatamente o objeto de nossa investigação: Será esse pai, então, substitutiva e como que “tacitamente” “escolhido”, como substituto da mãe e refúgio de uma paixão vacante? Visto em sua aridez cínica de processo, parece realmente ser assim. Mas isso não diz tudo sobre a qualidade, o valor ou a autenticidade do amor da filha pelo pai. O paradoxo da tese freudiana é que ela revela, no avesso da paixão materna, essa força pungente da demanda de amor dirigida ao pai, na trilha, justamente, desse amor despedaçado – e despedaçado por iniciativa própria. Ele herda a força do desespero e “aposta” numa esperança, por sua vez, encarnada pelo pai. Neste ponto, é com a vasta questão da relação entre a filha e o pai que nos deparamos, uma das mais importantes e menos exploradas, talvez, da clínica psicanalítica. No ano seguinte, 1925, Freud tratou de Algumas conseqüências psíquicas da diferença sexual anatômica. Neste trabalho, ele realizou avanços inestimáveis. Apontou divergências entre a constituição da masculinidade e a da feminilidade; indicou as questões insolúveis até então e ressaltou a característica intrínseca do complexo de castração, qual seja a de estimular a feminilidade em ambos os sexos. Freud (1980[1925], v. XIX, p.319-319) esclareceu tal paradoxo da seguinte forma: Essa contradição se esclarece se refletirmos que o complexo de castração sempre opera no sentido implícito em seu conteúdo: ele inibe e limita a masculinidade e incentiva a feminilidade. A diferença entre o desenvolvimento sexual dos indivíduos dos sexos masculino e feminino [...], é uma conseqüência inteligível da distinção anatômica entre seus órgãos genitais e da situação psíquica aí envolvida; corresponde à diferença entre uma castração que foi executada e outra que simplesmente foi ameaçada. Dito de outra forma: em referência ao falo, podemos dizer que o menino o tem enquanto a menina, não. Ela não tem o falo. Ela é castrada. Castrada, mas não no que diz respeito a seu órgão genital. Este é completo: tem clitóris, vagina, etc., pois como foi elucidado, o pênis é apenas um dos avatares, uma espécie de materialização, do falo. Em contrapartida - se levarmos em conta a possibilidade do pênis, de certa forma, materializar o falo – podemos dizer que o menino tem o falo e vivencia o medo de vir a perdê-lo, o que o conduziria então à feminilidade. Lembramos com Tomaz (2001, p.65) que, 98 é apenas no século XVIII que o discurso da diferença sexual se constitui, forjado a partir de um conjunto de saberes – médico, filosófico e moral – que intentam delinear uma diferença de “essência” entre o masculino e o feminino. O próprio Freud, que constata tardiamente que ninguém nasce mulher – esta condição é construída -, no início de suas pesquisas acredita no dogma da posição masculina. Contudo, os desdobramentos das elaborações de Freud nos permitem perceber que, apesar de, inicialmente, ele ter tentado fazer uma equivalência entre o desenvolvimento sexual de meninos e meninas, ao longo de suas elaborações, Freud soube reconhecer seu equívoco. Isto lhe permitiu avançar e reformular a questão sobre a mulher, porém, como sabemos, esta questão permaneceu em aberto. Ao constatar a incompletude de suas elaborações sobre a sexualidade feminina, Freud teve a sutileza de nos sugerir que aguardássemos os avanços da ciência (FREUD, 1980[1932]). Os avanços nos chegaram através de Lacan, que lançou mão de vários recursos. Dentre eles, a lógica, mais especificamente, a lógica dos conjuntos. Foi com o auxílio desta lógica que Lacan pôde avançar no entendimento da relação entre homens e mulheres, uma relação marcada originalmente pela diferença. É fácil percebermos que, enquanto componentes do conjunto da humanidade, não há diferença entre homem e mulher, todos são humanos (CORRÊA, 2004)34. Porém, Sabemos que, já no ato do nascimento, somos confrontados com a alteridade: “Menino ou menina?”, eis a questão imposta desde a origem ao filhote humano. A resposta a esta questão pode ser simples e objetivamente formulada a partir dos dados anatômicos: aquele que portar o pênis será considerado menino, enquanto aquele que não portar o pênis será considerado menina. Somos, por conseguinte, desde o nascimento, também confrontados com o campo da diferença. A começar neste, temos a indicação de um elemento que, exatamente por diferir quanto a sua posse, se mostra comum a dois elementos postos em relação. Logo, o menino é diferente da menina, e a alteridade aí implicada se dá a ver pela indicação da posse do pênis como elemento diferencial entre eles, pois o menino é aquele que porta o pênis, enquanto a menina, não. Ora, acontece que, em relação à sexualidade humana, a diferença indicada a partir do dado anatômico – e, hoje em dia, até mesmo a partir das indicações biológicas mais refinadas tais como as decodificações genéticas - não consegue dar conta de toda a complexidade envolvida na diferença sexual. Sabemos que “menino” é diferente de 34 Comunicação oral proferida durante seminário realizado em Fortaleza no mês de maio de 2004. 99 “menina”. Mas o que é ser menina? O fato de não portar o pênis diz tudo sobre esta em relação à constituição de uma feminilidade? Certamente que não. No que diz respeito à sexualidade, podemos então argumentar que a diferença determina uma alteridade sem esgotá-la, no entanto. Já sabemos, ao observar que a diferença meramente anatômica entre homem e mulher não responde à questão de saber o que é ser mulher, que Freud lançou mão de uma noção central em sua teoria: a noção de falo. Para ele, o falo é entendido enquanto símbolo do sexo masculino, e é também o que caracteriza intrinsecamente a libido. Isto significa que é em relação ao falo que podemos estabelecer a diferença entre os sexos. Então, contamos com apenas um símbolo para estabelecermos a diferença entre dois sexos. Abrindo um pequeno parêntese, gostaríamos de comentar o impacto causado pelas averiguações freudianas. Ao formular a diferença entre os sexos a partir da posse do falo – ter ou não ter o falo –, Freud foi criticado por ter forjado uma teoria falocentrista em plena efervescência de um feminismo aparentemente esquecido de que - muito antes dessa concepção de Freud - nossos registros civis já se baseavam na lógica falocentrista (SOLLER, 2005). Além disto, como ressalta Soler (2005, p.26), os protestos feministas dirigidos à psicanálise decorrem do entendimento de que sua definição da feminilidade estabelece uma hierarquização entre os sexos. Citamos a autora: Sua definição freudiana é clara e simples. [...] a mulher é aquela cuja falta fálica a incita a se voltar para o amor de um homem. Primeiro é o pai, ele próprio herdeiro de uma transferência de amor primordialmente dirigido à mãe, e depois o cônjuge. Em resumo: ao se descobrir privada do pênis, a menina torna-se mulher quando espera o falo – ou seja, o pênis simbolizado – daquele que o tem. Esse entendimento freudiano da feminilidade foi posteriormente retomado por Lacan, que num primeiro momento ratificou a tese de Freud e, num segundo momento, inovou-a. Detendo-nos nesta primeira fase das elaborações de Lacan, vemo-lo esclarecer a tese freudiana sobre o falo indicando que, nesta, a noção de falo não se restringe ao pênis. Segundo Lacan (1998, 699), “O falo é o significante privilegiado [...] onde a parte do logos se conjuga com o advento do desejo”. O que podemos compreender desta afirmação? Em primeiro lugar que, para Lacan, a noção de falo remete a algo que pode ser tanto consciente, o logos, quanto inconsciente, o desejo. Além disto, a relação do sujeito com seu desejo inconsciente é representada e determinada por este elemento do discurso denominado por Lacan como “significante”. Portanto, o falo, enquanto significante, ocupa um lugar no discurso que faz 100 referência a um desejo. Com esta concepção do significante, Lacan reitera a relação que Freud já havia exaustivamente ressaltado entre o inconsciente e a linguagem. Se é a partir do falo que se estabelece a diferença sexual e se o falo é um elemento do discurso, a resposta à questão “menino ou menina?” transcende à mera constatação biológica e remete à diferença sexual ao que é da ordem da linguagem. Somos ditos por essa ordem que nos é anterior e exterior. Por conseguinte, isto nos conduz a um terceiro, a uma alteridade, a partir da qual somos denominados meninos ou meninas, independentemente da anatomia. Lacan denominou a alteridade da linguagem de “Outro”. Assim, a questão da diferença sexual é determinada pela linguagem, pelo Outro, quer dizer, pelo simbólico e a propósito da relação deste com o inconsciente, acrescentamos com Coutinho Jorge (2000, p.99) que: O simbólico é essencialmente bífido, bipartido e sua figuração mais lídima é a cabeça do deus romano bifrontino Janus, possuidora de duas faces opostas, cada uma delas representando um lado de um par de opostos. O mês de janeiro, chamado de Januarius mensis (mês de Janus) pelos romanos, deve seu nome a essa divindade dos pórticos: [...] Janus é, sem dúvida, o melhor representante do sujeito do inconsciente que, embora representado entre os significantes, é no fundo, avesso a toda e qualquer possibilidade de representação, e, nesse sentido, se identifica como o objeto “negativo” causa do desejo: o sujeito é esse entre. Por esta articulação do sujeito do inconsciente com o simbólico - que, por sinal, fora indicada amplamente por Freud ao demonstrar que as manifestações do inconsciente seguem as leis da linguagem, quais sejam as da metáfora e da metonímia -, deparamo-nos com a impossibilidade do inconsciente representar a diferença sexual. Mas por quê? Para dar conta desta impossibilidade, Lacan recorreu à lógica e pôde esclarecer que, enquanto podemos afirmar sobre o homem que ele se encontra sob a égide da ordem fálica - homem é aquele que tem o falo -, sobre a mulher podemos dizer, que ela não é toda submetida a esta mesma ordem. Ou seja: com a introdução desta partícula negativa podemos entender que a mulher é fálica, mas não toda fálica. Ela é aquela que não tem o falo e, sobre ela resta algo que não é possível nomear, por isso não é possível dizer “tudo” sobre a mulher. Mas citemos Lacan (1985, p.15): [...] a mulher não é toda – o sexo da mulher não lhe diz nada, a não ser por intermédio do gozo do corpo. [...] Que tudo gira em torno do gozo fálico, é precisamente o de que dá testemunho a experiência analítica, e testemunho de que a mulher se define por uma posição que apontei com o não-todo no que se refere ao gozo fálico. 101 Neste ponto nos deparamos com uma noção bastante complexa, a noção de gozo, através da qual, Lacan indica que o sujeito mantém diferentes relações com a satisfação. Na verdade este termo não foi introduzido por Lacan. Freud já o empregara. Contudo, ressaltamos com Valas (2001, p.7) o alargamento - a conceitualização – da noção de gozo realizada por Lacan: Durante os primeiros anos de seu ensino, Lacan usou o termo gozo (Lust ou Genuss) como Freud, no sentido que esse vocábulo tem na língua corrente, na qual é sinônimo de alegria, prazer, mas principalmente de prazer extremo, êxtase, beatitude ou volúpia, quando se trata de satisfação sexual. [...] Freud não conceituou o gozo, mas definiu seu campo (que ele situa mais-além do princípio de prazer, regulando o funcionamento do aparelho psíquico), no qual se manifestam, como prazer na dor, fenômenos repetitivos que podem ser remetidos à pulsão de morte. Além deste esclarecimento, seguimos ainda com Valas (2001, p.7) para ressaltar um outro alargamento conceitual promovido pelas elaborações de Lacan: A pulsão de morte seria redefinida por Lacan como sendo uma pulsação de gozo que insiste na repetição da cadeia significante inconsciente. O prazer e o gozo não pertencem ao mesmo registro. O prazer é uma barreira contra o gozo, que se manifesta sempre como excesso em relação ao prazer, confinando com a dor. Por conseguinte temos que o gozo se opõe ao prazer. Desta forma, enquanto o prazer visa à satisfação obtida através da diminuição das tensões do aparelho psíquico, o gozo pulsa, se dá a ver através da repetição na linguagem, se mostra excessivo em sua busca de sentido, tanto, que pode conduzir à morte. Mas qual é o sentido que o gozo busca com tamanha avidez? Grosso modo, podemos dizer que o sentido que ele busca é o sentido para aquilo que falta e que é representado pelo falo. Tornemos um pouco mais claro. Em A significação do falo, Lacan (1998, p.696) esclareceu o que é o falo: Na doutrina freudiana, o falo não é uma fantasia, caso se deva entender por isso um efeito imaginário. Tampouco é, como tal, um objeto (parcial, interno, bom, mau etc.), na medida em que esse termo tende a prezar a realidade implicada numa relação. E é menos ainda o órgão, pênis ou clitóris, que ele simboliza. E não foi sem razão que Freud extraiu-lhe a referência do simulacro que ele era para os antigos. Logo em seguida, Lacan esclareceu (1998, p.697) também sua função: “Pois o falo é um significante, um significante cuja função, na economia intra-subjetiva da análise, levanta o véu daquela que ele mantinha envolta em mistérios. Pois ele é o significado [...]”. 102 Quem é esta a que Lacan faz referência como estando envolta em mistérios? Propomos que esta é a “Mulher”, mais especificamente a Mulher enquanto Mãe, que, para a criança, se mostra como algo a ser desvendado: - Por que ela não se faz presente o tempo todo? Interroga a criança. E mais: - Para o que ela se volta? O que conquista o seu olhar? O que atrai seu interesse a ponto de fazê-la ausentar-se? A mãe interessa-se por aquilo que lhe falta, o falo. O falo tem, portanto, a função de dar significado àquilo que atrai o interesse da mãe. Além disso, não basta que a mãe apenas alterne sua presença e ausência. Como afirma Ferreira (2005, p.39), “[é] preciso que a mãe se apresente como porta-voz do Não-do-Pai”. Será isto que permitirá à criança vir a desejar. Caso a mãe se mostre sempre presente, caso tome o próprio filho como único objeto se seu desejo, caso desautorize o pai, as conseqüências serão sempre devastadoras para a criança. Se a mãe não lhe faltar em alguma medida, a criança enfrentará grande dificuldade para diferenciar-se dela e, conseqüentemente, para alcançar uma singularidade e tornar-se um sujeito de seu próprio desejo. Mas, para termos uma idéia do mistério envolvido nas ausências da mãe e que tanto incita as interrogações infantis, recorramos à exatidão da poesia: Para quem você tem olhos azuis E com a manhã remoça? E à noite, para quem Você é uma luz Debaixo da porta? No sonho de quem Você vai e vem Com os cabelos Que você solta? Que horas, me diga, que horas, me diga Que horas você volta? (“Você, você – uma canção edipiana”, Guinga – Chico Buarque, CD As cidades). Então, Lacan nos ensinou que o falo comparece para dar significado àquilo que vai e vem, que se faz presente e ausente e que, ao ausentar-se, cava a falta. Mas o que é que falta? No real, nada. No real do corpo, por exemplo, tanto aos meninos quanto às meninas, não lhes falta nada, cada um tem seu órgão genital. Mas também podemos responder a esta questão de uma outra forma dizendo que o que falta é o falo. Contudo, precisamos ter sempre em mente que o falo não é um objeto da realidade. O falo não é algo de que necessitamos. Via de regra, nossas necessidades podem ser satisfeitas e ainda assim continuamos a ter de lidar com a falta. Daí continuarmos, a vida inteira, a demandar por algo. Demandamos amor, por exemplo. Este, bem que se mostra 103 capaz de preencher a falta, mas não de forma completa, definitiva. Se assim o conseguisse, realizaríamos o ideal de dois formarem uma só carne. É em virtude destas impossibilidades que nos vemos divididos - ao mesmo tempo em que constituídos - por algo que está para além da necessidade e aquém da demanda de amor: o desejo. Como afirma Lacan (1998, p.698), “O desejo não é, portanto, nem apetite de satisfação, nem demanda de amor, mas a diferença que resulta da subtração do primeiro à segunda, o próprio fenômeno de sua fenda (Spaltung)”. Assim divididos, meninos e meninas, homens e mulheres, encontram-se submetidos ao desejo e ao gozo, os quais, mesmo estando em oposição, visam àquilo que preencheria a falta. No entanto, o percurso realizado por cada um através da via do desejo e do gozo será diferente. Por quê? Retornemos à lógica dos conjuntos35 implicada no ensino de Lacan. Se tomarmos a humanidade como um conjunto universo, não teremos dificuldade em perceber que este se mostra dividido em dois subconjuntos: o subconjunto formado por homens e o subconjunto formado por mulheres. O que caracteriza o subconjunto que pode também ser chamado de masculino é o fato de seus elementos portarem o falo. Já em relação ao subconjunto dito feminino, o que o caracteriza é o fato de seus componentes não portarem o falo. Então, o que marca a diferença entre um e outro é o falo. Este pertence ao subconjunto dito masculino. Isto implica que podemos dizer que o subconjunto masculino é um conjunto fechado. Ora, o falo, também marca a diferença em relação ao subconjunto dito feminino, mas o faz, justamente, através de sua ausência. Falta, portanto, o elemento que fecharia este conjunto. Em decorrência disto, podemos dizer que o subconjunto feminino é um conjunto aberto. Gostaríamos de chamar mais atenção para este fato do conjunto formado pelo que é feminino ser aberto: assim sendo, ele não é um conjunto finito. Como já tratamos anteriormente, sobre o que se perde no infinito, não se pode dizer tudo, mas sempre se pode descobrir algo de novo. É por isso que sobre o gozo masculino podemos falar que ele é fálico. É um gozo finito, tem começo, meio e fim. É um gozo significante, porta algum sentido e este sentido vai em direção ao desejo. Além disto, no que diz respeito ao desejo masculino, o órgão sexual se encontra bastante implicado. Desta forma, podemos afirmar com Soler (2005, p.29) que 35 A explicação que se segue nos foi fornecida por Ivan Corrêa através de comunicação oral proferida durante o seminário ocorrido em maio de 2004. 104 no corpo a corpo sexual, o desejo do homem, indicado pela ereção, é condição necessária [...]. Neste sentido, a chamada relação sexual coloca o órgão ereto do desejo masculino na posição dominante e, com isso, a mulher só pode inscrever-se nessa relação no lugar do correlato desse desejo. Não admira, portanto, que tudo o que se diz da mulher seja enunciado do ponto de vista do Outro e mais se refira a sua aparência que a seu próprio ser [...]. Também podemos ter uma idéia da diferença implicada no corpo a corpo sexual através da espirituosa reflexão do humorista Diogo Portugal36 que constata: “Homens e mulheres são diferentes. Até naquele momento da relação sexual se pode ver: as mulheres estão o tempo todo tentando ter o orgasmo enquanto os homens estão tentando não tê-lo!”. Esta observação nos parece muito feliz - no sentido de representar as repercussões da diferença sexual - e oportuna - no sentido de ensejar a distinção entre gozo sexual e orgasmo. Primeiro, nem o gozo, nem o orgasmo são inerências da conjunção carnal. O orgasmo pode ser atingido através da masturbação e o gozo pode emergir sob variadas formas, como no sintoma, por exemplo. No entanto, no que diz respeito, especificamente ao gozo sexual, este só se manifesta a partir da conjunção dos corpos. Segundo, o orgasmo emerge como ponto de culminância da satisfação. Ultrapassado determinado ponto, a tensão começa a baixar proporcionando a sensação de prazer. Somente após essa ultrapassagem do limite do princípio do prazer é que o gozo se manifesta. Terceiro, estas manifestações se dão de formas diferentes para homens e mulheres: nos homens, é a detumescência do órgão que marca a emergência do orgasmo ao qual se seguem algumas pulsações de gozo. O gozo masculino é um gozo do órgão sexual é, portanto, fálico. Sobre este Lacan (1985, p.15) faz notar que “o gozo fálico é o obstáculo pelo qual o homem não chega, eu diria, a gozar do corpo da mulher, precisamente porque o de que ele goza é do gozo do órgão”. Este tem curta duração e está vinculado ao entibiamento do órgão o que nos leva justamente a ressaltar que o gozo masculino é um gozo fora do corpo. Trata-se de um gozo subjetivo uma vez que o pênis não é um órgão que simplesmente responde a estímulos reflexos. Seu funcionamento encontra-se, antes, regulado pela fantasia (VALAS, 2001). Já no que diz respeito à mulher, sabemos que ela também participa do gozo fálico uma vez que também possui um órgão passível de incorporá-lo, o clitóris. Entretanto, para além deste, quer dizer, para além do falo, a mulher pode ter acesso a um suplemento de gozo. Este suplemento de gozo emerge no próprio corpo. Produz um desnorteamento, uma perda da 36 Este dito chistoso foi proferido por Diogo Portugal durante o programa de entrevista “Jô Soares onze e meia” emitido ao ar em 14 de julho de 2006. 105 capacidade de simbolização, pois está fora da linguagem. É indizível. Pode mesmo ser um êxtase. Segundo Lacan (1985, p.49), é um gozo que faz da mulher “não-toda, quer dizer, que a faz em algum lugar ausente de si mesma, ausente enquanto sujeito”. Neste lugar, falta o nome, não é possível nomear nada, a mulher não pode nomear a si mesma. Tampouco pode nomear seu gozo. Em alguns casos, o gozo suplementar pode conduzir até à beatitude, à contemplação de Deus, como é o caso do gozo místico (LACAN, 1985). Assim, dizemos, com Lacan (2003, p.467), que o gozo produzido durante o coito representa para a mulher que ela pode “ser ultrapassada por seu próprio gozo”. Neste momento, o gozo a divide de tal forma que ela perde-se de si mesma... e do parceiro. Faz uma travessia que a torna, como afirma Lacan (2003, p.467), “parceira de sua solidão”. É, em virtude desta divisão, que ela espera do parceiro a re-união, que ele a reconheça como única. Se voltarmos ao dito espirituoso de Diogo Portugal, poderemos então apreciar sua exatidão em representar o melhor serviço que um homem pode prestar à sua parceira: ao retardar o próprio orgasmo, o homem suscita o gozo suplementar da parceira, um gozo que não é limitado como o gozo fálico ao qual ele está restrito. Mesmo sem ter acesso a um gozo suplementar - que, por sinal, o homem também gostaria de ter -, ao retardar o orgasmo, ele suscita e ressuscita o gozo que faz de sua parceira não-toda dele. Como interroga Lacan (2003, p.467), “em que se confessaria o homem servir melhor à mulher de quem quer gozar senão para tornar seu esse gozo que não a faz toda dele; para nela o re-suscitar?”. Então, na relação sexual o que ocorre é um desencontro, uma descontinuidade, uma falha que Lacan (1985, p.17) definiu como sendo uma compacidade: “se é bem claro que a interseção de tudo que se fecha sendo admitida como existente num número infinito de conjuntos, daí resulta que a interseção implica esse número infinito. É a definição mesma da compacidade”. Isto quer dizer que, na relação sexual, entre o homem e a mulher, o que há é uma descontinuidade entre o gozo de cada um. O que determina esta falta de continuidade é aquilo que marca a interseção entre eles, isto é, o falo. O gozo do homem é fálico, o da mulher é um outro gozo. E mais, mesmo quando estamos diante de uma continuidade, a descontinuidade se faz presente. Isso pode ser apreendido se considerarmos, com a ajuda de Abbagnano (2000), a explicação de Russell sobre a noção de continuidade: O intervalo entre dois instantes quaisquer ou duas posições quaisquer é sempre finito, mas a continuidade do movimento nasce do fato de que, por mais próximas que estejam as duas posições consideradas, ou dois instantes, há uma infinidade de 106 posições ainda mais próximas, ocupadas por instantes que são igualmente mais próximos (Scientific Method in Philosophy, 1926, V; trad. Fr., p.111) (RUSSELL apud ABBAGNANO, 2000, p.202) Foi por esta ocorrência que Lacan (1985, p.16) buscou apoio no paradoxo de Zenão para ilustrar o esquema do gozo. Citamo-lo: Aquiles e a tartaruga, tal é o esquema do gozar de um lado do ser sexuado. Quando Aquiles dá um passo, estica seu lance para junto de Briseida, esta, tal como a tartaruga, adiantou-se um pouco, porque ela é não toda, não toda dele. Ainda falta. E é preciso que Aquiles dê o segundo passo, e assim por diante. [...] a tartaruga, também ela, não está preservada da fatalidade que pesa sobre Aquiles – o passo dela, também, é cada vez menor, e não chegará jamais ao limite. [...] Aquiles, é bem claro, só pode ultrapassar a tartaruga, não pode juntar-se a ela. Ele só se junta a ela na infinitude. Portanto, entre Aquiles e Briseida, entre o homem e a mulher, assim como entre dois pontos, não há continuidade. O que há entre estes é o movimento de uma infinidade de pontos. Entre o homem e a mulher o que há é um movimento infinito: travessia. Mas lembremos que a mulher - tal como o homem - também se encontra inscrita na ordem fálica, na ordem do significante, logo, na ordem da linguagem. Isto se mostra óbvio, visto que a mulher também fala, e sua fala, obviamente, busca um sentido. Contudo, apesar de a linguagem nos fornecer diversos significantes para representar o feminino, ainda assim, resta sempre algo a se dizer. Através da linguagem, podemos enumerar uma série de atributos que se prestam muito bem para caracterizar o feminino. Porém, mesmo assim, não conseguimos exauri-lo. Existe uma impossibilidade lógica de se definir o que constitui a essência do feminino: a feminilidade. Esta não pode ser dita inclusive pelas próprias mulheres. Logo, no que diz respeito ao gozo, a mulher se encontra inscrita no gozo fálico, mas também se encontra inscrita numa outra ordem, num Outro gozo, sobre o qual, por não ser fálico, não possui um significante que lhe seja específico. No campo deste Outro gozo, falta o nome, aquilo que poderia particularizar, definir, identificar. Instaura-se, portanto, uma problemática para a mulher na medida em que isto implica uma divisão, pois, como afirma Pommier (1987, p.35), a mulher tem de escolher entre o nome que a identifica e “o gozo que lhe é próprio”. Sobre a questão do gozo propriamente feminino, lembramos com Lacan (1985, p.118) que “[a] questão é, com efeito, saber no que consiste o gozo feminino, na medida em que ele não está todo ocupado com o homem, e mesmo, eu diria que, enquanto tal, não se ocupa dele de modo algum, a questão é saber o que é do seu saber”. 107 Agora, de posse destas informações fornecidas por nossos batedores, podemos retomar a travessia pelo Grande Sertão. 3. 9 Amor de ouro Dissemos que Riobaldo reencontrou o Menino. Ele se apresentou como sendo o jagunço Reinaldo. Mas, “[p]ara que referir tudo no narrar, por menos e menor? Aquele encontro [entre eles] se deu sem o razoável comum, sobrefalseado, como do que só em jornal e livro é que se lê” (GSV, p.108). Reinaldo e os outros aportaram brevemente na casa de Malinácio apenas para apanhar os animais e a munição guardada por este. Dali, partiram para o Norte. Riobaldo foi com eles. Na companhia de Reinaldo, Riobaldo aprendeu a apreciar as belezas do sertão e foi vivendo “[a]quela mandante amizade” (GSV, p.114). Ele gostava de Reinaldo, “dia mais dia, mais gostava” (GSV, p.114). Este sentimento era para Riobaldo como um feitiço: “Isso. Feito coisa-feita. Era ele estar perto de mim, e nada me faltava. [...] Era ele estar longe, e eu só nele pensava. E eu mesmo não entendia então o que aquilo era? Sei que sim. Mas não. Eu mesmo entender não queria. Acho que” (GSV, p.114). Mas como Riobaldo poderia entender? Afinal, por um lado, Reinaldo era “[a]quela meiguice, desigual que ele sabia esconder o mais de sempre” (GSV, p.114). Mas uma meiguice que, apesar de escondida, se mostrava em “[m]uitos momentos. Conforme, por exemplo, quando [Riobaldo se] lembrava daquelas mãos, do jeito como se encostavam em [seu] rosto” (GSV, p.114) quando Reinaldo cortou seu cabelo. Por outro lado, Reinaldo “sabia ser homem terrível” (GSV, p.122). Um exemplo disto foi quando ele “se fez em fúria” (GSV, p.124) ante a provocação de um jagunço conhecido como Fancho-Bode. Este, por não achar “jeito de macheza” em Reinaldo, resolveu provocá-lo chamando-o de “delicado” (GSV, p.123). Resultado: Reinaldo entrou de encontro no Fancho-Bode, arrumou mão nele, meteu um sopapo: - um safano nas queixadas e uma sobarbada – e calçou o pé, se fez em fúria. Deu com o Fancho-Bode todo no chão, e já se curvou em cima: e o punhal parou ponta diantinho da goela do dito, bem encostado no gogó, [...], para se cravar deslizado com bom apôio, e o pico em pele, de belisco, para avisar do gosto de uma boa morte (GSV, p.124). 108 Além de eventos desta natureza, precisamos destacar que entre Riobaldo e Reinaldo se deu um outro evento ainda mais intrigante. Um dia, Riobaldo sentiu-se atravessado por uma tristeza que vinha do medo e das incertezas de sua vida. Vendo-o neste estado, Reinaldo se aproximou e lhe fez uma grande revelação: Eu atravessava no meio da tristeza, o Reinaldo veio. [...] o que ele falou foi com a sucinta voz: - “Riobaldo, pois tem um particular que eu careço de contar a você, e que esconder mais não posso... Escuta: eu não me chamo Reinaldo, de verdade. Este é nome apelativo, inventado por necessidade minha, carece de você não perguntar por quê. Tenho meus fados. A vida da gente faz sete voltas – se diz. A vida nem é da gente...” [...] – “Pois então: o meu nome, verdadeiro, é Diadorim... Guarda este meu segredo. Sempre, quando sozinhos a gente estiver, é de Diadorim que você deve de me chamar, digo e peço, Riobaldo...” (GSV,p.120-121, grifos do autor). Pareceu a Riobaldo que, através desta revelação “tão singular” (GSV,p.121), Reinaldo lhe presenteava com “certezas” (GSV,p.121). Pareceu-lhe também que por isto, algo lhe pertencia: “Diadorim. Sol-se-pôr, saímos e tocamos dali, para o Canabrava e o Barra. Aquele dia fora meu, me pertencia” (GSV, p.121). Então indagamos: o que pertencera a Riobaldo, o dia ou Diadorim? Ao refletir sobre o que lhe foi dado, Riobaldo se perguntou - “Que é que é um nome?” (GSV, p.121) e, logo em seguida, muito acertadamente, ele mesmo respondeu: “Nome não dá: nome recebe” (GSV, p.121). De fato, o nome nos vem de outros, geralmente, de nossos pais. Quando tentamos nos identificar a este nome que nos foi dado, na verdade não recebemos, damos. Ou melhor, nos confrontamos é com o desejo do Outro, um desejo capaz de prescrever nosso destino. E, realmente, Diadorim nos disse que tinha seus “fados”, que cumpria um decreto de destino, mas qual seria este vaticínio e quem o teria determinado? Por hora, precisamos deixar esta interrogação em aberto. No entanto, já podemos refletir que se Reinaldo não é um nome verdadeiro, encontramos aí algo com uma falsificação. Isto é endossado pelo próprio Diadorim ao afirmar que Reinaldo é “nome apelativo”, quer dizer que denomina, mas, ao mesmo tempo, implica em alguma transgressão, pois, apelativo é também aquilo que chama atenção por recorrer a meios excessivos. É um nome inventado e sobre o qual não se pode perguntar “por quê”. Logo, trata-se de uma falsificação que envolve um segredo. No entanto, este nome falso é divulgado, usado no meio jagunço. Portanto, Reinaldo é um nome de guerra. 109 Mas atentemos para um fato ainda mais curioso: Diadorim é tido pelo próprio personagem como sendo seu nome “verdadeiro”. Ora, sabemos que o nome de batismo, o nome dado a Diadorim por seus pais, é outro, é Maria Deodorina da Fé Bettancourt Marins. Sob esta perspectiva, nos deparamos com mais uma complicação: quem teria escolhido o nome Diadorim? Tudo nos leva a crer que tenha sido o próprio Diadorim. E mais, foi exatamente isto que, pela revelação, ele deu a Riobaldo: seu nome próprio. À frente esclareceremos por quê. Agora, perguntamos com Lacan (2003, p.95): “O que é o nome próprio?”. Para ele, o nome designa um traço especial e uma função na linguagem que é justamente a de nomear. Por esta função foi que Lacan (2003, p.109) definiu o nascimento do sujeito: “o sujeito é o que se nomeia”. Este sujeito que se nomeia designa, portanto, uma diferença absoluta (LACAN, 2005). Propomos que, ao nomearse Diadorim, assistimos ao nascimento de um sujeito em toda a sua singularidade. Um sujeito inusitado, não dito nem ditado por outros. Sabemos que o nome Reinaldo surgiu em substituição ao nome Maria Deodorina. Foi-nos esclarecido que esta substituição decorreu de uma necessidade. Então cabe agora perguntar: E o nome Diadorim, em decorrência de que este teria surgido? Por que, novamente, Maria Deodorina teria seu nome próprio substituído, mudado? É interessante notar as hipóteses levantadas por Riobaldo sobre as razões que Diadorim teria para manter este seu nome encoberto pelo nome de guerra Reinaldo: “Caso de algum crime arrependido, fosse, fuga de alguma outra parte; ou devoção a um santo-forte” (GSV, p.121). Transgressão ou devoção? Não se sabe. Porém, o fato de Diadorim “querer que só [Riobaldo] soubesse, e que só [ele] esse nome verdadeiro pronunciasse” (GSV, p.121) demonstra a Riobaldo - e a nós – o valor desta revelação: “Amizade nossa ele não queria acontecida simples, no comum, sem encalço. A amizade dele, ele me dava. E amizade dada é amor” (GSV, p.121). Logo, a amizade dada a Riobaldo não se queria sem encalço, sem pista, sem pegada. Ela revela uma verdade sobre Diadorim ao desvelar a falsidade do nome Reinaldo, contudo, ainda deixa rastros que velam algo. Rastros de quê? Segundo percebemos, rastros de outras verdades. Da verdade do amor, por exemplo. De amor, sem dúvida. Mas que tipo de amor? O amor da amizade? Aquele que segundo Julien 110 (1996, p.128) reduz “o Outro em sua alteridade ao semelhante, tomando-o por sua alma, por sua própria psyché”? Podemos dizer que, até certo ponto, a revelação do nome Diadorim permitiu a Riobaldo guiar-se por este amor que é amizade e sobre o qual, ainda com Julien (1996, p.129), podemos dizer que “é o amor da alma, compartilhamento desse egoísmo virtuoso em que cada um ama seu semelhante como ama a si mesmo... e rejeita o dessemelhante!”. Este é um amor que visa à igualdade, rejeita a diferença, rejeita o héteros. É um amor que visa ao homólogo. Mas, para além disso, podemos também dizer que ao revelar seu nome secreto, Diadorim deu a Riobaldo a possibilidade da relação entre eles vir a se guiar por um outro tipo de amor. Um amor no qual o nome secreto participa enquanto uma estratégia. Referimo-nos ao amor cortês. Sobre este, Lacan (1985, p.115) comenta: “O amor cortês brilhou na história como um meteoro [...]. O amor cortês restou enigmático”. Ao seguir por esta via, podemos dizer que Diadorim revelou e ofereceu a Riobaldo uma estratégia. De acordo com Porge (1998, p.20), lembramos que [a] estratégia do nome escondido ou secreto governa também a relação do amante com seu objeto de amor, em nome do objeto de amor que lhe é próprio. Isto foi elevado ao estado de regra na poesia cortesã. Como diz J. Roubaud: “Não é somente porque deve ser escondido que o nome da dama é secreto. Ele o é porque o nome secreto é mais revelador que o próprio nome da verdade da dama, por seu ser único. [...] o “senhal” [nome secreto] é um dos nomes do amor. Ele diz, quando é escolhido por um mestre trovador, ao mesmo tempo a essência da dama concreta e a essência da canção que a canta. Ele tende à evidência rígida do concreto e ao universal da qualidade que nomeia”. Há um laço entre a forma do canto e o nome próprio, que é característico do “canso” [cantar-d’amico]. Ao escolher seu nome verdadeiro, Diadorim portou-se como um mestre trovador e ofereceu a Riobaldo uma estratégia que poderia ter viabilizado seu acesso às essências. Deu-lhe o “senhal”, deu-lhe a chave do enigma, deu-lhe a senha. Até certo ponto do romance parece-nos possível seguir o rastro deste amor cortês estimulado por Diadorim. Não foi mesmo ele - o “Diadorim belo feroz! Ah, ele conhecia os caminhares” (GSV, p.65) - que reavivou em Riobaldo seu antigo gosto pela canção de Siruiz37, o jagunço trovador que “cantava cousas que a sombra delas [no coração de Riobaldo] decerto já estava” (GSV, p.136)? 37 Siruiz foi o jagunço que inspirou em Riobaldo o gosto pelas canções. Ele cantava “palavras diversas” (GSV, p.93). Riobaldo sempre lembrava de uma, em especial, a canção que para ele soava como “a toada 111 E mais, podemos ter a ingenuidade de pensar que estas mudanças de nome sejam sem conseqüências para o próprio Diadorim? Como nos lembra Porge (1998, p.10), [a] experiência está aí para nos lembrar de que toda modificação que fira a literalidade do nome próprio (desde a mudança de nome, de prenome, até a mudança de uma letra) inscreve-se na história do sujeito e traz conseqüências que podem se refletir sobre várias gerações. Por isso, para termos uma idéia sobre a amplitude destas conseqüências, examinemos as origens dos nomes que compõem a estória desta que nasceu Maria Deodorina da Fé Bettancourt Marins. Que recebeu, portanto, como afirma Utéza (1994, p.365) um nome iluminado pelo Espírito e cercado pelas águas e terras de referências ao feminino: [...] do lado da Água: Maria, Marins, e do lado da Terra: Bettancourt, onde se encontra a raiz francesa court, isto é, cercado, jardim – enquadram o núcleo luminoso Deodorina da Fé, cuja etimologia revela o Espírito Santo [...]. O que equivale a interpretar seu prenome a partir do grego Deo Doron: dom de Deus e votado a Deus, expressão que é aplicada ao Espírito Santo no Veni Creator, nos atos dos apóstolos [...] ou ainda no Evangelho de Lucas [...], e que qualifica a Sabedoria [...]. Esta Maria destinada, votada a Deus, mudou de nome, porém manteve a majestade e continuou conduzindo a um saber: metamorfoseou-se em Reinaldo, que, segundo Bolle (2004, p.200), designa o “o rei que conduz”. Este rei conduziu Riobaldo e a nós mesmos por inúmeros caminhos. Conduziu-nos ao Diadorim, ao “Diá, Di” (GSV, p.445). Conduziu-nos pela claridade do dia e pela obscuridade do diabo “feito um mau amor oculto” (GSV, p.65). Guiou-nos pelo “Sertão: [que] é dentro da gente” (GSV, p.235). Fez-nos atravessar o “escampo dos infernos” (GSV, p.29), um lugar que “concebia silêncio” (GSV, p.42). E, se “o ódio - é a gente se lembrar do que não deve-de; amor é a gente querendo achar o que é da gente’ (GSV, p.273), o fato é que, por um lado, “Diadorim queria sangues fora de veias”. Mas, por outro, “era boca de amor” (GSV, p.380). Sabia cuidar de Riobaldo: lavava suas roupas, pois “praticava com mais jeito, mão melhor” (GSV, p.30). Sabia presenteá-lo, tratá-lo e desanuviar-lhe o toda estranha” (GSV, p.93): Urubú é vila alta,/ mais idosa do sertão:/padroeira, minha vida - / vim de lá, volto mais não.../Vim de lá volto mais não?Corro os dias nesses verdes,/ meu boi mocho baetão:/ burutí – água azulada,/ carnaúba – sal do chão.../ Remanso de rio largo,/ viola da solidão:/ quando vou p’ra dar batalha,/ convido meu coração... (GSV, p.93). 112 pensamento: “[...] doutras viagens, me deu outros presentes: camisa de riscado fino, lenço e par de meia, essas coisas todas. [...] até hoje sou homem tratado. Pessoa limpa, pensa limpo. Eu acho” (GSV, p.113). Sabia curar seus ferimentos: “Retém as forças, Riobaldo. Vou campear remédio, nesses matos...- Diadorim falou” (GSV, p.244). Destas, e de muitas outras formas, foi que Diadorim soube nos guiar em belas “Travessias... Diadorim, os rios verdes” (GSV, p.235), “Dindurinh’... Boa apelidação... Falava feito fosse um pássaro” (GSV, p.429) e cantava, “cantarolava, fio que com boa voz” (GSV, p.186). Um Diadorim que também dançava - que era “pé de salão” (GSV, p.135) - e “raiava, o todo alegre, às quase danças” (GSV, p.194). Diadorim, dia d’ouro... Brilhava como o dia de um “amor de ouro” (GSV, p.42)... 3. 10 Amor de prata, outros amores e outros casos Aconteceu ainda de Riobaldo ter a oportunidade de provar de “outra água” (GSV, p.42). Um dia, tendo aportado na Fazenda Santa Catarina, conheceu uma moça chamada Otacília. “[Airou-se nela], como a denguice de uma música” (GSV, p.42). Otacília lhe inspirou a pensar nuns versos que falavam em olhos, “[m]as os olhos verdes sendo os de Diadorim” (GSV, p.42). Aí restou Riobaldo entre dois amores: “Meu amor de prata e meu amor de ouro” (GSV, p.42). Riobaldo levou a vida a comparar estes dois amores. E, convicto, perguntava: “Todo amor não é uma espécie de comparação?” (GSV, p.122). Mas como foi que este amor por Otacília se lhe despontou? Chegados à Fazenda Santa Catarina, Riobaldo [divulgou], qual que uma luz de candeia mal deixava, a doçura de uma moça, no enquadro da janela, lá dentro. Moça de carinha redonda, entre compridos cabelos. E, o que mais foi, foi um sorriso. Isso chegasse? Às vezes chega, às vezes” (GSV, p.122). Esta paixão por Otacília lhe parecia oportuna ainda mais que ao comparar seus amores, Riobaldo constatou que Diadorim gostava dele “com a alma [pois ele, Diadorim] sabia ser homem terrível” (GSV, p.122). Nestes momentos, Riobaldo lançava mão do amor enquanto amizade, enquanto amor da alma, a tranqüilizadora philia. 113 Sobre o retorno da philia na modernidade através de sua aplicação no amor conjugal, Julien (1996, p.130), comenta: Contenção na sexualidade, moderação nos sentimentos, serenidade na ternura e cuidado com o interesse pessoal definem o laço conjugal, bem mais que o amor-paixão, que, muito pelo contrário, põe todo mundo na dependência do outro e expõe à decepção, ao pedir ao outro o que ele não pode dar. Contudo, paradoxalmente, nos amores de Riobaldo postos em comparação, o que percebemos é sua paixão por Otacília se transmutar em philia38, e o amor da alma por Diadorim crescer como um vertiginoso amor-paixão, pois, Diadorim, “[e]le era irrevogável” (GSV, p.141). Foi assim que Riobaldo, em meio aos sofrimentos de uma penosa travessia, a travessia do Liso Sussuarão, fez um juramento: “No escaldado... “Saio daqui com vida, deserteio de jaguncismo, vou e me caso com Otacília” – eu jurei, do proposto de meus todos sofrimentos” (GSV, p.43). Riobaldo saiu com vida, mas ainda não foi desta vez que cumpriu sua jura: não desertou, nem desposou Otacília. Riobaldo - aquele que é um rio carente, desprovido de algo, um rio falho -, ele sempre foi também “um fugidor” (GSV, p.142). Apesar de várias vezes pensar em desertar, a verdade é que nunca o fez, pois ele tanto fugia “que [fugiu] até da precisão de fuga” (GSV, p.142). Quanto à jura de casar-se com Otacília, esta ele cumpriu, mas só depois, “quando deu o verde nos campos” (GSV, p.457). Antes, ele teve de realizar outras travessias e, principalmente, a travessia maior. Por estas travessias, Riobaldo um dia fez paragem na “Aroeirinha” (GSV, p.28). Desta vez quem ele viu destacada pela moldura, não de uma janela, mas de um portal, foi Nhorinhá, “mulher moça, vestida de vermelho, se ria” (GSV, p.28). Diante desta pintura em encarnado, Riobaldo “nem tinha começado a conversar com aquela moça, e a poeira forte que deu no ar ajuntou [os dois], num grosso rojo avermelhado” (GSV, p.28). Aí neste arrojar-se Nhorinhá recebeu de Riobaldo o “carinho no cetim do pêlo – alegria que foi, feito casamento, esponsal” (GSV, p.28). 38 Ainda sobre a philia, citamos Julien (1996, p.120-130): “Aristóteles mostrou isso admiravelmente em suas páginas sobre a philia na Ética a Nicômaco, especialmente no livro IX, capítulo 4: “O homem de bem está com seu amigo numa relação semelhante à que mantém consigo mesmo, pois o amigo é um outro de si mesmo” (1166 a 31). [...] Em todos os casos, o amor ao outro (a philia) e o amor-próprio (a philautia) estão ligados, na medida em que “as diversas amizades realmente parecem derivar das relações que são mantidas consigo mesmo” (1166a2), isto é, desse cuidado consigo que é a arte de viver na sabedoria e no justo uso dos prazeres compartilhados”. 114 Nhorinhá era “nhô” e “nhá”. Era ioiô e iaiá39. Ioiô é senhor, senhora, mas também é brinquedo que seguro apenas por um fio, vai e vem escapando das mãos. Iaiá é moça. Nhorinhá era moça de se brincar, era para o afago de várias mãos, “era meretriz [...] para os homens de fora do lugarejo, jagunços, tropeiros” (GSV, p.29). Riobaldo gostou de Nhorinhá só o “trivial momento” (GSV, p. 78), no entanto - quando já casado, tendo se passado oito anos, enfim lhe chegou às mãos uma carta de Nhorinhá escrita logo depois do trivial momento deles dois -, Riobaldo viu então que “[...] estava gostando dela, de grande amor em lavaredas; mas gostando em todo tempo, até daquele tempo pequeno em que com ela [esteve]” (GSV, p.78). É que Riobaldo achava que “[b]om, quando há leal, é amor de militriz” (GSV, p.397). Assim, em suas travessias e travessuras, conheceu mais duas: Maria-daLuz e Hortência. Elas “não se comparavam com Nhorinhá, não davam nem para lavar os pés dela. [...], porém, beleza a elas também não faltava [...]” (GSV, p.397). Com estas, “[n]o meio delas duas, juntamente, [ele descobriu] que até mesmo [seu] corpo tinha duros e macios. Aí eu era jacaré, fui, seja o que sei” (GSV, p.398) - comentou Riobaldo. O encontro dele com as prostitutas lésbicas “que, nas horas vagas, no lambarar, as duas viviam amigadas, uma com a outra” (GSV, p.400), nos remete a um tema bastante pertinente: a bissexualidade. Porém, sem nos aprofundarmos, podemos dizer que para a psicanálise o termo bissexualidade designa uma determinação psíquica inconsciente na medida em que, frente à diferença sexual, o sujeito deverá proceder a uma escolha. Esta escolha sexual se dará ou pelo recalque de um dos dois componentes da sexualidade - masculino ou feminino -, ou pela aceitação dos dois, como é o caso das práticas bissexuais, ou ainda pela renegação da realidade da diferença sexual (ROUDINESCO e PLON, 1998). Chamamos atenção para este encontro, apenas pela possibilidade de ele ilustrar com grande precisão como na vida adulta pode se dar a reatualização deste processo de escolha: Mesmo se sabendo como um “jacaré”, quer dizer, um indivíduo paquerador, coisa que de fato Riobaldo o era, reza a crendice popular que “homem com homem é lobisomem e mulher com mulher é jacaré”. Ora, seguida a descrição da cena de amor a três, Riobaldo foi solicitado a atender o chamado de seu guarda-costas Felisberto que vigiava a casa das “mulheres-damas” (GSV, p.397). Como Riobaldo 39 Segundo o Dicionário eletrônico Houaiss da língua portuguesa, versão 2001, ‘nhô’ e ‘nhá’ têm como respectivos sinônimos: ‘ioiô’ e ‘iaiá’. 115 estava “perfeito descomposto nú” (GSV, p.398) uma das mulheres lhe trouxe uma das roupas dela para que ele amarrasse à cintura, “tapando as partes” (GSV, p.399). Ao fazê-lo, Riobaldo, o “jacaré”, experimentou a possibilidade de freqüentar a posição feminina e, súbito, reafirmar sua escolha: Experimentei. Daí, entendi o desplante, me brabeei, com um repelão arredei a mulher, e desatei aquilo, joguei longe. Tornei a vestir minhas roupas, botei até jaleco. Elas melhor me riam. Eu era algum saranga? Eu podia dar bofetadas – não fosse a só beleza e a denguice delas, e a estrôina alegria mesma, que meio me encantava (GSV, p.399). Então, era assim, a leviandade da alegria das mulheres encantava Riobaldo. No entanto, num “repelão” ele afastou a mulher. Qual? A que lhe cedera as roupas ou a que ele mesmo incorporara? Além do mais, o tema da possibilidade de mudança entre as posições feminina e masculina não lhe era desconhecido. Tanto que um dia, ao atravessar “o miolo mau do sertão, era o sol em vazios” (GSV, p.40), enfrentando sede, cansaço e uma tonteira que “provinha de excessos de idéia” (GSV, p.41), Riobaldo - quando pode descansar - “teve uma sonhice: Diadorim passando por debaixo de um arco-íris. Ah, eu pudesse mesmo gostar dele – os gostares...” (GSV, p.41). Sabemos que o sonho é a realização de um desejo. Ao sonhar com Diadorim passando por debaixo do arco-íris, realizava-se, então, o desejo de Riobaldo de que Diadorim deixasse de ser homem e passasse a ser uma mulher. Por aí se abriria, então, a possibilidade de ele poder gostar de Diadorim. Segundo o Dicionário do Folclore Brasileiro de Câmara Cascudo, citado por Utéza (1994, p.88), sabe-se que “quem passa por debaixo do arco-íris muda de sexo e o recobrará, se o repassar em sentido contrário”. O sonho viabilizava, por conseguinte, uma solução para que Riobaldo se permitisse gostar de Diadorim. Neste caso, seria preciso que cada um deles se fixasse em lados opostos do arco-íris. Ora, não é isto que acontece geralmente. Tanto homens quanto mulheres podem vir a freqüentar cada uma das duas posições, masculina e feminina. Diadorim é o exemplo mor. Riobaldo também. Mesmo que por um lapso de tempo, não lhe foi possível vestir-se de mulher? E mais, em relação a Diadorim - mesmo sendo “guapo tão aposto – surgido sempre com o jaleco, que ele tirava nunca, e com as calças de vaqueiro, em couro de veado macho, curtido com aroeira-brava e campestre” (GSV, p.135) -, mesmo com toda 116 esta elegância guerreira, talvez, ainda assim, possamos imaginar, como sugere poeticamente Hollanda (1989, p.211) que “A menina que passou o arco era o menino que passou no arco e vai virar menina, imagina”. Assim, na presença-ausência do arcoíris - por sua evanescência -, a própria evanescência do falo... imagina! Voltando-nos para Riobaldo, podemos afirmar que ele percorreu muitos amores, dentre os quais ele próprio destacou três: “Otacília, era como se para mim ela estivesse no camarim do Santíssimo [...]. Nhorinhá puta bela. [...] Diadorim – eu adivinhava. Sonhei mal?” (GSV, p.236). Acreditamos que não. Riobaldo, o “jacaré”, o paquerador, se não foi um Don Juan, de certa forma, sonhou e se empenhou, tanto quanto este, em adivinhar uma resposta para o que é uma mulher. A diferença entre eles foi que Riobaldo esmerou-se em suas intermináveis elucubrações, enquanto Don Juan, não interrogava: simplesmente tentava alcançar a Mulher, aquela que ele desejava suscetível de apreender completamente. Sobre o mito de Don Juan, podemos dizer que ele persegue a Mulher, percorrendo, numa velocidade alucinante, o infinito que se abre entre aquilo que marca a diferença da posição masculina, da posição feminina. Ele tenta apreender a marca evanescente desta diferença, o falo. Tenta corrigir qualquer falha, busca o compacto. Porém, como já falamos, o compacto é constituído por uma infinidade de pontos, a compacidade. É por isso que não é possível alcançar a Mulher. Pode-se ter acesso apenas a uma mulher. E, como ressalta Lacan (1992, p.117), “já é muito dar conta de uma”. Mas, para Don Juan, foi uma após outra e outras tantas. Até mil e três – ou mais. Desta forma, ao percorrer o infinito, pela infinidade de mulheres que seduz, ele desafia o limite, a lei, pois Don Juan visa à completude, ao gozo absoluto. E sabemos que no final ele alcança este gozo absoluto. Contudo, aí ele não encontra a completude da mulher, mas a morte. Retornemos a Riobaldo. Dissemos que ele se interrogava sobre as mulheres. Afirmamos isto por notarmos seu empenho em relatar vários casos. Apresentaremos dois destes com exemplo. Um, é o caso da moça do Barreiro-Novo: essa desistiu um dia de comer e só bebendo por dia três gotas de água de pia benta, em redor dela começaram milagres. Mas o delegado-regional chegou, trouxe os praças, determinou o desbando do povo, baldearam a moça para o hospício de dôidos, na capital, diz até que lá ela foi cativa de comer, por armagem de sonda. Tinham o direito? Estava certo? (GSV, p.48). 117 A moça do Barreiro-Novo era uma moça que sabia o que queria: ela queria “só o Céu” (GSV, p.48). E sobre os procedimentos tomados em relação a ela, chega a causar espanto a atualidade das interrogações de Riobaldo40. Outro, é o caso de Maria Mutema. Ela era uma “senhora vivida, mulher em preceito sertanejo” (GSV, p.170). Uma madrugada, seu marido amanheceu morto. Deste então Maria Mutema passou a freqüentar diariamente a igreja e a confessar-se de três em três dias com o Padre Ponte. Este, um “vigário de mão cheia, cumpridor e caridoso” (GSV, p.171), tinha uma pecha: “ele relaxava” (GSV, p.170). Tivera três filhos com sua governanta que passou a ser conhecida como Maria do Padre. As freqüentes confissões de Maria Mutema acabaram por adoecer o Padre Ponte até a morte. Os anos se passaram. Ela não voltou mais à igreja. Porém, durante uma missa celebrada por um novo missionário, Maria Mutema reapareceu. Ao vê-la entrar, o missionário a expulsou bradando que ela confessasse seus crimes. Ela, então, confessou chorando que, “sem motivo nenhum” (GSV, p.173), havia matado o marido derramando-lhe chumbo derretido no ouvido enquanto dormia. Reconheceu também que havia levado o Padre Ponte à morte, pois lhe dizia em confissão que matara o marido por que gostava do padre “em fogo de amores, e queria ser concubina amásia...” (GSV, p.173). Disse ainda que tinha mentido sobre este sentimento pelo padre. Não gostava dele, mas sentia prazer em atormentá-lo. Maria Mutema foi presa. Logo depois, profundamente arrependida, ela mesma suplicava por castigo. Passados alguns dias o povo, a Maria do Padre e os meninos da Maria do Padre, todos, perdoaram Maria Mutema e chegaram mesmo a achar que ela “estava ficando santa” (GSV, p.174). O soturno caso de Maria Mutema nos leva a interrogar e sugerir algumas respostas: seria realmente tão sem motivo o crime que ela praticara contra o marido? E por que deste gosto em atormentar o padre com uma paixão fictícia? Convenhamos que o Padre Ponte fazia uma ligação entre a piedade e os apelos da carne. O padre era um pai que relaxava, pecava. Talvez, Maria Mutema tenha despejado no ouvido do marido o peso de chumbo de uma vida a seu lado. Talvez não erremos ao afirmar que ela não gostava do homem. Depois, talvez sua intenção tenha sido a de soprar no ouvido do 40 Fazemos este comentário a partir de nossa experiência, pois certa vez, chegou a nosso conhecimento a conduta de algumas pessoas que ofereceram um presente aos familiares pobres de uma adolescente anoréxica a fim de que estes a convencessem a realizar tratamento hospitalar. O presente sendo, ironicamente, uma geladeira! 118 padre o peso dos pecados deste, queimando-o até a morte. Talvez, as confissões de Maria Mutema possam ser entendidas como um desafio ao padre, ao pai. Talvez, para Maria Mutema, as coisas se misturassem: padre – ou seja, pai - e marido, todos pecadores, todos abomináveis por seus atos. Não sabemos ao certo. Esta é apenas uma interpretação. Muitas outras podem se apresentar. Contudo, as histórias de tantas mulheres que atravessaram a vida de Riobaldo – assim como as histórias de tantas mulheres relatadas por Freud em seus estudos de caso, alguns dos quais fizemos referência anteriormente41 - nos servem para apreciar o entrelaçamento das questões sobre a santa, a puta, as lésbicas, a anoréxica e a perversa, com as questões sobre o pai. Acreditamos que estes questionamentos inauguraram-se para Riobaldo através de sua própria mãe, a Bigri. Segundo Bolle (2004), por este nome “repercute a estrutura consonantal de bugre, [...]. Parece que nas veias de Riobaldo corre certa dose de “sangue de gentio” (GSV, p.20), de “raça de bugre” (GSV, p.20), raça considerada pelos europeus como sodomita. Além disto, ela, a Bigri, era devota do “Santo Senhor Bom-Jesus da Lapa” (GSV, p. 80), ela era “por [Riobaldo]” (GSV, p. 86). Ela era, também, uma amásia pobre de Selorico Mendes, fazendeiro “rico e somítico” (GSV, p.87), homem “muito medroso. [...] tinha sido valente, se gabava, goga” (GSV, p.88). Este era o pai de Riobaldo, um pai cheio de faltas, um pai sem glórias. Além deste, Riobaldo conheceu outros pais na travessia do Grande Sertão. Já sabemos da profusão de referências a chefes valorosos e ao chefe maior - o glorioso Joca Ramiro. Sabemos ainda da inquietação de Riobaldo em relação ao pai supremo, ao demo e ao Deus Pai. Sendo assim, suas perquirições dirigidas a tantas mulheres santas e putas; aos chefes jagunços; à existência, ou não, do Diabo; e aos procedimentos de Deus, nos levam a crer que Riobaldo buscava aprofundar seu conhecimento, buscava certa mestria. Inclusive tivemos oportunidade de vê-lo prestar-se ao serviço de ensinar quando foi convocado a ocupar a posição de professor de um de seus futuros mestres, Zé Bebêlo. Contudo – parece-nos - a mestria de Riobaldo foi uma mestria advertida, 41 Concordamos plenamente com a indicação dada pela Profª Drª Nadiá Paulo Ferreira durante o Exame Geral de Conhecimento - realizado em 22 de setembro de 2006 -, de que a “articulação entre as mulheres de Freud (Dora, Sra. K, a Jovem homossexual, a paranóica crônica, Emmy von N.) e as mulheres do Grande Sertão dariam panos para manga”. Na verdade, tivemos mesmo a intenção de sinalizar esta possibilidade. No entanto, considerando a extensão desta pesquisa, vimo-nos na contingência de adiar tal percurso. 119 pois ele sabia que “Mestre não é quem sempre ensina, mas quem de repente aprende” (GSV, p.235). Foi a partir disto que ele insistiu – na forma do querer e requerer - em compor uma trajetória, um traçado capaz de dar a ver a diferença entre conhecer e saber. Fez um apanhado de seu conhecimento sobre outros e concluiu que este lhe propiciava um não-saber sobre si mesmo: Medeiro Vaz reinou, depois [...] morreu em pedra. [...] Zé Bebelo me alumiou. [...] Joca Ramiro, tão diverso e reinante, era como se já estivesse constando falecido. [...] Sô Candelário se desesperou por forma. Meu coração é que entende, ajuda minha idéia a requerer e traçar. Ao que Joca Ramiro pousou que se desfez, enterrado no meio dos carnaùbais, em chão arenoso salgado. [...]. Diadorim me veio, de meu não-saber e querer (GSV, p.235-236). Portanto, de um pai desfeito, morto e enterrado, de um querer sem saber, ou melhor, de um não-saber que ainda assim insiste em querer, lhe veio Diadorim. E Diadorim, o que queria? Feita esta indagação, consideramos que, enfim, nos aproximamos do cruzamento entre os caminhos do pai com as veredas para a feminilidade de uma filha. Será neste sentido que caminharemos a partir de agora. 120 IV UMA MULHER 4. 1 Introdução Deixamos explícita nossa hipótese de que no Grande Sertão as questões sobre a feminilidade de uma filha giram em torno da questão sobre a função do pai. Cabe-nos agora verificá-la. Neste intento, julgamos necessário relembrar que partimos da idéia de que a problemática sobre o pai compõe o centro do redemoinho narrativo. Exerce, portanto, uma força centrípeta capaz de atrair, para o ponto central do romance, - qual seja o relato do assassinato do pai - quase todas as outras interrogações feitas pelo narrador. Evidentemente, dentre estas, prepondera nosso interesse pelas interrogações sobre o instigante Diadorim. Tomamos como apoio a esta nossa decisão de retornar aos eventos centrais do romance o fato de aí nos ser revelado o parentesco existente entre Diadorim e Joca Ramiro. É também a partir deste ponto que o destino de Diadorim se mostra expressamente vinculado ao encargo de vingar o assassinato daquele. Assim, para resumir, consideramos que nossa tarefa, neste capítulo, consiste exatamente em verificar as seguintes possibilidades: Ou Diadorim levou às últimas conseqüências a obrigação de vingar a morte de Joca Ramiro e com isso se manteve preso a este desígnio, por não conseguir superar os obstáculos que se interpuseram impedindo seu acesso a um destino que lhe fosse próprio; ou Diadorim conseguiu superar este desígnio de vingança e realizou uma travessia em conformidade com suas próprias determinações. Sendo assim, no que diz respeito à primeira possibilidade, cabe-nos apenas averiguar de que maneira a morte de Joca Ramiro se constituiu como evento suficiente para impedir Diadorim de seguir a singularidade de seu desejo. Já em relação à segunda suposição, teremos de verificar até que ponto se estendeu a relevância da morte de Joca Ramiro sobre a vida de Diadorim, além de termos ainda que apurar se algum outro evento contribuiu no sentido de favorecer sua caminhada rumo a um destino sui generis. 121 À primeira vista, estas duas possibilidades são mutuamente excludentes. Neste caso, para chegarmos ao ponto de exclusão de uma delas, precisaremos antes buscar um entendimento razoável sobre cada uma. Por isso, procuraremos identificar as precedências do vínculo construído entre Diadorim e Joca Ramiro. Feito isto, é possível que nos surja um complicador inesperado: é possível que as hipóteses acima levantadas não sejam apenas excludentes. Devemos, então, contar com a possibilidade de elas serem, ao mesmo tempo, exclusivas e inclusivas. Neste caso, e por considerar de antemão que esta possibilidade deve ser apreciada com cuidado, refazemos agora mesmo nossa formulação: Será que a relação entre Joca Ramiro e Diadorim excluiu - até certo ponto - a possibilidade de este último escolher as veredas que desejaria percorrer de tal forma que - a partir deste mesmo ponto - tenha sido justamente esta relação que incluiu, ou seja, que implicou na escolha singular de Diadorim? Voltemos então ao momento retentivo em que foi anunciado: - “Mataram Joca Ramiro!...” (GSV, p.224). Este momento, sendo o do referido fundo da questão, foi aquele em que “[a]í estralasse tudo” (GSV, p.224) e no qual, pelo meio, se ouviu o “uivo dôido de Diadorim” (GSV, p.224). 4. 2 “um feio dia” Quando tudo estralou com a notícia do assassinato de Joca Ramiro, Diadorim “[c]aiu, tão pálido como cera do reino, feito um morto estava” (GSV, p.225). Assim, tendo adquirido a cor de cera dos três reinos42 - mineral, vegetal e animal -, Diadorim assumiu a coloração de tudo e depois amorteceu. Quando voltou a si, “[n]ão quis apôio de ninguém, sozinho se sentou, se levantou. Recobrou as cores, e em mais vermelho o rosto, numa fúria, de pancada. Assaz que os belos olhos dele formavam lágrimas” (GSV, p.225). Depois desta quase defunção, Diadorim, ressuscitado, teve um pensamento aflito: “- “E enterraram o corpo?” – Diadorim perguntou, numa voz de mais dor, como saía ansiada” (GSV, p.226). Porém, com a resposta de que não se sabia se Joca Ramiro tivera sepultura, Diadorim tornou a empalidecer, tomou cachaça e falou sobre a 42 Segundo o Dicionário eletrônico Houaiss da língua portuguesa, a cera dos três reinos é uma mistura de parafina (hidrocarboneto de origem mineral) com ceras de carnaúba (vegetal) e de abelhas (animal). 122 ruindade humana de um “modo que parecia ele não fosse jagunço, como era de se ser” (GSV, p.227). De fato veremos que ele não o era. Diadorim “fervia ali assim no pego do parado” (GSV, p.227), “engulia palavras” (GSV, p.227) e foi tomado por uma outra preocupação: - “De tudo nesta vida a gente esquece, Riobaldo. Você acha então que vão logo olvidar a honra dele?” (GSV, p.227). Diadorim viveu então, a “misturação de carinho e raiva” (GSV, p.227) num desespero que nunca se viu. Andou “sem governar os passos” (GSV, p.227) até que Riobaldo o avistou “no chão, deitado de bruços. Soluçava e mordia o capim do campo. A doideira” (GSV, p.227). Foi ao ver Diadorim neste estado de profunda tribulação que Riobaldo amargurado pelo sofrimento que esmagava o amigo - perguntou: - “Joca Ramiro era seu parente, Diadorim?” (GSV, p.227) Ao que ele respondeu “com uma voz de pouco corpo” (GSV, p.227): - “Ah, era, sim...” (GSV, p.227). Joca Ramiro era pai de Diadorim. Contudo, ainda não foi em meio ao intenso padecimento que ele revelou a Riobaldo o grau de seu parentesco com Joca Ramiro. Isto se deu depois, quando os jagunços partiram para “a outra guerra” (GSV, p.226), a da vingança da morte do pai. Partiram movidos pela “[...] tristeza em cru – sem se saber por que, mas que era de todos, unidos malaventurados” (GSV, p.225). Partiram sob o comando de Medeiro Vaz que “era homem de outras idades” (GSV, p.30) e que “só guardava memória de um amigo: Joca Ramiro. Joca Ramiro tinha sido a admiração grave da vida dele: Deus no Céu e Joca Ramiro na outra banda do Rio” (GSV, p.30). Assim é que são as coisas no Grande Sertão: “a gente quer passar um rio a nado, e passa; mas vai dar na outra banda é num ponto mais em baixo, bem diverso do em que primeiro se pensou. Viver nem não é muito perigoso?” (GSV, p.30). É. Perigoso, e surpreendente, em suas torções. Tanto que não foi no calor do sofrimento pela morte de seu pai que Diadorim, tão desfalecido, fraquejou revelando sua filiação. A revelação sucedeu no ardor do ciúme, este que “é mais custoso de se sopitar do que o amor” (GSV, p.30). No dia seguinte à morte de Joca Ramiro, Diadorim estava “mudado triste, muito branco, os olhos pisados, a boca vencida” (GSV, p.228). Num outro dia, comprou “um grande lenço preto: que era para ter luto manejável, funo guardado em sobre seu 123 coração” (GSV, p.234). Depois, quando encontrou Medeiro Vaz, ele e o restante do bando sentiram novo alento. Por isso Diadorim disse a Riobaldo “com um ar quase de meninozinho, em suas miúdas feições. – ‘Riobaldo, eu estou feliz...’” (GSV,p.234). Feliz porque lá iriam eles, comandados por Medeiro Vaz, atravessar o Liso do Sussuarão, um lugar que “não concedia passagem a gente viva, era o raso pior havente, era um escampo dos infernos” (GSV, p.29, grifo do autor). Iam atravessar este lugar horrendo porque “pra por lá do Sussuarão, [...], um dos dois Judas possuía a sua maior fazenda, [...], e lá morava sua família dele legítima de raça – mulher e filhos” (GSV, p.31). O projeto de atravessar o Liso do Sussuarão foi mantido em segredo: somente Medeiro Vaz e Diadorim o sabiam. Aliás, a idéia - que se mostrou desastrosa por ter causado muitas baixas no bando - partiu de Diadorim. Motivou-o a determinação de matar os assassinos do pai: Hermógenes e Ricardão. Para Diadorim, segundo ele próprio, era assim: - “Não posso ter alegria nenhuma, nem minha mera vida mesma, enquanto aqueles dois monstros não forem bem acabados...” E ele suspirava de ódio, como se fosse por amor; mas, no mais, não se alterava. De tão grande, o dele não podia mais ter aumento: parava sendo um ódio sossegado. Ódio com paciência [...] (GSV, p.26). Acontece que o projeto secreto da travessia do Sussuarão foi revelado a Riobaldo por Ana Duzuza, “uma velha arregalada, [...], dona adivinhadora da boa e má sorte da gente” (GSV, p.29) e mãe de Nhorinhá, aquela mocinha meretriz com quem Riobaldo esteve uma única vez. Estando a par dos riscos que todo o bando correria ao enfrentar esta travessia, Riobaldo procurou Diadorim para compartilhar com ele o desatino daquela ação. Para sua surpresa, Diadorim não apenas já sabia como apoiava o projeto atribuído a Medeiro Vaz. Aí foi o ciúme, “um ciúme amargoso” (GSV, p.30), pois pareceu a Riobaldo que Medeiro Vaz tratava Diadorim de maneira diferenciada, confidenciava-lhe projetos, compartilhava estratégias. Se esta surpresa levou Riobaldo a vivenciar o ciúme amargoso, surpresa ainda maior ele teve ao constatar o que provocou em Diadorim o desejo de matar Ana Duzuza argumentando que ela era uma traidora: apesar do ódio sossegado, Diadorim sentia por ele, Riobaldo, um ciúme de cobra: 124 Diadorim me adivinhava: - “Já sei que você esteve com a moça filha dela...” – ele respondeu, seco, quase num chio. Dente de cobra. Aí, entendi o que pra verdade: que Diadorim me queria tanto bem, que o ciúme dele por mim também se alteava (GSV, p.32). Riobaldo insistiu em proteger Ana Duzuza, pois temia, cada vez mais, que Diadorim resolvesse matar Nhorinhá também. Ameaçou largar o bando. Diadorim apelou para o compromisso de vingar a honra de Joca Ramiro. Riobaldo se rebelou: “todos, tinham de viver honrando a figura daquele, de Joca Ramiro, feito fosse Cristo Nosso Senhor, o exato?!” (GSV, p.32). Diante da possibilidade da ruptura entre eles, Diadorim lançou mão de um recurso extremo: revelou a Riobaldo o segredo a tanto ocultado: “– “Riobaldo, escuta, pois então: Joca Ramiro era o meu pai...” – ele disse – não sei se estava pálido muito, e depois foi que se avermelhou. Devido o que, abaixou o rosto, para mais perto de mim” (GSV, p.32). Neste ponto, algumas questões se impõem: Primeiro, por que deste tropismo de Diadorim em relação à Riobaldo? Segundo, por que Diadorim desejava que Riobaldo se mantivesse empenhado na vingança por Joca Ramiro? Terceiro, por quê, justamente ao destilar o veneno do ciúme, Diadorim, que sabia cultivar um ódio paciente, revelou o segredo guardado a sete chaves sobre sua filiação? Como sabemos, esta informação foi escondida - inclusive para nós, leitores deste a adolescência de Riobaldo e Diadorim. Não foi nesta época que eles se encontraram pela primeira vez, às margens do de-Janeiro, e conversaram sobre os ensinamentos do pai de Diadorim sobre a coragem? Por que Joca Ramiro não foi mencionado deste então? Quarto e mais importante, pelo menos para este momento: por que esta paternidade foi mantida em segredo? Tentaremos responder às questões acima levantadas, começando por esta última. Acreditamos que por ela chegaremos à resolução das demais. Além do que, acreditamos também que ela nos conduzirá ao entendimento da manutenção de um outro segredo: aquele que envolve o fato de Diadorim ser uma mulher. 4. 3 Uma música inaudível 125 Ao compartilhar nossas reflexões com outras pessoas, nos tem sido freqüente ouvi-las conjecturar que a paternidade de Joca Ramiro foi mantida em segredo porque, sendo este um grande líder guerreiro, tanto ele quanto sua prole estariam sempre sob a constante ameaça dos inimigos. De fato, já sabemos que a figura fascinante de Joca Ramiro incitava não apenas amor e admiração, mas ódio. Faz bastante sentido, portanto, nos contentarmos com o raciocínio de que, para proteger Diadorim das retaliações dos inimigos, o parentesco entre eles tenha se mantido incógnito. Contudo, nenhuma passagem do romance nos revela tal motivação. Mas, ainda assim, esta argumentação pode se sustentar, pois o narrador deixa explícito que realmente faz parte da lei do sertão que a pena de talião estenda sua escrita punitiva geração após geração. Não foi aparentemente isto que motivou o próprio Diadorim a planejar a travessia do Sussuarão a fim se ter acesso à fazenda onde se encontrava a família “legítima de raça – mulher e filhos” (GSV, p.31) de um dos assassinos de Joca Ramiro, o Hermógenes? Porém, como dissemos, esta possibilidade se sustenta apenas aparentemente, pois, ante a ameaça de ruptura feita por Riobaldo, Diadorim esclareceu sua conduta diferenciada do que é um costume numa parte do meio jagunço: - “Tem discórdia não, Riobaldo amigo, se acalme. Não é preciso se haver cautela de morte com essa Ana Duzuza. Nem nós vamos com Medeiro Vaz para fazer barbaridade com a mulher e filhos pequenos daquele pior dos dois Judas, tão bem que mereciam, porque ele e os da laia dele têm costumes de proceder assim. Mas o que a gente quer é só pegar a família conosco prisioneira; então ele vem, se vem! E vem obrigado para combates... Mas, se você algum dia deixar de vir junto, como juro o seguinte: hei de ter a tristeza mortal...” (GSV, p.34). Sentimo-nos enormemente tentados a refletir sobre esta jura de Diadorim. No entanto, a tarefa de entender o mistério que envolve sua filiação nos obriga a suspender nosso ímpeto, até porque a veemência destas palavras de Diadorim ressoará para nós num momento posterior. Então, como vemos, é coerente supor que Joca Ramiro tenha escondido seu vínculo com Diadorim para proteger este que - até onde se sabe - era seu único herdeiro. A coerência desta premissa também nos serve para justificar que foi por precaução que Joca Ramiro transmitiu a Diadorim seus maiores ensinamentos. Ensinoulhe sobre a coragem: - “Carece de ter coragem...” (GSV, p.83). Ensinou-lhe sobre o medo: - “Meu pai me disse que não se deve de ter... ” (GSV, p.83). Foi modelo de 126 virilidade para Diadorim: - “Meu pai é o homem mais valente deste mundo...” (GSV, p. 83). E mais, Joca Ramiro soube marcar a importância da singularidade e da falta em Diadorim: “Sou diferente de todo mundo. Meu pai disse que eu careço de ser diferente, muito diferente...” (GSV, p.86). Como poderia ser de outra forma para uma menina, filha do “grande homem príncipe” (GSV, p.16), nascida num meio onde o que impera “é a misericórdia duma boa bala, de mete-bucha, e a arte está acabada e acertada” (GSV, p.204)? Que mais restaria a ela senão ser diferente já que fora criada sob a “Lei de jagunço [que] é o momento, o menos luxos” (GSV, p.204)? Que outro caminho poderia haver para uma menina que era filha de um chefe jagunço, que conviveu com muitos outros jagunços, senão tornar-se ela própria um deles, tornar-se jagunço, este que “já é por alguma competência entrante do demônio” (GSV, p.11)? Portanto, toda esta argumentação de que as medidas protetoras paternas eram inevitáveis se mostra perfeitamente plausível e coerente... Mas não o suficiente. Na verdade, se insistirmos em defender a tese de que os rumos adotados por Diadorim resultam, de maneira simples e direta, da atitude diligente de seu pai, esbarraremos na constatação de que este não era o único, tampouco o melhor, recurso de que ele dispunha para resguardar a filha dos perigos do sertão. Joca Ramiro era valente. Poderia defendê-la bravamente e sem ter de recorrer ao expediente de camuflar seu parentesco. Além disto, era poderoso. Participava - como muito bem percebeu Bolle (2004, p.286) -, da rede dos abastados fazendeiros e políticos locais e mantinha “conexões [que alcançavam] o nível nacional”. Suas campanhas eram financiadas por aqueles que Bolle (2004, p.286, grifo do autor) descreve como sendo os ““verdadeiros donos do Brasil”, isto é, de senhores sobre a vida e a morte das pessoas comuns. Seu poder é poder de matar”. Sendo assim, Joca Ramiro poderia, por exemplo, ter patrocinado para a filha uma vida confortável e segura em qualquer outra localidade. Poderia, simplesmente, têla afastado da ambiência inóspita do sertão, ao invés de, paradoxalmente, introduzi-la no meio jagunço. Aí está o principal indicativo de que a atitude deste pai contradiz a tese discutida até agora. Parece-nos bastante claro que os atos de Joca Ramiro em relação a Diadorim não se fundamentaram na evitação dos riscos a que a filha estaria exposta. Muito ao contrário. Joca Ramiro foi tomado por Diadorim como o modelo a ser seguido e assim, 127 ela viveu - como ele e com o consentimento dele - as guerras do sertão. Se estivermos corretos, Diadorim identificou-se ao pai e o fez de forma apaixonada. Já foi expresso que a menina realmente se identifica ao pai. Não há nada de extraordinário nisto, pois, como argumenta Freud (1980 [1923], v.XIX, p.45), a propósito da constituição do ideal do eu, por trás desta idealização “jaz oculta a primeira e mais importante identificação de um indivíduo, a sua identificação com o pai em sua própria pré-história pessoal”. Vale ressaltar também o comentário de Freud (1980 [1923], v. XIX, p.45) feito em nota de rodapé sobre essa identificação com o pai: “Talvez fosse mais seguro dizer ‘com os pais’, pois antes de uma criança ter chegado ao conhecimento definitivo da diferença entre os sexos, a falta de um pênis, ela não faz distinção de valor entre o pai a e a mãe”. Posteriormente, ao reconhecer que o primeiro objeto de amor, tanto de meninos quanto de meninas, era a mãe e também ao reconhecer as conseqüências psíquicas da diferença sexual, Freud (1980 [1925], v. XIX, p.312) levantou um importante questionamento: “Em ambos os casos, a mãe é o objeto original, e não constitui causa de surpresa que os meninos retenham esse objeto no complexo de Édipo. Como ocorre, então, que as meninas o abandonem e, ao invés, tomem o pai como objeto?”. Neste ponto, antes de podemos avançar na busca de resposta para esta questão, nos surge uma grande complicação: o que sabemos sobre a mãe de Diadorim? Sob certa perspectiva, sabemos praticamente nada. Porém, esta mesma perspectiva de não saber pode nos levar a saber muito. Ao longo das quatrocentos e sessenta páginas do Grande Sertão, apenas por uma única vez se fala – de forma absolutamente lacônica - sobre a mãe de Diadorim. Isto se deu exatamente no seguimento daquela cena de ciúmes desenrolada entre Riobaldo e Diadorim. O caráter aparentemente incidental desta revelação denuncia sua importância. Voltemos então à cena de ciúme: Dissemos que este foi o momento em que, ante o risco de se ver abandonado por Riobaldo, Diadorim revelou o segredo guardado a sete chaves de seu parentesco com Joca Ramiro. Esta revelação teve o efeito de favorecer Riobaldo com um esclarecimento e, como que em retribuição, ele também fez, mentalmente, uma jura: “Coração – isto é, estes pormenores todos. Foi um esclaro. O amor, já de si, é algum 128 arrependimento. Abracei Diadorim, como as asas de todos os pássaros. Pelo nome de seu pai, Joca Ramiro, eu agora matava e morria, se bem” (GSV, p.34). Acontece que Diadorim não poderia prever que Riobaldo se determinava desta forma. Por isso, “quem sabe para deduzir da conversa” (GSV, p.34), perguntoulhe: - “Riobaldo, se lembra certo da senhora sua mãe? Me conta o jeito de bondade que era a dela...” (GSV, p.34). Contudo, Riobaldo, incomodado com pergunta tão direta, não precisou se esquivar de respondê-la já que Diadorim foi logo lhe presenteando com uma nova revelação: - “... Pois a minha eu não conheci...” – Diadorim prosseguiu no dizer. E disse com curteza simples, igual quisesse falar: barra – beiras – cabeceiras... Fosse cego de nascença” (GSV, p.34,35, grifos do autor). Como lidar com tamanha vaguidade? A saída que nos foi possível encontrar é a que se segue: A “curteza simples” com que Diadorim se refere à mãe, nos dá a entender que o fato de não tê-la conhecido é, ou tornou-se, para ela, um fato trivial. Tanto quanto se tivesse apenas pronunciado palavras quaisquer, desconexas: “barra – beiras – cabeceiras...”. No entanto apreciemos algumas particularidades desta passagem: A propósito dos caracteres em itálico aí utilizados julgamos com Mendes (1998, p.53-54) que este [t]exto escrito sob o signo da dor, da morte, da falta, Grande Sertão: Veredas traz marcas visuais tão expressivas e portadoras de significados quanto as palavras escritas; se colocam aos olhos do leitor, convidando-o a considerar o livro como um precioso objeto, que, além de lido, deverá ser contemplado. Produzido segundo leis próprias, imporá um outro caminho de percepção e de leitura, pela bordadura das marcas autorais, dos ornamentos, da imposição de uma determinada respiração, ao executar o ato físico de ler. Assim, resta-nos tentar percorrer algum outro caminho de percepção e leitura. Especificamente em relação às três palavras grifadas pelo autor nesta passagem do texto escrito, Mendes (1998, p.59) ainda interpreta que elas compõem o conjunto de “determinadas frases, que são mais desenhos decorativos de fragmentos de outras frases ou de possíveis poemas que propriamente simples frases prosaicas”. A partir desta percepção, sentimo-nos à vontade para reconhecer que este bordado, inquestionavelmente, ressalta a informação. Não fosse a presença dos ornamentos, talvez incorrêssemos no equívoco de deixar a informação passar 129 despercebida ou nos contentássemos em achá-la corriqueira. No entanto, por conta dos adornos, permitimo-nos fazer algumas associações. Trataremos a insólita eloqüência deste trecho dividindo-o em três partes conforme sua musicalidade. Seria como se cada uma das partes aí estivesse com o único intuito de se reforçarem mutuamente, ligando, mas também recobrindo, uma inerente insensatez. Para nós, as tais palavras que inicialmente nos soavam desconexas, funcionariam antes, como elos que ligam uma música inaudível. Primeiro, temos o inesperado prelúdio: - “Pois a minha eu não conheci...”. Depois, temos o enigmático interlúdio que deixa em suspenso nossa expectativa por maiores detalhes: “barra – beiras – cabeceiras...”. Assim, nos interrompendo com os limites da “barra” e das “beiras”, este interregno nos conduz, simultaneamente, ao topo, às “cabeceiras”, à extremidade mais alta de algo. Sustenidos - com o sentido alterado pela elevação -, caímos, finalmente, no poslúdio que encerra a música mais importante: “Fosse cego de nascença”. Que música mais importante seria esta senão a música da pretérita relação de Diadorim com sua mãe? Uma música inaudível, posto que inescrutável? O que poderia ter determinado este desconhecimento não temos como saber. Talvez a mãe de Diadorim tenha morrido. Talvez simplesmente tenha ido embora. Não sabemos. E, de certa forma, não importa. Podemos prever que o resultado de qualquer uma destas possibilidades será o mesmo: um lugar vazio. É justamente disto que deduzimos a culminância da mãe de Diadorim em sua vida, apesar de ela ter sido, desde o nascimento, nunca vista. Interrogamos: uma falta assim tão precoce e definitiva do primeiro objeto de amor, não teria como conseqüência, justamente, favorecer a eleição, também precoce, do pai como objeto de amor? Acaso não será possível depreender que o olhar cegado de Diadorim em relação à mãe tenha sido substituído pelo olhar fascinado dirigido ao pai? Sabemos que a menina sai da relação pré-edipiana com a mãe ao perceber que este vínculo se mostra sem futuro: a mãe lhe é interditada. Além disto, mantendo-se nesta relação, a filha não terá acesso à feminilidade, mas sim, como afirma Freud (1980 [1931], v.XXI, p.275), “à catástrofe”, quer dizer, a conseqüências graves e até mesmo funestas de um aprisionamento ao desejo materno. Por isso a menina se volta para o pai, de quem espera receber o que lhe falta, o falo. O pai então passa a ocupar o lugar vacante da mãe, quer esta - ou qualquer outra 130 pessoa que faça as vezes de mãe - esteja viva ou morta, quer continue presente, ou simplesmente tenha se ido. A partir disto, argumentamos que a medida da paixão de Diadorim por Joca Ramiro tem uma magnitude tão significativa quanto teria seu apego à mãe faltante, a este objeto que, por estar tão irremediavelmente perdido, suscita reiteradamente, um substituto à altura. Acontece que, ao entrar na relação edipiana com o pai, - cedo algumas vezes, tarde outras, e, não raro nunca - a filha talvez reconheça, dependendo do caso, que mais uma vez entrou numa relação sem futuro. O pai também lhe é interditado e, junto a ele, ela encontrará as insígnias fálicas, mas não a feminilidade. 4. 4 Joca Ramiro: um sol de alegria para Diadorim O movimento de voltar-se para o pai e tomá-lo como objeto de amor desempenha um papel fundamental na constituição do sujeito. É este movimento que permitirá tanto a meninos quanto a meninas saírem da relação fechada com a mãe. No caso do menino, ao voltar-se para o pai, ele sai da relação edipiana com a mãe. Suas tendências libidinais em relação a ela são, como afirma Freud (1980 [1924], v. XIX, p.221), “em parte dessexualizadas e sublimadas [...] e em parte são inibidas em seu objetivo e transformadas em impulsos de afeição”. O menino passa então a nutrir sentimentos de ternura pela mãe ao mesmo tempo em que encontra, através da identificação com o pai, sua via de acesso à masculinidade. A menina realiza este mesmo percurso de afastamento da mãe com a diferença de que, ao voltar-se para o pai ela entra na relação edipiana com este. Segundo Freud (1980 [1932], v.XXII, p.150), [o] afastar-se da mãe, na menina, é um passo que se acompanha de hostilidade; a vinculação à mãe termina em ódio. Um ódio desta espécie pode tornar-se muito influente e durar toda a vida; pode ser muito cuidadosamente supercompensado, posteriormente; geralmente, uma parte dele é superada, ao passo que a parte restante persiste. Partindo desta constatação, Freud então enumerou a série de argumentos forjados pela menina no sentido de justificar seu afastamento da mãe. Acontece que Freud (1980 [1932], v. XXII, p.150) foi perspicaz o suficiente para perceber que a maioria destes argumentos, ou mesmo queixas contra a mãe, “são evidentes 131 racionalizações e as verdadeiras origens da hostilidade restam por ser encontradas”. A mãe não a amamentou de maneira adequada ou por tempo suficiente, a substituiu por outro filho, os cuidados maternos por vezes se assemelhavam a atos sedutores, a mãe mostrou-se severa em relação às descobertas da sexualidade por parte da filha, etc, etc... Não obstante, Freud (1980 [1932], v.XXII, p.153, grifo do autor) foi ainda mais longe: “Todos esses fatores – as desfeitas, os desapontamentos no amor, o ciúme, a sedução seguida da proibição – afinal também estão atuantes na relação do menino com sua mãe e, ainda assim, não são capazes de afastá-lo do objeto materno”. Por isso Freud (1980 [1932], v.XXII, p.153) localizou a problemática relação entre mãe e filha no complexo de castração: “as meninas responsabilizam sua mãe pela falta de pênis nelas e não perdoam por terem sido, desse modo, colocadas em desvantagem”. Portanto, a filha sempre se mostrará queixosa em relação à mãe. Esta apesar de muito amada e mesmo se mostrando amorosa para com a filha - será sempre considerada como insuficiente. A demanda de amor, por parte da filha, é inesgotável. A partir disto, Freud (1980 [1932], v.XXII, p.155) demarcou três vias para o desenvolvimento de uma menina: “uma conduz à inibição sexual ou à neurose, outra, à modificação do caráter no sentido de um complexo de masculinidade, a terceira, finalmente, à feminilidade normal”. Deste estudo do processo de identificação de uma mulher com sua mãe Freud (1980 [1932], v. XXII, p.164) concluiu, além do que foi exposto, que nos é permitido distinguir duas camadas: a pré-edipiana, sobre a qual se apóia a vinculação afetuosa com a mãe e esta é tomada como modelo, e a camada subseqüente, advinda do complexo de Édipo, que procura eliminar a mãe e tomar-lhe o lugar junto ao pai. Sem dúvida justifica-se dizermos que muita coisa de ambas subsiste no futuro e que nenhuma das duas é adequadamente superada no curso do desenvolvimento. Ora, fundamentados nestes esclarecimentos, o que podemos inferir sobre Diadorim? Apenas um fugaz comentário nos permite identificar alguma figura feminina que possa, talvez, ter ocupado o lugar esvaziado de sua mãe. De resto, e ao que tudo indica, desde a infância, sua vida girou principalmente em torno do pai e em meio aos irmãos e amigos deste - todos homens, a maioria jagunços. 132 Foi na companhia de um tio que Riobaldo o encontrou pela primeira vez no porto do de-Janeiro onde primeiro avistou “dois ou três homens de fora” (GSV, p.80) comprando alqueires de arroz. Depois, viu Diadorim, o Menino: Ali estava, com chapéu-de-couro, de sujigola abaixada, e se ria para mim. Não se mexeu. Antes fui eu que vim para perto dele. Então ele foi me dizendo, com voz muito natural, que aquele comprador era tio dele, e que moravam num lugar chamado Os-Porcos, meio-mundo diverso, onde não tinha nascido (GSV, p.80). O mundo diverso em que Diadorim morava era bom? “– “Demais...” – ele me respondeu; e continuou explicando: - “Meu tio planta de tudo. Mas arroz este ano não plantou, porque enviuvou de morte de minha tia...”” (GSV, p.80,81). Teria, então, cabido a essa tia fazer as vezes de mãe de Diadorim? Não podemos responder ao certo. De qualquer forma, esta também logo desapareceu de sua vida. Além do que, mesmo que esta tia tenha influenciado de alguma maneira no desenvolvimento de Diadorim, pelo visto não o fez a ponto de servi-lhe como modelo feminino. Desde então Diadorim não já se portava e vestia tal qual um menino? Não sabemos o que motivou a separação de Diadorim de sua mãe. Tampouco sabemos a partir de qual idade este evento ocorreu. O fato é que, como toda criança, Diadorim enfrentou a questão da separação da figura materna. Como decorrência, teve de partir em busca de um objeto que se mostrasse capaz de preencher o lugar vazio deixado por ela. Lembremos que a questão da função, paterna ou materna, é uma questão de lugar. Um lugar vazio na função. Este pode ser preenchido por vários argumentos. O lugar vazio da função paterna pode vir a ser preenchido, inclusive, pelo pai da criança, mas também pela mãe, por um outro parente, tio, avô, avó etc. O mesmo acontece com a função materna (CORRÊA, 2005)43. No caso de Diadorim, parece-nos bastante evidente que a função paterna foi preenchida, realmente, por Joca Ramiro, seu pai. Já em relação à função materna apesar de Diadorim não ter conhecido a mãe -, não nos parece que esta tenha sido preenchida, por exemplo, pela tal tia de que falamos. Acreditamos que para Diadorim a função materna foi preenchida mesmo pela própria mãe desconhecida. Diadorim sabia que tivera mãe e sabia, seja lá por qual motivo, que a havia perdido. Não aprendemos com Lacan que indicar a ausência de alguma coisa já é tornar 43 Comunicação oral proferida por Ivan Corrêa durante seminário ocorrido em Fortaleza em abril de 2005. 133 possível sua presença pela simbolização? (LACAN,1995). A partir da simbolização da ausência da mãe, Diadorim teve de buscar um substituto, no sentido de ser aquele que supre, mas não na acepção que esta mesma palavra tem de remeter àquele que exerce as funções de outrem em sua ausência. Defendemos que, neste movimento, a menina realiza mais que uma substituição. O pai não substitui a mãe no sentido de passar a exercer a função desta. Ele continua na função de pai, o que conduz a filha a enfrentar uma transformação. Voltando-se para o pai, ela se vê na contingência de tomar nova feição, de mudar. Além disto, se considerarmos que, por um lado, a relação da criança com a mãe origina-se em meio à coisas preestabelecidas - já que a mãe é o objeto primordial de amor de toda criança -, por outro, sua relação com o pai advém de uma escolha mesmo que forçada -, pois a mãe é interditada. Ao lado disto, se considerarmos que enquanto para o menino esta escolha resolve o problema da identificação sexual - ele encontra um caminho para a masculinidade -, para a menina o problema persiste. Ao se identificar ao pai, ela percebe que é possível se transformar num menino, mas, então, como se transformar numa mulher? Para resolver este impasse, ela se volta novamente para a mãe, aquela que ocupa o lugar do feminino. No caso de Diadorim, sabemos que sua mãe lhe é desconhecida. Seguindo este raciocínio, dissemos que o olhar cegado de Diadorim se transformou num olhar fascinado. O objeto de fascinação do olhar de Diadorim foi, inquestionavelmente, o pai. Quando Riobaldo o encontrou pela primeira vez, ele já exaltava a valentia do pai. Depois, na mocidade, quando se reencontraram e Diadorim se apresentou como sendo Reinaldo, a profunda admiração continuava ampliada: - “Você vai conhecer em breve Joca Ramiro, Riobaldo...” – o Reinaldo veio dizendo. – “Vai ver que ele é o homem que existe mais valente! Me olhou, com aqueles olhos quando doces. E perfez: - “Não sabe que quem é mesmo inteirado valente, no coração, esse também não pode deixar de ser bom?!” Isto ele falou” (GSV, p.116). Para ele, “Joca Ramiro era um imperador em três alturas! Joca Ramiro sabia o se ser, governava; nem o nome dele não podia atôa se bajular” (GSV, p.138). Quando enfim chegou o dia de Riobaldo conhecer Joca Ramiro, os olhos de Diadorim ganharam um brilho especial: 134 Vi um sol de alegria tanta, nos olhos de Diadorim, até me apoquentou. Eu tinha ciúme? – “Riobaldo, tu vai ver como ele é!” – Diadorim exclamou, se abraçou comigo. Parecia uma criança pequena, naquela bela resumida satisfação. Como era que eu ia poder raivar com aquilo? (GSV, p.189). Este era, mesmo na vida adulta, o resultado da fascinação de Diadorim por Joca Ramiro: uma bela satisfação de criança. E Joca Ramiro, como é que ele se comportava frente a Diadorim? O andar dele – vi certo: alteado e imponente, como o de ninguém. Diadorim olhava; e também tinha lágrimas vindo por caso. Decidido, deu um passo àfrente, pegou a mão de Joca Ramiro, beijou. Joca Ramiro, que firme contemplando, só um instante, seja, mas o docemente achável, com um calor diferente de amizade. A quantia que ele gostava de Diadorim! – e pousou nas costas dele um abraço (GSV, p.190). Poderíamos ir muito mais longe enumerando as referências que nos permitem apreciar a relação fascinada estabelecida entre Diadorim e Joca Ramiro. No entanto, prestemos mais atenção a esta cena, pois ela é também o relato do último encontro de Diadorim com seu pai. Depois disto, Joca Ramiro foi assassinado. Reproduzimos, a seguir, o momento em que eles se despedem: Lá ia ele, deveras, em seu cavalão branco, ginete – ladeado por Sô Candelário e o Ricardão, igual iguais galopavam. Saíam os chefes todos – assim o desenrolar dos bandos, em caracol, aos gritos de vozear. Ao que reluzia o bem belo. Diadorim olhou, e fez o sinal-da-cruz, cordial. – “Assim, ele me botou a benção...” – foi o que disse (GSV, p.217). Assim o pai se foi, para sempre, rodeado por um caracol... Estendeu, ampliou o vórtice. Produziu redemoinho! Assim restou Diadorim, abençoado pelo pai e pondo, ele próprio, sobre si o sinal de uma cruz... 4. 5 As roupas de Diadorim Mas não foram apenas a benção do pai e o sinal de uma cruz as únicas coisas postas sobre Diadorim. Para Freud (1980 [1931], v.XXI, p.260) a sucessão de camadas que recobrem a mulher se mostra tão surpreendente que revela-las seria “tal como a 135 descoberta, em outro campo, da civilização mino-miceniana por detrás da civilização da Grécia”. A partir desta surpreendente descoberta, ele observou que uma mulher persiste recoberta, pelo resto da vida, por duas camadas: aquela composta pelo vínculo pré-edipiano com a mãe e a advinda do complexo de Édipo com o pai. Mas com Diadorim aconteceu ainda de a mulher ter sido recoberta por roupas masculinas. Estas teriam sido suas primeiras roupas? Podemos, com certeza, afirmar que não. A primeira roupa que vestiu Diadorim foi aquela que veste qualquer pessoa: a linguagem. Esta mesma que, segundo Dias (1997, p.22), “preexiste à existência de cada um, e, por isso mesmo, é condição de nossa constituição”. Antes mesmo de nascer, somos vestidos pela linguagem que veicula o desejo de outros, dos pais: o filho, ou a filha, será isso, será aquilo, deverá não sentir medo, terá coragem, usará roupas tais... Assim, da linguagem à roupa consideramos com Dias (1997, p.30) que [...] uma vez que a linguagem não é inefável, e sim material, a materialidade da roupa traz de volta a própria condição do ser sexuado. Incapaz de sobreviver só, ele se funda numa relação constitutiva aonde seu semelhante possui papel destacado. Destaque que vai desde a pregnância da imagem até o caráter de fascinação como unidade que ela promove em seu devir como humano. Voltado a sustentar uma imagem própria, condição de sua estruturação, ele se interessará pelas roupas como recurso que lhe reenvia ao eixo com o semelhante. Sabemos que Diadorim parecia um cego de nascença em relação à mãe. Como poderia, então, ter se interessado pelas roupas ostentadas por ela? E mais, o que nós – e talvez Diadorim! - sabemos sobre as roupas usadas por esta mãe? Nada. Portanto, não podemos inferir de maneira leviana que ela, a mãe de Diadorim, necessariamente usasse roupas femininas. Em contrapartida, sabemos do destaque da figura paterna no olhar de Diadorim. Não era ele “um homem de largos ombros, a cara grande, corada muito, aqueles olhos. [...] Os cabelos pretos anelados? O chapéu bonito? Ele era um homem. Liso bonito” (GSV, p.189,190). Lembrar de Joca Ramiro é nos deparar com um porte luzido, passo ligeiro, as botas russianas, a risada, os bigodes, o olhar bom e mandante, a testa muita, o topete de cabelos anelados, pretos, brilhando. 136 Como que brilhava ele todo. Porque Joca Ramiro era mesmo assim sobre os homens, ele tinha uma luz, rei da natureza (GSV, p.32). Joca Ramiro era elegante, “era lorde” (GSV, p.197). Tinha nobreza no aspecto: “[...] o chapéu dele se desabava muito largo. Dele, até a sombra, que a lamparina arriava na parede, se trespunha diversa, na imponência, pojava volume. [...] era homem bonito, caprichado em tudo. [...] era homem gentil” (GSV, p.91). Portanto, a própria imagem de Diadorim sustentava também ela, desde menino, roupas “que não tinham nódoa nem amarrotado nenhum, não fuxicavam” (GSV, p.82) e “chapéu-de-couro, de sujigola abaixada” (GSV, p.80). Lembremos que o regionalismo brasileiro permite associar o chapéu-de-couro ao recruta. Assim, por volta dos quatorze anos, Diadorim já era como que um novato, um recém introduzido nas artes da guerra. Diadorim era, desde a infância, “asseado e forte” (GSV, p.82), e quando moço, era “variado e vistoso” (GSV, p.107). Costumava acertar o cabelo “que já estava cortado baixo” (GSV, p.113). Portava “colete-jaleco” (GSV, p.225). “Diadorim, todo formosura” (GSV, p.385) era “tão galante moço, as feições finas caprichadas” (GSV, p.123). Assim, no começo, Diadorim portava camadas, uma cruz e roupas masculinas. Depois, mas só bem depois, veremos Diadorim “nú de tudo” (GSV, p.453). Neste momento teremos conhecimento de tudo o que estava escondido deste então? Podemos ser veementes ao responder com Lacan (1997, p.277) que não, pois a nudez, “[o] que ela tem de particularmente exaltante, significante por si mesma, é que ainda há um para-além dela que ela esconde”. Por isso retornamos a Dias (1997, p.72) para fazer ressaltar que [a] nudez está para além do corpo desnudo. É uma redução acentuada confundir o que há de verdade na sexualidade com a sensação de vergonha, prazer, ou liberdade de estar sem roupa. A nudez diz respeito a esse sentimento profundo de não ser por inteiro. Para tanto, não é preciso confundir não ser por inteiro com a vivência da falta de algum objeto em particular. Pelo contrário, a falta, tal como ela é evocada pela nudez, tem a ver com a impossibilidade de que haja uma roupa, um artefato simbólico, que cubra o ser por inteiro. A nudez remete a um ser que não se cobre definitivamente. Neste sentido, tampouco haverá uma roupa que satisfaça totalmente o sujeito. Tal observação nos dá oportunidade de lançarmos como hipótese que as roupas masculinas de Diadorim recobriam, mas não definitivamente, a mulher. Parecenos que, mesmo se apresentando sempre de maneira tão caprichada quanto Joca Ramiro, 137 o capricho de Diadorim deixa escapar algo que veicula uma singularidade. Neste sentido, acreditamos também que, mesmo tendo adotado para si o que lhe fora instituído por outrem, as roupas de Diadorim demonstram, ao mesmo tempo, o sucesso e o fracasso da roupa em velar uma mulher, pois, como afirma Dias (1997, p.114), “uma mulher não se deixa vestir pelos limites do que existe como instituído”. Para entendermos a extraordinária relação da roupa com a mulher, precisamos considerar, como Dias (1997, p.115) que a vestimenta reenvia o ser à linguagem, e, justamente em decorrência disto, é possível supor que o campo do feminino não seja “vestido inteiramente por linguagem”. Tendo esta premissa como ponto de partida, seguiremos agora com o estudo realizado pelo autor sobre a função do véu nos países islâmicos por acreditarmos que ele nos fornece uma bela via de acesso ao entendimento da função das roupas de Diadorim. Segundo Dias (1997, p.118), o véu não é um mero elemento decorativo, “[m]ais do que isso, ele assume uma função bastante precisa – neutralizar a presença da mulher”. Tal asserção se fundamenta no fato observado por Dias de [a]inda que em muitos países mulçumanos a desobediência ao uso do véu varie do espancamento à morte, há, para as mulheres que o adotam, um detalhe que escapa ao controle da tirania – a incandescência do olhar. Através dele, elas deixam transparecer que não estão totalmente vestidas, mesmo que cobertas com roupas. Nesse caso, o olhar está para além da visibilidade dos olhos. Faz constar um desejo que é dirigido ao Outro a quem se procura enfeitiçar (DIAS, 1997, p.118). Podemos estender esta percepção a Diadorim? Verifiquemos. Observando Diadorim, Riobaldo comenta: “Guardei os olhos, meio momento, na beleza dele; guapo tão aposto – surgido sempre com jaleco, que ele tirava nunca, e com as calças de vaqueiro, em couro de veado macho44, curtido com aroeirabrava e campestre” (GSV, p.135). A incandescência dos olhos de Diadorim pode ser percebida desde a infância, quando já “era um menino bonito, claro, com testa alta e os olhos aos-grandes, verdes” (GSV, p.80). 44 Apenas para não perdermos o lirismo das referências aos olhos de Diadorim não nos deteremos - pelo menos não agora -, na ambivalência do couro que vestia Diadorim: um “couro de veado macho”, de um cervídeo, mas que também nos remete ao homossexual, ao homem efeminado, aqui, paradoxalmente, macho. 138 Impossíveis olhos de beleza verde que adoeciam, que cegavam, pois, como afirma Lacan (1997, p.340), “[o] efeito da beleza é um efeito de cegamento. Ainda ocorre algo para além dela, que não pode ser olhado”. Este efeito não deixou de se manifestar sobre Riobaldo: Que vontade era de pôr meus dedos, de leve, o leve, nos meigos olhos dele, ocultando, para não ter de tolerar de ver assim o chamado, até que ponto esses olhos, sempre havendo, aquela beleza verde, me adoecido, tão impossível (GSV, p.38). Riobaldo foi cativado pelos olhos de Diadorim: “Mas, Diadorim? De olhos os olhos agarrados: nós dois” (GSV, p.65). Olhos cuja opacidade - causada pela cegueira da orfandade materna - reluzia e transformava, adotando o brilho dos olhos de outra mãe: “Doçura do olhar dele me transformou para os olhos de velhice da minha mãe” (GSV, p.115). “Diadorim, com as pestanas compridas, os moços olhos” (GSV, p.305), ao mesmo tempo, envelhecidos por velhos segredos querendo se revelar, e pelos quais até se morre: Naqueles olhos e tanto de Diadorim, o verde mudava sempre, como a água de todos os rios em seus lugares ensombrados. Aquele verde, arenoso, mas tão moço, tinha muita velhice, muita velhice, querendo me contar coisas que a idéia da gente não dá para entender – e acho que é por isso que a gente morre (GSV, p.219). No desamparo, “os olhos de Diadorim me pediam muito socorro” (GSV, p.345). No vislumbre, “[o]s olhos – vislumbre meu – que cresciam sem beira, dum verde dos outros verdes, como o de nenhum pasto” (GSV, p.374). Diadorim - “[o]s olhos dele ficados para a gente ver” (GSV, p.453) –, “assim se desencantava, num encanto tão terrível” (GSV, p.454). Olhos estupeficados na exibição do estupendo... Veremos. Por ora, fixemos os olhos de Diadorim que enfeitiçavam. Sempre. Foi assim que, encantados, o vimos - até ele se desencantar num encanto ainda maior - atravessar todo o Grande Sertão portando suas roupas masculinas com um brio excepcional. 139 Por conta disto, defendemos a idéia de que suas roupas têm a mesma função do véu mulçumano. Porém, a condição de Diadorim difere, ao nosso ver, em muito, da condição das mulheres mulçumanas. Suas roupas têm, como o véu, a função de neutralizar a presença feminina no meio jagunço. Podemos dizer que elas foram mesmo usadas enquanto expediente capaz de anular o poder de sedução da mulher. Mas, como vimos, seu êxito foi parcial. Apesar das roupas, brilhava e enfeitiçava o capricho, a vontade livre, dos olhos de Diadorim: “Vi como é que olhos podem. Diadorim tinha uma luz” (GSV, p.308). Além disto, como afirma Dias (1997, p.119,120), o véu iguala todas as mulheres. É, portanto, um “[r]ecurso secular de masculinização” que tem como fim último a segregação da mulher e a preservação da “servidão como meio de relação entre os sexos”. Ora, não observamos que tenha acontecido nada desta ordem com Diadorim. Mesmo “semelhasse maninel” (GSV, p.324), como esclarece Martins (2001, p.319), “mocinho delicado, gentil, homem efeminado”, ele “guerreava delicado e terrível nas batalhas. [...] diabrável sempre assim, [...]: o único homem que a coragem dele nunca piscava; [...]. Aquilo era de chumbo ferro” (GSV, p.324). Ele era aquele que, desde menino, tinha muita coragem. Tanta que, já no primeiro encontro com Riobaldo no de-Janeiro, não relutou em esfaquear um homem, um mulato que, ao vê-los sozinhos, quis assediá-los: - “Vocês dois, uê, hem? Que é que estão fazendo?... [...] Hem, hem? E eu? Também quero!”. [...] Mas, o que eu menos esperava, ouvi a bonita voz do menino dizer: - “Você, meu nego? Está certo, chega aqui...” A fala, o jeito dele, imitavam de mulher. Então, era aquilo? E o mulato, satisfeito, caminhou para se sentar juntinho dele. [...] Só foi assim. Mulato pulou para trás, ô de um grito, gemido urro. Varou o mato, em fuga, se ouvia aquela corredoura. O menino abanava a faquinha nua na mão, e nem se ria. Tinha embebido ferro na coxa do mulato, a ponta rasgando fundo. A lâmina estava escorrida de sangue ruim. Mas o menino não se aluía do lugar. E limpou a faca no capim, com todo capricho. – “Quicé que corta...” – foi só o que disse, a si dizendo. Tornou a pôr na bainha (GSV, p.85). Todavia, para sermos rigorosos, precisamos reconhecer que Diadorim viveu de certa forma a servidão. Viveu, na verdade, a desobediente escravidão que imortaliza: “[...] senti que Diadorim não era mortal. E que a presença dele não me obedecia. Eu sei: quem ama é sempre muito escravo, mas não obedece nunca de verdade...” (GSV, p.418). 140 Já dissemos: Diadorim tinha seus caprichos, “pertencia a sina diferente” (GSV, p.323). Assim como as mulçumanas, viveu sob o peso de um véu masculinizante. Mas, ao contrário destas, este mesmo véu lhe deu acesso a um caminho singular. Se Diadorim não foi igual aos outros - seus companheiros de jagunçagem -, muito menos foi forçado a igualar-se a todas as outras. Diadorim era “dessemelhante, já disse, não dava minúcia de pessoa outra nenhuma” (GSV, p.82). Diadorim tinha o olhar caprichoso, esmerado, “esmartes olhos, botados verdes” (GSV, p.81). E, mesmo que tenha sido cegado, não foi emudecido. Jamais foi ingnóbil: “ele gostava de mandar, primeiro mandava suave, depois, visto que não fosse obedecido, com as sete pedras. [...] E ele, [...], era tão galhardo garboso, tão governador [...]” (GSV, p.116). É bem verdade que teve de percorrer a vereda da masculinização. Diadorim “[t]inha [seus] fados” (GSV, p.120) e sabia que “[a] vida da gente faz sete voltas – se diz. A vida nem é da gente... Ele falava aquilo sem rompante e sem entornos, mais antes com pressa, quem sabe se com tico de pesar e vergonhosa suspensão” (GSV, p.120). Cabe-nos, então, tentar entender a pressa, o pesar e a vergonhosa suspensão de Diadorim. Sobretudo por termos em perspectiva que estes são indícios de um capricho especial, um capricho, sem dúvida, “diferente, muito diferente...” (GSV, p.86). 4. 6 Em nome do pai Mesmo que a função desempenhada pelas roupas de Diadorim seja inteligível, persiste a questão: por que Diadorim vestia-se com roupas masculinas? Tentar respondê-la melhor é sair no encalço de algumas outras questões: por que Diadorim freqüentou tão assídua e acirradamente a posição masculina e assumiu um nome falso, Reinaldo? E mais: por que Diadorim, depois, nomeou-se Diadorim? Sobre o nome falso ele é claro: “[...] eu não me chamo Reinaldo, de verdade. Este é nome apelativo, inventado por necessidade minha, carece de você não me perguntar por quê. Tenho meus fados” (GSV, p.120, grifo do autor). Não somos Riobaldo. Tampouco nos convém deixar de perguntar o porquê. Ainda mais quando Diadorim nos diz que isso decorre do peso de seus fados. O fado é 141 um decreto do destino, um vaticínio, algo predito. No caso, quem lhe teria predito esse falso nome? É difícil perceber a coerência de nome, roupas e coragem, todos masculinos, de Diadorim? É temerário afirmar que tal destino esteja relacionado ao desejo de seu pai? Não fosse a idade, até mesmo uma criança o perceberia como Riobaldo notou depois, ao relembrar o encontro do de-Janeiro: “Mais, que coragem inteirada em peça era aquela, a dele? De Deus, do demo? [...] E o que era que o pai dele tencionava? Na ocasião, idade minha sendo aquela, não dei de mim esse indagado” (GSV, p.86). Mas agora, recontando a estória, Riobaldo nos dá a dica: Fala logo em seguida do caso de um filho que matou um homem e correu a comunicar o fato ao pai que remediou: “– “Filho, isso é a tua maioridade. Na velhice, já tenho defesa, de quem me vingue...”” (GSV, p.86). Seria isso? Seria essa a intenção de Joca Ramiro? Sabendo que o “[s]ertão é o penal, criminal” (GSV, p.86) e que Diadorim, “[i]rmã nem irmão ele não tinha” (GSV, p.140), parece fazer sentido pensarmos como Riobaldo que Diadorim tenha sido forjado para defender e vingar o pai. Mas não nos contentemos com esta que pode ser uma resposta qualquer, pois, como diz Riobaldo, “onde é a bobice a qualquer resposta, é aí que a pergunta se pergunta” (GSV, p.86). Portanto, deixemos a pergunta ressoar: tomar esta como sendo a possível intenção de Joca Ramiro responde à questão sobre o desejo do pai de Diadorim? Não. Temos bons motivos para argumentar que a intensão, até mesmo o forçamento, que se evidencia na relação entre Diadorim e seu pai, é muito de outra ordem. Uma ordem que, é claro, não invalida a tese da obrigação de vingança do nome do pai. Diadorim mesmo o confirma. Quando se fazia qualquer referência ao assassinato de Joca Ramiro, “Diadorim só falava nos extremos do assunto. Matar, matar, sangue manda sangue” (GSV, p.26). Enquanto os assassinos “vivessem, simples Diadorim não vivia. Até que viesse a poder vingar o histórico de seu pai, ele tresvariava” (GSV, p.26). Sem vida, tresloucado, três vezes, ou mais, variado. Ao que nos parece, era esta sua sina. Diadorim sofreu o abandono da mãe e procurou desvencilhar-se do vínculo amoroso que o ligava a ela. Pela primeira vez, variou: tomou a vereda diversa que conduziu ao pai. Muito antes da realidade da morte deste, a vereda diversa deve ter se 142 mostrado também adversa. Pela segunda vez, Diadorim variou, voltou-se para outro homem, Leopoldo. Mas, na verdade, esta variação não era assim tão diversa, pois continuou conduzindo ao pai. Diadorim teria variado uma terceira vez? Desviar-nos-emos, rapidamente, destas nossas interrogações já que inesperadamente surge esse Leopoldo. Quem era ele? Um dos jagunços nos dirá: - “Eh, esse Reinaldo gosta de ser bom amigo... Ao quando o Leopoldo morreu ele quase morreu também, dos demorados pesares...” (GSV, p.133). A partir daí, “esse nome de um Leopoldo” (GSV, p.133) tornou-se uma história que Riobaldo “[...], persistentemente, [...] remoía” (GSV, p.133). Enfim, sem nem saber por quê, ele indagou: - “Diadorim, então quem foi esse moço Leopoldo, que morreu seu amigo?” – eu indaguei, de sem-tempo, nem sei porque; eu não estava pensando naquilo. Antes eu já estava para trás de ter perguntado, palavras fora da boca. – “Leopoldo? Um amigo meu, Riobaldo, de correta amizade...” – e Diadorim desfez assoprado um suspiro, o que muda melhor. – “Até te falaram nele Riobaldo? Leopoldo era o irmão mais novo de Joca Ramiro...” Aquilo eu já soubesse demais – que Joca Ramiro se realçasse por riba de tudo, reinante (GSV, p.140). Então Leopoldo era tio de Diadorim. Já que mais novo, talvez tenha sido também - mais que um “bom amigo” -, uma espécie de irmão para ele. Que fosse. A segunda variação de Diadorim, seu amor por Leopoldo, nada mais é que a repetição do mesmo tema: o amor por Joca Ramiro. Escutemos Freud (1980 [1932], v. XXII, p.162): Os fatores determinantes da escolha objetal da mulher muitas vezes se tornam irreconhecíveis devido a condições sociais. Onde a escolha pode mostrar-se livremente, ela se faz, frequentemente, em conformidade com o ideal narcisista do homem que a menina quisera tornar-se. Se a menina permaneceu vinculada a seu pai – isto é, no complexo de Édipo - , sua escolha se faz segundo o tipo paterno. Quem, melhor que um irmão de Joca Ramiro, poderia incitar a segunda variação de Diadorim? Uma variação que na verdade apenas realçava “por riba de tudo” (GSV, p.140) a soberania do pai? Por isso, como ilustração, articulamos as variações de Diadorim ao conceito de “variação” segundo a rubrica da música sobre a qual Sinzig (1976, p.593, grifos do autor) esclarece: 143 Variação, metamorfose dum tema expressivo que, no entanto, com as maiores variantes, deve continuar bem reconhecível. É variado geralmente apenas um de seus elementos, ou alguns, como sejam o ritmo, a harmonia, o tom maior ou menor, a melodia, enquanto os antigos doubles conservam o tema, apresentando-o apenas com novos ornamentos e figurações. [...] Não há nada que não se possa fazer com o tema, desde que continue reconhecível. Assim é que Diadorim variava. Fazia de quase tudo com o tema do pai. Voltou-se para Leopoldo, dublê de Joca Ramiro, que, no entanto, continuava reconhecível. Mas existe aí um complicador ainda maior. Talvez possamos dizer que esta variação de Diadorim se assemelhe também a um rondó, pois faz reaparecer um tema que, para Diadorim, permanecerá inaudito. Vejamos antes com Sinzig (1976, p.513, grifos do autor) o que é um rondó: “O característico de todos os rondós, rondels, rondelli e radels é o reaparecimento duma idéia bem definida, [...]. [...] no rondó o tema principal volta algumas vezes e [...] é respondido por mais de um contra-tema”. Afinal, que tema é esse que acreditamos voltar algumas vezes a Diadorim e frente ao qual Joca Ramiro é um dos que responde como contra-tema? Consideramos, com Freud (1980 [1932], v. XXII, p.162,163), que a relação de Diadorim com o pai se mantém e influencia suas escolhas amorosas tal qual acontece com toda mulher que permanece vinculada ao pai, [d]e vez que, quando se afastou da mãe e se voltou para o pai, permaneceu a hostilidade de sua relação ambivalente com a mãe, uma escolha desse tipo asseguraria um casamento feliz. Muito frequentemente, porém, o resultado é de molde a representar uma ameaça geral à solução do conflito devido à ambivalência. A hostilidade que ficou para trás segue na trilha da vinculação positiva e se alastra ao novo objeto. O marido da mulher, inicialmente herdado por ela, do pai, após algum tempo se torna também o herdeiro da mãe. Estaríamos com isso insinuando que a relação de Diadorim com Leopoldo visava o casamento? Certamente que não. Leopoldo era seu tio. Diadorim mesmo nos diz que o vínculo entre eles era de “correta amizade”, não podemos, portanto, pensar na possibilidade de um casamento assim tão flagrantemente incestuoso. Entretanto, esta amizade nos dá uma boa idéia do que norteava as escolhas amorosas de Diadorim: em primeiro lugar, o pai. Em segundo - compondo aquela camada minóico-miceniana mais arcaica de que falava Freud -, a música imemorável, a mãe. 144 Sobre esta sabemos quase tão pouco quanto Diadorim. No entanto, mesmo que não tenhamos ouvido uma única queixa sua contra a mãe, nada nos impede de compreender que também para Diadorim [é] como se, na verdade, a referência ao pai viesse alimentar a energia da “conversão”, reforçá-la como que de fora: “Se você vai me abandonar”, diz o desejo da filha à Mãe – entendendo-se que a traição tem que se dar, para que ela saia da relação descrita como sem futuro -, “que pelo menos reine o Pai”. Por conseguinte ela tem de se dedicar ao falo, embora não tenha para isso uma... vocação (ASSOUN, 1993, p.106, grifos do autor). Consideramos que foi exatamente a isso que Diadorim se dedicou. Para ele, Joca Ramiro reinou. Não lembrava da mãe. Lembrava do pai, seu destino de glória: “– “Olha Riobaldo” – me disse – “nossa destinação é de glória. Em hora de desânimo, você lembra de sua mãe; eu lembro do meu pai”” (GSV, p.38). Preocupava-lhe e indignava-lhe a traição que o pai sofrera. Mas será que era somente esta traição que o dividia, já que se dedicar ao pai implica, como Freud observou, em trair a exclusividade do amor à mãe? Será que Diadorim sabia que “[q]uase tudo o que a gente faz ou deixa de fazer, não é, no fim, traição?” (GSV, p.139). O fato é que para Diadorim o pai tinha de ser vingado. Que mais restaria àquele que fora abandonado pela mãe e agora via o abandono reatualizado pelo pai, senão a vingança que “é lamber, frio, o que outro cozinhou quente demais” (GSV, p.74)? Por isso é que “[...] Diadorim sabia era a guerra” (GSV, p.238) que lhe fez tirar, do amor a Joca Ramiro, o ódio pelo abandono daquela que Diadorim não devia mais lembrar, a mãe. Pois o ódio “é a gente se lembrar do que não deve-de; amor é a gente querendo achar o que é da gente” (GSV, p.273). Assim, pelo amor e apesar do amor, Diadorim queria “sangues fora de veias” (GSV, p.237). O ódio que sentia pelos assassinos de seu pai crescia de todos os lados. Vinha do amor ao pai e... do amor à mãe. Pois, como diz Riobaldo, [d]o ódio sendo. Acho que, às vezes, é até com ajuda do ódio que se tem a uma pessoa que o amor tido a outra aumenta mais forte. Coração cresce de todo lado. [...] Coração mistura amores. Tudo cabe (GSV, p.145). Então, para nós, Diadorim amava tão intensamente ao pai quanto à mãe. Sendo mais precisos, consideramos que a intensidade de seu amor por Joca Ramiro nos dá exatamente a medida de seu amor pela mãe desconhecida. Parecerá tão improvável 145 que, mesmo sem tê-la conhecido, Diadorim supusesse o prazer propiciado por uma mãe? E, insistindo nesta suposição: o fato de não ter podido nutrir qualquer esperança de desfrutar deste prazer não poderia ter sido fonte de ódio e desespero que depois virou saudade? Se assim tiver ocorrido, consideramos legítimo adotar a seguinte equação para a travessia realizada por Diadorim: O prazer vira medo, o medo vai vira ódio, o ódio vira esses desesperos? – desespero é bom que vire a maior tristeza, constante então para o um amor – quanta saudade... -; aí, outra esperança já vem... Mas a brasinha de tudo, é só o mesmo carvão só (GSV, p.178). Partindo das premissas apresentadas acima por Riobaldo, consideramos Joca Ramiro como a “outra esperança” de Diadorim. Para compreendermos toda a relevância dele neste sentido, recorremos mais uma vez a Assoun (1993, p.105, grifos do autor): Compreende-se, finalmente, o papel do Pai, como substituto e alternativa: ele tem que existir, para que seja possível a alternância... com o Paraíso! Papel simultaneamente salutar e ingrato, que cabe tanto ao Pai quanto a seu herdeiro, o homem amado. É por isso que Freud indica o vestígio insistente da antiga demanda materna no próprio cerne da escolha do objeto masculino pela mulher. [...] Não é apenas que a mulher continue a querê-la [a mãe] ao desejálo [o pai]; é que, estruturalmente, o desejo deslancha a partir de a demanda ser recusada. Que vontade não há de ser necessária à menina para empreender esse esforço – [...]! Tanta energia por querer deixar de amar a mãe quanto por tê-la amado. O desejo que brota daí fica marcado por essa provação. Provação, isto mesmo. Esta nos parece a palavra mais exata para descrever a travessia de Diadorim no Grande Sertão. Uma travessia feita, sem dúvida, às custa de muita, muita coragem. Que requereu, também sem dúvida, todo aquele capricho, aquela vontade livre de Diadorim. “Mas liberdade – aposto – ainda é só alegria de um pobre caminhozinho, no dentro do ferro de grandes prisões” (GSV, p.233). Então, que ferro agriolhoava Diadorim e de que pobre caminhozinho lhe foi possível retirar alguma alegria? 4. 7 Grilhão de elos imponderáveis “Tem uma verdade que se carece aprender, do encoberto, e que ninguém não ensina: o beco para a liberdade se fazer” (GSV, p.233). Argumentamos que a provação de Diadorim consistiu, justamente, em aprender a fazer esse caminho estreito - por vezes sem saída - para alguma liberdade. 146 Argumentamos também, que Diadorim tentou percorrer esse bequinho sem transgredir. Procurou saída. Procurou entrada. Procurou também manter-se dentro da lei. Por isso, sobre Diadorim, dizemos com Lacan (1992, p.17) que “[e]ntrar de fininho não é transgredir. Ver uma porta entreaberta não é transpô-la”. Procuremos, então, agora nós, esclarecer estes argumentos. Sabemos que Diadorim converteu-se ao reinado do pai desde a infância. Mas, se Joca Ramiro era senhor, Diadorim seria escravo do seu querer? Recorramos a Lacan (1992, p.28) para entender a dialética aí implicada: Nada indica, com efeito, de que modo o senhor imporia sua vontade. Não há dúvida de que aí é preciso um consentimento, e o fato de que Hegel não possa referir-se nessa ocasião, como significante do senhor absoluto, senão à morte, é, por ora, um sinal – um sinal de que nada é resolvido por essa pseudoorigem. Com efeito, para que isso continue, não ficaria demonstrado que o senhor é o senhor a menos que ele ressuscitasse, isto é, que tivesse passado efetivamente pela prova. Quanto ao escravo, é a mesma coisa – ele renunciou precisamente a se confrontar com ela. Joca Ramiro confrontou-se com a morte e não passou pela prova. Morreu e não ressuscitou. No entanto, isto não o impossibilitou de imperar, governar e saber “se ser” (GSV,p.138). Apesar disto, não podemos dizer – e, pelo visto, tampouco Joca Ramiro - o que é que ele queria. Não é exatamente essa uma das interrogações de Riobaldo? “[...] o que é que o pai [de Diadorim] tencionava?” (GSV, p.86). Sendo assim, o que é que sobra? Temos com Lacan (1992, p.30) que [o] que sobra é exatamente, com efeito, a essência do senhor – a saber, o fato de que ele não sabe o que quer. Eis o que constitui a verdadeira estrutura do discurso do senhor. O escravo sabe muitas coisas, mas o que ele sabe muito mais ainda é o que o senhor quer, mesmo que este não o saiba, o que é o caso mais comum, pois sem isto ele não seria um senhor. O escravo o sabe, e é isto sua função de escravo. A partir de toda esta articulação da dialética do saber entre o senhor e o escravo, Lacan (1992, p.31) demonstrou a afinidade deste “saber que não se sabe” com a observação de que o saber inconsciente não é totalizante. Nele, há algo que não se sabe. Este algo relaciona-se justamente com a sexualidade. Não existe, no inconsciente, um significante que represente a diferença sexual. Existe um significante para representar o campo do masculino - o falo -, mas não existe um significante específico para representar o campo do feminino. Com isto, fica impossível eleger um significante que dê conta da relação entre um e outro. Por isso também, Lacan relembra o que está 147 implicado no querer da histérica, frente ao qual, como tratamos antes, Freud não pode perceber o que quer uma mulher. Ouçamos Lacan (1992, p.32): O que a histérica quer que se saiba é, indo a um extremo, que a linguagem derrapa na amplidão daquilo que ela, como mulher, pode abrir para o gozo. Mas não é isso o que importa para a histérica. O que lhe importa é que o outro chamado homem saiba que objeto precioso ela se torna nesse contexto de discurso. Então, o que a histérica quer exibir é que ela é preciosa justamente por saber que a linguagem não diz tudo sobre o gozo específico da mulher. Ora, convenhamos, o que é que isto pode ter a ver com Diadorim e Joca Ramiro, quer dizer, com a problemática entre pai e filha? Freud já nos fez notar que ao cabo de algum tempo, o homem escolhido por uma mulher se mostra como herdeiro do pai e da mãe desta mulher. No entanto, vale ressaltar que é a partir da identificação da mulher com seu pai que ela poderá encontrar condições de continuar seu caminho – geralmente estreito e complexo -, rumo à feminilidade. Para usar a expressão de Assoun (1993, p.10), será a “boa utilização” do pai que favorecerá essa caminhada: Desse pai, certamente é delicado definir a “boa utilização”. Digamos que é preciso que a filha veja ser-lhe devolvida sua imagem – como promessa de mulher – pelo olhar do pai. Basta esse olhar ser insistente demais para que a histérica ateste, por sua perseguição de uma “hiperfeminilidade”, os efeitos da sedução paterna (a qual a fará, paradoxalmente, duvidar de seu sexo!). Basta faltar esse mesmo olhar para que a filha se abstraia perigosamente do “quadro” - como o provam o sentimento de dolorosa “invisibilidade” atestado na anoréxica, na bulímica ou na toxicômona, e os esforços da homossexual, para tornar a existir, de desafiar o olhar do pai, condição da encarnação de um “desejo” -, ao preço de uma manutenção do objeto na linhagem das mulheres... Como podemos entrever, é a questão da (pré-)adolescência, em sua versão feminina, que se desenha aqui, pois é por emergir sob o olhar do pai que a filha sai do amor “sem objetivo” e “desmedido” pela Mãe, para aceder às “razões” do desejo. Tivemos oportunidade de apreciar o esplendor dos olhos e do olhar de Diadorim. Mas, que cores irradiavam do quadro composto pelo olhar que Joca Ramiro lhe dirigia? Acaso seriam as cores quentes da volúpia ou as frias da indiferença? Não. Seu olhar foi pintado com aquelas melhores tintas: “Ele era um homem de largos ombros, a cara grande, corada muito, aqueles olhos” (GSV, p.189). Olhos que refratavam, contemplavam sem insistência, mas, ainda assim, refletiam firmemente a luz dos olhos de Diadorim: “Joca Ramiro, que firme contemplando, só um instante, seja, 148 mas o docemente achável, com um calor diferente de amizade” (GSV, p.190). O encantamento do olhar que Joca Ramiro dirigia a Diadorim emitia a calorosa cor da afabilidade. Portanto, “mesmo sendo assim querido e escolhido de Joca Ramiro” (GSV, p.190), Diadorim ficava “de longe, por ninguém se queixar, não acharem que ali havia afilhadagem” (GSV, p.190). Contemplado à boa distância, Diadorim recebia sua imagem refletida pelo terno olhar paterno. Não precisava lançar mão de uma feminilidade excessiva. Não lhe encandeava, nem atordoava o brilho de écran dos olhos do pai. A admiração daqueles olhos não se expressava através de enganos, de artifícios de perspectiva, de trompe l’oeil. Diadorim não precisava mostrar-se com ostentação, desafiá-lo, pois tinha seu lugar precioso no enquadro dos olhos do pai, olhos caçadores de tesouros. Mesmo distante, Diadorim não era invisível, ao contrário, brilhava como pigmento de ouro. Na despedida, era com os olhos que Joca Ramiro lhe buscava: “Vi que ele com os olhos caçou Diadorim” (GSV, p.191). Esmiuçando: em primeiro lugar, é preciso relembrar que o efeito do olhar de Joca Ramiro sobre Diadorim não redundou, como é óbvio, em nenhuma “hiperfeminilidade”. Ocupar a posição feminina era exercício que Diadorim praticava com a mais absoluta discrição e apenas quando estava a sós ou na companhia de Riobaldo: “Só, por acostumação, ele [Diadorim] tomava banho era sozinho no escuro, [...], no sinal da madrugada” (GSV, p.113). Mandava “comprar um quilo grande de sabão de coco de macaúba, para se lavar corpo” (GSV, p.223). Reparemos a superfluidade de tal cuidado para quem vivia em meio a jagunços que chegavam ao cúmulo de ter como “uso correntio, apontar os dentes de diante, a poder de gume de ferramenta, por amor de remedar o aguçoso de dentes de peixe feroz do rio de São Francisco” (GSV, p.127). Sob o mesmo prisma, mostramos anteriormente o quanto Diadorim preocupava-se com a própria aparência - “Diadorim, todo formosura” (GSV, p.385) -, e com a aparência de Riobaldo: presenteou-lhe com “camisa de riscado fino, lenço e par de meia, essas coisas todas” (GSV, p.113). Já foi expresso o quanto ele cuidava da saúde e bem-estar de ambos; o quanto apreciava a beleza: “Quem me ensinou a apreciar essas belezas sem dono foi Diadorim...” (GSV, p.23). Além disto, Diadorim tinha a meiguice e sabia exercitar a maternação. Gostava de crianças: “Diadorim gostava deles, pegava um por cada mão, até carregava os menorzinhos, levava para mostrar a eles os pássaros das ilhas do rio. – “Olha, vigia: 149 o manuelzinho-da-crôa já acabou de fazer a muda...”” (GSV, p.223). Diadorim chegou mesmo a adotar um filho, apadrinhando-o junto com Riobaldo: “Pois lá um geralista me pediu para ser padrinho de filho. O menino recebeu o nome de Diadorim também” (GSV, p.47). Mas é preciso dizer que ser mãe não implica necessariamente na feminilidade, pois, como Freud observou, para a criança, não há, de início, distinção entre os pais, a mãe também é fálica. Então, junto à mãe, a menina poderá ter a idéia do que é a maternidade - o que implica que a posição feminina seja ocupada. Contudo, permanece a incógnita do que é a feminilidade já que a posição feminina, como sabemos, pode ser ocupada por homens ou mulheres. Já o caminho para a feminilidade... Eis o enigma! Este ninguém ensina. Nem mesmo a mãe. Pois, mesmo que ela o percorra, este caminho será dela, da mãe, e não da filha. Portanto, resta à filha criar seu próprio caminhozinho. Em segundo lugar, é dispensável comentar que Diadorim não tinha nada em comum com a anoréxica, com a bulímica ou com a toxicômana. Diadorim tinha visibilidade garantida no olhar do pai. Terceiro, é preciso deixar bem claro que, em momento algum, constatamos qualquer atitude de desafio dirigida ao pai. Para Diadorim, Joca Ramiro era quase “a única pessoa que ele bastantemente prezava [...]” (GSV, p.176). Tampouco Diadorim seguiu o caminho daquela jovem homossexual atendida por Freud (1980[1920], v.XVIII, p.202) que “[p]or trás de sua pretensa consideração pelos genitores, [...], jazia escondida sua atitude de desafio e vingança contra o pai, atitude que a fizera aferrar-se ao homossexualismo”. Diadorim importava-se com as mulheres: - “Mulher é gente tão infeliz...” (GSV, p.133), disse certa vez, ao ouvir estórias de mocinhas prostituídas por jagunços. Era capaz de protegê-las ferozmente: “ - “Quem quiser bulir com ela que me venha!” – Diadorim garantiu” (GSV, p.45) Mas Diadorim não se interessava sexualmente pelas mulheres, “[...] não se fornecia com mulher nenhuma, sempre sério, só se em sonhos” . (GSV, p.232). Seguia a “regra de ferro de Joãozinho Bem-Bem – o sempre sem mulher, mas valente em qualquer praça” (GSV, p.147). Indo direto ao ponto, podemos dizer que Diadorim gostava de homem. Gostava de Joca Ramiro, seu pai. Gostava de Leopoldo, seu tio. Gostava em especial de Riobaldo: “Ele gostava, destinado de mim” (GSV, p.148), reconhecia Riobaldo. Tanto 150 que, diante do “fogo bandoleiro” (GSV,p.148) deste, Diadorim tinha reações imprevisíveis descritas por Riobaldo da seguinte forma: [à]s vezes, Diadorim me olhasse com desdém, fosse eu caso perdido de lei, descorrigido em bandalho. Me dava raiva. Desabafei, disse a ele coisas pesadas. – “Não sou o nenhum, não sou frio, não... Tenho minha força de homem!” Gritei, disse, mesmo ofendendo. Ele saiu para longe de mim; desconfio que, com mais, até ele chorasse. E era para ter pena? Homem não chora! – eu pensei, para formas. [...] Diadorim firme triste, apartado da gente, naquele arraial, me lembro. Saí alegre do bordel, acinte (GSV, p.148). Estes eram os amores de Diadorim, amores únicos, visto que Diadorim podia declarar: - “Só tenho Deus, Joca Ramiro... e você, Riobaldo...” (GSV, p.140). Daí o tropismo de que falamos antes de Diadorim em relação à Riobaldo. Daí aquela sua jura de “ter a tristeza mortal” (GSV, p.34) caso ele deixasse de vir junto. Então era isto: Diadorim gostava de Riobaldo, e gostava “destinado” (GSV, p.148). Destinado por quem? Por Joca Ramiro? Por Deus? Sem dúvida a aquiescência de Joca Ramiro no que dizia respeito à estima de Diadorim por Riobaldo importava muito. Quando Diadorim apresentou Riobaldo a Joca Ramiro este o avaliou com especial cuidado. Ao final, Riobaldo viu-se perfilhado e agrilhoado pela amarra da gratidão por um obséquio: - “Este aqui é o Riobaldo, o senhor sabe? Meu amigo. A alcunha que alguns dizem é Tatarana...” Isto Diadorim disse. A tento, Joca Ramiro, tornando a me ver, fraseou: - “Tatarana, pêlos bravos... Meu filho, você tem as marcas de conciso valente. Riobaldo... Riobaldo...” Disse mais: - “Espera. Acho que tenho um trem, para você...” Mandou vir o dito, e um cabra chamado João Frio foi lá nos cargueiros, e trouxe. Era um rifle reiúno, peguei: mosquetão de cavalaria. Com aquilo, Joca Ramiro me obsequiava! Digo ao senhor: minha satisfação não teve beiras. Pudessem afiar inveja em mim, pudessem. Diadorim me olhava, com um contentamento (GSV, p.190, grifos do autor). Apesar de o presente ter sido um rifle reiúno, quer dizer, uma arma de baixa qualidade extraviada do arsenal do Estado, isto não reduz o valor da agraciação de Riobaldo. Ser reconhecido e presenteado por Joca Ramiro prestigiava, pois sabemos que a pregnância dele se manifestava fortemente em Diadorim e estendia-se a quase todos os outros: [...] perguntei a ele se Joca Ramiro era homem bom. Titão Passos regulou um espanto: uma pergunta dessa decerto que nunca esperou de ninguém. Acho que nem nunca pensou que Joca Ramiro pudesse ser bom ou ruim: ele era o amigo de Joca Ramiro, e isso bastava. Mas o preto de-Rezende, que estava perto, foi quem disse, risonho bobeento: - “Bom? Um messias!...” (GSV, p.115). 151 Um “messias”!... Quer dizer, um salvador, um daqueles que, para os judeus, por exemplo, seria um redentor prometido por Deus, capaz de estabelecer nova ordem, justiça, paz e liberdade. Tanto foi assim que, naquele julgamento no meio do sertão, quando no final Joca Ramiro baixou sentença, suas palavras e gestos produziram novamente um vórtice, pois, “quando ele se levantava, puxava as coisas consigo, [...]. E todos também, ao em um tempo – feito um boi só, ou um gado em círculos, [...]. Levantaram campo” (GSV, p.214). As palavras de Joca Ramiro no centro do redemoinho e as palavras de Diadorim girando em torno, dizendo: - “Deus é servido...” (GSV, p.214). Um messias, um servidor de Deus... Tratava-se, portanto, de um grande homem. Mas o que fazia de Joca Ramiro um grande homem? Em Moisés e o monoteísmo, um dos últimos textos de Freud (1980[1939], v.XXIII, p.129), vemo-lo comentar que “[f]icaremos surpresos em descobrir que nunca é muito fácil dar uma resposta a essa questão”. Talvez um grande homem se distinga dos demais por suas qualidades psíquicas e intelectuais. Talvez pela grandeza de seus atos. De qualquer forma, decidimos com Freud (1980 [1939], v. XXIII, p.130) “que não vale a pena procurar uma conotação do conceito de ‘grande homem’ que não seja ambiguamente determinada”. Por isso, Freud seguiu no sentido de tomar o que é certo sobre este tipo de homem; sua influência: [...] um grande homem influencia seus semelhantes por duas maneiras: por sua personalidade e pela idéia que ele apresenta. Essa idéia pode acentuar alguma antiga imagem do desejo das massas, ou apontar um novo objetivo de desejo para elas, ou lançar de algum outro modo seu encantamento sobre as mesmas. [...] Sabemos que na massa humana existe uma poderosa necessidade de uma autoridade que possa ser admirada, perante quem nos curvemos, por quem sejamos dirigidos e, talvez, até maltratados (Freud, 1980 [1939], v. XXIII, p.131). A massa requer, portanto, um senhor. Especificamente sobre a história da massa humana do Grande Sertão, podemos dizer com Bolle (2004, p.303) que as [...] cenas de Grande Sertão: Veredas relembram a história do país, desde a colonização. A “empresa Brasil” como máquina de gastar gente. Uma máquina que tem sua lógica própria. De um lado, os poucos que dela se aproveitavam, do outro, o “material humano” sendo queimado aos montes: bugre matando bugre, escravo matando escravo, sertanejo matando sertanejo. É a história de uma nação se dilacerando. 152 Não admira, portanto, que, em tal contexto de dilaceramento, a massa - o “material humano” - rodopiasse em torno de um líder como Joca Ramiro. Um homem como ele, capaz de conduzir o gado humano a outra razão, era a encarnação da esperança de justiça e união. Contudo - temos de ponderar -, esta ainda não é a causa mais premente que impulsiona toda e qualquer massa a necessitar do líder. Freud (1980 [1939], v. XXIII, p.131) nos indicou onde a origem dessa necessidade deve ser localizada [...] no anseio pelo pai que é sentido por todos, da infância em diante, do mesmo pai a quem o herói da lenda se gaba de ter derrotado. E pode então começar a raiar em nós que todas as características com que aparelhamos os grandes homens são características paternas, e que a essência dos grandes homens, pela qual em vão buscamos, reside nessa conformidade. A decisão de pensamento, a força de vontade, a energia da ação fazem parte do retrato de um pai – mas, acima de tudo, a autonomia e a independência do grande homem, sua indiferença divina que pode transformar-se em crueldade. Tem-se de admirá-lo, pode-se confiar nele, mas não se pode deixar de temê-lo, também. Esclarecemos que estas observações de Freud foram feitas em seu estudo sobre a representação messiânica de Moisés para o povo judeu. Moisés e o monoteísmo é, segundo Roudinesco e Plon (1998, p.518), o “[l]ivro do exílio, simultaneamente publicado em Amesterdam e Londres no mesmo ano da morte do autor”. Neste trabalho Freud procurou explicar a origem do monoteísmo na crença judaica. Freud (1980 [1939], v. XXIII, p.134) também tentou justificar os efeitos de uma religião forjada numa “concepção muito mais grandiosa de Deus” e a conseqüência da proibição judaica de se fabricar imagens do divino: “um triunfo da intelectualidade sobre a sensualidade” (v. XXIII,p.135). Com a proibição da iconolatria, Freud (1980 [1939], v. XXIII, p.137) avalia que [a] proibição mosaica elevou Deus a um grau superior de intelectualidade; abriu-se então o caminho para novas alterações na idéia de Deus, as quais ainda temos de descrever. Mas podemos considerar primeiro outro efeito da proibição. Todos os avanços desse tipo têm, como conseqüência, ser aumentada a auto-estima do indivíduo, tornar-se ele orgulhoso, de maneira que se sente superior a outras pessoas que permanecem sob o encantamento da sensualidade. Moisés, como sabemos, transmitiu aos judeus um exaltado sentimento de serem um povo escolhido. A desmaterialização de Deus trouxe uma nova e valiosa contribuição para o secreto tesouro desse povo. Os judeus retiveram sua inclinação para interesses intelectuais. [...] a Escritura Sagrada e o interesse intelectual por ela mantiveram reunido o povo dispersado. 153 Portanto, para Freud (1980 [1939], v. XXIII, p.141) o avanço na intelectualidade implicou também no recalcamento da sexualidade em decorrência do que a religião exerce “uma acentuada restrição da liberdade sexual; Deus, contudo, afasta-se inteiramente da sexualidade e eleva-se para o ideal de perfeição ética”. Esta nova concepção de Deus, um Deus cujo nome é inclusive impronunciável, levou Freud (1980 [1939], v. XXIII, p.134) a afirmar ainda sobre o povo judeu que, “[t]odo aquele que acreditasse nesse Deus possuía algum tipo de parte em sua grandeza, ele próprio poderia sentir-se exalçado”. Guardada as devidas proporções, podemos dizer que Joca Ramiro também era um líder grandioso e, como tal, incitava o orgulho de muitos que o seguiam. Isto, no entanto, não impediu que Riobaldo interrogasse: “Por que era que todos davam assim tantas honras a Joca Ramiro, esse louvo sereno, com doado?” (GSV, p.177). Até mesmo o Hermógenes - seu assassino - o admirava e temia. Para ele, Joca Ramiro “era maludo capitão, vero, no real” (GSV, p.177). Para o Hermógenes, um capitão maludo - quer dizer, assim valente, bravo, exato, verdadeiro - era, como se podia esperar, também perigoso. Carecia, eliminá-lo, portanto. Apesar disto, mesmo depois de morto, o lugar de Joca Ramiro se sustentava. Podemos mesmo observá-lo ainda mais elevado, pois a ele se suponha um saber inigualável: - “Agora, da gente não sei o que vai ser... Para guerra grande, eu acho que só Joca Ramiro é que era capaz...” (GSV, p.54), reconheceu um de seus lugarestenentes. Mas, como Freud (1980[1939], v. XXIII, p.140) pode perceber, “o grande homem é exatamente a autoridade por cujo amor a realização é levada a cabo”. Daí a empreitada rumo ao grande combate em nome de Joca Ramiro ter sido levada à diante. Daí o avanço na intelectualidade que, segundo o exemplo fornecido por Freud, “[c]onsiste, [...], em decidir que a paternidade é mais importante do que a maternidade, embora não possa, como esta última, ser estabelecida pela prova dos sentidos, e que, por essa razão, a criança deve usar o nome do pai e ser herdeira dele”. Em síntese, Freud considerou que o avanço da intelectualidade se deu à custa do recalcamento das pulsões sexuais. Atribuiu-se ao Deus da tradição judaica uma posição superior a dos deuses das outras religiões. O monoteísmo gerou um Deus apartado da sexualidade. Por isso, Lacan (1992, p.128) afirmou que “[a] característica de Yahvé, [...], é [ignorar] ferozmente tudo o que existe, [...], de certas práticas 154 religiosas que então proliferavam, fundadas sobre um certo tipo de saber – de saber sexual”. Então chegamos ao ponto em torno do pai no qual Freud e Lacan encontramse, ao mesmo tempo, em concordância e discordância: Para ambos a mãe é certa, é algo da ordem dos sentidos. Para ambos o pai é incerto, trata-se de uma suposição. O pai real é uma construção da linguagem. Nem mesmo os métodos científicos mais refinados de determinação da paternidade conseguem dar conta do que é ser pai. Como esclarece Lacan (1992, p.120): O pai real nada mais é que um efeito da linguagem, e não tem outro real. Não digo outra realidade, pois a realidade é uma outra coisa. [...]. [...] a noção de pai é cientificamente insustentável. Só há um pai real, é o espermatozóide, e, até segunda ordem, ninguém jamais pensou em dizer que é filho de um espermatozóide. Naturalmente, pode-se fazer objeções, com a ajuda de um certo número de exames de grupos sangüíneos, de fatores Rh. Mas isso é completamente novo, e não tem absolutamente nada a ver com tudo que se enunciou até aqui como sendo a função do pai. Tanto Freud quanto Lacan fazem referência ao uso do nome do pai: o pai nomeia. O pai reconhece (LACAN, 1997): – És meu filho. É através deste reconhecimento, desta nomeação, que ele representa a lei de proibição do incesto. Para explicar esta proibição, Freud forjou o mito do pai primevo de Totem e tabu e o mito de Édipo. Até aí Freud e Lacan caminham pari passu, no entanto, como já vimos o nome do pai conduziu Lacan a um avanço teórico. Conduziu-o ao Nome-do-Pai. Se para Freud a lei de proibição do incesto se instaura após a morte do pai da horda primitiva de Totem e tabu, quer dizer, se a função paterna está condicionada à morte do pai a partir do que os filhos - em reverência ao nome do pai - se absterão das relações incestuosas, isto implica, como ressalta Lacan (1997, p.370), que “[a] única função do pai, [...], é a de ser um mito, sempre e unicamente o Nome-do-Pai, isto é, nada mais que o pai morto”. Assim, o pai enquanto função - enquanto nome, enquanto verbo - encontrase, também ele agrilhoado à morte. Até mesmo o Pai, o Deus-Pai. Como esclarece Julien (1996, p.97, grifos do autor), [p]ara os antigos, antes da revelação judaico-cristã, não era preciso inventar. O homem estava submetido ao Deus do destino, segundo o qual tinha que pagar uma dívida cujo preço era fixado de antemão, fizesse ele o que fizesse. E se a 155 fatalidade, a Até, o destinasse ao infortúnio, ele poderia justificadamente maldizer o Deus do destino por sua maldade, sem maldizer a si mesmo. Porém, o advento do judaico-cristianismo marca a morte do Deus do destino. A partir de então o destino não é mais nada. Não se tem mais uma dívida para com ele. Não há mais como maldizer a Deus, ao Outro. Resta ao homem - fruto do pecado original - maldizer a si mesmo (JULIEN, 1996). Se antes o destino dava um sentido aos infortúnios da existência, agora resta a busca de algum sentido para o absurdo da travessia humana. Por isso a volta ao Pai enquanto tentativa de se restaurar sua autoridade, pois como remata Julien (1996, p.98, grifos do autor) [...] é exatamente nesse momento de desarvoramento e desespero que a tentação se apresenta: tomar a si o encargo de restaurar e salvar a figura da autoridade, para que assim determinado grupo, sociedade ou família recupere a força e a coesão. É esse o trágico moderno. Um trágico que tenta encobrir a morte de Deus, o Pai, enquanto destino. Porém, frente ao fracasso de encobrir a falta do destino, o homem depara-se com o sem sentido. Resta-lhe, portanto, inventar um sentido para o desatino que é o contra-senso tentando encobrir a falta de “a” do destino. O Nome-do-Pai tem esta função. Dá um sentido ao desvario, forma cadeia, une os elos. Constitui assim um grilhão de elos imponderáveis que tem o efeito de submeter os filhos à Lei, ao mesmo tempo, em que lhes permite aquela entrada de fininho pela porta do desejo de que Lacan fala e aquela liberdade “de um pobre caminhozinho, no dentro do ferro de grandes prisões” (GSV, p.233) de que fala Riobaldo. Será por aí - e em decorrência da amarração ou, melhor ainda, da enodação do grilhão feita pelo Nome-do-Pai – que o sujeito buscará, então, algum sentido que lhe dê acesso a seu desejo. Mas, façamos antes um esforço para entender como, afinal, o acesso ao desejo também leva o sujeito a se deparar com a Lei cujo efeito é, paradoxalmente, o recalcamento do desejo: o que a realização do desejo visa é a completude. Deseja-se o que falta. A isto que falta, Lacan deu o nome de “objeto a”, quer dizer, objeto causa do desejo (LACAN,1998). Este objeto não é um objeto da realidade. Ele não pode ser representado. Deseja-se o que falta no sentido mais amplo da falta. Deseja-se o que está ausente e o pecado, o proibido, o interditado pela Lei. Como conseqüência, o sujeito é 156 conduzido ao inescrutável, ao que se encontra sob a ação do recalque não podendo, portanto, manisfestar-se de forma consciente. O objeto causa do desejo divide o sujeito. Por isso o desejo é sempre um desejo inconsciente. Assim, antípoda da Lei, o desejo implica – sempre - em alguma transgressão, apesar de estar agrilhoado à Lei. Por conseguinte, como esclarece Lacan (1997, p.370), [...] é claro que para que isto seja plenamente desenvolvido, é preciso que a aventura humana, nem que seja em esboço, seja levada a seu termo, ou seja, que seja explorada a zona em que Édipo avança após ter-se dilacerado os olhos. É sempre por meio de algum ultrapassamento do limite, benéfico, que o homem faz a experiência de seu desejo. O desejo de Édipo é o desejo de saber a chave do enigma do desejo. Quando lhes digo que o desejo do homem é o desejo do Outro, algo me vem à mente que soa em Paul Eluard como o duro desejo de durar. Isso nada mais é do que o desejo de desejar. O que Lacan nos faz ver é que, depois de ter ultrapassado o limite da proibição do incesto, Édipo, que fora edipiano justamente por não saber que o estava sendo, arrancou os próprios olhos e adquiriu uma maior acuidade. Podemos dizer que o desejo incestuoso de Édipo era um desejo em potência, tanto que ele fugira da casa daqueles que acreditava ser seus verdadeiros pais. Édipo matou Laio e dormiu com Jocasta justamente quando percorria a estrada que suponha afastá-lo da realização do destino predito pelo oráculo de que ele mataria o pai e dormiria com a própria mãe. Por isso dissemos que a aventura de Édipo consistiu na realização do desejo que até então se mostrava em potencial, pois, como esclarece Corrêa (2006)45, para sabermos se algo é potencial, faz-se necessário realizar todas as potencialidades deste algo. Contudo, quando realizamos todas as potencialidades de alguma coisa, esta coisa deixa de ser potencial, deixa de ser possível, perde a característica de vir a ser, já aconteceu, realizou-se. Desta forma, realizar todas as potências de algo é sair da potencialidade e entrar na contingência. A partir disto, se considerarmos que Édipo realizou todas as potencialidades de seu desejo, poderemos, então, concluir que ele ficou esvaziado de qualquer desejo? Não. Muito ao contrário, pois o desejo é duro, resistente e persistente. Cego e exilado, Édipo, enfim, saiu da contingência e pode caminhar rumo a seu próprio desejo, um 45 Comunicação oral proferida durante seminário ministrado por Ivan Corrêa em Fortaleza no dia 13 de maio de 2006. 157 desejo de saber sobre o desejo. Édipo fez uma ultrapassagem. Cego, pôde ver melhor. Exilado, encontrou alguma liberdade. Depois de Lacan, podemos dizer coisas deste tipo sobre Édipo. E a propósito de Diadorim, o que podemos dizer? 4. 8 Para além do traje, o ultraje de Diadorim Mesmo trajando-se como homem, acreditamos que a travessia realizada por Diadorim foi um ultraje que buscava o sentido de alguma feminilidade. Afirmamos isto porque lembramos, com Lacan (1997, p.340) que “o ultraje, é passar além de, ultrapassar o direito que se tem de baratear o que ocorre, na maior desgraça”. Mesmo sem poder desfrutar das graças femininas, e depois, mesmo sob o peso da desgraça do assassinato do pai, Diadorim tentou fazer a travessia, a passagem, rumo à feminilidade. É o quê pensamos. Todavia, é preciso reconhecer que, ao final, ele não barateou na desgraça. Ultrajou. Assim como Édipo, Diadorim tentou percorrer uma vereda que o afastasse, ou melhor, o liberasse de seus fados, do Deus destino. Fez travessia. Mas, “[t]ravessia, Deus no meio” (GSV, p.235) de forma que assim o circuito, paradoxalmente, sofreu suas torções. Apesar disto, sustentamos a idéia de que Diadorim tentou se desviar das veredas que impediam seu acesso à feminilidade. Por isso, concordamos com Utéza (1994, p.93) quando este observa que “Diadorim tem consciência de que suas motivações evoluem. [...] A idéia fixa da vingança, [evoluiu] para uma nova solução em que o amor que ele tem por Riobaldo ocupa um lugar primordial [...]”. Todavia, divergimos de Utéza quanto à indicação de que o amor de Diadorim por Riobaldo tenha evoluído a partir da idéia fixa de vingança pela morte de Joca Ramiro. A nosso ver, antes mesmo da morte do pai, Diadorim já havia se voltado para Riobaldo, já buscava uma nova solução, já tentava percorrer novas veredas. Consideramos que Diadorim elegera Riobaldo como um substituto do amor paterno muito antes da morte do pai, mas, para comprovar esta argumentação, teremos novamente de rodopiar em volta dos eventos centrais do Grande Sertão. Ao final do julgamento de Zé Bebelo - portanto antes do assassinato de Joca Ramiro - quase todos festejaram o veredicto. Dissemos quase todos porque sabemos que para Hermógenes, Ricardão e alguns outros, aquele julgamento fora “...Mamãezada...” 158 (GSV, p.215). Mas, como dizíamos para todo o restante dos jagunços, a ocasião era de festa. Assim, estavam “desagasalhados na alegria, feito meninos” (GSV, p.215). Entre estes, Riobaldo e Diadorim. Aconteceu então que, enquanto Riobaldo relembrava para si e para Diadorim as palavras de Zé Bebelo ao afirmar “que agora era “o mundo à revelia...”” (GSV, p.215, grifos do autor), Diadorim [a]o dar, que falou: - “Riobaldo, você prezava de ir viver n’Os-Porcos, que lá é bonito sempre – com as estrelas tão reluzidas?...” Dei que sim. Como ia querer dizer diferente: pois lá n’Os-Porcos não era a terra de Diadorim própria, lugar dele de crescimento? Mas mesmo enquanto que essas palavras, eu pensasse que Diadorim podia ter me respondido, assim nestas fações: - “...Mundo à revelia? Mas, Riobaldo, desse jeito mesmo é que o mundo sempre esteve...” Toleima, sei, bobeia disso, a basba do basbaque. Que eu dizia e pensava numa coisa, mas Diadorim recruzava com outras (GSV, p.216). Que melhor exemplo poderíamos ter daquilo que pode se apresentar como desconhecido exatamente para o revel, para a parte interessada, do que este diálogo entre Riobaldo e Diadorim? Aquele pensando e esperando que Diadorim tivesse a mesma fação46 - a mesma acepção, o mesmo sentido do mundo, talvez o mesmo sentido masculino -, enquanto este recruzava o sentido. Ora, “recruzar” não significa, necessariamente, como entendeu - ou quis dar a entender – Riobaldo, cortar, atravessar, ir noutro sentido, passar em direção contrária. Talvez aqui, “recruzar” possa também querer dizer “cruzar reciprocamente, entrecruzarse”. Neste caso, não haveria equívoco. Riobaldo acreditava que o mundo é à revelia e Diadorim também. Por isso mesmo o convida a sair da jagunçagem. Pensamos que Diadorim recruza, e assim dispõe os pontos de interseção do mundo à revelia de um, com o mundo à revelia do outro: viver com Riobaldo n’Os Porcos... Voltar às origens, ao lugar onde Diadorim cresceu, e ter, enfim, oportunidade de conhecer o que tanto lhes interessava! Mas como Riobaldo poderia saber que, por esta proposta, Diadorim abria um caminho à revelia de ambos? Mal-entendido, sempre o mal-entendido. Sempre as equivocações produzidas pela linguagem. Sempre a falta de proporção exata entre os 46 Segundo Martins (2001, p.219, grifos da autora), ‘fação’ é um termo “não dicionarizado proveniente da adaptação do francês façon, possível arcaísmo, visto que na língua arcaica eram numerosos os galicismos”. Aparentemente, foi empregado pelo autor do Grande Sertão no sentido de “acepção”. No entanto, encontramos no Dicionário eletrônico Houaiss da língua portuguesa, versão 2001, o mesmo termo, “fação”, sendo remetido ao termo “facção” que tem, dentre outras, as seguintes acepções: feito de armas heróico; bando ou partido insurrecto; fração dissidente de um partido. 159 sexos. Assim é o mundo entre o homem e a mulher: desencontrado. Mundo onde não há relação sexual. Mundo revel, insurgente. Desarmonia. Verificando um pouco mais nossa argumentação, parece-nos que desde o primeiro encontro de Riobaldo e Diadorim às margens do de-Janeiro, este já se voltara para o outro. Mesmo percebendo todo o medo que consternava Riobaldo durante a travessia do de-Janeiro, Diadorim - tido então como sendo o Menino - soube dar a Riobaldo algum valor. Moveu-se em sua direção, aproximou-se e aprofundou-se em seu corpo: E o menino pôs a mão na minha. Encostava e ficava fazendo parte melhor da minha pele, no profundo, désse a minhas carnes alguma coisa. Era uma mão branca, com os dedos dela delicados. – “Você é animoso...” – me disse. Amanheci minha aurora (GSV, p.84). Parece-nos claro que, por volta dos quatorze anos, quer dizer, já na adolescência, mesmo amando e admirando profundamente um pai tido como “o homem mais valente deste mundo” (GSV, p.83), Diadorim iniciou sua travessia no sentido de encontrar veredas que lhe possibilitassem separar-se dele. Mas notemos que, aparentemente, nada obriga uma filha a separa-se do pai. Ao contrário do filho que - em decorrência da proibição do incesto e da ameaça de castração - sabe exatamente qual é a única mulher que lhe é proibida e da qual precisa separar-se, a filha, como afirma Assoun (1993, p.16, grifos do autor), se encontra diante de uma “encruzilhada” que parece por em jogo, de certa maneira, toda a “arbitrariedade” de uma escolha”. Nada a obriga a isso, literalmente, senão ela mesma, na medida em que não está a seu dispor nenhum imperativo de “renúncia simbolizável” situado fora dela. [...] A esse objeto paterno, entretanto, é preciso renunciar, de conformidade com a proibição do incesto – impedimento mais real do que simbólico -, mas é concebível que a escolha do “homem de sua vida” fique sujeita à mesma lógica: não será aquele que não deveria ser escolhido, mas, apesar disso... ele só será escolhido entre todos [...] na medida em que trouxer a marca, misteriosamente materializada pela história singular e suas tramas fantasísticas, daquele “um” que já foi amado no lugar da “Uma” – no que o circuito se fecha e, felizmente, fecha-se mal, já que é justamente em virtude de o homem amado ser outro que não o pai (embora se pareça com ele) e diferente da mãe (embora faça lembrar sua promessa) que ele é desejado e amado, [...], “por ele mesmo”! Portanto, pensamos que, para Diadorim, desde o primeiro encontro com Riobaldo, foi a encruzilhada de uma vereda conduzindo ao pai e outra ao homem amado, Riobaldo - aquele que materializava a história e a urdidura da fantasia paterna. 160 Mas, para além disto, questionamos: Diadorim teria amado Riobaldo por ele mesmo? Acreditamos que sim, pelo menos até o ponto onde lhe foi possível nesta travessia. Desde o início, Diadorim deve ter identificado em Riobaldo algum traço que lhe possibilitou revesti-lo com as qualidades do pai: - “Você é animoso” (GSV, p.84), dissera-lhe já no primeiro encontro. – “[...] você é leal” (GSV, p.214), disse-lhe depois o que nos leva a crer que para Diadorim, Riobaldo era a esperança de cumprimento da promessa. Diríamos que até aí Diadorim amou Riobaldo segundo a identificação de vestígios deixados na vereda que conduzia ao pai. Porém, mais adiante, na iminência do combate final pela vingança da morte do pai, quando Riobaldo tornara-se, então, chefe de toda a jagunçada, Diadorim lhe confessou abertamente sua motivação para aquela guerra: - “Menos vou, também, punindo por meu pai Joca Ramiro, que é meu dever, do que por rumo de servir você, Riobaldo, no querer e cumprir...” (GSV, p.404). Eis aí uma sensacional torção da travessia! Encruzilhada: O pai, um dever, uma obrigação. O homem amado: um serviço, algo que se faz de graça, uma escolha, um querer, um realizar-se, um suceder... Uma ultrapassagem. Enfim Riobaldo foi posto adiante do pai. Com este raciocínio, parece-nos valer a pena continuar caminhando no sentido desta nova vereda para verificar se Diadorim realmente mostrava alguma pretensão de abrir mão da posição masculina desvencilhando-se do traje viril para seguir no ultraje feminino: Um dia, Riobaldo trouxe um mimo para Diadorim, uma pedra de safira. Porém, Diadorim estabeleceu um prazo para aceitar o presente: - “Deste coração te agradeço, Riobaldo, mas não acho de aceitar um presente assim, agora. Aí guarda outra vez, por um tempo. Até em quando se tenha terminado de cumprir a vingança por Joca Ramiro. Neste dia, então, eu recebo...” (GSV, p.283). Em seguida, foi a vez de Riobaldo insistir na saída da jagunçagem: - “Escuta Diadorim: Vamos embora da jagunçagem, que já é depois-de-véspera, que os vivos também têm de viver por si, e vingança não é promessa a Deus [...]” (GSV, p.238). Novo desencontro, nova desarmonia: “Diadorim respirava muito” (GSV, p.283), e Riobaldo, magoado com a recusa do presente, diz que vai embora: - “Vou e vou. Só inda acompanho é até o Currais-do-Padre” (GSV, p.284). Antecipamos que ele 161 não foi, e que realmente acompanhou Diadorim até o curral, o redil, o lugar de aprisionamento do padre, do pai. Diadorim não se calou diante da ameaça de Riobaldo: - “Então, que quer mesmo ir, vai. Riobaldo eu sei que você vai para onde: relembrado de rever a moça clara [....]. Com ela, tu casa. Cês dois assentam bem, como se combinam... (GSV, p.285). Diadorim referia-se a Otacília. Avançou um pouco mais na fala e sugeriu um futuro para o presente que acabara de lhe ser ofertado: “[...] pega essa prenda jóia, leva dá para ela, de presente de noivado...” (GSV, p.285). Não obstante, é na continuação deste falar incontido que podemos apreciar de que maneira Diadorim ensaiou uma mudança de seus trajes ultrapassando-se na identificação à outra mulher. Acreditamos que neste momento, esta foi a única vereda encontrada por Diadorim para ir em direção à feminilidade. Uma vereda fantasiada. Uma fantasia compartilhada com Riobaldo. Um partilhar viabilizando a realização de um desejo: - “... Você casa, Riobaldo, com a moça da Santa Catarina. Vocês vão casar, sei de mim, se sei; [...] ... Estou vendo vocês dois juntos, tão juntos, prendido nos cabelos dela um botão de bogari. Ah, o que as mulheres tanto se vestem: camisa de cassa branca, com muitas rendas... A noiva, com o alvo véu de filó...” Diadorim mesmo repassava carinho naquela fala. [...] Agora falava devagarinho, de sonsom, feito se imaginasse sempre, a si mesmo uma estória recontasse. [...] Como se eu nem estivesse ali ao pé. Ele falava de Otacília. Dela vivendo o razoável de cada dia, no estar. Otacília penteando compridos cabelos e perfumando com óleo de sete-amores, para que minhas mãos gostassem dele mais. E Otacília tomando conta da casa, de nossos filhos, que decerto íamos ter. Otacília no quarto, rezando ajoelhada diante da imagem, e já pronta para a noite, em camisola de fina ló. Otacília indo por meu braço às festas da cidade, vaidosa de se feliz e de tudo, em seu vestido novo de molmol (GSV, p.286). Fantasia, cassa branca, rendas, véu de filó, ló de lã ou seda, vestido de molmol... Tecidos finos, esvoaçantes... Transparências cumprindo a função de velar e revelar um desejo: o desejo de saber sobre o enigma da feminilidade. Riobaldo com uma outra mulher é fantasia, cortina tecida por fios de textura simbólica e imaginária para recobrir o real. Pelos fios do simbólico, é “estória” que se reconta. Pelos fios do imaginário, é reencenação que faz a cena cintilar: Ele, herdeiro das insígnias paternas, é neste devanear compartilhado não apenas o pai, mas, principalmente o olhar do pai. 162 Ela, a outra mulher, santamente pronta para a noite, é aquela que “vai e vem com os cabelos”47 compridos e perfumados de sete amores. A outra é a mulher e a mãe. Ao mesmo tempo mulher que inspira o desejo e mãe perfeita, sem falta, posto que velada. E Diadorim, no entrever da transparência de tantos véus, é aquele que desponta no ideal de si mesmo, um ideal que o divide. Além disto, é também o olho que vislumbra a representação, os contornos do objeto, também idealizado, de seu desejo. Logo, por trás da cortina, o objeto. Um objeto perdido de si e do outro – já que o que se procura é um objeto absoluto, sem falta -, e cuja ausência o véu tenta dissimular. Ao compartilhar desta fantasia com Riobaldo, Diadorim não o identifica como objeto de seu desejo, não o vê. É como se ele “nem estivesse ali ao pé” (GSV, p.286). O que acontece é que Diadorim se identifica ao objeto da fantasia dele e, por conseguinte, àquilo que falta. Mas não pensemos que isto invalide o amor de Diadorim por Riobaldo. Ele é o objeto de seu amor. Sustenta-se pela idealização, pela identificação narcísica: “Cês dois assentam bem, como se combinam...” (GSV, p.285) o que resulta, pelo amor, em uma mulher “vaidosa de se feliz e de tudo” (GSV, p.286). Quanto ao objeto da fantasia, já que ele é aquilo que falta, temos que este objeto é o falo. Ora, deparar-se com a falta do falo, remete à castração e é justamente isso que a fantasia cobre e descobre. Por essa discordância entre o objeto do amor e o objeto da fantasia é que surge a discordância entre os casais. Por isso, depois da “sonhice” (GSV, p.286), o coração de Diadorim “batia ligeiro” (GSV, p.286) porque o falo falta a todos e o amor tenta dar isto que ninguém tem, visando a completude. Daí o súbito desamparo: “Mas me lembro que no desamparo repentino de Diadorim sucedia uma estranhez – alguma causa que ele até de si guardava, e que eu não podia inteligir. Uma tristeza meiga, muito definitiva” (GSV, p.286). Os dias se passaram. Riobaldo “levava Diadorim...” (GSV, p.297). Assim continuaram, lado a lado, por veredas que os conduziram ao “lugar demarcado, começo de um grande penar em grandes pecados terríveis” (GSV, p.303), novas veredas encruzilhadas, sendo que “[e]las tinham um nome em conjunto – que eram as Veredas- 47 Alusão à canção “Você, você” de Chico Buarque, CD As cidades, citada no capítulo anterior. 163 Mortas. [...] por uma ou por outra, se via uma encruzilhada. Agouro?” (GSV, p.304). Talvez não. Talvez apenas um lugar em que se pode reconhecer junto com Riobaldo que “Ah, o que eu não entendo, isso é que é capaz de me matar” (GSV, p.249). Riobaldo e Diadorim encaminharam-se, desta forma, em direção a um lugar decisivo: para um, o limite: “as Veredas Mortas... Ali eu tive limite certo (GSV, p.304, grifos do autor). Para o outro, lugar de ultrapassagem. 4. 9 A pedra começa a rolar A pedra de safira recusada rolou e atrapalhou o caminho. Como objeto perdido, ganhou vários nomes, pulverizou-se. No começo, era um topázio: “eu trouxe a pedra de topázio para dar a Diadorim” (GSV, p.49). Depois, conforme observa Utéza (1994, p.121) a pedra muda de nome ao longo da narrativa: “[...] de safira (p.283), volta a ser topázio (p.334) [...], depois ametista-topázio (p.430), para finalmente fixar-se no estado de ametista [...] (p.454) [...]”. A pedra metamorfoseou-se com o desenrolar. Assim como ocorreu com ela, outras metamorfoses foram observadas. De raso jagunço, Riobaldo passou a chefe do bando, numa ascensão incentivada e celebrada por Diadorim. De aprendiz, passou a fazer discípulo e a arregimentar homens e, qual um pai, quis definir-lhes o mundo: “- “O mundo, meus filhos, é longe daqui!” – eu defini” (GSV, p.336). O discípulo de Riobaldo foi o pretinho Guirigó “[u]m rapazola retinto, mal aperfeiçoado; por dizer, um menino” (GSV, p.299). Prestemos atenção a este menino, pois ele não é um menino qualquer: “Tão magro, trestriste, tão descriado, aquele menino já devia de ter prática de todos os sofrimentos. Olhos dele eram extremados, [...]” (GSV, p.299). Estes olhos, veremos, testemunharam uma interessante metamorfose. Depois de Diadorim ter deixado patente que se encontrava na encruzilhada da vereda do dever em relação ao pai e da vereda do querer em relação à Riobaldo, e que tendia mais a seguir por esta última, Riobaldo nem considerou esta declaração: “Nem considerei. “– “É, o Hermógenes tem de acabar!” – eu disse” (GSV, p.404). Aí, para Diadorim, foi um desmoronar de esperança e o rolar de lágrimas pela pobreza feminina: “Diadorim, ia ter certas lágrimas nos olhos, de esperança empobrecida. Me mirava, e não atinei. Será que até eu achasse uma devoção dele merecida trivial?” (GSV, p.404). 164 Era o precipício do mal-entendido. Diadorim mirava Riobaldo, ele era alvo de seu amor. Riobaldo não percebeu. Ele agora queria glórias. Diadorim, amor. Ele agora, herdeiro do pai, ocupava o lugar do líder, era o portador do falo. Enquanto isto, Diadorim, o legítimo herdeiro, bravo guerreiro, abriu mão de sua herança, abriu mão de ter o falo. Não o queria e foi bem longe na disposição de pagar o preço pela perda da herança. Queria antes receber o falo de Riobaldo ou ser o falo para este. Como ressalta Soler (2005, p.100), [j]ustamente na medida em que seu desejo diverge para o homem, é mais a ser ou a receber esse falo que a mulher aspira: a sê-lo, através do amor que faliciza, e a recebê-lo, por intermédio do órgão com que ela goza, mas, nos dois casos, ao preço de não o ter. Pobreza feminina! Foi exatamente nesse momento de divergência que irrompeu, como considera Utèza (1994, p.91), um “fenômeno grandioso”, o “desvôo de tanajuras” (GSV, p.404), um exemplo extraordinário do saber dos instintos, um saber tão certo, tão distinto do saber do desejo, sempre tão incerto e desencontrado. Riobaldo, cego de mestria, chamou o menino Guirigó para apreciar e “saber do mundo” (GSV, p.404). Fascinado pela metamorfose das tanajuras, Riobaldo não viu a mudança ao seu redor. Não viu mais Diadorim: “Mas, então, quando mirei e não vi, Diadorim se desarpartou de meus olhos. Afundou no grosso dos outros. Ai-de! hei: e eu tinha mal entendido” (GSV, p.405). Assim é o desentendido mundo dos homens. A esta altura, o bando já havia capturado a mulher do Hermógenes. Um dia esta pediu para falar em particular com o jagunço Reinaldo, que era Diadorim. Sobre essa conversa, Diadorim “não me contou nada” (GSV, p. 407). Mesmo assim não esqueçamos que houve uma conversa entre a mulher do Hermógenes e Diadorim. Dissemos anteriormente que Riobaldo passou a arregimentar homens “para obrar vingança pela morte atraiçoada de Joca Ramiro” (GSV, p.337). Pois bem, agora é ele que forma anéis convocando “todos nas armas” (GSV, p.337). Agora, a vingança em nome do pai agrilhoa Riobaldo. Os elos se enodam e formam uma cadeia de homens prontos para o combate. Entre estes, o Borromeu: Quem era esse Borromeu? Mandei vir. Um cego; ele era muito amarelo, escreiento, transformado. – “Responde, tu velho, Borromeu: que é que tu faz?” “- Estou no meu canto, cá, meu senhor... Estou me acostumando com o momentinho de minha morte...” Cego, por ser cego, ele tinha o direito de não tremer. – “Tu é devoto?” “– Pecador pior. Pecador sem o que fazer, pede preto, pede padre...” Apontou com o dedo. Levei os olhos. Não vi nada. É assim, a esmo, que os cegos fazem. Aquele era o bom rumo do Norte. – “Ah, meu 165 senhor, eu sei é pedir muitas esmolas...” Pois, então, que viesse também o Borromeu, viesse (GSV, p.337). Foi assim que nos veio o cego Borromeu e com sua vinda tivemos - também nós - a indicação de um sentido, de um norte, da amarração de uma cadeia. Mesmo que indicando a esmo, o que a aparição do velho Borromeu faz é nos dá a oportunidade de entender um pouco mais sobre o Nome-do-Pai no Grande Sertão. Borromeu é um nó. Ele agrilhoa elos, enoda-os, sendo que ele mesmo é incorporado aos elos enodados. Mas, expliquemos isso melhor: Em 1956, Lacan (1992) já afirmava que o Nome-do-Pai é o anel que faz tudo se manter junto. Vimos no segundo capítulo deste trabalho que para Lacan o pai imaginário, o pai simbólico e o pai real mantém relação entre si. Estão enodados. O que amarra todos estes pais é o Nome-do-Pai. Posteriormente, em 1975, no seminário intitulado simplesmente por R,S,I, quer dizer, Real, Simbólico, Imaginário, Lacan articulou o nó Borromeu ao conceito de Nome-do-Pai, introduzido na teoria em 1956. Através deste recurso da topologia – pois, o nó Borromeu, assim como a faixa de Mœbius que tratamos anteriormente, são estruturas topológicas -, ele pode resolver a questão deixada em aberto naquele seminário do ano de 1963, intitulado Nomes-do-Pai. Foi justamente o emprego do nó borromeano que possibilitou a articulação deste conceito aos registros do real, simbólico e imaginário (PORGE,1998). Então o Nome-do-Pai amarra todos os nomes do pai – o pai imaginário, o pai simbólico e o pai real – ao mesmo tempo em que ele próprio faz parte de cada um destes. É uma quarta consistência e tem uma função suplementar: a função paterna. Como afirma Porge (1998, p.154), “[o] quarto elo explicita o Nome-do-Pai implícito nos três”. E o autor vai ainda mais longe para afirma, a partir do ensino de Lacan, que “[o] quarto anel é o Nome-do-Pai, o pai como nome, nome inominável, cujo turbilhão cospe os nomes do pai R, S, I” (1998, p.186). Portanto, mais uma vez podemos dizer que o Nome-do-Pai é voragem, vórtice, turbilhão. Ele exerce uma força centrípeta que faz convergir. Ele une. Todavia, ao mesmo tempo, ele também exerce uma força centrífuga, pois separa, diferencia, espalha, expele pais e pedras pelo caminho. É redemoinho. Além disso, precisamos ainda esclarecer que se o velho Borromeu nos serviu como mote para tratarmos do nó borromeano, este, por sua vez, não é um nó cego como o velho. Apesar de o nó Borromeu manter os elos amarrados entre si, todo o grilhão 166 pode se desfazer com um simples corte aplicado a qualquer ponto da cadeia. A seguir, apresentamos uma ilustração do nó Borromeu: Fig. 3 - nó Borromeu Já dissemos antes: o Nome-do-Pai é metáfora da função paterna. Esta separa o ser humano da coisa em si, pois o introduz na linguagem. Porque falamos, não temos acesso direto às coisas48. Usamos metáforas e metonímias para nos referir a elas. O Nome-do-Pai amarra os elos da cadeia da linguagem. Dá-lhe um sentido e um limite. Favorece que se diga muito, mas não que se diga tudo. Sempre falta algo. Como o Nome-do-Pai se confunde com a própria cadeia que ele amarra, um corte em qualquer um dos pontos da cadeia desamarra tudo. Daí a fala sem sentido e sem limite da psicose. Mas, prossigamos, pois muita coisa foi ficando diferente. Daí em diante, Riobaldo manteve sempre ao seu lado aqueles dois, o “menino e o cego Borromeu – aqueles olhos perguntados” (GSV, p.343). Ele próprio, Riobaldo, andava diferente. Diadorim não aceitava: - “Repugno: que você está diferente de toda pessoa, Riobaldo... Você quer dansação e desordem...” Mexi meu cuspe dentro da boca. - “... A bem é que falo, Riobaldo, não se agaste mais... E o que está demudado, em você, é o cômpito da alma – não é razão de autoridade de chefias...” [...] Dizendo, Diadorim se arredou de mim, com uma decisão de silêncio (GSV, p. 353, 354). Acontecia que, depois da passagem pelas Veredas Mortas, Riobaldo tornarase pactário com o demônio. Agora, quem mandava nele eram seus “avessos” (GSV,p.355) e ele se encaminhava para o combate final. Enquanto isso, Otacília tornara-se sua noiva e o esperava “guardada protegida, na casa alta da Fazenda Santa Catarina” (GSV, p.369). No entanto, apesar de ter assumido este compromisso, 48 Esclarecimento fornecido por Ivan Corrêa durante seminário ocorrido em maio de 2005. 167 Riobaldo continuava dividido: “Otacília, eu não merecia. Diadorim era um impossível” (GSV, p.371). O impossível que o instante transformava e incitava quase uma devoção: Mas Diadorim, conforme diante de mim estava parado, reluzia no rosto, com uma beleza ainda maior, fora de todo comum. [...]. E tudo meio se sombreava, mas só de boa doçura. Sobre o que juro ao senhor: Diadorim, nas asas do instante, na pessoa dele vi foi a imagem tão formosa da minha Nossa Senhora da Abadia! A Santa... Reforço o dizer: que era belezas e amor, com inteiro respeito, e mais o realce de alguma coisa que o entender da gente por si só não alcança (GSV, p.374). Diadorim, a Santa?! Convenhamos que eis aí mais uma metamorfose grandiosa. É claro que, para tanto, só mesmo alguma coisa não alcançável pelo entendimento poderia realçar. As belezas e amor de Diadorim evocavam nos olhos de Riobaldo a imagem da Nossa Senhora, a Santa Mãe, uma imagem fora do comum capaz de fazer tudo meio se sombrear. Mas o que poderia realçar assim em meio ao sombreado, ao encoberto, senão a mulher - aquela que, cedo ou tarde, acabará por representar para o homem a castração -, mesmo que esta mulher seja a mãe? Lembremos: em algum instante, o menino perceberá que a mãe também é castrada. No entanto, como afirma Freud (1980 [1927], v.XXI, p.181), “em sua mente a mulher teve um pênis, a despeito de tudo, mas esse pênis não é o mesmo de antes. Outra coisa tomou o seu lugar, foi indicada como seu substituto, [...]”. Essa outra coisa nada mais é que o objeto fetiche, um objeto que herda todo o interesse dirigido ao falo, bem como todo o horror da castração. Assim, como Freud (1980 [1927], v.XXI, p.181) ainda assinalou, o objeto fetiche permanece como “um indício do triunfo sobre a ameaça de castração e uma proteção contra ela”. Isto nos interessa porque depois da visão grandiosa, Riobaldo deu mais um presente a Diadorim, passou à suas mãos um objeto com virtude de poder e defesa, um talismã, um fetiche: Aí peguei o cordão, o fio do escapulário da Virgem – tanto cortei, por não poder arrebentar – e joguei para Diadorim, que aparou na mão. Ia me fazer alguma pergunta, que eu não consenti, a voz dele era que mais significava” (GSV, p.374). Diadorim foi impedido de falar, pois a fala significa demais. Ela significa que algo falta, e neste instante o que Riobaldo queria vislumbrar era um Diadorim perfeito, sem falta alguma. Dali em diante Diadorim portaria o escapulário da Virgem cujo fio, mesmo sendo uma fita delgada, tênue, não pôde ser arrebentado, rompido, 168 violado. Consideramos que, assim, revestido com os atributos da Virgem, Diadorim foi cumulado por Riobaldo com o que Assoun (1993, p.136, grifos do autor) denomina de “potência feminina”. Ouçamo-lo: [...] o corpo da mulher, lugar de designação da castração, acaba por encarnar a onipotência. É essencial compreendermos esse passo da falta para a perfeição, pois aí se estabelece a verdade da mulher no inconsciente do homem. Ora, é no corpo da virgem que se efetua essa convergência explosiva: a mulher não tocada pela relação sexual polariza em si um estranho poder. Esse estranho poder advém do medo masculino da defloração. Freud (1980 [1918], v.XI, p.190, grifos do autor) abordou-o no artigo intitulado O tabu da virgindade, no qual, para resumir, ele afirma que “a sexualidade imatura de uma mulher descarrega-se no homem que primeiro lhe faz conhecer o ato sexual”. É justamente aí que Assoun (1993, P.136) identifica “a falta da mulher, [...], transformada em poder explosivo”. Este é um dos efeitos que a virgindade pode adquirir para o homem. Já para a mulher é possível que ela vivencie o desejo identificado por Freud a partir da análise do sonho da recém-casada. Este sonho - observou Freud (1980 [1918], v.XI, p.190) -, realiza “o desejo da mulher de castrar seu jovem marido e guardar o pênis dele para ela”. De posse do pênis, nada lhe faltaria. Acontece que o pênis não é o falo e o certo é que a falta permanece. Daí a perene demanda feminina por algo que preencha a falta. A partir desta observação, Assoun (1993, P.138) propôs que há na mulher uma “vocação pela reinvindicação narcísica de uma ligação sem falhas, a dar sentido a qualquer falha a respeito delas”: é preciso que o homem seja cuidadoso, que se mantenha atento, que não esqueça nenhuma das pequenas coisas que dizem respeito a ela... etc, pois, o esquecimento, a negligência, a falta, representa para a mulher que o homem não lhe valoriza. Ao mesmo tempo, a própria mulher representa a falta - e a representa inclusive no inconsciente do homem -, logo, ela [...] fica colada nesse estranho lugar em que tem que ser, no inconsciente do homem, sumamente significativa, ou então, insignificante. Daí lhe vem a aptidão de vigiar o inconsciente do homem, para captar nele o estado de importância que assume, como se estivesse ameaçada de ser anulada a qualquer momento! É isso que parece fada-la, decididamente, a funcionar como lapso ou como ato falho do homem (ASSOUN, 1993, p.139, grifos do autor). 169 Com Diadorim e Riobaldo não foi diferente. Diadorim vigiava, procurava um sentido para os atos falhos, auscultava as intenções de Riobaldo: Porque Diadorim já sabia tudo. Como sabia? Ah, o que era meu logo perdia o encoberto para ele, real no amor. – “Riobaldo, você vadiou com as do VerdeAlecrim... Você está comprazido?” – êle de franca frente me perguntou. Eu tibes. [...]. Mas admirei que Diadorim não estivesse jeriza. [...]. - “Você já está desistido dela?” – em fim ele indagou. - “Hem? Hem? Dela quem dela? Tu significa essas velhacas palavras...” – eu só fiz que respondi, redatado. [...]. [...] Porque eu entendi: que a referida era Otacília. Minha nôiva Otacília, tão distante - o belo branco rosto dela aos poucos formava nata, dos escuros... (GSV, p.401). Então, estava sendo assim: Otacília ficando distante na medida em que eles se aproximavam do momento de cumprir a vingança. Riobaldo, longe de si mesmo e de Diadorim. Este por sua vez, qual uma esfinge, continuava às voltas com seus enigmas: - “Riobaldo, o cumprir de nossa vingança vem perto... Daí, quando tudo estiver repago e refeito, um segredo, uma coisa, vou contar a você...” Ele disse, com amor no fato das palavras. Eu ouvi. Ouvi, mas mentido. Eu estava longe de mim e dele. Do que mais Diadorim me disse, desentendi metade. Só sei que, no meio reino do sol, era feito parássemos numa noite demais clareada. [...]. Dentro de muito sol, eu estava reparando uma cena: que era um jumentinho, [...], no limpo do campo caçando o que roer, [...]. Eu não tinha que tomar tento em coisas mais graves? (GSV,p.386). Talvez tivesse, mas a claridade daquela proposta de resolução do enigma era tão grande que ofuscava. Além disto, acaba que, no geral, apesar de eventualmente amarmos as palavras, como Diadorim, apostando que estas se mostrem indiscutíveis, o fato é que muitas vezes “a gente não sabe em que rumo está” (GSV, p.410). Por isso Riobaldo “ia para sofrer, sem saber” (GSV, p.412). As pedras do quebra cabeça continuaram a rolar, uniram-se. Chegaram mesmo a compor o Paredão, cenário da luta final, das “entortações” (GSV, p.450), da travessia “de horror, precipício branco” (GSV, p.450). Para aí, Riobaldo e Diadorim se encaminharam, a par, quando do díspar se tratava. Nisto, “o travo de tanto segredo” (GSV, p.453) - um segredo de pedra -, virou pó e re-velou um enigma capaz de petrificar. 4. 10. Para Riobaldo, o êxtase e o horror. Para Diadorim, o horror e o êxtase 170 Chegamos ao ponto em que podemos perguntar como Riobaldo: “Dali de lá, eu podia voltar, não podia? Ou será que não podia, não? [...] Quem sabe, tudo o que já está escrito tem constante reforma – [...] – em bem ou mal, todo-o-tempo reformando?” (GSV, p.410). Reforma tem, mas acontece que “[a] gente chega, é onde o inimigo também quer” (GSV, p.413). Por isso chegamos com Riobaldo, Diadorim e todo bando aos “campos do Tamanduá-tão; o inimigo vinha, num trote de todos, [...]” (GSV, p. 413). Aí “[f]oi a grande batalha” (GSV, p.413). O Tamanduá-tão era uma várzea. Mas, principalmente, “do Tamanduá-tão era a Vereda” (GSV, p.413, grifos do autor). Uma vereda aumentada, de “V” maiúsculo. Melhor, era a encruzilhada e o lugar da crucificação. Tanto que, para bem defini-la, Riobaldo sugere que se “forme uma cruz, traceje” (GSV, p.414). Lá, “todo o todo do Tamanduá-tão se alastrou em fogo de guerra” (GSV, p.418). O primeiro combate se deu com o bando do Ricardão. Este, vencido, rendeuse: Assim estivesse pensando que ia ter julgamento? Achei que. E ele não estava ferido. [...]. Sendo que - e, aí, foi minha idéia? – ah, não; mas vi que Diadorim, de ódio ia pular nele, puxar faca. Só fiz fim: num tirte-guarte: atirei, só um tiro. [...]. Se deitou, conforme quase não estivesse sabendo que morria; mas nós estávamos vendo que ele já morto já estava. [...] - “Não enterrem este homem!” – eu disse (GSV, p.422). Depois, rumaram para o arraial do Paredão: Diadorim, Riobaldo e seu bando, o cego Borromeu, “[a]trás, o menino Guirigó, se envelhecendo” (GSV, p.423) e a mulher do Hermógenes. Mas, “[s]ó com o desgosto dos prazos da vida foi que [Riobaldo enxergou] aquela mulher” (GSV, p.423). O Hermógenes “[c]ontornava, feito gavião, vônje” (GSV, p.426). Neste momento de perigo, nesta iminência do combate final, chegou a Riobaldo uma notícia que lhe fez vivenciar mais um dilema: Otacília, sua noiva, vinha ao seu encontro. Dividido entre as obrigações do comando e a obrigação de proteger Otacília, Riobaldo decidiu: “lá ia, no vou e volto; e já mesmo. [...]. Para revir e dar guerra, tempo havia de ter. Os outros fossem, para o Paredão, tocassem” (GSV, p.428). Entre estes outros... Diadorim. 171 Terá sido mesmo assim? Diadorim sem singularidade, apenas mais um homem do bando, mais um chefiado de Riobaldo, um jagunço qualquer? Vejamos: [...] esbarrei, em saída. Esbarrei para repontar Diadorim, que vinha vindo. – A lá, que é?! – eu disse asp’ro. Diadorim quisesse me acompanhar, eu duvidava, de que motivos. Não me respondeu. Li nele a forma duma ira, como apertou os olhos em direitura do campo. – Tu não vai para o Paredão, tu teme? – eu ainda buli. Diadorim me empaliava, a certas. O ódio luzente, nele, era por conta de Otacília... Ele me viu e não disse, ladeando o cavalo. Mirou meio o chão; vergonha que envermelhou. Agora ele me servia dáv’diva d’amizade – e eu repelia, repelia. Mas, fora de minha razão, eu precisei com urgência de ser ruim, mais duro ainda, ingrato assim. – Tu volta, mano. Eu sou o Chefe! – pronunciei. E ele, falando de um bem-querer que tinha a inocência enorme, me respondeu assaz: - “Riobaldo, você sempre foi meu chefe sempre...” (GSV, p.428, grifos do autor). Poderíamos parar por aqui, darmo-nos por satisfeitos, e concluir: Diadorim amava profundamente o pai, mas este amor não lhe impediu de buscar a feminilidade. Diadorim separou-se do pai. Voltou-se para um outro homem. Para Diadorim, desde a muito, Riobaldo era seu chefe, era aquele que estava à frente de qualquer coisa, inclusive da obrigação de vingar o nome do pai. Afinal não o vemos agora preferir acompanhar Riobaldo em detrimento do dever de vingar a morte do pai? Tendo chegado a esta conclusão, podemos agora começar a responder algumas das questões levantadas no início deste capítulo. Podemos, então, dizer que Diadorim não levou às últimas conseqüências a obrigação de vingar a morte de Joca Ramiro. Parece óbvio, então, que Diadorim não se manteve preso a este desígnio. Por dedução, podemos também afirmar que Diadorim conseguir superar os obstáculos que impediam seu acesso a um destino que lhe fosse próprio: conseguiu superar o desígnio de vingança e realizou uma travessia em conformidade com suas próprias determinações. Mas, não nos precipitemos. A estória não pára por aí. Além disso, precisamos considerar: se o acesso de uma mulher à feminilidade depende do fato de ela conseguir desligar-se de seus primeiros objetos de amor e desejo, quais sejam, a mãe e o pai, e se a consecução deste desligamento implica em abrir mão do desejo de ter o falo, resta à mulher, como já foi dito, ser o objeto de amor do homem, portanto, ser o falo para ele. Resta-lhe, ainda, gozar através do órgão masculino, pois, usufruir deste avatar do falo equivale a receber o falo. 172 Ora, no caso de Diadorim, parece-nos, agora, que podemos afirmar com certa tranqüilidade que lhe foi possível separar-se da mãe e do pai. Apesar de vestir-se como homem e ocupar a maior parte do tempo a posição masculina, sua escolha de objeto de amor e desejo foi uma escolha feminina. Diadorim, como heterossexual, amava as diferenças, as singularidades do feminino. Por isso, escolheu um homem para amar e desejar. Conseguiu, sobretudo, abrir mão de ter o falo. Portanto, Diadorim freqüentou a posição feminina e fez sua escolha a partir do campo do feminino. No entanto, a estória nos tem dado a ver que Diadorim teve de lidar com a aspereza, com a ingratidão e com a urgência de Riobaldo “de ser ruim, mais duro ainda” (GSV, p.428). Riobaldo repeliu Diadorim. As motivações de Riobaldo não são objetos de nosso estudo. Mesmo assim nos permitimos uma rápida conjectura: como ele poderia, num momento assim tão crítico de comando de uma guerra, não sentir a urgência de demonstrar, veementemente, a si mesmo, que era capaz de ocupar a posição fálica e assumir as escolhas de objeto segundo a posição masculina? Riobaldo tinha de ser chefe e tinha de se voltar para Otacília. Tinha de amar aquela que, para ele, parecia saber ocupar sem grandes ambigüidades a posição feminina. Ele, como heterossexual, amava a diferença, a singularidade - amava a mulher. Adiemos, então, outras conclusões, pois muito ainda há por rolar. Acompanhemos a água que em seguida fluiu. Riobaldo partiu em socorro de Otacília e Diadorim ficou: Nem espiei para trás – não ver que Diadorim obedecia, mas como devia de parar estacado lá, té que o meu vulto desaparecesse. Desjustiça. Mas como a obrigação do dia me arrolava. E em tudo não pensei, tocando para ir fazer-eacontecer, aos baques do coração. O senhor diria, dirá: como naquela hora Diadorim e eu despartávamos um do outro – feito, numa água só, um torrãozinho de sal e um torrãozinho de açúcar... Fui, com desejos repartidos (GSV, p.429). Na água não se percebe qualquer separação entre sal e açúcar. Pelo contrário, misturam-se perfeitamente e a água fica mesmo sendo de uma qualidade só. Mas com os desejos, não. Estes freqüentemente se mostram misturados e, ao mesmo tempo, repartidos. Tão repartidos que indo já bem adiantado no socorro a Otacília, Riobaldo sentenciou a seus dois acompanhantes: “- “Vão sozinhos, vocês dois, beira-rio, procurando. Eu não posso ir mais, por meu dever. Retorno, já, para o Paredão...”” (GSV, p.432). Mudou de motivos, mudou de urgência, mudou de destino: 173 Agora eu mudava, para motivos: [...]. [...] ah, a gente larga urgente o real desses estados. Agora minha alegria era mais minha, por outro destino. Otacília ia ter boa guarda. E então, por uma vez, eu peguei o pensamento em Diadorim, com certo susto, na liberdade (GSV, p.433). Ao retornar, Riobaldo encontrou Diadorim que o “esperava, demais” (GSV, p.433), e pôde ver “a alegria no rosto dele” (GSV, p.433). O Paredão ficava na região do Tamanduá-tão, lugar que pode ser representado por uma cruz. Lá Riobaldo reencontrou Diadorim “- com chapéu xíspeto, alteado. Nele o nenhum negar: no firme do nuto, nas curvas da boca, em o rir dos olhos, na fina cintura; e em peito a torta-cruz das cartucheiras” (GSV, p.433). Aí estava Diadorim no firme consentimento de portar a obliqüidade das cartucheiras - a injustiça de uma cruz recobrindo um refinado corpo de mulher. Uma outra mulher, a do Hermógenes, também não pode se mostrar. Foi arremetida para um lugar fechado, ao mesmo tempo elevado e com sobras, excessivo. Neste lugar, foi botada não a mulher, mas seu excesso, algo que lhe está para além, a Mulher, com “M” maiúsculo: “Fui ver onde tinham botado a Mulher – ela fechada num quarto, no sobrado. Ficasse lá, sobpé de guarda” (GSV, p.433). Riobaldo preparava-se para o combate com o Hermógenes. Pelejou “para recordar as feições dele” (GSV, p.434), mas o que viu foi a figura de “um homem sem cara” (GSV, p.434). O combate se daria então contra quem? Riobaldo mesmo nos dirá: Acho que tirava um ódio por causa de outro, cosidamente, assim seguido de diante para trás o revento todo. A modo que o resumo da minha vida, em desde menino, era para dar cabo definitivo do Hermógenes – naquele dia, naquele lugar (GSV, p.434). O combate contra o Hermógenes remete, portanto, a um embate mais antigo, fantasiado. Isto logo nos lembrou o estudo feito por Freud em 1919 sobre a freqüência dos relatos de fantasias de espancamento de uma criança. Nestas fantasias enuncia-se simplesmente que “bate-se numa criança”, logo, o autor da ação é um sujeito indeterminado. Porém, com os desbobramentos deste enunciado, se concluirá que o que se fantasia é que quem geralmente bate é o pai. Sobre este estudo de Freud, Lacan (1992, p.62) comenta: 174 Eis-nos reduzidos, de fato, a que um corpo pode ser sem rosto. O pai, ou o outro, seja quem for que desempenhe aqui o papel, assegure a função, dê o lugar ao gozo, ele nem mesmo é nomeado. Deus sem rosto, este é o caso. Contudo não é apreensível, a não ser como corpo. O que é que tem um corpo e não existe? Resposta – o grande Outro. O grande Outro é a alteridade radical. Está para além do outro que, afinal, é um nosso semelhante. Para nos referirmos ao Outro - lugar da diferença -, recorremos à palavra. Neste limite, o Outro se confunde com a linguagem (LACAN, 2004). Através da linguagem é que podemos simbolizar a diferença entre os sexos e a diferença entre as gerações. A partir destas simbolizações podemos nos situar nas relações de parentesco e termos acesso às leis que regem estas relações. Desta forma, o grande Outro é também o lugar da lei. Como já dissemos, lei e desejo são antípodas. Assim, verso e reverso da mesma moeda, acaba que, como afirma Lacan (2006, p.152) “o desejo do homem [é] o desejo do Outro – com um O maiúsculo [...]”. Assim, o embate com o Hermógenes pode ser tomado como representação do embate com o pai, com o Outro, com o próprio desejo que é desejo do Outro, com Deus e as diabruras da linguagem. “[F]oi feito um trovão” (GSV, p.438) que o combate começou: Tiro ali era máquina. [...]. A gente tinha de caber em buracos escavados. [...]. Eu queria que Diadorim não se descuidasse. Diadorim disse: - “Toma cautela, Riobaldo...” Diadorim se descabelou, bonitamente, o rosto dele se principiava dos olhos. Eu comandava? (GSV, p.440). Riobaldo e Diadorim guerreando lado a lado, “[t]udo ali era à maldição, as sementes de matar” (GSV, p.440). No Paredão que “era uma rua só” (GSV, p.439) havia uma residência alta, “soberana das outras. Dentro dela estava sobreguardada a Mulher, de custódia. E o menino Guirigó e o cego Borromeu, a salvos” (GSV, p.441). Riobaldo desejou ir para lá e estar, do alto, para “todo comandando” (GSV, p.441). Mas quem comandou foi Diadorim: - “[...] Tu vai lá Riobaldo...”(GSV, p.441). Ao que ele respondeu: - “Aqui é que é meu dever, Diadorim. Por o mais perigoso...” – eu falei, muito alerta. Tudo que Diadorim aconselhasse, eu punha de remissa; a modo de que com pressentimentos. - “Tu vai, Riobaldo. Acolá no alto, é que é o lugar de chefe. Com teu dever pela pontaria mestra: [...]. Constante de que, aqui, o negócio está garantido...” – ele disse, mansinho, de me persuadir. [...] Meu posto? O quanto também olhei Diadorim: ele, firme se mostrando, feito veada-mãe que vem aparecer e refugir, de propósito, em chamariz de 175 finta, para a gente não dar com o veadinho filhote onde é que está amoitado... Aquele sobrado era a torre. Assumindo superior nas alturas dele, é que era para um chefe comandar – reger o todo cantão de guerra! - “Eu vou...” -; fui (GSV, p.441, 442). Pensamos como Riobaldo que é preciso estar alerta a tudo que Diadorim aconselhasse. Também concordamos com ele quando pressente que persuadindo Riobaldo a instalar-se no alto da torre, Diadorim tinha o propósito de protegê-lo, qual uma mãe protege o filhote, colocando-se como chamariz. O que Diadorim tencionava era, certamente, proteger Riobaldo - mesmo que à custa da própria vida. Mas deixemos isto em suspensão. Riobaldo foi. Antes, o relance de um olhar de despedida: “Ainda virei, relanceando. Sempre queria ver Diadorim. O querer-bem da gente se despedindo feito um riso e soluço, nesse meio de vida” (GSV, p.442). Então, a disposição para a guerra ficou sendo esta: Riobaldo, lá, nas alturas, na torre que é lugar de chefe. Mesmo lugar onde foram botados a Mulher, o menino Guirigó e o cego Borromeu. Diadorim, cá, embaixo, no meio de todos os outros, no meio da rua, diabrável, “no meio do redemunho” (GSV, p.450). Chegando à torre, Riobaldo reencontrou o menino e o cego Borromeu. Lá também estava a mulher do Hermógenes, presa num quarto. “A chave estava na mão do cego Borromeu. Era uma chave de todo-tamanho, ele fez menção de me entregar; rejeitei” (GSV, p.443). Mais uma vez Riobaldo rejeitou algo. Desta vez – vemos -, ele rejeitou a chave que daria acesso à mulher. Não a teria rejeitado antes? Já havia se passado umas duas horas desde o começo da batalha, era quase meio dia. Mas “[t]empo é a vida da morte: imperfeição” (GSV, p.445). Riobaldo lembrou que na véspera podia ter perguntado a Diadorim se, depois da guerra, eles poderiam continuar juntos, Diadorim, morando com ele em uma fazenda, depois que Riobaldo se casasse com Otacília. Não perguntou. Agora, “[a]s horas é que formam o longe” (GSV, p.445). Agora, recontar a estória é dar a conhecer Diadorim: O senhor conheceu Diadorim, meu senhor?!... Ah, o senhor pensa que morte é choro e sofisma – terra funda e ossos quietos... O senhor havia de conceber alguém aurorear de todo amor e morrer como só para um. [...] O senhor... Me dê um silêncio. Eu vou contar (GSV, p.449). 176 O silencio foi dado. O “tiroteio da rua tinha pousado termo” (GSV, p.449). Ao entender o que se passava, Riobaldo perdeu a voz: Conheci o que estava para ser: que os dele e os meus tinham cruzado grande e dôido desafio, [...], uns e outros, nas duas pontas da rua, debaixo de forma; e a frio desembainhavam. O que vendo, vi Diadorim – movimentos dele. Querer mil gritar, e não pude, desmim de mim-mesmo, me tonteava, numas ânsias. E tinha o inferno daquela rua, para encurralar comprido... Tiraram minha voz (GSV, p.450). Todos vinham na fúria, menos Riobaldo, que só pôde ter um pensamento. Qual? “... o Diabo na rua, no meio do redemunho...” (GSV, p.450, grifos do autor). Aí estava o Diabo com “D” maiúsculo, um Diabo avantajado. Riobaldo queria ver Diadorim, “segurar com os olhos” (GSV, p.450), porém, o que ele viu foi [t]recheio, aquilo rodou, encarniçados, roldão de tal, dobravam para fora e para dentro, com braços e pernas rodejando, como quem corre, nas entortações. ...O diabo na rua, no meio do redemunho... Sangue. Cortavam toucinho debaixo de couro humano, esfaqueavam carnes. Vi camisa de baetilha, e vi as costas de homem remando, no caminho para o chão, como corpo de porco sapecado e rapado... Sofri rezar, e não podia, num cambaleio. Ao ferreio, as facas, vermelhas, no embrulhável. A faca a faca, eles se cortavam até os suspensórios (GSV, p.450, grifos do autor). Sangue, carnes, camisa, corpo, tudo se embrulhava no meio do redemunho, até que Riobaldo mirou e viu: - o claro claramente: aí Diadorim cravar e sangrar o Hermógenes... Ah, cravou – no vão – e ressurtiu o alto esguicho de sangue: porfiou para bem matar! Soluço que não pude, mar que eu queria um socorro de rezar uma palavra que fosse, bradada ou em muda; e secou: e só orvalhou em mim, por prestígios do arrebatado no momento, foi poder imaginar minha Nossa-Senhora assentada no meio da igreja... Gole de consolo... Como lá em baixo era fel de morte, sem perdão nenhum. Que engoli vivo. Gemidos de todo ódio. Os urros... Como, de repente, não vi mais Diadorim! No céu, um pano de nuvens... Diadorim! Naquilo eu não pude, no corte da dor: me mexi, mordi minha mão, de redoer, com ira de tudo... Subi os abismos... [...] Trespassei (GSV, p.451). Êxtase... Mar seco de orações, imagem orvalhada... Depois, horror. Pois, nem mesmo imaginar que não era o demônio no meio do redemunho, mas NossaSenhora no meio da igreja, foi de grande consolo. O fel de morte correu com profusão. Nem mesmo o pano tecido no céu foi capaz de converter-se numa roupa decorosa que, 177 tal como afirma Dias (1997, p.136), trás a esperança de ser “mais conveniente do que uma aposta verdadeira – sem temor e sem piedade”. Diadorim fez esta aposta. Nenhum pano de nuvens conseguiria mais cobrir isso convenientemente: encaminhou-se para o horror e experimentou o êxtase. Descobriremos. Diante do que era sem perdão nenhum, restaram a Riobaldo o medo e a devoção. Restou-lhe, trespassado, subir o alto dos abismos. Desmaiou. Saído do delíquio - “como no instante em que o trovão não acabou de rolar até o fundo, e se sabe que caiu o raio...” (GSV, p.451) -, mesmo sem que ninguém lhe dissesse, mesmo sem querer saber, Riobaldo sabia: “Diadorim tinha morrido – milvezes-mente – para sempre de mim; e eu sabia, e não queria saber, meus olhos marejaram” (GSV, p.451). Vieram-lhe as notícias: Ganharam a guerra, “tristonhamente” (GSV, p.452). O Hermógenes morreu “do jeito de quem cravado com um rombo esfaqueante se sangra todo, no vão-do-pescoço” (GSV, p.452). Não era Otacília a mulher que pensaram estar vindo ao encontro de Riobaldo e quase o desviou da guerra. Era uma mulher qualquer, sem o brilho verde da esmeralda, esse verde que era o dos olhos de Diadorim. Chamava-se “Aesmeralda” (GSV, p.452). Os mortos foram muitos. “Demais...” (GSV, p.452). A mulher do Hermógenes foi chamada para ver o corpo do marido. Enfim, ela pôde aparecer. Permaneceu encoberto, no entanto, o excesso que ela - tida como a “Mulher” -, representava. Continuou o enigma: Aquela Mulher não era malina. [...]. Aquela Mulher ia sofrer? Mas ela disse que não, [...]. – Eu tinha ódio dele...- ela disse; me estremecendo. Ou eu ainda não estava bem de mim, da dor que me nublou, tive de sentar no banco da parede. Como no perdido mal ouvi partes do vozeio de todos, eu em malmolência. – Tomaram as roupas da mulher nua? Era a Mulher, que falava. Ah, e a Mulher rogava: - Que trouxessem o corpo daquele rapaz moço, vistoso, o dos olhos muito verdes... Eu desguisei. Eu deixei minhas lágrimas virem, e ordenando: - “Traz Diadorim!” – conforme era. – “Gente, vamos trazer. Esse é o Reinaldo...” – o que o Alaripe disse. E eu parava ali, permeio o menino Guirigó e o cego Borromeu. – Ai, Jesus! – foi o que eu ouvi, dessas vozes deles (GSV, p.452, 453, grifos do autor). Mesmo nublado pela dor, Riobaldo ouviu o enigma proposto pela Mulher: “– Tomaram as roupas da mulher nua?” (GSV,p.453). Mas o quê significa isso? Quem era a mulher nua? Quem tomou suas roupas? Podíamos perguntar. Contudo, talvez estas não fossem as melhores perguntas. Talvez o melhor fosse perguntar: Como pode 178 acontecer de, seja lá quem for conseguir tomar as roupas de uma mulher desnuda? Se a mulher está nua, como tomar-lhe as roupas? Eis o problema proposto por este enigma. Antes, precisamos ver o que é mesmo um enigma, qual a sua relação com a verdade, que tipo de saber ele transmite, qual é, afinal, a sua função. Ouçamos o que Lacan (1992, p.33,34) pode nos dizer sobre isso: O que é a verdade como saber? Seria o caso de dizê-lo: - Como saber sem saber? É um enigma. Esta é a resposta – é um enigma -, entre outros exemplos. E vou dar-lhes um segundo. Os dois têm a mesma característica, que é o próprio da verdade – a verdade, nunca se pode dizê-la a não ser pela metade. A nossa querida verdade [...], é sempre um corpo. [...] [...] a função do enigma – é um semi-dizer, como a Quimera faz aparecer um meio-corpo, pronto a desaparecer completamente quando se deu a solução. Então, parece-nos possível pensar que a Mulher com seu enigma representem aqui a Quimera, aquele monstro com corpo de animal e busto de mulher, aquele mesmo que propôs um outro enigma a Édipo. Assim, o que vemos é que a Mulher se apresenta como um enigma para o homem. Apresenta-lhe sua meia-verdade porque afinal a verdade não pode ser toda dita -, e aguarda para ver se o homem sabe interpretar o enigma. Mas atentemos que, enquanto enigma, a Mulher é um saber que não se sabe. A feminilidade - talvez possamos dizer - é isso: o enigma da Mulher. Esclarecemos que o termo Mulher não deve ser tomado aqui como sinônimo de plenitude. Isso não existe. Lembremos que falamos aqui da Mulher enquanto excesso, algo a mais, que não pode ser definida, que não pode ser completamente apreendida. A Mulher, quer dizer, a feminilidade, sempre escapa, não é uma verdade absoluta, mas uma meia-verdade. Continuando com este raciocínio, se considerarmos como disse Lacan que a verdade é sempre um corpo, precisamos ter em mente que este é, tal qual a verdade e a Quimera, um meio-corpo. A partir destas considerações podemos então responder ao enigma, “– Tomaram as roupas da mulher nua?”, da seguinte forma: Sim, tomaram-lhe. A Mulher, quer dizer, a feminilidade, estava à mostra, estava nua. Acontece, como já vimos, que há sempre algo para além de um corpo nu. Há sempre algo que o recobre. Este algo está para além daquilo que se mostra. Não pode ser recoberto pelas roupas nem pela 179 linguagem. Resta descoberto, mesmo que esteja vestido. Este resto, nenhuma roupa, nenhuma palavra é capaz de cobrir completamente. Por isso mesmo, um corpo, ainda que desnudo, encobre algo. Algo falta. Assim é a feminilidade, mesmo quando ela se mostra. Então, o que este enigma revela é que tomaram as roupas da feminilidade que se mostrava, ainda que de forma velada, ainda que vestida com roupas de jagunço. Como? Constante o que a Mulher disse: carecia de se lavar e vestir o corpo. Piedade, como que ela mesma, embebendo toalha, limpou as faces de Diadorim, casca de tão grosso sangue, repisado. E a beleza dele permanecia, só permanecia, mais impossivelmente. Mesmo como jazendo assim, nesse pó de palidez, feito a coisa e máscara, sem gota nenhuma. Os olhos dele ficados para a gente ver. [...]. Eu ia dizendo que a Mulher ia lavar o corpo dele. [...]. Mandou todo mundo sair. Eu fiquei. [...]. Não me mostrou de propósito o corpo. E disse... Diadorim – nú de tudo. E ela disse: - “A Deus dada. Pobrezinha...” E disse. Eu conheci! Como em todo o tempo antes eu não contei ao senhor – e mercê peço: [...] Que Diadorim era o corpo de uma mulher, moça perfeita... Estarreci. A dor não pode mais do que a surpresa. [...]. Ela era. Tal que assim se desencantava, num encanto tão terrível. [...] Uivei. Diadorim! Diadorim era uma mulher. Diadorim era mulher como o sol não acende a água do rio Urucúia, como eu solucei meu desespero (GSV, p.452). Está dito: Diadorim era uma mulher. Isto era tão certo quanto é certo que o sol não incendeia a água do rio Urucúia. Mas não podemos dizer tudo sobre essa mulher. Não podemos, nem sabemos nomeá-la em sua feminilidade. Tampouco o soube Riobaldo: E a Mulher estendeu a toalha, recobrindo as partes. Mas aqueles olhos eu beijei, e as faces, a boca. Adivinhava os cabelos. Cabelos que cortou com tesoura de prata... Cabelos que, no só ser, haviam de dar para baixo da cintura... E eu não sabia por que nome chamar; eu exclamei me doendo: - “Meu amor!...” (GSV, p.454). Para sempre, a palavra de amor tentará recobrir a falta de um nome para chamar a mulher! A Outra, a Mulher, tornou a vestir Diadorim com as roupas que haviam sido tomadas: A Mulher lavou o corpo, que revestiu com a melhor peça de roupa que ela tirou da trouxa dela mesma. No peito, entre as mãos postas, ainda depositou o cordão com o escapulário que tinha sido meu, e um rosário, de coquinhos de 180 ouricuri e contas de lágrimas-se-nossa-senhora. Só faltou – ah! – a pedra-deametista, tanto trazida (GSV,p.454). Com o cordão e o escapulário, com o rosário que é uma seqüência ininterrupta, e adornada pelas minúsculas lágrimas-de-nossa-senhora, Diadorim também uma minúscula mulher virgem aprontada para o infinito -, foi velada. Mas, como sempre, faltava algo. Faltava pôr a última pedra por cima de tudo: - “Enterrem separado dos outros, num aliso de vereda, adonde ninguém ache, nunca se saiba...” Tal que disse, doidava. Recaí no marcar do sofrer. Em real me vi, que com a Mulher junto abraçado, nós dois chorávamos extenso. E todos meus jagunços decididos choravam. Daí, fomos, e em sepultura deixamos, no cemitério do Paredão enterrada, em campo do sertão. Ela tinha amor em mim (GSV, p.454). Nunca saberemos em que vereda está Diadorim. Até porque, tentar abraçar a Mulher - a mulher em sua completude -, só pode mesmo resultar em sofrer um choro extenso. Isso não é doideira, é lógica. Lógica moderna que tenta lidar com as grandezas imponderáveis. Nunca saberemos sobre seu enigma. Ele agora está petrificado. Por isso, não tentemos fixar por mais tempo o belo olhar de Diadorim. Fazê-lo, seria tomar sua formosa cabeça pela feia cabeça de Medusa e o efeito disso já foi previsto: restaríamos nós e Diadorim - petrificados (FREUD,1980 [1922]). Por isso, deixemos a impossível mulher que ela foi, descansar emparedada em seu campo que é o sertão. Nele, Diadorim - amante e amada, virgem, mulher em potência, cardinal de um conjunto infinito, transfinita49 -, se faz presente, por que “[o] sertão está em toda parte” (GSV, p.9). 49 Segundo o Dicionário eletrônico Houaiss da língua portuguesa, versão 2001, o termo “potência”, sob a rubrica da matemática, representa o cardinal de um conjunto. Considerando que a mulher pertence a um conjunto infinito, temos que o cardinal de um conjunto infinito é denominado de número transfinito. 181 CONCLUSÃO Poderíamos dizer como Riobaldo que “[a]qui a estória se acabou. Aqui, a estória acabada. Aqui a estória acaba” (GSV, p.454). No entanto, temos de partir - como ele “[r]esoluto [saiu] de lá” (GSV, p.454) -, rumo a alguma conclusão. Riobaldo teve de “cumprir, conforme a ordem que [seu] coração mandava” (GSV, p.457). Contou tudo o que tinha acontecido a Otacília e lhe pediu “uns tempos” (GSV, p.457). Depois, enlutado, foi “a um lugar, nos gerais de Lassance, Os-Porcos” (GSV, p.457, grifo do autor). Fez perguntas, procurou, e tudo o que encontrou Foi este papel, que eu trouxe – batistério. Da matriz de Itacambira, onde tem tantos enterrados. Lá ela foi levada à pia. Lá registrada, assim. Em 11 de setembro da éra de 1800 e tantos... O senhor lê. De Maria Deodorina da Fé Bettancourt Marins – que nasceu para o dever de guerrear e nunca ter medo, e mais para muito amar, sem gozo de amor... Reze o senhor por essa minha alma. O senhor acha que essa vida é tristonha? (GSV, p.458). É. Maria Deodorina era um dom de Deus. A Ele, ela estava - de início -, prometida. Como Reinaldo, identificou-se ao pai. Reinou. Depois, como Diadorim, essa mulher lutou, sem medo, por seus próprios desígnios. Foi uma guerreira. Fez mais: amou muito, “[auroreou] de todo amor e [morreu] como só para um” (GSV, p.449). Morreu virgem. Não teve gozo de amor. Este que nós podemos nomear - dar-lhe os tons da poesia -, já que é fálico. Diadorim não fez amor, não desfrutou do gozo sexual. Podemos mesmo dizer que Diadorim não fez poesia se considerarmos como Lacan (1985, p.98) que “[a]í está o ato de amor. Fazer o amor, como o nome o indica, é poesia”. No entanto, podemos perguntar: Diadorim terá tido algum outro gozo? Concluímos que sim. Mais pelo amor dedicado a Riobaldo, que pelo amor dedicado ao pai, Diadorim experimentou um Outro gozo, aquele que, segundo Lacan (1985, p.111), favorece que a mulher tenha “mais relação com Deus do que tudo o que se pôde dizer 182 na especulação antiga, ao se seguir a via do que só se articula manifestamente como o bem do homem”. Não foi apenas pelo bem de Riobaldo, para protegê-lo como se fosse uma mãe, que Diadorim realizou sozinha a travessia de horror. Diadorim dirigiu-se a Riobaldo, escolheu-o e sua escolha não foi uma escolha qualquer. Ela escolheu àquele que, em meio às agruras do sertão, teve não apenas a coragem de travar seus combates, mas também, a coragem de tecer algum saber sobre as coisas infinitas: a mulher, o pai, a vida, a morte, a sexualidade, Deus e o diabo. Por isso Diadorim o amou. Entendemos desta forma a escolha de Diadorim porque, como diz Lacan (1985, p.91), “[a]quele a quem eu suponho o saber, eu o amo”. Foi como mulher, e justamente por ser uma mulher, que ela se deixou transportar para fora de si e do mundo. Diadorim teve o gozo do arrebatamento. Neste sentido, apreciamos seu percurso sob duas perspectivas. Por uma, consideramos que, no usufruto deste mais além do gozo fálico, Diadorim fez uma travessia inusitada: sua feminilidade atravessou os limites e ocupou o lugar vazio da função paterna, o lugar vazio do inominável Nome-do-Pai. Percorreu o infinito, rumou para o impredicável – para a morte. Fundamentamos esta nossa afirmação no comentário feito por Corrêa (2006)50: Se considerarmos a função paterna segundo Frege, devemos ter em mente que a função indica exatamente um lugar vazio. Portanto, a função como tal, como matriz, é constituída por um lugar vazio que será preenchido pelo argumento. O que é este lugar vazio na função paterna? É a feminilidade. A tão falada decadência da função paterna tem como argumento a feminilidade. E, se ainda considerarmos com Hegel, temos que, de fato, o filho anuncia a morte do pai. A partir destas observações, afirmamos que a filha também anuncia a morte do pai. Seu acesso à feminilidade implica em separar-se dele. Implica que a filha possa prescindir do pai e caminhar pela vereda do Nome-do-Pai, da metáfora da função paterna. Este movimento redunda, portanto, numa morte do pai. Porém, tal como afirma Lacan (1999, p.163), “é preciso ter o Nome-do-Pai, mas é também preciso que saibamos servir-nos dele”. A nosso ver, Diadorim soube percorrer esta vereda. Riobaldo foi o agente e o espectador desta travessia, afinal e ao final, sempre solitária. Seu relato da última vereda 50 Comentário proferido durante nosso exame de qualificação ocorrido em 22 de setembro de 2006. 183 percorrida por Diadorim coloca a ele e a nós no lugar de testemunhas de um momento de epifania e êxtase. Chegamos à mesma observação por uma outra perspectiva: O Grande Sertão nos dá a oportunidade de apreciar Diadorim percorrer a vereda do excesso. Diadorim fez travessia. Ultrapassou. Essa vereda do excesso é, também, a da exceção. Ao atravessá-la, Diadorim se singularizou. Ao mesmo tempo, neste limite radical, novamente podemos constatar que a vereda da feminilidade se constitui numa encruzilhada com a vereda da função paterna. Dissemos - até com bastante insistência, desculpem-nos - que é impossível definir a feminilidade. A Mulher - enquanto termo que se empregaria para denominar um conjunto universo com tais e tais elementos que determinariam de maneira inequívoca o que é a feminilidade - não existe. Resta sempre algo mais a ser dito. Estamos no campo de um conjunto infinito. Este conjunto é composto por mulheres, e elas são inúmeras. São mesmo inumeráveis. Só podemos falar delas contando-as uma a uma. Ainda assim nosso contar não se esgota. Por isso falamos tanto. Ela, a feminilidade, é inominável. O Pai, também. Não podemos nomeá-lo de maneira precisa, sem excessos ou sem falta. Tanto é assim que precisamos falar muito de muitos pais. Às vezes falamos bem, outras, não. “O pai” são vários, quer dizer, o pai é múltiplo, variado e incerto. Falamos do pai real, do pai simbólico, do pai imaginário e do Nome-do-Pai, que é, ao mesmo tempo, todos e cada um daqueles. O Nome-do-Pai representa a função do pai: enoda tudo, amarra tudo, faz laço, faz um nó. Ele até que dá sentido, mas não há um único nome que diga tudo sobre o pai. Ele permanece inominável. Todavia, entendemos que o Nome-do-Pai foi inscrito, esteve girando, o tempo todo, por todo o Grande Sertão. Entendemos também que a feminilidade esteve sempre entrelaçada a ele. Ao final, constatamos que o Nome-do-Pai acabou favorecendo que alguma vereda para a feminilidade fosse percorrida. Diadorim soube servir-se do Nome-do-Pai. Assim afirmamos que Diadorim soube amar o pai e, apesar disso, soube separar-se dele. Fez sua travessia em direção ao homem, em direção a Riobaldo. Lutou por ele. Lutou contra o Hermógenes, aquele corpo sem rosto que, afinal também representava o Pai. Diadorim lutou, portanto, contra o Diabo, lutou contra o Pai. 184 Ao mesmo tempo, ela lutou pelo Nome-do-Pai, pois sempre que se pode contar com a inscrição da função paterna, é possível ter coragem para lutar por uma travessia singular, por um nome próprio. Nisso consistia a coragem de Diadorim. Mas lembremos que o nome sempre falta. Por isso dizemos que Diadorim lutou pelo inominável. Lutou por Deus e a ele, enfim, foi dada a “Pobrezinha...” (GSV, p.453). Paradoxo da feminilidade, esse de ser pobre em meio ao excesso! Depois de tudo isso, chegamos com Riobaldo ao final – se é que existe final no Grande Sertão! Quando iniciamos nossa caminhada, pressentíamos as surpresas. Logo, não podíamos saber que veredas atravessaríamos e, em virtude disto, começamos com a interrogação: “O Nome-do-Pai no Grande Sertão: Veredas para a feminilidade?”. Agora, ao final da nossa travessia - depois de ter apreciado a feminilidade desfilar enlaçada ao Nome-do-Pai pelas afinidades com o inominável infinito; depois de ter admirado os rodopios deste par, tão díspar, formando redemoinhos pelas ruas -, permitimo-nos concluir que o Nome-do-Pai favoreceu a abertura de Veredas direcionadas à feminilidade. Permitimo-nos também concluir que a filha atravessou as veredas da feminilidade até o limite mais extremo do Grande Sertão. Acompanhá-la nesta travessia foi, sobretudo, ter a oportunidade de comprovar um valoroso e valioso entendimento ético dispensado à feminilidade: Tanto no Grande Sertão, quanto nas obras freudiana e lacaniana, a mulher não restou emparedada por concepções mistificadoras que, em última instância, vestemna com as roupas artificiosas da exaltação do feminino para, na verdade, esconder uma tendência para o repúdio em relação à feminilidade. Tampouco estas obras despiram a mulher com os argumentos falaciosos de superestimação da sexualidade feminina, cujo efeito final tem sido, como podemos comprovar no dia a dia, a desvalorização sexual da mulher. Vimos o quanto estas obras se empenharam não no ultraje da mulher, mas no entendimento de seus trajes, das roupas com as quais a feminilidade se revela, mesmo que impossivelmente. Na narrativa do Grande Sertão, nos textos de Freud e Lacan, a feminilidade não conheceu a segregação. Ao contrário. Neles, ela foi vista passeando em seus trajes paradoxais. 185 Como estes textos nos mostraram que a feminilidade costuma passear é pelas ruas do infinito na companhia de coisas imponderáveis, como o Pai, por exemplo, continuamos tendo muito que entender sobre tudo isso. Mas, também como aprendemos com Freud, Lacan e Riobaldo, “[a] gente só sabe bem aquilo que não entende” (GSV, p.286). Então, bem sabemos que resta muito a ser entendido. Por isso, mais que a respostas, este trabalho continua nos conduzindo a novas interrogações. Assim - ainda seguindo o exemplo do autor do Grande Sertão, que finaliza a narrativa com um símbolo que nos remete ao infinito, a leminiscata “∞” (GSV, p. 460) – também nós escolhemos um símbolo para finalizar nosso trabalho. Este símbolo, nós o dedicamos àquele que, mesmo sem entender, reconhecerá. ? 186 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia. Alfredo Bosi (coord. trad.). São Paulo: Martins Fontes, 2000. ASSOUN, Paul-Laurent. Metapsicologia freudiana: uma introdução. Dulce Duque Estrada (trad.). Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1996. ______. Freud e a mulher. Vera Ribeiro (trad.). Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1993. (Transmissão da Psicanálise). BOLLE, Willi. Grandesertão.br: o romance de formação do Brasil. São Paulo: Duas Cidades; Ed. 34, 2004. BRANDÃO, Junito de Souza. Mitologia Grega. Petrópolis, RJ: Editora Vozes,1993. CÂNDIDO, Antônio. Formação da literatura brasileira: momentos decisivos. 6ª ed. Belo Horizonte: Editora Itatiaia, 2000. CORRÊA, Ivan. Da torpologia à topologia. Recife: Centro de Estudos Freudianos do Recife, 2003. ______. A psicanálise e seus paradoxos: seminários clínicos. Salvador: Ágalma; Recife: Centro de Estudos Freudianos do Recife, 2001. ______. A escrita do sintoma. Recife: Centro de Estudos Freudianos do Recife, 1997. ______. Nós do inconsciente: A-lógica dos lugares. Recife: Centro de Estudos Freudianos do Recife, 1993. 187 DIAS, Mauro Mendes. Moda divina decadência: ensaio psicanalítico. São Paulo: Hacker Editores: Cespuc, 1997. DUARTE, L. P.; ALVES, M. T. A. (orgs.). Outras margens: estudos da obra de Guimarães Rosa. Belo Horizonte: Autêntica/PUC Minas, 2001. FERREIRA, Nadiá Paulo. Amor, ódio e ignorância: literatura e psicanálise. Rio de Janeiro: Rios Ambiciosos Livraria e Editora / Contra Capa Livraria / Corpo Freudiano do Rio de Janeiro, 2005. FONTENELE, Laéria Bezerra. A máscara e o véu: O discurso feminino e a escritura de Adélia Prado. Rio de Janeiro: Relume Dumará; Fortaleza, CE: Secretaria de Cultura e Desporto, 2002-a. (Coleção Outros diálogos; 9). ______. A interpretação. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2002-b. (Coleção passo-apasso, 12). FREUD, Sigmund. Obras completas de Sigmund Freud. Madrid: Biblioteca Nueva, 1980. (1892-99) Extratos dos documentos dirigidos a Fliess. (1895) Projeto para uma psicologia científica. (1895) Estudos sobre a histeria. (1900) A interpretação dos sonhos. (1901) A psicopatologia da vida cotidiana. (1905) Fragmento da análise de um caso de histeria (Caso Dora). (1905) Três ensaios para uma teoria da sexualidade. (1905) Os chistes e sua relação com o inconsciente. (1908) Teorias sexuais infantis. (1912-3) Totem e tabu. (1915) Um caso de paranóia contrário à teoria psicanalítica. (1918) O tabu da virgindade. (1919) “Bate-se numa criança”. (1920) Sobre a psicogênese de um caso de homossexualidade feminina. (1921) Psicologia das massas e análise do eu. (1922) A cabeça de medusa. 188 (1923) O eu e o isso. (1923) A organização genital infantil: uma interpolação na teoria da sexualidade. (1924) O problema econômico do masoquismo. (1924) A dissolução do complexo de Édipo. (1925) Algumas conseqüências psíquicas da distinção anatômica entre os sexos. (1927) Fetichismo. (1931) Sexualidade feminina. (1932) Novas conferências introdutórias sobre psicanálise. (1933) A feminilidade. (1937) Análise terminável e interminável (1939) Moisés e o monoteísmo. GONÇALVES, Ana Maria. Um defeito de cor. Rio de Janeiro: Record, 2006. GRANON-LAFONT, Jeanne. A topologia de Jacques Lacan. Luiz Carlos Miranda; Evany Cardoso (trads.). Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1996. GUASCH, Antônio. Diccionario Castellano-Guaraní y Guarani-Castellano: sintáctico, fraseológico, ideológico. Sevilla: Ediciones Loyola, 1961. HOLLANDA, Chico Buarque de. Chico Buarque, letra e música. São Paulo: Companhia das Letras, 1989. JORGE, Marco Antônio Coutinho. Fundamentos da psicanálise de Freud a Lacan: as bases conceituais. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2000. JULIEN, Philippe. As psicoses: um estudo sobre a paranóia comum. Rio de janeiro: Companhia de Freud, 1999. ______. O estranho gozo do próximo: ética e psicanálise. Vera Ribeiro (trad.). Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1996. KRAMER, Heinrich. SPRENGER, James. O martelo das feiticeiras. Paulo Fróes (trad.). Rio de Janeiro: Record: Rosa dos Tempos, 2000. LACAN, Jacques. Outros escritos. Vera Ribeiro (trad.). Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003. 189 (1972) O aturdito. ______. Escritos. Vera Ribeiro (trad.). Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998. (1958) A significação do falo. (1960) Observação sobre o relatório de Daniel Lagache: “Psicanálise e estrutura da personalidade”. ______. As psicoses, livro 3, (1955-56). Aluísio Menezes (trad.). Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1992. ______. A relação de objeto, livro 4 (1956-57). Dulce Duque Estrada (trad.). Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1995. ______. As formações do inconsciente, livro 5 (1957-58). Vera Ribeiro (trad.). Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999. ______. A ética da psicanálise, livro 7 (1959-1960). Antônio Quinet (trad.) Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1997. ______. A identificação, seminário IX (1961-62). Ivan Corrêa e Marcos Bagno (trads.). Recife: Publicação para circulação interna do Centro de Estudos Freudianos do Recife: 2003. ______. Os Nomes-do-Pai. André Telles (trad.). Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2005. ______. Os quatro conceitos fundamentais da psicanálise, livro 11 (1964). M. D. Magno (trad.). Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1985. ______. Problemas cruciais para a psicanálise, seminário (1964-1965). Claúdia Lemos et al (trads.). Recife: Publicação para circulação interna do Centro de Estudos Freudianos do Recife: 2006. ______. De um Outro ao outro, seminário XVI (1968-69). Amélia Medeiros et al (trads.). Recife: Publicação para circulação interna do Centro de Estudos Freudianos do Recife: 2004. ______. O avesso da psicanálise, livro 17 (1969-70). Ari Roitman (trad.). Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1992. ______. Mais, ainda, livro 20 (1972-73). M. D. Magno (trad.). Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1985. 190 MARTINS, Nilce Sant’Anna. O léxico de Guimarães Rosa. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2001. MENDES, Lauro Belchior. “Imagens visuais em Grande Sertão: Veredas” In: A astúcia das palavras: ensaios sobre João Guimarães Rosa. Lauro Belchior Mendes/ Luiz Cláudio Vieira (orgs.). Belo Horizonte: Pós-graduação em Letras/ Estudos Literários – UFMG, Ed. UFMG, 1998. p. 51-80. POMMIER, Gerard. A exceção feminina: os impasses do gozo. Dulce M. P. Duque Estrada (trad.). Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora, 1987. PORGE, Erik. Os nomes do pai em Jacques Lacan: pontuações e problemáticas. Celso Pereira de Almeida (trad.). Rio de Janeiro: Companhia de Freud, 1998. RONCARI, Luiz. O Brasil de Rosa: mito e história no universo rosiano: o amor e o poder. São Paulo: Editora UNESP, 2004. ROUDINESCO, Elizabeth. A família em desordem. André Telles (trad.). Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003. _____. PLON, Michel. Dicionário de psicanálise. Vera Ribeiro e Lucy Magalhães (trads.). Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998. SIMÕES, Irene Gilberto. Guimarães Rosa: as paragens mágicas. São Paulo: Coleção Debates, MTC, CNPq, Ed. Perspectiva (s/d). SINZIG, Pedro. Dicionário musical. Rio de Janeiro: Livraria Kosmos Editora, 1976. SOLER, Colette. O que Lacan dizia das mulheres. Vera Ribeiro (trad.). Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2005. TELES, Gilberto Mendonça. A escrituração da escrita: teoria e prática do texto literário. Petrópolis, RJ: Vozes, 1996. TOMAZ, Jerzuí. Trilhamentos do feminino. Rio de Janeiro: Companhia de Freud, 2001. UTÉZA, Francis. João Guimarães Rosa: Metafísica do Grande Sertão. José Carlos Garbuglio (trad.). São Paulo: Editora da Universidade de são Paulo, 1994. 191 VALAS, Patrick. As dimensões do gozo: do mito da pulsão à deriva do gozo. Lucy Magalhães (trad.) Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001. 192
Baixar