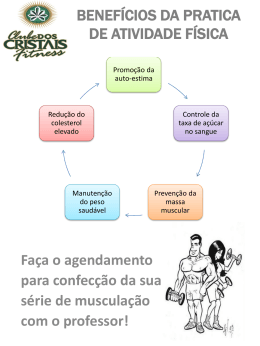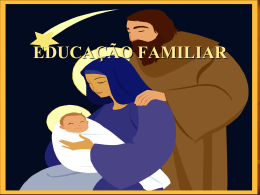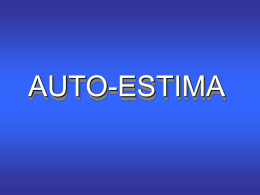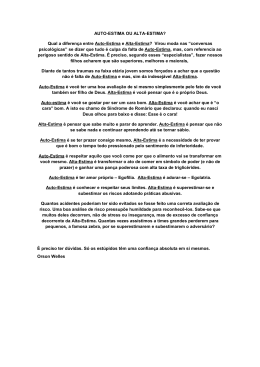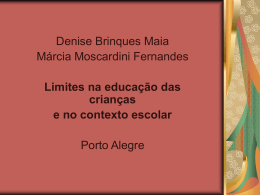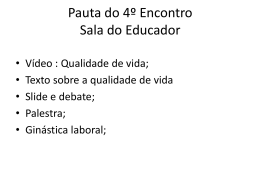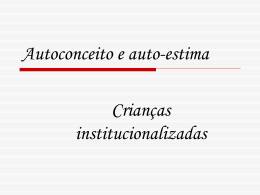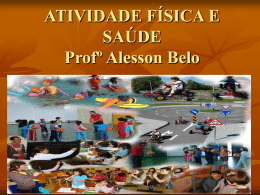UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS CENTRO DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIAS HUMANAS CURSO DE PSICOLOGIA UMA COMPARAÇÃO RACIAL DA AUTO-ESTIMA E DO AUTO-CONCEITO DE ADOLESCENTES NEGROS E BRANCOS Melissa Picchi Zambon Orientadora: Tânia Maria Santana de Rose Co-orientador: Cristiano dos Santos Neto Monografia apresentada ao Curso de Psicologia da Universidade Federal de São Carlos como parte dos requisitos para a obtenção do título de Bacharel em Psicologia SÃO CARLOS 2003 À minha amada mãe, que me ensinou a voar com minhas próprias asas. AGRADECIMENTOS Agradeço à Professora Tânia Maria Santana de Rose por toda a dedicação com que me orientou e por ter despertado e incentivado em mim o gosto pela ciência. Agradeço ao Professor Cristiano dos Santos Neto pela valiosa ajuda na análise dos dados e pelas cuidadosas sugestões. Agradeço à Professora Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva pelas indicações e orientações e à Isabel de Rose pela revisão do SDQ-II. Agradeço às minhas colegas de curso Lívia Midori e Cristiane Marçal pela grande ajuda na coleta de dados. Agradeço à minha tia Rita e minha avó Ignez, minhas “segundas mães”, pelo carinho com que sempre me apoiaram e acreditaram mim. Agradeço ao meu namorado, Dennis, pelo amor com que me apoiou incondicionalmente sempre que precisei. E, finalmente, agradeço a Deus, por me dar saúde e capacidade para fazer aquilo que eu amo e por ter colocado essas pessoas tão especiais no meu caminho. “Se, no teu centro um Paraíso não puderes encontrar, não existe chance alguma de, algum dia, nele entrar.” (Angelus Silésius) SUMÁRIO LISTA DE TABELAS .......................................................................................................... I RESUMO...............................................................................................................................II 1. INTRODUÇÃO................................................................................................................. 1 1.2. Objetivos....................................................................................................................... 11 2. MÉTODO......................................................................................................................... 12 2.1. Participantes.................................................................................................................. 12 2.2. Aspectos Éticos..............................................................................................................15 2.3. Instrumentos...................................................................................................................15 2.4. Tradução e adaptação do SDQ-II.................................................................................. 18 2.5. Aplicação dos Instrumentos...........................................................................................19 2.6. Tratamento e análise dos dados.................................................................................... 20 3. RESULTADOS................................................................................................................ 22 4. DISCUSSÃO.................................................................................................................... 25 REFERÊNCIAS...................................................................................................................30 ANEXOS............................................................................................................................. 32 LISTA DE TABELAS Tabela n. Página 1. Porcentagem de mães e pais de alunos negros e brancos nas categorias de nível de escolaridade e ocupação que exercem.......................... 14 2. Média e desvio padrão (DP) de alunos negros e brancos na Escala de Rosenberg e na Escala Geral de auto-conceito do SDQ-II...............................................................................................................22 3. Média, desvio padrão (DP) e comparação entre os alunos negros e brancos para as dez escalas do SDQ-II (auto-conceito em matemática, aparência física, honestidade/lealdade, habilidades físicas, auto-conceito verbal, estabilidade emocional, relacionamento com os pais, auto-conceito escolar geral, relacionamento com o mesmo sexo e relacionamento com o sexo oposto)......................................23 I RESUMO A auto-estima e o auto-conceito são considerados importantes preditores de bem-estar psicológico e de motivação. Os estudos americanos que investigam como as autopercepções (auto-estima e auto-conceito) de crianças e adolescentes variam em função do grupo étnico indicam que os afro-americanos apresentam uma auto-estima mais elevada do que os brancos No Brasil, o crescente questionamento do mito da democracia racial tem gerado um grande interesse pelas implicações sociais e psicológicas advindas das diferenças raciais. No entanto, ainda são escassos os estudos nacionais que investigam dimensões psicológicas tais como as auto-percepções de adolescentes pertencentes a diferentes grupos étnicos. Visando auxiliar a preencher este tipo de lacuna, o presente estudo teve os seguintes objetivos: 1) comparar a auto-estima de um grupo de adolescentes negros e brancos; 2) comparar os auto-conceitos relativos a dez áreas de vida (autoconceito em matemática, auto-conceito verbal, auto-conceito escolar geral, habilidades físicas, aparência física, relações com o sexo oposto, relações com o mesmo sexo, relação com os pais, honestidade-lealdade e estabilidade emocional) apresentados por adolescentes negros e brancos. Participaram do estudo 30 adolescentes brancos e 30 adolescentes negros, alunos da segunda série do Ensino Médio de uma escola pública da cidade de São Carlos. Foram utilizados os instrumentos Escala de Rosenberg (1965) e o Self-Description Questionnaire (SDQ-II, 1990). Em relação à auto-estima, não foram verificadas diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. No entanto, foram observadas diferenças estatisticamente significativas no auto-conceito relativo a aparência física e o auto-conceito escolar geral. Os adolescentes apresentaram escores mais baixos nestas duas áreas do que os adolescentes brancos. Os resultados do presente pesquisa não apóiam a tendência presente nos estudos americanos, ou seja, dos adolescentes negros se perceberem de uma maneira mais positiva do que os brancos. A amostra reduzida e a restrição do espaço amostral a uma única escola impossibilita que seja generalizada a similaridade na maneira dos adolescentes pertencentes aos distintos grupo étnicos se perceberem. Estudos futuros poderiam utilizar uma amostra representativa de adolescentes e abordar as relações entre auto-estima e identidade racial. II O presente estudo compreendeu uma comparação entre auto-percepções (autoconceito e auto-estima) de adolescentes afro-descendentes e brancos. O rearranjo na vida social dos adolescentes é acompanhado por um desenvolvimento também notável na maneira como eles pensam sobre si, pela emergência de um novo nível de sensibilidade com relação à sua posição pessoal entre seus pares e os esforços para manter a auto-estima (Cole & Cole, 2003). Um corpo de evidências significativo sugere que à medida que as crianças passam da segunda infância e daí para a adolescência, seu senso de eu passa por mudanças marcantes que seguem em paralelo às mudanças ocorridas nos processos cognitivos e sociais (Damon & Hart, 1982; Harter, 1983). As pesquisas corroboram uma tendência geral de auto-conceito baseado em características limitadas e concretas para concepções mais abstratas e estáveis, adquiridas através da comparação social (Cole & Cole, 2003). Durante a adolescência, surge um novo tipo de auto-descrição, em que a identidade pessoal é expressa em termos de crenças gerais, valores e planos de vida (Cole & Cole, 2003). Uma outra característica do auto-conceito é a maior variedade dos atributos que eles incluem. Os adolescentes descrevem-se em termos de características em um maior número de domínios (áreas de vida do adolescente), como desempenho escolar, competência atlética, competência no emprego, aparência física, aceitação social, amizades íntimas, atração romântica, etc. (Harter, 1983; Montemayor & Eisen, 1977). No âmbito da pesquisa atual sobre auto-estima verifica-se um crescente consenso (Harter, 1982; Rosenberg, 1986 citado por Harter, 1997) de que a auto-estima é pobremente apreendida por medidas que combinam avaliações entre diferentes domínios em um único 1 escore síntese. Considera-se que tal procedimento mascara as distintas avaliações que os adolescentes são capazes de fazer. A abordagem que vem sendo mais adotada e considerada mais produtiva no estudo da auto-estima é a que acessa os distintos domínios do autoconceito separadamente, uma vez que os adolescentes tipicamente têm diferentes autopercepções para cada uma destas áreas. Há uma tendência a se considerar que o conceito de uma auto-estima global do adolescente (ou seja, o quanto eles gostam, aceitam ou respeitam o self enquanto uma pessoa) possa ser acessado a partir do conjunto próprio de itens das áreas específicas (Marsh, 1990; Harter, 1982; Marsh, 1986). O surgimento de “eus múltiplos” nas descrições que os adolescentes fazem de si mesmos leva-os a lidar com o fato de que eles são, em algum sentido, pessoas diferentes em diferentes contextos. Quando os adolescentes começam a perceber as disparidades entre a maneira como realmente se comportam e a maneira como deveriam se comportar se fosse para serem sinceros com seus “eus verdadeiros”, eles passam a ficar preocupados com o que é seu “verdadeiro” eu. Do confronto com as próprias características, surge o questionamento sobre o quanto eles se gostam, o que diz respeito à auto-estima (Cole & Cole, 2003). A auto-estima envolve aspectos avaliativos do auto-conceito, sendo amplamente entendida como uma avaliação global do próprio valor (Gray-Little & Hafdahl, 2000). Em grau considerável, os atributos associados com auto-estima elevada na adolescência são a beleza física, especialmente no caso das garotas, em seguida pela aceitação dos pares. Todas as outras características vêm depois (Cole & Cole, 2003). Os estudos sobre desenvolvimento da auto-estima mostram um declínio marcante no início da adolescência, seguido por aumento consistente após os 14 ou 15 anos de idade. Na adolescência tardia, a auto-estima torna-se mais elevada e estável, o que pode estar 2 relacionado ao fato de que nesta fase ocorre uma diminuição da discrepância entre o eu real e o eu ideal, o que, aliado ao aumento da autonomia pessoal e da liberdade de escolha, proporcionaria mais oportunidades de o indivíduo selecionar os domínios de performance nos quais é mais competente (Bee, 1996 ; Harter, 1997). A auto-estima tem sido vinculada a padrões de criação de filhos. Em um estudo com meninos de 10 a 12 anos de idade, Coopersmith descobriu que os pais de meninos com auto-estima elevada empregavam um estilo de competência de pais similar ao “autoritativo”, com autoridade, mistura de controle firme, promoção de padrões elevados de comportamento, encorajamento da independência e disposição para conversar com seus filhos (Cole & Cole, 2003). As evidências sugerem que o fundamental para a auto-estima é a sensação, transmitida em grande parte pela família, de que a pessoa tem alguma capacidade para controlar seu próprio futuro, controlando tanto a si mesmo quanto a seu ambiente (Cole & Cole, 2003). A auto-estima e auto-conceito são vistos como importantes índices de saúde mental. Uma auto-estima elevada na infância e na adolescência tem estado vinculada à satisfação e à felicidade na vida adulta, enquanto uma auto-estima baixa tem estado ligada à depressão, ansiedade e má adaptação tanto na escola quanto nas relações sociais. No Brasil, a questão racial é permeada pelo mito da democracia racial, ou seja, a noção de que a sociedade brasileira é constituída por raças diferentes que se misturam e onde não existe preconceitos ou discriminação (Bianchi, Zea, Belgrave & Echeverry, 2002). O termo democracia racial teve sua origem na década de 40, baseado nas idéias de Gilberto Freyre e prevaleceu até a década 60 como um ideal político de convivência 3 igualitária entre negros e brancos, quando então passou a ser tratado como sendo um discurso de dominação política (Guimarães, 2003). Pesquisas recentes mostram que os brasileiros reconhecem a discriminação racial no nível da sociedade como um todo. No entanto, a maioria nega ter sido vítima de preconceito racial, o que indica que o racismo é percebido como um fenômeno que ocorre em nível institucional, com pouca conseqüência ou relevância pessoal. (Bianchi et al., 2002). Uma pesquisa de opinião publicada no caderno “Racismo Cordial” em 1995, no jornal Folha de São Paulo mostra que 88% dos entrevistados não-negros afirmam não ter preconceito de cor. Mas, 87% desses mesmos entrevistados admitem já ter demonstrado preconceito racial contra os negros. São fortes as evidências de que os negros brasileiros estão propensos a serem vítimas do racismo ou observar o racismo contra o grupo ao qual pertencem repetidas vezes ao longo de sua vida (Bianchi et.al, 2002; Guimarães, 2003). Nas comparações entre grupos raciais, a auto-estima individual deve ser distinguida de dois construtos teóricos relacionados: identidade étnica ou racial e estima racial. Jean Phinney (1996 apud Cole & Cole, 2004) define identidade étnica com sendo um “aspecto duradouro e fundamental do eu que inclui a sensação de ser membro de um grupo étnico e de possuir as atitudes e os sentimentos associados a essa qualidade de membro” (p. 922). Este conceito refere-se ainda à compreensão ou qualidade da identificação com o próprio grupo étnico, o que inclui como ele reconhece e supera os efeitos psicológicos do racismo. O termo estima racial ou coletiva implica no valor que é atribuído por um certo grupo social a ele mesmo. Estima coletiva ou racial, auto-estima individual e identidade étnica 4 tendem a estar relacionadas, quanto mais avançado o estágio de identidade étnica adotado, maior a estima coletiva e individual (Gray-Little & Hafdahl, 2000; Bianchi et al., 2002 ). Diversos pesquisadores, apesar de darem rótulos diferentes, concordam quanto à existência de estágios de formação da identidade étnica. Um estágio tende a predominar sobre os outros em um determinado período da vida do indivíduo, de acordo com sua efetividade em ajudar a pessoa a enfrentar a informação racial (Helms, 1990, apud Bianchi at al, 2002). Helms, 1995 apud Bianchi et al., 2002 propõe que as pessoas têm à sua disposição quatro diferentes modos de interpretar a informação racial sobre elas mesmas, sobre os outros e sobre instituições: • conformidade: neste estágio prevalece a internalização dos valores do grupo majoritário sobre seu grupo racial, o que pode levar à aceitação e preferência pelos valores culturais do grupo majoritário onde se encontram inseridos e a uma avaliação negativa do seu próprio grupo. O racismo internalizado é experienciado sem que a pessoa tenha consciência. Para lidar com informações raciais significativas do ambiente, as pessoas recorrem à negação, minimização dos eventos e percepção seletiva; • dissonância: é caracterizado pela experimentação de uma certa ambivalência e confusão quanto aos valores do grupo majoritário e por um interesse pelo próprio grupo racial; • resistência: é comum que os indivíduos tenham sentimentos negativos com relação ao grupo majoritário e, em contrapartida, idealizem seu próprio grupo racial. Características marcantes deste estágio são grande preocupação com as implicações pessoais da etnia a qual pertence, busca de informações sobre seu próprio grupo e envolvimento em movimentos sociais e políticos relacionados a questões étnicas; 5 • internalização: nesta fase predomina uma identidade étnica positiva. Os indivíduos neste estágio desenvolvem habilidades de reconhecerem e resistirem quanto às mensagens negativas e estereótipos sobre seu próprio grupo, usando para isso estratégias de intelectualização e abstração. Ao se tratar deste último estágio deve-se fazer uma ressalva, pois as desigualdades econômicas que acompanham os status de alguns grupos minoritários dificultam muito isolar a qualidade de membro de grupo minoritário como a variável fundamental no desenvolvimento das identidades pessoal e social dos membros. Em conseqüência disso, não podemos ter certeza da razão por que a exclusão ocorre mais freqüentemente entre os adolescentes do grupo minoritário, ou por que alguns deles parecem identificar-se menos com seu próprio grupo étnico ou racial do que com o grupo dominante (Cole & Cole, 2003). As descobertas mais significativas sobre a relação entre identidade racial e autoestima sugerem que, entre afro-americanos, as atitudes raciais, associadas à orientação branca da maioria (conformidade) estão relacionadas a baixos níveis de auto-estima. Por outro lado, as atitudes raciais associadas a um status que reflita uma identidade racial mais segura e positiva (internalização) estão relacionadas a níveis mais altos de auto-estima (Bianchi et al., 2002). A literatura relativa à auto-estima de diferentes grupos étnicos tem tratado, principalmente, do grupo de adolescentes afro-americanos. Os estudos iniciais tiveram como base a expectativa teórica de que o grupo afro-americano apresentaria auto-estima mais baixa do que a do grupo de brancos americanos. (Harter, 1997). A interpretação presente nesses estudos era consistente com a formulação que enfatizava que a internalização no self de atitudes dos outros e a comparação social. 6 Considerando-se que os afro-americanos eram mantidos em condições inferiores na sociedade americana quanto a aproveitamento educacional, status ocupacional e variáveis econômicas, seria esperado que os afro-americanos manifestassem baixa auto-estima (Harter, 1997). Um dos mais conhecidos estudos sobre o desenvolvimento da identidade étnica e racial foi realizado por Kenneth e Mamie Clark na década de 50. Nesta pesquisa foi solicitado a crianças afro-americanas e euro-americanas acima de três anos que fizessem escolhas preferenciais entre pares de bonecas que representavam os dois grupos raciais, a elas eram feitas as seguintes questões: “com que menino (boneco) você gostaria de brincar?” ou “com que menina você não gostaria” (Cole & Cole, 2003). Os resultados indicaram que a maioria das crianças pequenas conseguia diferenciar entre as categorias de bonecas e também que as crianças afro-americanas pareciam preferir as bonecas brancas. Os dados desta pesquisa levaram muitos psicólogos a concluírem que as crianças afro-americanas definiam-se inteiramente em termos do grupo da maioria, desprezando assim a importância de suas próprias famílias e comunidades na construção de suas identidades e das suas auto-percepções (Cole & Cole, 2003). Em estudos posteriores foram obtidos resultados semelhantes e também divergentes, como, por exemplo, o estudo de Spencer,1988, apud Cole & Cole (2003). Neste estudo, foi encontrado que embora muitas crianças afro-americanas entre quatro e seis anos tenham dito preferir brincar com uma boneca branca, 80% delas apresentaram uma auto-estima positiva. Atualmente, há um consenso de que os estudos iniciais comparando diferentes grupos raciais trataram da estima racial e de orientação do grupo de referência e não do senso de identidade pessoal do indivíduo (auto-estima). A ausência desta distinção levou por várias 7 décadas à conclusão equivocada de que os afro-americanos apresentariam uma baixa autoestima. Os estudos recentes têm mostrado que os afro-americanos apresentam uma autoestima global mais elevada do que a dos brancos, indicando que auto-estima pode ser independente das atitudes raciais negativas mantidas pela sociedade (Steinberg, 2001). A meta-análise realizada por Gray-Little & Hafdahl (2000) comparou 261 estudos sobre autoestima de crianças e adolescentes, que evidenciaram que os negros têm uma auto-estima mais elevada do que os brancos. Nos estudos foram utilizadas diversas escalas padronizadas e não-padronizadas de avaliação da auto-estima, envolvendo mais de meio milhão de respondentes. Um dos objetivos desta meta-análise foi verificar as características que afetavam diferenças na autoestima de brancos e negros. Foi encontrado que a vantagem da auto-estima entre respondentes negros aumenta com a idade, com exceção de antes da pré-adolescência, quando parece ocorrer uma vantagem na auto-estima dos participantes brancos. A metaanálise também evidenciou que existe maior vantagem na auto-estima de adolescentes e adultos jovens negros quando havia maior prevalência do sexo feminino na amostra. Quanto ao contexto social, tanto alunos brancos quanto negros apresentavam auto-estima mais elevada em ambientes onde se verificava predominância de integrantes do seu próprio grupo. O processo subjacente à formação de auto-estima entre a adolescentes afroamericanos parece não ser diferente daquele que ocorre entre adolescentes brancos. Dado que a noção de que a pessoa incorpora atitudes dos outros significativos ao self, o contexto para o desenvolvimento da auto-estima de afro-americanos envolve a família e a comunidade afro-americana (Taylor,1976). 8 Desta forma, as crianças afro-americanas internalizam as opiniões dos pais e irmãos, amigos e professores que funcionam como grupo primário de referência social. A relação entre as atitudes dos outros significativos em relação ao self e auto-estima tem se mostrado mais forte entre os afro-americanos do que entre adolescentes brancos. (Rosenberg & Simmons, 1972 citado por Harter, 1997). Os estudos sugerem que tanto a comunidade afroamericana funciona como fonte de auto-conceito positivo para as crianças como também a família pode filtrar mensagens racistas e suplantar tais mensagens com feedback positivo de modo a favorecer uma auto-estima positiva. A influência do aspecto racial sobre as áreas de desenvolvimento de crianças e adolescentes apresenta uma importância irrefutável. O impacto da ideologia da democracia racial, bem como a influência da cor na identidade racial e na auto-estima dos brasileiros negros é desconhecida. Existe uma lacuna quanto a como os brasileiros negros se percebem racialmente, como processam as informações raciais e enfrentam o racismo (Bianchi et al., 2002). Os resultados apontados pela literatura indicam que há diferenças na auto-estima de adolescentes negros e brancos, mas muito pouco se sabe como isso ocorre no Brasil, um país onde as relações raciais se dão de uma forma peculiar. Bianchi et al. (2002) realizaram um estudo pioneiro que explorou a relação entre os estágios de identidade racial propostos por Helms, auto-estima coletiva e individual de brasileiros negros das cidades de Salvador e Rio de Janeiro. Os resultados indicaram que as atitudes de identidade racial associadas com o estágio de internalização foram preditivas da auto-estima coletiva. Os homens negros brasileiros com atitudes que evidenciavam alta internalização tinham maior probabilidade de julgarem positivamente o seu grupo racial e seu status dentro dele. 9 Somente a conformidade e a internalização foram preditivas da auto-estima individual. As atitudes de conformidade foram negativamente associadas com a auto-estima individual. As atitudes de internalização foram positivamente relacionadas a auto-estima individual. Estes resultados são consistentes com os achados presentes na literatura. O presente estudo visou contribuir para o entendimento das auto-percepções de um grupo de adolescentes afro-descendentes e brancos, de ambos os sexos, residentes em uma cidade de porte médio do Estado de São Paulo. 10 OBJETIVOS Os objetivos do presente estudo foram: - Comparar a auto-estima de um grupo de adolescentes negros e brancos; - Comparar os auto-conceitos relativos a dez áreas de vida (auto-conceito em matemática, auto-conceito verbal, auto-conceito escolar geral, habilidades físicas, aparência física, relações com o sexo oposto, relações com o mesmo sexo, relação com os pais, honestidade-lealdade e estabilidade emocional) apresentados por adolescentes negros e brancos. 11 MÉTODO Participantes Participaram deste estudo um grupo de 60 adolescentes composto por 30 negros e 30 brancos de ambos os sexos. Os participantes freqüentavam a segunda série do Ensino Médio de uma escola pública da cidade de São Carlos, no Estado de São Paulo. A idade média dos participantes foi 16 anos, variando de 15 a 18 anos. A classificação racial dos participantes foi obtida através de uma auto-classificação entre as categorias brancos, negros, mestiços e amarelos. Os participantes que se rotularam como negros e mestiços foram classificados na categoria racial de negros.1 Quanto aos índices de caracterização sócio-demográfica dos participantes (ver Tabela 1) verifica-se que quase o dobro a mais de mães de alunos negros não completou o 1o grau do que as mães de alunos brancos nesta mesma condição. Nenhuma mãe de aluno negro completou o 2o grau e 6,7% das mães dos alunos brancos completaram este grau. A porcentagem de mães de alunos negros que completaram o 3o grau foi de 6,7 e 13,3% de mães de alunos brancos completaram este nível de escolaridade. Uma maior porcentagem de pais de alunos negros não completaram o 1o grau (46,7%) do que pais de alunos brancos (30%). Uma porcentagem superior foi verificada entre os pais de alunos negros que completaram o 2o grau (10%) do que os pais de alunos brancos (6,7%). 1 A literatura mostra uma tendência de os afro-descendentes se auto-classificarem em categorias como “Mulato, Mestiço ou Moreno”, quando perguntados sobre sua cor, o que se dá provavelmente pela maneira como os integrantes desse grupo se vêem, ou seja, nem como brancos, nem como negros (Bianchi et al, 2002). Em um levantamento feito em 1995 (“Racismo Cordial”) em várias cidades brasileiras, 43% da amostra preferiu o termo “Moreno” ao se referirem a sua cor. 12 Uma porcentagem maior de pais de alunos negros em relação a pais de alunos brancos completaram o 3o grau (20% e 13% respectivamente). Aproximadamente 50% das mães de alunos negros exercem ocupações nãoqualificadas, sendo este percentual quase o dobro do verificado entre as mães de alunos brancos. 40% das mães de alunos negros estão desempregadas ou só exercem atividades no lar e 59,25% das mães dos alunos brancos encontram-se nesta categoria. Quanto aos pais dos alunos negros, 78% exercem ocupações não-qualificadas ou qualificadas inferior, enquanto que 58% dos pais de alunos brancos exercem essas mesmas ocupações. 13 TABELA 1: Porcentagem de mães e pais de alunos negros e brancos nas categorias de nível de escolaridade e ocupação que exercem. MÃE PAI ALUNOS ALUNOS ALUNOS ALUNOS NEGROS BRANCOS NEGROS BRANCOS 1o grau incompleto 60 33.3 46.7 30 1o grau completo 20 23.3 23.3 23.3 2o grau incompleto 13.3 16.7 ----- 13.3 2o grau completo ----- 6.7 10 6.7 3o grau completo ---- 3.3 ---- 6.7 3o grau incompleto 6.7 13.3 20 13.3 Não-qualificada 46.66 22.22 33.33 12.5 Qualificação inferior 10 11.11 44.44 45.83 Qualificação média 3.33 3.7 11.11 16.66 Qualificação média superior ----- 3.7 11.11 16.66 Qualificação superior ----- ----- ----- 4.16 Desempregado (a) / Dona de casa 40 59.25 ------ 4.16 NÍVEL DE ESCOLARIDADE OCUPAÇÃO 14 Aspectos Éticos O protocolo de ética do presente estudo foi encaminhado à Comissão de Ética na Pesquisa da UFSCar. O projeto de pesquisa foi apresentado ao diretor responsável por uma escola pública de São Carlos, que assinou o formulário do Ministério da Saúde concordando com que os alunos da escola participassem do estudo. Depois de combinado com o diretor e com os professores um horário conveniente para a aplicação dos instrumentos, a pesquisadora passou pelas três classes que participariam do estudo e avisou sobre o dia e horário da coleta, entregando os termos de consentimento a cada um dos alunos (ver anexo 1). Os termos foram trazidos assinados e entregues à pesquisadora. Todos os sujeitos concordaram em participar do estudo. Instrumentos 1. Instrumento para levantamento de dados sócio-demográficos 1. 1. Questionário de dados sócio-demográficos: Este instrumento foi baseado na Escala de nível sócio-econômico-cultural elaborado por Soares & Fernandes (1989). Os itens do questionário referem-se a informações sobre sexo, idade, cor, trabalho e nível de escolaridade e ocupação dos pais (ver anexo 2). 15 2. Instrumentos de avaliação da auto-estima e do auto-conceito Os instrumentos para avaliação da auto-estima e do auto-conceito foram utilizadas a Escala de auto-estima de Rosenberg (1965) e o SDQ-II – Self-Description Questionnaraire de Marsh (1990). Na revisão de Gray-Little e Hafdahl (2000) sobre comparação racial de auto-estima foi indicada a Escala de Avaliação de Auto-Estima de Rosenberg como um dos quatro instrumentos mais utilizados nos estudos. Bianchi et al. (2002) utilizou esta escala no seu estudo feito com jovens e adultos negros brasileiros. Desta forma, optou-se no presente estudo utilizar a Escala de Rosenberg como um dos instrumentos de avaliação da autoestima. Este instrumento foi traduzido para o Português e vem sendo utilizado por pesquisadores brasileiros. A Escala de Rosemberg (1965) avalia a auto-estima geral sem referência a domínios específicos de funcionamento dos indivíduos tais como relação com família ou com colegas. Ela é considerada como um instrumento global, ou seja, de avaliação de uma autoestima geral, em vez de verificar domínios específicos da auto-estima. Os demais instrumentos indicados na revisão de Gray-Little & Haffdall (2000) avaliaram a auto-estima geral pela somatória das avaliações de qualidades e percepções das pessoas em relação a vários domínios. Estes instrumentos são descritos como instrumentos agregados. O instrumento para a avaliação do auto-conceito relativo aos dez domínios foi o SDQ-II. 16 2. 1. Escala de Auto-Estima de Rosemberg (1965) Esta escala acessa a auto-estima geral, sem referência a domínios específicos, podendo ser descrita como um instrumento global. Esta escala consiste de 10 itens, 5 positivos e 5 negativos, com o objetivo de controlar a tendência a responder de modo afirmativo, independentemente do teor da pergunta. Os itens desta escala são estruturados em uma escala do tipo Likert e apresentam quatro categorias de respostas (concordo totalmente, concordo, discordo e discordo totalmente).A amplitude do instrumento é de 10 a 40, com maior pontuação quanto mais alta a auto-estema. A escala pode ser aplicada a adolescentes do Ensino Médio, até pessoas na fase adulta. Este instrumento tem sido foco de intensa avaliação psicométrica e oferece medidas fidedignas e internamente consistentes (ver anexo 3). 2.2. SDQ-II – Self-Description Questionnaire – II (Marsh, 1990) O questionário de auto-descrição (SDQ-II) elaborado por Herbert Marsh (1990) é um instrumento amplamente utilizado na literatura para caracterizar as múltiplas funções do auto-conceito de adolescentes. Consiste em um inventário de 102 itens ou frases de autorelato subdivididos em onze escalas, que acessam três áreas de auto-conceito acadêmico (matemática, verbal e auto-conceito escolar geral), seis áreas de auto-conceito nãoacadêmico (habilidades físicas, aparência física, relações com o sexo oposto, relações com o mesmo sexo, relação com os pais, honestidade-lealdade, estabilidade emocional) e uma classe de auto-conceito geral (que acessa o auto-valor e a auto-satisfação). A escala de auto-conceito geral tem como base conceitual a Escala de Rosenberg e assim como ela 17 avalia a auto-percepção geral do indivíduo, sem fazer referência a qualquer domínio específico do auto-conceito. É pedido aos adolescentes que respondam a cada item usando uma escala Likert de cinco pontos (Sempre Falso; Muitas Vezes Falso; Às Vezes Falso, Às Vezes Verdadeiro; Muitas Vezes Verdadeiro; Sempre Verdadeiro). Este instrumento foi planejado para ser usado por adolescentes de 14 a 18 anos de idade. O SDQ-II apresenta uma boa consistência interna. No seu Manual, numerosos estudos são relatados e demonstram validade convergente e discriminante. Extensa pesquisa analítica tem fornecido apoio a sua estrutura hipotetizada de fatores, fornecendo suporte para a utilidade dos escores das várias sub-escalas. As normas para interpretação dos dados no Manual do SDQ-II são baseadas nas respostas de 5.494 alunos (2.658 do sexo masculino e 2.836 do sexo feminino) de escolas da região metropolitana de Sydney, Austrália e de classes sociais variadas. O SDQ-II foi traduzido e adaptado pela responsável por esta monografia (ver anexo 4). Um estudo de validação do SDQ-II está em andamento (Zambon, De Rose e Dos Santos Neto, 2003). Tradução e adaptação do SDQ-II Inicialmente o instrumento foi traduzido do inglês para o português pela pesquisadora e em seguida uma pessoa com fluência em inglês revisou a tradução. A orientadora da pesquisa deu sugestões de adaptações no vocabulário, condizentes com a realidade dos adolescentes brasileiros. A seguir foi realizado um estudo piloto com sete alunos cursando o segundo ano de Psicologia, com idades entre 18 e 20 anos. 18 A aplicação do piloto foi realizada em grupo em uma sala de aula da Universidade Federal de São Carlos. Antes da aplicação foi explicado aos participantes que eles deveriam responder aos instrumentos marcando aquilo que lhes parecesse ambíguo ou que não entendessem, quando terminaram foi pedido para que dissessem o que haviam marcado e então foi discutido entre os participantes alterações quanto aos problemas levantados. Modificações foram feitas levando-se em consideração os problemas e sugestões apontados pelos participantes do estudo piloto. Aplicação dos Instrumentos Os instrumentos foram aplicados coletiva e simultaneamente aos grupos de alunos das salas selecionadas, durante o horário de aula. As condições de iluminação, calor e ruído eram normais no local da aplicação. A coleta de dados foi realizada por três pessoas (a pesquisadora e outras duas estudantes de psicologia devidamente instruídas sobre o procedimento de coleta). As aplicadoras distribuíram os três instrumentos da pesquisa aos alunos e pediram para que aguardassem as explicações antes de começarem a respondê-los. Foi explicado que a identidade dos participantes seria resguardada, que em momento algum eles deveriam se identificar e que os dados seriam confidenciais. Em seguida, as aplicadoras leram em voz alta a instrução de aplicação que consta do instrumento SDQ-II, forneceram explicações para o preenchimento dos outros dois instrumentos e esclareceram as dúvidas que restaram quanto aos instrumentos. A seguir os alunos começaram a responder. Durante a aplicação algumas dúvidas quanto à forma de preenchimento e quanto ao significado de algumas palavras ou frases foram apresentadas pelos alunos. Os aplicadores procuraram esclareces as dúvidas. Os professores, que estavam ministrando suas aulas 19 antes da aplicação, permaneceram na sala durante a coleta, envolvidos em atividades como a leitura e preparação de aulas. O tempo de aplicação dos instrumentos foi de aproximadamente uma hora. Tratamento e análise dos dados Os dados referentes à auto-avaliação (SDQ-II) nos onze domínios foram contabilizados conforme o manual. Foi atribuído um valor para a resposta de cada item: Sempre Falso (1 ponto), Muitas Vezes Falso (2 pontos), Às Vezes Falso, Às Vezes Verdadeiro (3 pontos), Muitas Vezes Verdadeiro (4 pontos) e Sempre Verdadeiro (5 pontos). Os itens foram agrupados nas respectivas categorias (cada categoria apresenta oito ou dez itens) e em seguida, foi obtido o escore total de cada categoria somando os valores dos itens correspondentes e o escore total do instrumento somando-se o valor obtido nas onze categorias. Os escores das escalas de auto-conceito relativos a matemática, autoconceito geral, honestidade/lealdade, verbal, estabilidade emocional, escolar geral, relacionamento com pessoas do mesmo sexo variaram de 10 a 50. Os escores das escalas relativas a aparência física, habilidade física, relacionamento com os pais e relacionamento com pessoas do sexo oposto variaram de 8 a 40. O valor das respostas da Escala de Rosenberg foi calculado segundo seu manual. Cada item possui quatro possíveis respostas: Concordo totalmente (1 ponto), Concordo (2 pontos), Discordo (3 pontos) e Discordo Totalmente (4 pontos). Quatro dos 10 itens foram calculados com a pontuação invertida. O escore total deste instrumento é obtido somandose o valor das respostas para cada um dos itens. Um maior valor do escore corresponde a uma mais elevada auto-estima. 20 Para os escores obtidos nos instrumentos de auto-percepções foi aplicado o Teste TStudent visando realizar comparações entre os grupos de adolescentes brancos e negros. 21 RESULTADOS Inicialmente, são apresentados os resultados referentes à auto-estima. A seguir, são apresentados os resultados relativos ao auto-conceito. TABELA 2: Média e desvio padrão (DP) de alunos negros e brancos na Escala de Rosenberg e na Escala Geral de auto-conceito do SDQ-II. Escala de Rosenberg SDQ-II Grupos Média DP Média DP Alunos Negros 29.67 3.47 38.03 7.24 Alunos Brancos 30.20 4.05 39.13 5.85 A Tabela 2 mostra que os alunos negros apresentaram média 29.67 e os alunos brancos apresentaram média 30.20 na Escala de Rosenberg. Na escala de auto-conceito geral do SDQ-II os alunos negros obtiveram média 38.03 e os alunos brancos obtiveram média 39,13. Em relação à auto-estima, não foram verificadas diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 22 TABELA 3: Média, desvio padrão (DP), comparação (e nível de significância estatística) entre os alunos negros e brancos para as dez escalas do SDQ-II (auto-conceito em matemática, aparência física, honestidade/lealdade, habilidades físicas, auto-conceito verbal, estabilidade emocional, relacionamento com os pais, auto-conceito escolar geral, relacionamento com o mesmo sexo e relacionamento com o sexo oposto). Escala do SDQ-II Matemática ALUNOS ALUNOS NEGROS BRANCOS Comparação Média DP Média DP (p) 27.47 9.31 31.17 11.28 SD (0.171) Aparência Física 28.57 5.51 32.53 6.7 B > N* (0.014) Honestidade/ Lealdade 37.27 7.77 40.67 6.21 SD (0.066) Habilidades Físicas 29.63 6.92 28 9.48 SD (0.449) Verbal 33.63 7.05 31.80 8.78 SD (0.376) Estabilidade Emocional 27.73 7.6 28.9 8.64 SD (0.581) Relacionamento com os 30.57 6.89 33.33 5.53 pais Escolar Geral SD (0.092) 32.20 7.45 36.87 9.11 B > N* (0.034) Relacionamento com o 37.83 7.27 39.70 5.83 mesmo sexo Relacionamento com o SD (0.277) 29.9 6.22 sexo oposto 32.63 5.24 SD (0.071) * p < 0.05 SD- Sem diferença estatisticamente significativa 23 Os dados da Tabela 3 indicam que os alunos negros apresentaram médias inferiores às dos alunos brancos nas seguintes áreas do SDQ-II: auto-conceito em matemática, aparência física, honestidade/lealdade, estabilidade emocional, relacionamento com os pais, auto-conceito escolar geral, relacionamento com o mesmo sexo e relacionamento com o sexo oposto. Nas áreas de habilidades físicas e auto-conceito verbal os alunos negros apresentaram escores médios superiores aos dos alunos brancos. No entanto, foram verificadas diferença estatisticamente significativa entre os grupos duas áreas de auto-percepção: aparência física e escolar geral. Em relação a autopercepção relativa à honestidade/ lealdade observou-se uma diferença acentuada entre os grupos. 24 DISCUSSÃO Este trabalho procurou comparar a auto-estima e o auto-conceito de dois grupos de adolescentes. Os grupos eram compostos de trinta adolescentes negros e trinta adolescentes brancos, alunos que freqüentavam a segunda série do Ensino Médio de uma escola pública na cidade de São Carlos. O trabalho pretendeu contribuir para a obtenção de dados relativos a auto-estima e o auto-conceito de adolescentes em dois diferentes grupos raciais, bem como investigar possíveis diferenças relacionadas a estes dois itens, que pudessem ser atribuídas a diferenças raciais entre os grupos. Em relação a auto-estima não foi observada diferença significativa entre os grupos. No entanto, verificou-se diferenças significativas nas auto-percepções relativas a dois domínios que compõem o auto-conceito, aparência física e auto-conceito escolar geral. Os estudos indicam que, em um grau considerável, os atributos associados à autoestima elevada em adolescentes são os mesmos que eles atribuem a seus pares populares nos anos anteriores. A beleza física encabeça a lista, especialmente no caso das meninas, seguido pela aceitação dos pares. Todas as outras características vêm depois. Essa ênfase excessiva na beleza física tem um impacto altamente negativo na autoestima das meninas, pois muitas delas consideram-se feias. Ao menos em parte esta autopercepção negativa ajuda a explicar porque os estudos realizados em um grande número de países constataram que, em média, as meninas possuem auto-estima inferior à dos meninos. À luz das evidências da literatura os resultados que indicam diferenças na maneira dos adolescentes perceberem a aparência física podem ser indícios de que o sentido de 25 auto-estima para os dois grupos pode ser distinto, uma vez que esta influi na auto valorização global de si. Possivelmente, estudos posteriores realizados com grupos mais numerosos poderiam vir a verificar se esta tendência quanto a auto-percepção negativa para a aparência física mais manifesta em adolescentes negros do que em brancos se verifica, assim como diferenças em termos da auto-estima global, da valorização de si. A auto-percepção relacionada à área escolar geral envolve o julgamento, por parte dos adolescentes, quanto ao esforço e correspondência às atribuições na escola. As análises dos resultados indicam ser esta uma área em relação a qual as auto-percepções dos grupos se distinguem. Estudos posteriores poderiam avaliar a influência que a percepção da área acadêmica tem para a auto-valorização dos adolescentes. Na revisão de Gray-Little & Halfdal (2000) a maioria dos estudos utilizaram escalas de auto-estima globais (independente de domínios) ou escalas agregadas. Alguns, entretanto, empregaram escalas planejadas para medir a auto-estima em domínios específicos, como o domínio acadêmico. Eles argumentam que embora o uso de instrumentos gerais de avaliação da auto-estima se ajustem melhor à noção tradicional de auto-estima como uma avaliação global, os instrumentos de domínios específicos oferecem algumas vantagens. Considerando o princípio básico de que o poder de uma atitude para prever o comportamento depende da atitude estar estreitamente relacionada ao comportamento, instrumentos de auto-percepção específicos seriam melhor para prever competência em um determinado domínio. No âmbito da pesquisa atual sobre auto-estima verifica-se um crescente consenso (Harter, 1982; Rosenberg, 1986 citado por Harter, 1997) de que auto-estima é pobremente apreendida por medidas que combinam avaliações entre diferentes domínios em um único 26 escore síntese. Considera-se que tal procedimento mascara as distintas avaliações que os adolescentes são capazes de fazer. A abordagem que vem sendo mais adotada e considerada mais produtiva no estudo da auto-estima é a que acessa os distintos domínios do autoconceito separadamente, uma vez que os adolescentes tipicamente têm diferentes autopercepções para cada uma destas áreas. Há uma tendência a se considerar o conceito de uma auto-estima global do adolescente (ou seja, o quanto eles gostam, aceitam ou respeitam o self enquanto uma pessoa) possam ser acessados a partir do conjunto próprio de itens das áreas específicas (Marsh, 1990; Harter, 1982; Marsh, 1986). Nos estudos revisados por Gray-Little & Hafdahl (2000) foram observados diferenças raciais somente entre a auto-estima acadêmica e geral, os demais domínios não foram avaliados. Observou-se entre os negros escores mais altos de auto-estima geral do que auto-estima acadêmica. Estes resultados são explicados através de estudos que mostraram um aproveitamento acadêmico mais alto entre alunos brancos do que negros. Uma vez que aproveitamento acadêmico e auto-estima acadêmica são relacionados positivamente, é possível explicar a auto-estima mais alta entre os alunos brancos. No meio educacional brasileiro, é também verificado um aproveitamento acadêmico superior dos alunos brancos, indicando possivelmente uma relação positiva entre o aproveitamento acadêmico e auto-percepção dos adolescentes da área acadêmica. Dado o caráter exploratório do presente estudo não é possível concluir claramente sobre a questão de como se apresenta a auto-estima de adolescentes brancos e negros. Este exame preliminar da auto-estima de adolescentes brancos e negros apresenta várias limitações. O número de sujeitos da amostra pode não ter sido adequado e o espaço amostral se restringiu a uma única escola, ou seja, a amostra não foi representativa impedindo assim a generalização dos resultados. 27 Estudos futuros poderiam utilizar uma amostra representativa e explorar diferenças em auto-estima relativas ao gênero. Uma outra limitação desta pesquisa refere-se à classificação dos sujeitos nos grupos étnicos. Apenas nove dos trinta integrantes do grupo de adolescentes negros se atribuíram a cor negra, o restante deste grupo se auto classificou como mestiço. Apesar da literatura considerar negros e mestiços num único grupo, uma vez que ambos são afro-descendentes, caberia investigar melhor esta característica, como por exemplo perguntando a cor dos pais, para assim esclarecer melhor a classificação étnica, em termos de cor, dos participantes. Várias considerações podem ser feitas a partir da realização do presente estudo indicando aspectos relevantes para serem explorados em estudos posteriores. Apesar do racismo ser reconhecido apenas ao nível institucional pelos brasileiros, alguns dados mostram disparidades significativas entre negros e brancos no que se refere ao acesso a educação, taxas de alfabetização, condições de trabalho e moradia, cuidado com a saúde, expectativa de vida, e sistema de justiça criminal (Beozzo, 1993; Fry, 2000 apud Bianchi et al., 2002), mas são praticamente inexistentes as pesquisas científicas que estudam como essas disparidades influenciam o funcionamento psicológico dos indivíduos. Os resultados apresentados nesta monografia sobre a auto-estima, obtidos através de dois instrumentos, podem ser úteis como parâmetros para pesquisas futuras que visem a comparar a auto-estima de adolescentes brasileiros negros e brancos. A revisão dos estudos teóricos realizados nos Brasil mostrou a escassez de investigações relativas à influência dos aspectos raciais sobre os processos psicológicos entre jovens brasileiros. O estudo de Bianchi et al, (2002) é um estudo pioneiro. Ele explorou a contribuição do modelo de identidade racial de Helms para a auto-estima coletiva e auto-estima 28 individual de homens brasileiros negros. A relação entre atitudes de identidade racial e outros construtos raciais como cor da pele, auto-designação de grupo racial e preconceito racial foram também examinados. Análises realizadas por Bianchi et al. (2002) revelaram que um conjunto de atitudes de identidade racial (conformidade, dissonância, resistência e internalização) foram significativas ao prever a auto-estima coletiva e individual. A conformidade e a internalização foram preditivas de auto-estima individual. Atitudes de conformidade foram negativamente associadas com auto-estima individual. A descoberta de que alta conformidade pode ser associada à baixa auto-estima individual é congruente com outros estudos realizados com afro-americanos. Estas descobertas sugerem que os homens negros que desvalorizam seu próprio grupo racial e acolhem os valores e padrões brancos tendem a ter uma atitude mais negativa em relação a si mesmos. Os homens que obtiveram os mais altos escores em internalização apresentaram atitudes positivas em relação a si mesmos. O processo de formação da identidade étnica pode ser particularmente complicado entre indivíduos de grupos minoritários. Os jovens destes grupos enfrentam o desafio de conciliar duas identidades distintas, uma baseada em sua própria herança cultural e outra baseada na herança cultural do grupo majoritário, deste modo, eles têm pelo menos duas vezes mais trabalho psicológico a realizar. Além disso, o preconceito, a discriminação e a limitação das oportunidades atuam como obstáculos neste processo (Cole & Cole, 2004). Estudos futuros poderiam examinar a relação entre a auto-estima individual e atitudes de identidade racial dos adolescentes brasileiros. Desta forma, seriam ampliados os dados do presente estudo e os do estudo de Bianchi et al, 2002. 29 REFERÊNCIAS BEE, H. (1996). A criança em desenvolvimento. Porto Alegre: Artes Médicas BIANCHI, F.T., ZEA, M.C., BELGRAVE, F.Z. & ECHVERRY, J.J. (2002). Racial Identity and self-esteem among black brazilian men: Race matters in Brazil too! Cultural Diversity and Ethinic Minority Psychology,8 (2), 157-169. COLE, M. & COLE, S. (2003). O desenvolvimento da criança e do adolescente. Trad.: Magda França Lopes. 4a ed. Porto Alegre: Artmed. DAMON, W. & HART, D. (1982). The development of self-understanding from infancy through adolescence. Child Development, 53, 841-864. GRAY-LITTLE B. & HAFDAHL A. R. (2000). Factors influencing racial comparisons of self-esteem: A quantitative review. Psychological Bulletin, 126 (1), 26-54. GUIMARÃES, A.S.A. (2003). Como trabalhar “raça” em sociologia. Educação e Pesquisa,29 (1), 93-107. HARTER, S. (1997). Self and Identity development. In: Feldman, S.S. & Elliot, G.R.- At the threshold the developing adolescent. Cambridge-MA: Harvard University Press. HARTER, S. (1983). Develomental perspective on the self-system. In: Hethrerington E.M., ed., HandBook of Child Psychology, vol.4. Socialization, personality, and social development. New York: Wiley. HARTER, S. (1982). The perceived competence scale for children. Child Development, 53, 87-97. 30 MARSH, H.W. (1990). Self-description questionnaire – II. San Antonio, TX: The Psychological Corporation. MARSH, H.W. (1986). Global self-esteem: Its relation to specific facets to self-concept and their impotance. Journal of Personality and Social Psychology, 57, 1224-36. MONTEMAYOR, R. & EISEN, M. (1977). The development of self-conceptions from childhood from adolescence. Developmental Psychology, 13, 314-319. Racismo Cordial: A Maior e Mais Completa Pesquisa sobre o Preconceito de Cor Entre os Brasileiros (1995) Folha de São Paulo, E1-E16 . ROSENBERG, M. (1965). Society and adolescent self-image. Princeton, NJ: Princeton University Press. SOARES, N.E. & FERNANDES, L.M. (1989). A medida do nível sócio-econômicocultural. Arquivos Brasileiros de Psicologia, 41 (2), 35-43. STEINBERG, L. & MORRIS, A S. (2001). Adolescent Development. Annual Reviews Psychology, 52, 83-110. TAYLOR, R.L. (1976). Psychosocial development among black children and youth: A reexamination. American Jounal of Orthopsychiatry, 46 (1), 4-19. ZAMBON, M.P, DE ROSE, T.M.S. & DOS SANTOS NETO, C. (2003). Estudo de validação do SDQ-II para a população brasileira (em andamento). 31 ANEXO 1 TERMO DE CONSENTIMENTO Eu________________________________________________ concordo em voluntariamente responder aos questionários do estudo sobre auto-conceito de jovens conduzido por Melissa Picchi Zambon, aluna do curso de Psicologia da UFSCar. Estou ciente de que: 1. este estudo faz parte do trabalho de conclusão do curso de Psicologia da aluna Melissa Picchi Zambon. 2. será garantido o sigilo de minha identidade (nome e endereço) e de qualquer outra informação que possa identificar-me; 3. os resultados do estudo serão divulgados em eventos e revistas científicas, mas preservado o anonimato de todos os participantes; 4. terei ciência dos resultados do estudo através de uma apresentação a ser feita pela pesquisadora no final do ano letivo (a data e o local da apresentação serão combinados posteriormente). São Carlos,_______ de ________________de 2003. _______________________________ Assinatura Endereço:_______________________________________________________ _______________________________________________________________ ____________________ 32 33
Download