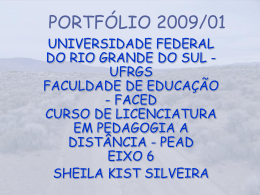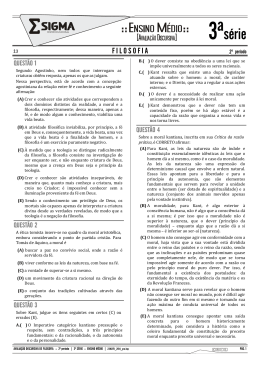1 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN Campus Avançado do Seridó - Governadora Wilma Maria de Faria Faculdade de Filosofia Curso: Licenciatura em Filosofia Prof. Galileu Galilei Medeiros de Souza História da Filosofia Contemporânea I Prof. Galileu Galilei Medeiros de Souza1 1. NIHILISMO: DA NEGAÇÃO DA VERDADE E DOS VALORES À PERGUNTA SOBRE O SENTIDO DA EXISTÊNCIA O Nihilismo, em seus diferentes modos de apresentação, é interpretado, por boa parte dos filósofos contemporâneos, na seqüela de Nietzsche e Heidegger, como resultado inevitável do desenvolvimento do lógos ocidental. Este movimento influenciaria não só a especulação, mas também a atividade prática e produtiva. Em sua apresentação teórica ele geralmente parte de uma interpretação que tende a ler a deriva nihilista — que traz consigo um acentuado clima de indisposição em relação ao que foi chamado no Ocidente de filosofia nos últimos vinte e seis séculos, chegando a apregoar a sua exaustão — como o fim implacável da forma de pensar construída a partir de Sócrates, sobre o fundamento da metafísica, que pretendia o conhecimento do Ser, ou do “Em si”. Segundo esta mesma leitura, a revolução científico-técnica, moderna e contemporânea, seria apenas um outro capítulo desta história, seguindo a sua mesma lógica (D’AGOSTINI, 1999). Vários movimentos — dentre outros: a crise da subjetividade de tipo cartesiana; a tentativa de fundação de uma nova forma de compreensão do objeto em sua relação com o sujeito que conhece; a crítica do objetivismo científico — acabaram por convergir em um importante fenômeno filosófico do século XX que se chamou comumente de revolução lingüística. Inicialmente, as preocupações dos estudiosos da linguagem vertiam sobre a possibilidade de constituição de uma meta-linguagem universal que pudesse servir de fundação ao discurso científico. No entanto, tal projeto não tardou a revelar as suas limitações. A linguagem mostrou-se um lugar de 1 O Prof. Galileu Galilei Medeiros de Souza é mestre em filosofia pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, mestre em bioética pela Universidade Pontifícia Regina Apostolorum de Roma e professor da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. intersubjetividades com um fundo impuro e pragmático, determinado mais ou menos de acordo com relações comunicativas, interesses, emoções e vínculos sociais. Em meio a tal âmbito se desenvolverá as teorizações dos mais importantes tipos de relativismo (D’AGOSTINI, 1997, p. 167): a) histórico; b) epistemológico; c) lógico-linguístico e d) ético. 1.1 TIPOLOGIA DO NIHILISMO a) Relativismo histórico: relacionado, sobretudo, com um especial modo de interpretação da história das aquisições teóricas que marcaram o lógos ocidental, segundo o qual as revoluções qualitativas que caracterizaram as diversas épocas, nas quais tal história pode ser fracionada, são indícios comprovativos da contingência e relatividade de qualquer forma de interpretação de mundo. Já presentes em Vico e Hegel, as teorias sobre a transitoriedade das aquisições teóricas somente com Dilthey e o historicismo alcançam uma apresentação determinante para a filosofia contemporânea. Entretanto, segundo Dilthey tal dinamicidade não seria aplicável às ciências ditas naturais, nas quais a evidência dos dados e a cientificidade de procedimentos não deixariam espaço para a contingência típica do sujeito histórico — ao contrário do que aconteceria com as ciências ditas do espírito, onde o sujeito que conhece se encontraria profundamente envolvido. As conseqüências de tal visão, logicamente, atingem em cheio a filosofia: toda solução filosófica ao problema da relação do trio conceitual Deus-homem-mundo possuirá, como veremos a seguir, a sua validade somente em relação ao presente. As conclusões de Dilthey serão retomadas por Heidegger e Gadamer, em uma prospectiva mais concentradamente lingüística. Segundo estes autores, “conhecer” será equivalente a “interpretar”. No entanto, o que é colhido em um ato de conhecimento não será nunca completamente global (todo o ser) e definitivo (para sempre). A verdade seria sempre situada, porque seu lugar é a linguagem, evento este sempre relativo às modalidades nas quais se manifesta, possuindo em si uma estrutura temporal. b) Relativismo epistemológico: a crescente especialização das ciências naturais provocou sua acentuada fragmentação interna, com a fundação de diferentes campos de aplicação das leis e descobertas. Objetivando a reunificação, ao menos metodológica, das ciências, diversos autores teorizaram a possibilidade de identificação de um esqueleto lógico que possivelmente nos daria a centralidade do problema relacionado com a cientificidade, em especial através do estudo da lógica da descoberta científica. Neste projeto a filosofia, segundo alguns autores,2 desempenharia um papel de grande importância, como meta-linguagem ou meta-teoria. Todavia, como observará Mary Hesse em sua obra Revolutions and Reconstruction in Philosophy of Science (1980), uma nova descrição histórica da ciência romperá com qualquer dicotomia entre ciências da natureza e ciências do espírito, aplicando também às primeiras as teses de Dilthey sobre a teoria histórica. Os resultados de diversos estudos foram surpreendentes. Basta lembrar da famosa obra de Th. Kuhn, Estrutura das revoluções Científicas. Partindo da análise da história da ciência, Kuhn identifica um processo interno no qual procedendo de blocos ou paradigmas explicativos que dão sentido à realidade, cedo ou tarde se produz uma crise, a qual tende a tornar-se violenta, até que o antigo paradigma é substituído por um novo. Tal revolução, no entanto, não se realizaria dentro de uma mesma linear evolução, ou seja, o salto de um paradigma a outro não seria racional, fundamentalmente porque os paradigmas são incomensuráveis entre si e dado a inexistência de um metaparadigma universal em relação ao qual os paradigmas singulares pudessem ser julgados (LAKATOS, 1985, I, p. 116). Sobre as razões que levam os cientistas a abraçarem um novo paradigma, escreve Kuhn (1978, p. 184-185): Singularmente considerados, os cientistas abraçam um novo paradigma por todo gênero de razão, e geralmente por várias razões ao mesmo tempo. Algumas destas razões — por exemplo, o culto do sol que contribuiu a converter Kepler ao copernicanismo — si encontram completamente fora da esfera da ciência. Outras razões podem depender da idiossincrasia autobibliográfica e pessoal. Por fim, a nacionalidade ou a precedente reputação do inovador e de seus mestres pode desempenhar uma fundação importante. A partir de tais constatações, Kuhn promove uma forte crítica à prospectiva empírico-racionalística de Popper e Carnap, elevando-se contra a idéia de um método 2 Veja-se o exemplo do Husserl das Pesquisas Lógicas. único para a análise das teorias científicas (mesmo que constantemente renovado em sentido falsificacionista) e contra a pretensão de que a ciência seria ou deveria ser uma mera descrição de fatos, sem a implicação de valores. A incomensurabilidade das teorias provocaria a lógica delegitimação da filosofia como meta-teoria, pela impossibilidade de confrontar resultados. c) Relativismo lógico-lingüístico: segundo F. D’Agostini (1997, p. 176), o percurso deste terceiro tipo de relativismo se compreende somente observando a interconexão que se criou entre a prospectiva lógico-lingüística e aquela epistemológica. Neste âmbito, assiste-se a um processo que vai do atomismo lógico-lingüístico à continuidade histórico-dinâmica. A tal respeito são importantes as observações de Richard Bernstein em Beyond Objectivism and Relativism (1997, p. 24): “assistimos a uma dialética interna que levou da preocupação […] pelo termo isolado à preocupação pelo enunciado ou proposição, assim ao esquema conceitual ou à estrutura (semântica modelística) e em último à tradição histórica”. Ainda seguindo tal obra, no campo da lógica o início do século XX é dominado pelo confronto de três posições principais: de um lado o logicismo (no qual se exprimia uma certa confiança na objetividade e atemporalidade das estruturas lógicas de base do pensamento); de um outro lado, o intuicionismo (sublinha o arbítrio do matemático na criação e concepção das estruturas lógicas do pensar) e o formalismo (implicante uma teoria geral do pensar como um sistema axiomático-dedutivo, desenvolvido a partir de certos axiomas assumidos inicialmente; sem que se presuma, entretanto, a sua universalidade compartilhada ou o seu efetivo poder de descrição da realidade) que se configuram como tipos de relativismo lógico. O surgimento das lógicas alternativas e o falimento das tentativas de fundação a partir da lógica de um meta-discurso, embora não dêem razões suficientes ao intuicionismo e ao formalismo, provocaram, entretanto, o aniquilamento do logicismo. Em âmbito lógico-lingüístico, a mais influente expressão de relativismo pode ser vislumbrada no Wittgenstein das Philosophische Untersuchungen e sua teoria dos jogos lingüísticos. Nesta fase de seu pensar, ele coloca em discussão a utilidade da lógica formal na análise da linguagem, acabando por teorizar que o significado de uma palavra seria dado de seu uso, ou seja, do modo e das circunstâncias específicas nas quais nós a utilizamos. Saber o significado de uma dada palavra é saber as regras de seu uso, válidas somente em dadas circunstâncias e não em outras, nem muito menos universalmente. Autonomamente a Wittgenstein, desde fins dos anos quarenta, Willard V.O. Quine formulava uma posição que punha em questão seja a dicotomia — cara ao objetivismo científico — entre verdades lógicas (fundadas sobre a estrutura lógica e válida universalmente da linguagem) e verdades de fato (fundadas sobre a experiência empírica), seja a teoria do significado como referimento a coisas. Em 1960, na obra Palavra e objeto, Quine defende o princípio da indeterminação da tradução, segundo o qual o significado seria em grande parte determinado pela configuração lógicoontológica na qual nos encontramos, ou melhor, pelo nosso esquema conceitual — analogamente a quanto observou Kuhn em âmbito epistemológico, com a diferença que para Kuhn existem diversos mundos incomensuráveis, enquanto Quine pensa em um único mundo e diversos esquemas lingüísticos. d) Relativismo Ético: Asladair MacIntyre se preocupará em After virtue em caracterizar o relativismo ético ao qual nossa época é sujeita. No segundo capítulo de tal obra afirma (MACINTYRE, 1988, p. 17): A característica mais singular da expressão moral contemporânea é que uma grande parte desta é utilizada para manifestar dissensos; e a característica mais singular dos debates nos quais estes dissensos se manifestam é a sua interminabilidade. Com tal não pretendo afirmar somente que tais debates se prolongam até a náusea (se bem que o façam), mas também que não parecem poder provar nenhuma conclusão legítima. Parece que não existam meios racionais para garantir o acordo moral na nossa cultura. Como já mencionamos, MacIntyre partirá de tal constatação e procurará a identificação de suas motivações, encontrando-a no período que seguiu ao iluminismo, no qual se dará a perda do contexto teístico clássico e conseqüentemente se criarão resíduos lingüísticos tendentes à confusão e ininteligibilidade. MacIntyre nos capítulos 4, 5 e 6 da mesma obra promove uma reconstrução histórica da tentativa moderna de fundação da moral, centrando-se sobre o estudo de três autores: Hume, Kant e Kierkegaard. Segundo MacIntyre, tais teorizações morais não podem ser descontextualizadas e, em geral, são frutos de uma prática já existente, ou ao menos pretendem sê-lo. Mas como seria esta caracterizada? A prática moral nestes séculos possuiria suas raízes na moral do primeiro período de sua história, cujo contexto filosófico é o da tradição clássica, no qual dominam três elementos, reciprocamente relacionados, quanto à consideração ética do homem: a natureza espontânea, os preceitos morais e a natureza realizada. Hume, Kant e Kierkegaard tentam promover uma sua nova articulação. Dentro de seus projetos, algumas opiniões são compartilhadas, como por exemplo a consideração do matrimônio e da família como valores indiscutíveis ou a fidelidade às promessas feitas e à justiça como invioláveis. E não somente: Kant, Hume e Kierkegaard concordam no que concerne ao como deveria ser uma justificação racional da moral, ou seja, no seu referimento a um ou mais elementos da natureza humana (ainda que Kant não o admita, por entender o conceito de natureza humana como o lado não racional do homem), e é em base ao que seria tal “natureza” que as regras morais poderiam ser justificadas. (MACINTYRE, 1988, p. 69-72) Hume parte da teorização de que são os sentimentos e as paixões a levarem o homem a agir, e não uma qualquer razão intelectual. Reconhece, ainda, que a nossa formação de juízos morais faz referência a regras gerais, e pretende explicar estas últimas por meio da sua unidade no procurar ajudar-nos a atingir os fins de nossas próprias paixões. É claro que se consideram aqui como sede de juízo as paixões de um homem normal, o qual podemos definir racional, ou melhor, de acordo com Hume: “de um herdeiro satisfeito da revolução francesa de 1688” (MACINTYRE, 1988, p. 66). Mas, no caso de conflitos dentro de nossas próprios interesses ou em relação aos interesses de outros sujeitos? No âmbito de nossos próprios interesses, o nosso juízo de ação deve ser feito tendo como base a distinção entre interesses superiores e inferiores. Em relação ao conflito com interesses de outros nos quais seria violada a justiça, Hume em Investigação sobre o princípio da moral reconhece a existência do critério da simpatia, o qual justifica o certo altruísmo em base ao qual podemos renunciar. Os problemas são evidentes: além de pressupor um critério que foge ao seu sistema moral, qual seja a simpatia; em que basear a distinção entre o que seja superior e o que seja inferior em relação aos nossos interesses? Certamente, não a partir dos nossos próprios interesses. Fazendo uso de um critério externo? Qual seria este? Hume não nos dará tal resposta. Passemos à consideração da tentativa levada a cabo por Kant. Na Crítica da razão prática Kant negará que a moral humana seja fundada sobre uma qualquer natureza (entendendo-se natureza, como já dissemos, como a parte irracional do homem). O critério do juízo moral não poderia ser o da experiência, dado que assim a moral deveria ser subjetiva e particular, portanto variável e contingente. O fim que determinaria a ação da vontade, para se fundar uma ciência universalmente válida, não poderia ser externo a esta, devendo constituir-se em uma lei ou forma a priori incondicionada. Tais caracterizações Kant encontrará na formulação do imperativo categórico, o qual pode ser expresso como segue: “age em modo que a máxima da tua vontade possa, sempre e ao mesmo tempo, valer como princípio de uma legislação universal“. Assim, seriam excluídas toda forma de heteronomia e de empiricidade, porquanto o imperativo categórico seria determinado somente pela pura forma universal da razão, sendo excluso inclusive o referimento prudencial aristotélico à felicidade. Uma pergunta é, entretanto, premente: porque seguir uma tal enunciação? Kant não nos dá razões suficientes, a não ser a do dever pelo dever. Mas qual o senso de tal obrigação? Além do mais, não se poderiam detectar incoerências de princípio em se pretender, por exemplo, agir egoisticamente ou não ser fiel à verdade (como no caso de alguém, ou de uma mentalidade cultural, que assuma que tal procedimento poderia ser compatível com as exigências do imperativo categórico), senão no caso de se pressupor um motivo que funde a incoerência, motivo este mais uma vez exterior ao sistema. MacIntyre a tal respeito afirma ainda que poderia ser danoso, mas em todo caso não impossível, invocar razões de conveniência ou de referimento prudencial à felicidade (MACINTYRE, 1988, p. 64). Kant parece não se eximir desta questão de maneira tal a pensar na Crítica da razão prática em uma re-introdução — depois da sua exclusão da esfera de consideração da razão pura — não somente da idéia da liberdade como elemento sintético presente no imperativo categórico, mas ainda das idéias de imortalidade e de Deus como garantidoras da não absurdidade de uma existência que mesmo contra o útil optaria pela concordância moral com a máxima universal. Em obras posteriores, Kant na tentativa de salvar o seu sistema, nos dá a chave de ingresso à crítica moral posteriormente dirigida à modernidade por Nietzsche. Na sua obra de 1793, A religião nos limites da Pura Razão, Kant propõe uma interpretação da religião natural e da religião cristã, segundo a qual esta última deveria conformar-se à primeira. A revelação seria inútil, sendo autenticamente válida somente em suas conclusões morais coincidentes com os resultados obtidos pela razão prática. A religião serviria somente para preencher o vazio da sustentação da vida moral, em vista de nos fazer homens melhores — como pessoas morais, e não em senso ao alcance da divindade. A partir de uma outra obra de 1798, O conflito das faculdades, Kant chega a concluir que a nossa idéia de Deus não poderia possuir nenhum referimento fora da razão, porquanto Deus seria um ser a nós inacessível, enquanto não empírico. O Deus que entraria de alguma forma em relação com o homem, em fins de conta, parece ser reduzido ao que Kant chamou lei moral interior. Em relação a Kierkegaard, mais uma vez fundamentalmente sobre a orientação de MacIntyre (1988, pp. 58-60), concentramos o nosso estudo sobre Enten-Eller. São referidos, em tal obra, dois modos de vida possíveis, o ético e o estético. A partir destes dois gêneros de vida recorre uma nova idéia fundamental: reconhecendo ser impossível fundar a moral seja na razão, seja nas paixões, o sujeito humano deve optar — ao menos virtualmente, dado a possibilidade de não total pureza — por um ou outro fundamentalmente contraditórios e incompatíveis estilos de vida. Nesta escolha não se pode aludir a nenhum pressuposto, dado que estes dois estilos são reconhecidos como princípios primeiros, não se podendo fazer uso de qualquer outra razão para sustentá-los — devendo ser adotados mesmo sem nenhuma razão, através de uma escolha que supera a razão, porque é a escolha que para nós deve valer como uma razão. Segundo MacIntyre não é difícil observar a falha de tal teorização (1988, p. 59): consideremos o gênero de autoridade que exerce sobre nós qualquer princípio que poderemos escolher como vinculante ou não [...] Os princípios possuem autoridade na mesma medida em que existem boas razões para observá-los, e a perdem na medida em que tais razões não existem. Seguiria que um princípio a favor de uma escolha da qual não se poderia aduzir nenhuma razão seria um princípio desprovido de autoridade. [...] Um princípio de tal gênero (e chamá-lo princípio parece ser uma extensão indevida do uso lingüístico) pareceria claramente pertencer à esfera da estética kierkegaardiana. Ora, o significado da doutrina de Enten-Eller é claramente que os princípios que definem a vida ética devem ser adotados sem nenhuma razão, mas em base a uma escolha que transcende a razão, precisamente porque é a escolha daquilo que para nós deve valer como uma razão. Mas como pode possuir uma autoridade sobre nós um princípio que adotamos sem razão? A contradição na doutrina de Kierkegaard é evidente. Esta nossa sintética análise moral, para ser-nos suficiente à elaboração de uma conclusão mais contundente, deve ainda levar em consideração um último argumento: segundo MacIntyre, o fato mais significativo de tal teorização moral, nos três casos citados (Hume, Kant e Kierkegaard), é que a justificação de cada uma duas primeiras posições se edificava principalmente sobre a constatação do falimento da outra, e a terceira sobre a do falimento do inteiro projeto racional-passional moderno (MACINTYRE, 1988, pp. 67- 68): o que conduziu [a Hume] à conclusão que a moral deva ser entendida em base ao papel das paixões e dos desejos na vida humana, explicada e justificada em referimento a este, é a sua assunção inicial que a moral seja ou obra da razão ou obra das paixões, e os seus argumentos que aparentemente excluem em modo definitivo que possa ser obra da razão. [...] assim Kant a funda sobre a razão porque os seus argumentos excluíram a possibilidade de fundá-la sobre as paixões, e Kierkegaard sobre a escolha fundamental privada de critérios por causa daquilo que ele considera o caráter congênito das considerações que excluem tanto a razão quanto as paixões. [...] O projeto de fornecer uma justificação racional da moral era decisivamente falido: e de agora em diante à moral da cultura que nos precedeu (e de conseqüência à nossa) faltou qualquer base lógica ou justificação publicamente compartilhada. Após a análise destes quatro tipos de relativismo, entende-se o porquê das afirmações contemporâneas que interpretam o nihilismo como sendo o destino implacável do lógos ocidental. Neste contexto, porém, torna-se imprescindível ao espírito crítico não ocultar a pergunta: realmente a técnica-nihilismo é um resultado inevitável e lógico da forma como a razão ocidental fora desenvolvida, a partir dos gregos, ou se trata apenas, como pensava Husserl, “de um empobrecimento ou erro na concepção do lógos que em Sócrates, Platão e Aristóteles soube se impor contra o nihilismo que encontra em Górgia uma de suas figuras carismáticas?” (VOLPI, 1994, p. 313). Ou melhor, O único caminho possível é o deixar-se livremente levar pelos dinamismos dos acontecimentos, entregando-se à deriva da corrente, indubitavelmente forte, que nos arrastaria ao nihilismo, que finalmente chega a proclamar-se como total: nihilismo da vida. Seria o nihilismo o ponto de atração irremediável dentro ao movimento não mais simplesmente do lógos — não compacto —, mas de sua crise? De certo, o projeto moderno de fundação de uma indubitável ciência filosófica especulativa e prática — que encontra em Spinoza, Leibniz e Kant alguns de seus mais ilustres defensores — mostrou-se injustificável. Observe-se que esta crise de verdade e de valores atingirá a fé em uma possível resposta àquela que se configurará para Kant, na Crítica da Razão Pura, na pergunta filosófica fundamental: “quem é o homem?”, traduzida tanto pela filosofia de Blondel, quanto por aquela de Nietzsche em uma pergunta pelo sentido da existência: “Sim ou não, a vida humana possui um sentido, e o homem, um destino?” (M. BLONDEL, L’Action, VII ). ”Não apenas rejeitamos […] a interpretação cristã e julgamos o seu sentido uma falsificação, embatemos-nos ao instante, pavorosamente, na pergunta de Schopenhauer: Mas, a existência possui um sentido?” (F. NIETZSCHE, Gaia scienza, 357). A atual pesquisa procurará delimitar o horizonte de seus questionamentos em torno da pergunta sobre o significado da existência humana, interior à esta crise, que marcará, segundo Franca D’Agostini, paradoxalmente o paradigma filosófico atual (D’AGOSTINI, 1999). O estudo comparativo da filosofia de F. Nietzsche e de M. Blondel — a partir do fio condutor da obra prima do filósofo de Aix-en-province, L’Action (1893) — em torno do questionamento sobre o sentido da existência, não obstante o aparente distanciamento, parece curiosamente se constituir em uma ocasião sob medida na tentativa de buscar tais respostas. Continuaremos brevemente as atuais discussões...
Download