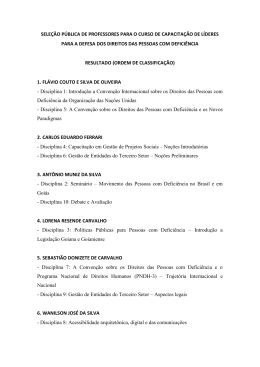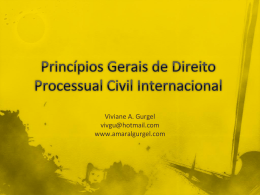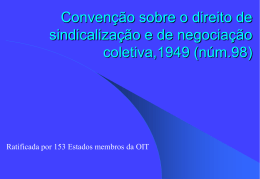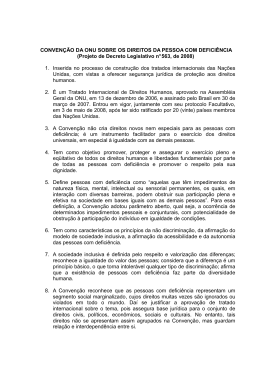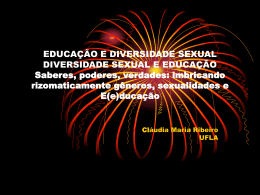As relações entre a Convenção, o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem e as Instâncias nacionais 1. A Convenção Europeia dos Direitos do Homem (Convenção) é um tratado internacional com uma especial característica. Destina-se sobretudo a ser aplicada internamente nos Estados parte que a ratificarem, regulando as relações entre os Estados e as pessoas sujeitas à sua jurisdição visando garantir-lhes uma série de direitos e garantias fundamentais. Como tratado internacional, a Convenção vincula o Estado Português na ordem jurídica internacional; e, na hierarquia das fontes de direito interno, a doutrina mais significativa defende para a Convenção, como para os outros instrumentos de direito internacional pactício, uma posição intermédia entre a lei constitucional e as leis ordinárias. Subordinada hierarquicamente à Constituição, a Convenção tem, no entanto, valor supra-legal. Assim, a Convenção deve ser aplicada mesmo que contrarie leis ordinárias; gostaria de sublinhar este aspecto de extrema relevância prática, frequentemente esquecido perante uma desarmonia entre uma disposição legal interna e a Convenção. Devem existir ao nível interno, meios acessíveis, adequados e eficazes que possam garantir ao indivíduo, primeiro, a protecção dos direitos e garantias inscritos na Convenção e, depois, se estes forem violados, a sua reparação. Na primeira linha de aplicação da Convenção encontram-se os tribunais internos que conferem protecção efectiva às pessoas no gozo dos direitos e garantias ali consagrados; compete às jurisdições internas fazer respeitar a Convenção e perante a sua violação agir de modo a que as vítimas sejam convenientemente ressarcidas. Só quando este mecanismo interno falhar é que a Convenção concede aos indivíduos o acesso ao Tribunal Europeu dos Direitos do Homem (Tribunal). O não esgotamento dos meios internos é aliás um dos principais motivos de rejeição das queixas apresentadas em Estrasburgo. A intervenção do Tribunal surge assim como subsidiária em relação aos mecanismos internos de protecção. 2. Este papel de supervisão do Tribunal para ser devidamente apreendido exige a aceitação de duas realidades: a) ao Tribunal compete interpretar a Convenção; b) se a fixação da matéria de facto, a admissão das provas e a interpretação da lei interna são tarefas que devem ser deixadas em princípio para as instâncias nacionais, 1 o Tribunal não se dispensa de exercer sobre a actividade das instâncias nacionais um controlo europeu (1). 2.1 Um Acórdão do Tribunal só adquire a autoridade de caso julgado entre as partes, queixoso e Estado requerido, não tendo portanto eficácia erga omnes, entendida no sentido clássico da expressão, na medida em que não obriga os outros Estados a tomarem as medidas constantes do seu dispositivo (2). Contudo, isto não impede que os acórdãos do Tribunal, enquanto interpretam as disposições da Convenção, adquiram uma autoridade própria que se exerce sobre todos os Estados contratantes; é preciso não esquecer que, pela natureza das suas funções, o Tribunal é a instância encarregue de interpretar a Convenção, de acordo com o seu artigo 32º, nº 1 (3), e, como tal, qualificada para fixar o sentido e o conteúdo das noções ali inscritas. Infere-se desta disposição, o nº 1 do artigo 32º da Convenção, que os tribunais nacionais ao aplicá-la devem fazê-lo de acordo com a interpretação dada pelo Tribunal. Efectivamente, os acórdãos do Tribunal servem não apenas para julgar os casos que lhe são confiados, mas, mais amplamente, para clarificar, salvaguardar e desenvolver as normas da Convenção, contribuindo, assim, para o respeito pelos Estados dos compromissos assumidos na sua qualidade de Partes Contratantes. Desta forma, a interpretação da Convenção feita pelo Tribunal deve ser entendida como integrando o corpo daquela, como se de uma interpretação «autêntica» se tratasse, impondo-se a todos; pode dizer-se que não são os acórdãos do Tribunal que têm autoridade sobre os Estados membros não parte no litígio, mas a Convenção ela própria tal como foi interpretada pelo Tribunal (4). 1 ) Jean-Paul Costa, “ La Cour européenne des droits de l’homme est-elle une Cour Constitutionnelle», in Mélanges en l’honneur de Jean Gicquel, Paris, 2008, pág, 151 2 ) Sem prejuízo do que se dirá em seguida, os tribunais internos, se estão convencidos que o Tribunal se enganou, não valorizando aspectos importantes para a decisão correcta do caso, podem esperar, reafirmando a sua posição, que a questão venha a ser de novo submetida ao Tribunal. O Tribunal, obviamente, ao reexaminar a questão, se reconhecer o erro, não deixará de, agindo em conformidade, dar razão aos tribunais internos. Ver os Acórdãos Wynne, de 18 de Julho de 1994, Série A nº 294-A e Osman, de 28 de Outubro de 1998, Recueil des Arrêts et Décisions (Recueil) 1998 – VIII, Z e outros contra o Reino Unido de 10 de Maio de 2001, Recueil 2001 – I e Morris, de 26 de Fevereiro de 2002, Recueil 2002-I, Cooper, de 16 de Dezembro de 2003, Recueil 2003 – XII, e Stafford, de 28 de Maio de 2002, Recueil 2002-IV, onde o Tribunal modificou a sua jurisprudência tendo conta os julgamentos dos tribunais britânicos. 3 O artigo 32º da Convenção no sei nº 1 estatui: «A competência do Tribunal abrange todas as questões relativas à interpretação e à aplicação da Convenção e dos seus Protocolos …….». 4 ) Certa doutrina vai buscar ao direito comunitário a noção de «autoridade de coisa interpretada» que é dada aos Acórdãos do Tribunal de Justiça das Comunidades para reforçar o carácter «erga omnes» dos Acórdãos do Tribunal. 2 Pretende-se assim criar uma ordem pública europeia no domínio dos direitos fundamentais, obrigando os Estados ao respeito de um conjunto de normas internacionais, sem que, no entanto, tal signifique uma uniformidade absoluta. Convirá, por isso, a todas as autoridades, mesmo àquelas que não pertencem ao Estado em causa, e entre elas os tribunais, acolher a doutrina que deriva dos acórdãos do Tribunal para evitar futuras condenações por violação da Convenção. Ao conformarem-se com a jurisprudência do Tribunal, os Estados limitam-se a cumprir a obrigação geral que subscreveram, nos termos do artigo 1º da Convenção, de reconhecerem a qualquer pessoa dependente da sua jurisdição os direitos e liberdades, tais como são enunciados pela Convenção, e como os interpreta e os explica o Tribunal nos seus Acórdãos. Tudo isto pode implicar modificações legislativas ou de práticas judiciárias ou administrativas num outro Estado não parte no processo, em razão da incompatibilidade manifesta do sistema interno com as exigências derivadas da Convenção, tal como foram precisadas na Jurisprudência do Tribunal. Esta ideia começa a ser assimilada pelos nossos tribunais e está adequadamente reflectida num Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, de 28 de Novembro de 2007, proferido no âmbito de um recurso de revista interposto ao abrigo do disposto no art. 150º, nº 1 do Código de Processo dos Tribunais Administrativos, onde se afirma nomeadamente: «Mas se a Convenção, para fazer respeitar as suas disposições (art. 19º) institui um juiz (Tribunal Europeu dos Direitos do Homem), cujas sentenças têm força vinculativa perante os Estados Partes (art. 46º/1º), então tem de reconhecer-se a esse juiz europeu o poder de interpretar e determinar o significado das normas da Convenção. «….., sob pena de futura condenação internacional do Estado, por divergências entre a aplicação tida por apropriada na ordem nacional e a interpretação dada pelo tribunal de Estrasburgo, na análise dos dados jurisprudenciais relativos à densificação dos conceitos da Convenção, entre os quais os de prazo razoável de decisão, indemnização razoável e de danos morais indemnizáveis, a jurisprudência do Tribunal europeu dos Direitos do Homem desempenhará, seguramente um papel de relevo, …..». 2. 2 Ao examinar uma queixa, o Tribunal é, normalmente confrontado com as posições divergentes do requerente e do Governo, baseadas de uma forma crítica ou favorável nas decisões das instâncias internas. Afigura-se que a função dos dois Tribunais, o do Luxemburgo no quadro do «reenvio prejudicial» e o de Estrasburgo no âmbito de uma queixa, são substancialmente diferentes para que as conclusões retiradas sobre os efeitos dos Acórdãos daquele possam ser transponíveis directamente para os dos Acórdãos do Tribunal. 3 O Tribunal, ao examinar as decisões judiciais internas, fá-lo norteado, em regra, por dois princípios: a) o primeiro, o de que as instâncias internas são as melhores qualificadas para fixar a matéria de facto, admitir as provas e interpretar a lei nacional. b) o segundo, o de que a aplicação da Convenção a um caso concreto deve ser feita no respeito pela «margem de apreciação» que a própria Convenção concede às autoridades nacionais. Veja-se com algum pormenor. 2.2.1 Conforme ao princípio da subsidiariedade inerente ao sistema de protecção dos direitos individuais instaurado pela Convenção, o estabelecimento dos factos e a interpretação do direito interno relevam, em princípio, da competência exclusiva das jurisdições nacionais. O Tribunal só os pode pôr em causa perante um arbítrio ou irracionalidade manifestos; não lhe pertence, portanto, averiguar sobre eventuais erros de facto ou de direito pretensamente cometidos por uma jurisdição interna, salvo se e na medida em que eles poderiam ter ofendido os direitos e liberdades consagrados na Convenção. Esta aparente firmeza de conclusões é contudo frequentemente posta em causa, sobretudo no que diz respeito à matéria de facto, perante algumas realidades que ultrapassam a competência dos Tribunais Supremos. Os Tribunais Supremos, quando só conhecem questões de direito, aceitam a matéria de facto assente pelas instâncias inferiores. O Tribunal, pelo seu lado, se não deve pôr em causa a matéria de facto fixada a nível nacional, pode contudo conhecer de toda uma outra que lhe venha ser oferecida pelas partes no processo. Assim, o Tribunal pode vir a chegar a uma conclusão de violação da Convenção, contrária à que tinha sido encontrada a nível interno, com base em matéria de facto que escapou ao controlo do último recurso interno, sem que a bondade da decisão do Tribunal Supremo do País fique prejudicada. Note-se , contudo, a dificuldade do Tribunal no apuramento de matéria de facto, num processo normalmente escrito e onde raramente há a imediação com as provas. Ainda aqui, o Tribunal adoptou algumas regras que podem chocar a quem está habituado a trabalhar segundo o modelo continental. Por exemplo, o Tribunal aceita, nalgumas circunstâncias, que a fixação de factos seja baseada no princípio «para além da dúvida razoável», que não exige um grau de certeza mas a simples convicção da veracidade de um facto, convicção baseada num conjunto de indícios ou de presunções não refutados, suficientemente graves, precisos e concordantes. 4 Depois, o Tribunal aceita nesta área da avaliação da matéria de facto determinadas presunções; por exemplo, se alguém foi detido em boas condições de saúde e, continuando nas mãos das autoridades, é mais tarde encontrado morto ou com lesões físicas ou psíquicas, incumbe ao Estado fornecer uma explicação plausível para esses eventos, para afastar a sua responsabilidade. E, finalmente, nalguns casos, a responsabilidade equacionada perante o Tribunal situa-se num plano diferente relativamente à examinada no tribunal interno. Imaginem a queixa de alguém que foi torturado por agentes de autoridade. No decurso do processo interno, prova-se a tortura mas sem que se possam identificar individualmente os seus autores morais ou materiais e, por isso, nenhuma sanção foi possível, como o exige o artigo 3º da Convenção (5). Contudo, perante a situação de facto assim descrita, o Tribunal concluirá pela violação da Convenção pois a responsabilidade que agora está em causa é a do Estado que não conseguiu evitar a tortura nem punir os seus responsáveis. Em resumo, existem situações onde o Tribunal chega a uma conclusão diferente da dos tribunais internos, mas sem que se possa falar propriamente em divergência mas sim de diferentes pressupostos de facto e de direito em que uma e outra decisão se fundamentaram. 2.2.2 O princípio de que a interpretação da lei interna é deixada à competência das instâncias nacionais sofre algumas limitações; quando a Convenção se refere ela própria ao direito interno, o Tribunal exerce o seu controlo para verificar se a disposição em causa foi devidamente aplicada. Isto acontece precisamente com o artigo 7º da Convenção (mas também com os artigos 8º a 11º). O artigo 7º da Convenção exige que «ninguém seja condenado por uma acção ou omissão que, no momento em que foi praticada, não constituía infracção, segundo o direito nacional ou internacional». Por isso, o Tribunal, nestas circunstâncias, para se pronunciar sobre essa eventual violação, tem de examinar e interpretar a norma em causa, preocupando-se sobretudo, com a qualidade da «lei interna»; esta deve ser clara, precisa, previsível e acessível. A aplicação de uma norma do direito penal que não respeite estes princípios neste artigo entra directamente em conflito com a Convenção 5 ) O art.º 3º da Convenção dispõe: «Ninguém poderá ser submetido a torturas, nem a penas ou tratamentos desumanos ou degradantes». 5 2.2.3 O Tribunal sempre defendeu que, graças a um conhecimento directo da sociedade e das suas necessidades, as autoridades nacionais, e nomeadamente os tribunais, se encontram, em princípio, melhor colocados que o juiz internacional para determinar o que é de «utilidade pública» (6). No mecanismo de protecção criado pela Convenção, pertence, em primeiro lugar, àquelas autoridades nacionais pronunciarem-se sobre a existência de um problema de interesse geral justificando ingerências nos direitos e garantias ali protegidos que não se apresentem como absolutos mas que admitem limitações. Há efectivamente um conjunto de direitos que são considerados intangíveis, o «núcleo duro» da Convenção, e que não são susceptíveis de restrições nem mesmo em caso de guerra ou outro perigo público que ameace a vida da Nação. Estes direitos absolutos estão enumerados no nº 2 do artigo 15º da Convenção: o direito à vida — artigo 2.º; a interdição da tortura ou de tratamentos desumanos ou degradantes — artigo 3.º; a proibição da escravidão ou da servidão — artigo 4.º, n.º 1; a legalidade dos crimes e das penas — artigo 7.º; a estas excepções devem juntar-se a abolição da pena de morte — Protocolos n.os 6, artigo 3.º, e 13, artigo 3.º —, e o princípio ne bis in idem — artigo 4.º do Protocolo n.º 7. Fora destas excepções, as autoridades nacionais podem gozar de uma certa margem autónoma de actuação, a chamada «margem de apreciação» (7), mais ou menos extensa, variando segundo as circunstâncias, os domínios e o contexto (8), para responder às especificidades locais mas sem prejuízo da unidade jurisprudencial. A jurisprudência do Tribunal ensina-nos, por exemplo, que há uma estreita margem de apreciação em matérias relativas à liberdade de imprensa mas que ela é muito vasta no âmbito do processo eleitoral. No primeiro campo, pretende-se que haja no espaço europeu uma limitada ingerência no direito à liberdade de expressão exercida através dos media; no segundo, admite-se profundas diferenças no modo de escolha dos eleitos tendo em conta sensibilidades, tradições e culturas diversas (9). Contudo, pertence ao Tribunal decidir, em último lugar, sobre o respeito das exigências da Convenção; o Tribunal deverá convencer-se de que as limitações não restringem o direito de uma maneira ou a um ponto tais que ele se apresente atingido na sua substância. 6 ) Acórdão Jahn e outros, de 30 de Junho de 2005, Recueil, 2005 – Viram, pág, 27, § 91. ) Questão complexa é saber até onde vai a «margem de apreciação», pois da análise da jurisprudência parece resultar que, mesmos face aos direitos absolutos, ainda poderá subsistir uma certa margem de apreciação relativamente a determinados aspectos. Ver, criticamente, Michel de Salvia, «Contrôle européen et principe de subsidiarité: faut-il encore (et toujours) émarger à la marge d’appréciation», in Mélanges à la mémoire de Rolv Ryssdal, Colónia, 2000, pág. 373. 8 ) Acórdão Rasmussen, de 28 de Novembro de 1984, Serie A nº 87, pág 15, § 40. 9 ) Acórdãos Mathieu-Mohin e Clerfayt, de 2 de Março de 1987, Serie A 113, pág 23, § 54, e Yumak e Sadat, de 8 de Julho de 2008, §§ 109, 110 e 125. 7 6 Espera-se aqui uma colaboração e um respeito recíproco entre o Tribunal e as jurisdições nacionais; estas devem, é obvio, observar a jurisprudência do Tribunal e o Tribunal deve aceitar as decisões das instâncias nacionais que não sejam claramente incompatíveis com as exigências da Convenção e se encontrem naquele espaço de acção que a referida «margem de apreciação» aceita. Esta doutrina, concebida inicialmente para as situações previstas no artigo 15º da Convenção, é aplicada com alguma parcimónia pelo Tribunal. Criticada por diversos ângulos, acusada de favorecer uma protecção de direitos humanos de geometria variável, o respeito pela «margem de apreciação» tem contudo permitido ao Tribunal, sem conceder sobre o essencial, acolher as posições das jurisdições nacionais que se encontrem melhor apetrechadas do que o juiz internacional para examinarem determinados aspectos de uma medida restritiva que releva de uma certa especificidade, nomeadamente sobre questões de sociedade. E, neste campo, o diálogo entre as duas jurisdições tem sido frutuoso e mutuamente enriquecedor, permitindo ao Tribunal fazer evoluir de uma forma pragmática a sua jurisprudência tendo em conta as mutações das realidades nacional e europeia, preservando o essencial, ou seja, uma aplicação harmoniosa da Convenção, mas sem que harmonia signifique uniformidade cega. 3. Parece-me útil para uma perfeita compreensão das relações do Tribunal com as instâncias nacionais, atentar em diversas situações onde as decisões internas foram ou fonte directa de inspiração ou influenciaram de uma forma decisiva o Tribunal. 3. 1 A Convenção, um texto de 1950, pode parecer modesta e desactualizada, mas a verdade é que, através de um esforço de interpretação a que se devotaram os seus órgãos de controlo, a extinta Comissão e o Tribunal, ela tem vindo a cobrir realidades difíceis de prever no momento da sua redacção. Aliás, o Tribunal sempre entendeu que a Convenção é um instrumento vivo, a interpretar à luz das condições de vida actual, de acordo com as transformações que se devem considerar adquiridas no seio da sociedade de que fazem parte os Estados contratantes, pois só assim se protegem os direitos não teóricos ou ilusórios mas concretos e efectivos; e o Tribunal sempre chamou a si esta tarefa. Mas, ao aplicar a Convenção a situações novas, o Tribunal procede com cautela de modo a que as suas decisões possam reflectir tanto quanto possível um sentir existente no seio dos Estados sob a sua jurisdição (10). O Tribunal deseja ser o promotor de um ordenamento jurídico europeu comum na matéria que lhe cabe cuidar, a dos direitos humanos, mas prosseguindo um caminho que encontre as suas referências no ordenamento jurídico dos diversos Estados membros. 10 Acórdão Fretté, de 26 de Fevereiro de 2003, Recueil 2002-I, pág. 326, § 40. 7 E, se o Tribunal não fica à espera de uma harmonia total, dificilmente ele avançará sozinho sem o apoio mais ou menos sólido de algumas jurisdições nacionais e, naturalmente, sem o apoio de alguns tribunais superiores, pois são eles os melhores colocados para se aperceberem das mudanças sociais ocorridos ao nível interno. O Tribunal sempre sublinhou que uma evolução das jurisdições nacionais é susceptível de fazer mudar o centro de gravidade e de provocar, consequentemente, uma mudança na sua jurisprudência 3.2. Um outro aspecto interessante, de apelo mais ou menos directo a soluções adoptadas pelas jurisdições internas, ocorre quando se trata de examinar situações completamente novas que nunca foram abordadas ao nível de Estrasburgo, ou que tocam directamente com o lastro cultural que as motivaram. Nestas hipóteses, é quase imperioso o apelo ao que já foi decidido pelos tribunais internos. 3.2.1 Uma dessas situações, e que de certo modo condicionou durante muito tempo a jurisprudência de Estrasburgo na interacção entre o direito comunitário e o direito da Convenção (11), pode encontrar-se na Decisão da Comissão Europeia dos Direitos do Homem, de 9 de Fevereiro de 1990, no caso M. & Co (12). Confrontada com a execução pelos Tribunais alemães de um Acórdão do Tribunal de Justiça das Comunidades confirmando uma decisão da Comissão das Comunidades que infligira uma multa à requerente, a Comissão (de Estrasburgo) declarou a queixa inadmissível porque seria incompatível ratione materiae. Ainda que tal referência não seja feita na sua decisão, a Comissão seguiu o Tribunal Constitucional alemão que, no seu Acórdão Solange-II, de 22 de Outubro de 1986, renunciou ao exercício do controlo da constitucionalidade do direito comunitário derivado em benefício do Tribunal de Justiça das Comunidades. A Comissão aceitou o chamado princípio da «protecção equivalente», que se pode traduzir do seguinte modo: a transferência de poderes para uma organização internacional não é incompatível com a Convenção, desde que, naquela organização, os direitos fundamentais recebam uma protecção equivalente àquela que a Convenção concede. Não interessa aqui examinar a evolução que o princípio da «protecção equivalente» sofreu na jurisprudência de Estrasburgo, mas apenas salientar que, com o Acórdão Bosphorus, de 30 de Junho de 2005 (13), o Tribunal, afastando-se daquela orientação, decidiu que, mesmo quando há uma «protecção equivalente» àquela que é oferecida pelo sistema da Convenção, como aliás acontece no sistema do direito 11 ) Sobre esta matéria, ver o meu artigo «La Cour Européenne des Droits de l’Homme et le Droit Communautaire», in «Promoting Justice, Human Rights and Conflict Resolution through Internacional Law», Liber Amicorum Lucius Caflish, Marcelo G. Kohen (ed), Leiden, 2007, pág 55 e segs. 12 ) Décision et Rapports nº 64, pág 134. 13 ) Recueil 2005-VI, págs. 173 e segs. 8 comunitário, o Tribunal é competente para examinar se, no caso concreto, o sistema em causa funcionou devidamente de modo a assegurar à pessoa os seus direitos fundamentais. 3.2.2 Perante hipóteses novas sem precedente na jurisprudência de Estrasburgo, as jurisdições internas, quando têm de aplicar a Convenção, são obrigadas elas próprias a criar jurisprudência nessa matéria que depois é aceite e incorporada pelo próprio Tribunal no seu acórdão. Embora estas situações não surjam frequentemente dada a vocação abrangente da jurisprudência de Estrasburgo, o caso Pretty pode ser apontado para ilustrar esta referência. A senhora Pretty, sofrendo de doença terminal, não podendo pôr um termo à sua vida sem assistência, pediu aos tribunais ingleses que autorizassem o seu marido a ajudá-la nesse seu intento e que esta ajuda não fosse perseguida criminalmente. A Câmara dos Lordes, última judicial do Reino Unido, não encontrou qualquer precedente na jurisprudência de Estrasburgo sobre a questão de saber se a recusa das autoridades em renunciar a proceder criminalmente contra o marido se este assistisse a mulher no seu suicídio contrariava alguma disposição da Convenção. Assim, voltou-se para um precedente examinado pelo Supremo Tribunal do Canadá (Caso Rodriguez) para concluir que aquela recusa das autoridades inglesas não violava qualquer disposição da Convenção e nomeadamente o seu artigo 8º, que protege a vida privada e familiar. O Tribunal fez sua esta apreciação, referindo-se expressamente às posições da Câmara dos Lordes e do Supremo Tribunal do Canadá, para concluir, primeiro, que o direito à vida consagrado no artigo 2º não inclui o seu negativo, o direito a morrer, e, segundo, que, se a perseguição criminal do marido em caso de suicídio assistido podia ser considerada uma ingerência na vida privada, esta ingerência estava justificada, nos termos do nº 2 do artigo 8º da Convenção, pela protecção dos direito de outrem (14). 3.2.3 Por outro lado, em questões que relevam de tradições ou aspectos específicos de uma determinada sociedade, o Tribunal, sem nunca esquecer o seu papel de defensor dos valores fundamentais inerentes a uma sociedade democrática, tende a aceitar a avaliação feita pelas instâncias judiciais internas porque mais próximas e conhecedoras da realidade em análise. No Acórdão Leyla Sahin (15), o Tribunal estudou a interdição do uso do «lenço islâmico» pelas estudantes da Universidade de Istambul, interdição que tinha sido julgada conforme à Constituição e às leis pelos Tribunais turcos. O Tribunal sublinhou, mais uma vez, que quando estão em jogo questões sobre as relações entre o Estado e as religiões, capazes de suscitar profundas divergências no 14 15 ) Acórdão de 29 de Abril de 2002, Recueil 2002-II, pág 209 e segs. ) De 10 de Novembro de 2005, Recueil 2005-XI, pág. 121. 9 âmbito de uma sociedade democrática, deve ser acordada uma importância particular ao decisor nacional – § 109. O Tribunal aceitou expressamente a posição dos tribunais internos que entenderam a referida interdição assente sobre dois princípios, os da laicidade e da igualdade, precisando que, no contexto social dominante na Turquia, é o princípio da laicidade tal como foi interpretado pelo Tribunal Constitucional turco que constitui a consideração primordial que motivou a interdição do uso de símbolos religiosos nas Universidades. 4. O sentido de entreajuda, de colaboração e complementaridade que devem presidir às relações entre o Tribunal e as jurisdições nacionais não deve ser perturbado mesmo quando o Tribunal para chegar a uma determinada conclusão deixa cair alguma crítica às decisões internas. Essa crítica deve-se muitas vezes ao facto de as jurisdições nacionais terem de aplicar princípios que são admitidos internamente, por razões culturais ou históricas, mas que não podem ser aceites num contexto europeu. Veja-se, por exemplo, a concepção do Tribunal Constitucional alemão sobre a vida privada de uma pessoa de notoriedade pública; defendia este Tribunal constitucional que a vida privada de uma pessoa pública estaria praticamente reduzida a um contexto de espaço isolado para onde a pessoa se retirava com o fim objectivamente reconhecido de estar só, o que não foi aceite pelo Tribunal no seu Acórdão Von Hannover (16). Noutras circunstâncias, a lei, a jurisprudência ou as simples práticas judiciárias, algumas ancestrais, estão em frontal desarmonia com a jurisprudência do Tribunal, pelo que a violação constatada pelo Tribunal poderá encontrar alguma resistência na sua interiorização e execução. Mas, para além das reservas que a jurisprudência do Tribunal suscite, e algumas serão porventura justificadas e encontram até eco nas opiniões minoritárias juntas aos acórdãos, a sua aceitação deve impor-se no desejo partilhado por todos nós de que os direitos humanos se apresentem tanto quanto possível com a mesma densidade e conteúdo em todo o espaço europeu. Para que os direitos humanos sejam respeitados em todo o espaço europeu é necessário, antes de mais, que, de futuro, as leis julgadas incompatíveis com a Convenção não sejam aplicadas e a jurisprudência ou a prática incompatíveis sejam abandonadas; tem acontecido, felizmente em casos contados, que os acórdãos do Tribunal que constatam uma violação da Convenção por uma lei ou uma determinada orientação jurisprudencial ou prática não são observados para além da situação concreta analisada no Acórdão. Porém, como se referiu supra, se se quiser evitar condenações futuras, os acórdãos do Tribunal devem ser respeitados perante situações idênticas àquelas já apontadas. 16 ) De 24 de Junho de 2004, Recueil 2004-VI, pág. 28, § 34. 10 Mas ainda aqui, algumas dificuldades têm surgido, desde logo porque nem sempre será fácil identificar todas as situações semelhantes à examinada no acórdão do Tribunal. Depois, não se ignora a dificuldade para um Juiz, – dificuldade que diria natural –, em deixar de aplicar uma lei que está formalmente em vigor, lei essa incompatível com a Convenção, aguardando uma intervenção legislativa que venha repor a harmonia. Há muito que o Tribunal exorcizou tal atitude de manifesta passividade, relembrando ao Juiz interno que ele deve aplicar a Convenção e que não deve ficar à espera da acção do Legislador para deixar de aplicar a lei em causa (17). Nos sistemas em que a Convenção tem um valor supra-legal, como é o caso do nosso País, a adopção desta atitude por parte do Juiz nacional não apresenta qualquer dificuldade teórica; mas, infelizmente, a prática nem sempre confirma a teoria. Quem não se recorda, por exemplo, do Acórdão Lobo Machado (18), onde se considerou a participação do Ministério Público no processo laboral, quer dando pareceres que não eram conhecidos pelas partes quer estando presente quando o Supremo Tribunal de Justiça deliberava, como contrária ao disposto no art. 6º da Convenção. Na informação que prestou sobre o modo como executou este Acórdão, o Governo português, de acordo com o que consta na Resolução do Comité de Ministros DH (97) 221, de 15 de Maio de 1997, referiu: «..... o Acórdão Lobo Machado foi comunicado ao Supremo Tribunal e aos Tribunais superiores; por conseguinte, as práticas criticadas no referido Acórdão cessaram automaticamente e o Procurador-Geral deixou de assistir às deliberações do Supremo Tribunal. Por outro lado, o Decreto-Lei nº 180/96 prevê que os documentos do processo sejam comunicados ao requerente como ao Procurador-Geral. Esta modificação foi incorporada no artigo 334º, nº 3 do Código de Processo Civil» - ( tradução livre). Contudo, e não obstante esta informação prestada pelo Governo português, numa sessão de 23 de Setembro de 1998 do Supremo Tribunal Administrativo, dedicada ao julgamento de um recurso no âmbito de um processo administrativo, ainda esteve presente o magistrado do Ministério Público, o que foi justamente censurado pelo Tribunal Constitucional, no seu Acórdão 345/99, onde a doutrina do Acórdão Lobo Machado foi aplicada directamente para julgar inconstitucional, por violação do nº 4 do artigo 20º da Constituição, a norma constante do artigo 15º do Decreto-Lei nº 267/85, de 16 de Julho, que estatuía: «No Supremo Tribunal Administrativo e no Tribunal Central Administrativo o representante do Ministério Público a quem, no processo, 17 18 ) Acórdão Vermeire, de 29 de Novembro de 1991, Serie A nº 214-C, pág 82 e 83, § 25 e 26. ) De 20 de Fevereiro de 1996, Recueil des Arrêts et Décisions, 1996, I, págs. 195 e segs.. 11 esteja confiada a defesa da legalidade, assiste às sessões de julgamento e é ouvido na discussão.» Apesar de tudo isto, em Novembro de 2007, o Tribunal veio a constatar que, nos recursos para o nosso Tribunal Constitucional, os pareceres do Ministério Público não eram comunicados às partes (19). 6. Estes exemplos não chegam para ofuscar a ideia que tenho por adquirida que, de um modo geral, os nossos Tribunais, a começar pelo Supremo Tribunal de Justiça, estão normalmente atentos à jurisprudência de Estrasburgo, chegando por vezes a invocar directamente a Convenção para afastar normas que com ela não se conciliam. E, quando inopinadamente alguns desvios são cometidos, como aconteceu com alguma jurisprudência dos nossos tribunais administrativos em matéria de responsabilidade extracontratual do Estado por lentidão processual, sobreleva sempre a preocupação de regresso ao bom caminho, como com felicidade se expressou o Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 28 de Novembro de 2007, já referido. Uma outra situação, ainda que rara mas de difícil explicação salvo por um atavismo cego ou apego extremo à lei interna, não deixa de inquinar aquela harmonia entre a jurisprudência interna e a de Estrasburgo; refiro-me a um problema menor, o de o pagamento das custas com o intérprete pelo arguido. De acordo com a alínea e) do n.º 3 do artigo 6º da Convenção, o acusado tem o direito de fazer-se assistir gratuitamente por intérprete, se não compreender ou não falar a língua usada no processo. Este direito tende a impedir toda a desigualdade entre um acusado que não conhece a língua empregada no processo e um acusado que a fala e a compreende. Esta jurisprudência foi aplicada entre nós, pela primeira vez, pelo Acórdão do Tribunal colectivo de Cascais, de 3 de Maio de 1982 (20), que, «esquecendo» o Código das Custas Judiciais, decidiu: «nos termos do n.º 3 do artigo 6.º, o réu estrangeiro, que não compreende a língua portuguesa, tem direito a ser assistido por intérprete, sem quaisquer encargos para si, em processo-crime pendente nos tribunais portugueses». Não obstante este paradigmático Acórdão, algumas decisões dos nossos tribunais, fundadas no disposto no Código das Custas Judiciais de 1962 — artigos 171.º e 195.º —, continuaram a considerar como encargos a suportar pelos arguidos condenados os custos da interpretação. 19 ) Acórdão Feliciano Bichão, de 20 de Novembro de 2007. ) Publicado na Colectânea de Jurisprudência, ano VIII, 1983, págs. 349 e segs., e no Ann. Conv., n.º 25, 1982. 20 12 Mais tarde, o Supremo Tribunal de Justiça, no seu Acórdão de 8 de Janeiro 21 de 1986 ( ), precisou: «Não compreendendo nem falando a língua portuguesa, o réu em processo-crime tem direito à assistência gratuita de um intérprete, competindo ao Estado suportar os respectivos encargos». Mas o desrespeito pela Convenção continuava, o que motivou o ProcuradorGeral da República, pelo seu Despacho de 13 de Julho de 1990, depois de lembrar a Jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem e do Supremo Tribunal de Justiça, a determinar que passasse a ser seguido e sustentado pela magistratura do Ministério Público a orientação seguinte: «O acusado tem direito à assistência gratuita da interpretação ou tradução de todos os actos do processo que ele necessitar compreender para beneficiar de um processo equitativo». Apesar de tudo isto, apesar de toda a jurisprudência da Convenção e interna, do disposto no artigo 92º, nº 2 do nosso Código de Processo Penal (22), e do Despacho do Procurador-Geral da República imagine-se que ainda há tribunais, raros é certo, que, invocando o Código das Custas, exigem do arguido condenado que não conhece a nossa língua o pagamento das custas com o intérprete, tudo isto perante a passividade do Ministério Público e do defensor, em regra oficioso. Infelizmente, as queixas destas decisões dos tribunais de 1ª instância são declaradas inadmissíveis liminarmente, por não esgotamento dos recursos internos, uma vez que nem o Ministério Público nem o defensor do arguido recorreram dessas decisões. 6. Esta referência ao esgotamento dos meios internos, permite convidar-vos a reflectir comigo sobre a situação actual e futura do Tribunal. A situação do Tribunal é dramática com uma pendência a rondar as cem mil queixas. De todos os lados se avançam soluções, umas mais apropriadas do que outras, que não cabe aqui analisar. Para mim, desde há muito que penso que, se se quiser manter o sistema actual do recurso de queixa individual, é preciso encontrar a nível interno dos diversos Estados membros da Convenção mecanismos específicos que, reparando as violações, tornem, na grande maioria dos casos, supérfluo o recurso a Estrasburgo. 21 ) Publicado no Boletim do Ministério da Justiça, n.º 353, págs. 200 e segs. ) O nº 2 do art.º 92 do Código de Processo Penal estatui: «Quando houver de intervir no processo pessoa que não conhecer ou não dominar a língua portuguesa, é nomeado, sem encargo para ela, intérprete idóneo, ainda que a entidade que preside ao acto ou qualquer dos participantes processuais conheçam a língua por aquele utilizada» sublinhado agora. 22 13 Aliás basta anotar que durante o tempo em que os tribunais administrativos aplicaram correctamente a jurisprudência do Tribunal relativamente à violação do prazo razoável, as queixas sobre esta matéria ou desapareceram ou foram rejeitadas liminarmente, precisamente por falta de esgotamento dos meios internos. Como decorre do artigo 13º da Convenção, para toda a violação da Convenção deve haver a nível interno um mecanismo capaz de a reparar. É no fundo a reafirmação do carácter subsidiário do recurso a Estrasburgo. A regra do esgotamento dos meios internos e o direito a um recurso efectivo são na realidade as duas faces da mesma moeda: exigir, antes de mais, que os Estados membros garantam os direitos e obrigações consagrados na Convenção e, se estes forem violados, que ofereça às vítimas os meios adequados, efectivos e acessíveis, para que possam obter a nível interno a reparação para os danos que sofreram. Mesmo que o juiz nacional aplique os princípios que emergem da jurisprudência de Estrasburgo, a vítima poderá sempre recorrer ao Tribunal se o resultado obtido a nível interno não lhe agradar. Mas, neste contexto, o Tribunal limitar-se-à a concluir que a sua jurisprudência foi aplicada correctamente e que a vítima obteve a nível interno o que poderia esperar de Estrasburgo e a declarar, portanto, a queixa mal fundada. A compreensão e o respeito mútuos das duas jurisdições, a interna e convencional, serão factores que poderão ajudar à redução da massa de queixas ao Tribunal. Tenho elementos seguros para poder afirmar que, no Supremo Tribunal de Justiça e de um modo geral nos nossos tribunais (23), se conhece e se aplica com propósito a jurisprudência de Estrasburgo. E que assim se continue, que estas boas práticas se generalizem a todos os tribunais, para que as violações à Convenção encontrem adequada reparação interna, obtendo os cidadãos rapidamente a reparação das violações da Convenção sem terem necessidade de recorrer a Estrasburgo. 7. Finalmente, uma matéria que gostaria de abordar no capítulo das relações entre o Tribunal e os tribunais internos é a que diz respeito à execução dos julgamentos do Tribunal. Os acórdãos do Tribunal são declaratórios no essencial, limitando-se a decidir se, num caso concreto, houve ou não infracção a uma ou outra disposição da Convenção e a acordar frequentemente uma soma a título de reparação razoável. 23 ) Ainda que por vezes o percurso não seja linear. Ver a este propósito as Decisões Paulino Tomás e Gouveia da Silva Torrado, de 22 de Maio de 2003, Recueil 2003-VII, e o Acórdão Martins Castro e Alves Correia de Castro, de 10 de Junho de 2008, sobre os meios internos a esgotar no quadro da violação do prazo de duração razoável de um processo. 14 Como o Tribunal sublinhou diversas vezes, os acórdãos deixam, em princípio, ao Estado a escolha dos meios a utilizar na sua ordem jurídica interna para cumprir a obrigação que pesa sobre ele, nos termos do artigo 46º da Convenção, de respeitar os acórdãos do Tribunal nos litígios em que for parte (24). Nalguns casos, a natureza da própria violação constatada não oferece qualquer possibilidade de escolha e, por isso, o Tribunal identifica as medidas capazes de repararem a situação (25). É o que também vem acontecendo no âmbito de condenações em processos penais onde elementares regras do processo equitativo não foram observadas; nestas situações, o Tribunal, por vezes, indica que só a reabertura de um novo julgamento onde tais regras sejam respeitadas poderá sanar a violação (26). O Tribunal, mesmo assim, condiciona a reabertura do processo interno ao pedido do interessado. Por vezes, a violação constatada radica-se num aspecto específico do processo e, nesse caso, o Tribunal não preconiza uma completa reabertura do processo, mas apenas a sanação do defeito que apurou. Assim aconteceu no Acórdão Panasenko contra Portugal, de 22 de Julho de 2008, onde o Tribunal declarou que as medidas a tomar pelo Estado para cumprir as obrigações que lhe incumbem por força da Convenção dependem necessariamente da causa e devem ser definidas à luz do acórdão do Tribunal no caso concreto. E, como no caso concreto, a violação identificada residia num defeito na assistência judiciária prestada ao arguido que impediu o Supremo Tribunal de Justiça de conhecer do seu recurso, o Tribunal precisou que o exame desse recurso pelo STJ poderia constituir uma reparação adequada para a violação constatada. Mas, em regra, o Tribunal nada diz sobre a matéria, como por exemplo, no Acórdão Bogumil, de 7 Outubro último; o Tribunal, apesar de ter constatado uma violação do artigo 6º, nºs 1 e 3, alínea c) da Convenção, também aqui por deficiências na assistência judiciária prestada, omitiu qualquer referência à necessidade de uma reapreciação do caso. Nem sempre é fácil abarcar as razões para esta atitude. Mas dela parece lícito retirar a conclusão de que o Tribunal entende que a execução integral do Acórdão não passa forçosamente pela reabertura do processo 24 ) Acórdão B c. o Reino Unido, de 9 de Junho de 1988 (artigo 50º), Série A nº 136-A, § 17. ) Cfr, os Acórdão Assanidzé, de 8 de Abril de 2004, Recueil 2004-II (só a liberdade imediata do queixoso poderia sanar a violação), Ilascu e outros, de 8 de Julho de 2004, Recueil 2004-VII (a Rússia e a Moldávia deviam tomar medidas para a libertação dos requerentes ainda presos na Transnistria). 26 ) É a chamada cláusula Öcalan, porque inserida no Acórdão Öcalan, de 12 de Maio de 2005, Recueil 2005-IV, § 210. 25 15 interno, deixando ao Estado em causa a escolha dos meios adequados para esse efeito (27). Nestas hipóteses, a reabertura do processo ficará de certo modo à discrição das autoridades internas, sob o controlo do Comité de Ministros, órgão encarregado de velar pela execução do Acórdão nos termos do artigo 46º, nº 2 da Convenção. Ora o Decreto-lei nº 303/2007, de 24 de Agosto, alterou o artigo 771º, alínea f) do Código de Processo Civil, permitindo a revisão de decisão já transitada em julgado quando viole a Convenção Europeia dos Direitos do Homem, ou seja, quando essa decisão seja inconciliável com uma decisão definitiva do Tribunal. Por seu turno, o novo Código de Processo Penal (Lei 43/2007, de 29 de Agosto), no seu artigo 449º, nº 1, admite a revisão de sentença condenatória transitada em julgado quando uma sentença do Tribunal for inconciliável com a condenação ou suscitar dúvidas sobre a sua justiça. Estas disposições vieram suprir uma lacuna existente na nossa ordem jurídica e representam, sem dúvida, passos significativos para harmonizá-la com a jurisprudência de Estrasburgo. Não é este o momento de especular, mas de confiar serenamente nos nossos tribunais pois eles saberão encontrar as linhas de orientação adequadas a conciliar a boa execução dos Acórdãos do Tribunal com as exigências dos nossos Códigos de Processo (28). 27 ) Note-se, aliás, que haverá, desde logo, violações que são estranhas ao fundo das decisões e relevam de aspectos formais que as deixam intocáveis; penso na violação do prazo razoável da duração de um processo, mas não só. 28 ) Talvez fosse preferível um texto como o do artigo 626 º – 1 do Código de Processo Penal francês que diz que o reexame do processo só deve acontecer, nestas circunstâncias, quando, pela sua natureza e gravidade, a violação constatada acarreta para o condenado consequências danosas às quais a «satisfação razoável» acordada com base no artigo 41º da Convenção não consegue reparar. Para a reabertura do processo, recorde-se a Recomendação do Comité de Ministros R (2000)2, de 19 de Janeiro de 2002, que, na sua exposição de motivos, indica algumas das situações em que essa reabertura se justifica: a) pessoas condenadas a longas penas de prisão e que continuam presas quando o seu caso é examinado pelo Tribunal; b) pessoas injustamente privadas dos seus direitos civis e políticos; c) pessoas expulsas com violação do seu direito ao respeito da sua vida familiar; d) crianças interditas injustamente de todo o contacto com os pais; e) condenações penais que violam os artigos 10.º ou 9.º, porque as declarações que as autoridades nacionais qualificam de criminais constituem o exercício legítimo da liberdade de expressão da parte lesada ou exercício legítimo da sua liberdade religiosa; f) nos casos em que a parte lesada não teve tempo ou as facilidades para preparar a sua defesa nos processos penais; g) nos casos em que a condenação se baseia em declarações extorquidas sob tortura ou sobre meios que a parte lesada nunca teve a possibilidade de verificar; h) nos processos civis, nos casos em que as partes não foram tratadas com o respeito do princípio da igualdade de armas. 16 8. Uma nótula final. A cooperação e colaboração entre o Tribunal e as instâncias nacionais são ao mesmo tempo um desafio e uma necessidade para a protecção e o desenvolvimento dos direitos humanos. Para nós a responsabilidade de responder a esta exigência. Espero que o reencontro de hoje, senhor Presidente, caros Colegas, constitua um passo decisivo para a concretização de um tal objectivo. Muito obrigado. STJ, 10 de Novembro de 2008 Ireneu Cabral Barreto 17
Download