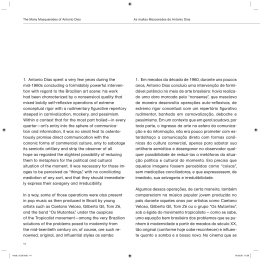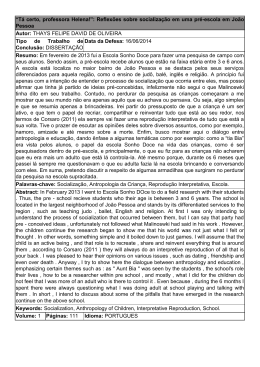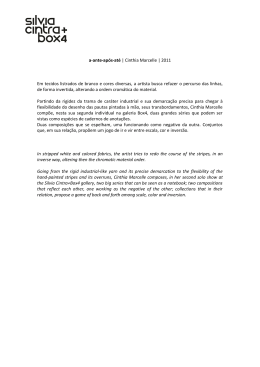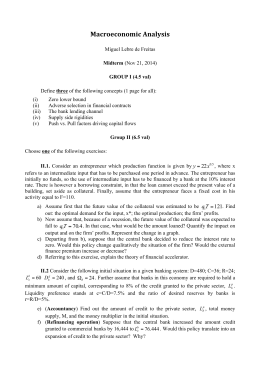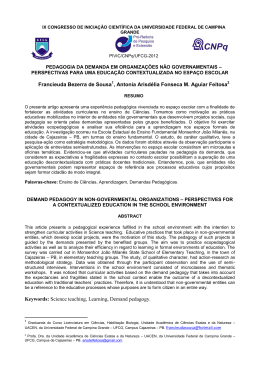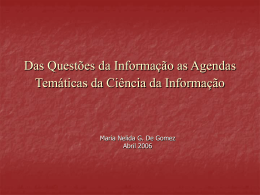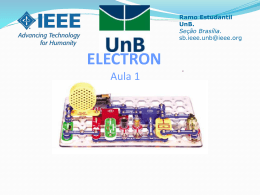14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. A reforna política A reforma administrativa A globalização A educação no Brasil A seca Ajuste fiscal e reforma tributária Instituições democráticas Políticas sociais Tema livre Telecomunicações/Violência Finanças públicas Condições de vida no Brasil As funções de controle do Poder Legislativo Dilemas dos estado brasileiro A montagem do discurso da paz Área de livre comércio das Américas – ALCA Tema livre De FHC a Lula: pontos para reflexão Tema livre Políticas setoriais Um olhar sobre o orçamento público Microeconomia Federalismo Utopias e outras visões Reformas: a pauta dp Congresso 26. 27. 28. 29. 30. Tema livre Tema livre Tema livre Tema livre II Seminário Internacional – Assessoramento institucional no Poder Legislativo 31. Tema livre 32. Tema livre 33. Reforma tributária 34. A cidade 35. A exploração do pré-sal 36. A crise 37. 120 anos de República e Federação 38. Mulher 39. Perspectivas e Debates para 2011 40. Desafios do Poder Legislativo (Artigos) 41. Desafios do Poder Legislativo (Seminário) 42. Tema livre 43. Funpresp 44. Tema livre 45. Rio+20: Relatos e impressões 46. Tema Livre 47. Tema Livre 48. 20 anos da Internet no Brasil (Parte I) 49. 20 anos da Internet no Brasil (Parte II) Cadernos ASLEGIS Números anteriores 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Setembro/Dezembro 2013 www.aslegis.org.br https://www.facebook.com/Aslegis https://twitter.com/aslegis [email protected] [email protected] 50 ASSOCIAÇÃO DOS CONSULTORES LEGISLATIVOS E DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Cadernos ASLEGIS ISSN 1677-9010 Set/Dez 2013 Democracia e Políticas Públicas 50 CADERNOS ASLEGIS 50 Brasília • número 50 Setembro/Dezembro 2013 Dados internacionais de catalogação na publicação (CIP) (Câmara Brasileira do Livro) Cadernos ASLEGIS / Associação dos Consultores Legislativos e de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados – no 50 (Set/Dez 2013) – Brasília: ASLEGIS, 2015. Quadrimestral. ISSN 1677-9010 I. Associação dos Consultores Legislativos e de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados. Brasil. Sumário EM DISCUSSÃO... DEMOCRACIA E POLÍTICAS PÚBLICAS APRESENTAÇÃO Como compreender a democracia de hoje Marcelo Barroso Lacombe José Theodoro Mascarenhas Menck Bernardo Felipe Estellita Lins...............................................................7 ARTIGOS & ENSAIOS Paradigmas para o estudo da Presidência Ricardo José Pereira Rodrigues........................................................... 11 Surgimento e evolução do sistema eleitoral proporcional atualmente em vigor no Brasil Márcio Nuno Rabat..............................................................................25 Emendas parlamentares, orçamento impositivo e gestão participativa Vander Gontijo Eugênio Greggianin Eber Zoehler Santa Helena Liliane Nogueira..................................................................................37 A dinâmica da atual conjuntura econômica brasileira Nilo Alberto Barroso............................................................................73 Dinâmica da política de saúde na Nova República Fábio de Barros Correia Gomes...........................................................81 Relatividade ética, corrosão social e a subversão ideológica do Estado Luiz Henrique Cascelli de Azevedo...................................................107 SALA DE VISITAS Consenso e conflito no pensamento ocidental acerca do governo representativo Consensus and conflict in western thought on representative government Adam Przeworski...............................................................................123 E MAIS... RESENHA Tu carregas meu nome Luiz Mário Ribeiro Silva...................................................................203 VÁRIA PALAVRA JK, Muito além da política Edmilson Caminha.............................................................................209 Esquerda, direita, esquerda, direita: sentido? Alessandro Gagnor Galvão................................................................ 211 NOTAS..............................................................................................221 EXPEDIENTE...................................................................................225 EM DISCUSSÃO DEMOCRACIA E POLÍTICAS PÚBLICAS 5 APRESENTAÇÃO Como compreender a democracia de hoje Marcelo Barroso Lacombe José Theodoro Mascarenhas Menck Bernardo Felipe Estellita Lins A democracia clássica, aquela que aprendemos ser o governo “do povo, pelo povo e para o povo”, parte dos pressupostos da igualdade dos cidadãos em termos de direitos e obrigações, da sua participação no debate público, do livre exercício do voto e da legitimidade do representante eleito. A prática observada nas democracias contemporâneas mostra-se, no entanto, surpreendentemente afastada dessa imagem que é aceita de modo relativamente geral. Contrariamente à concepção clássica de democracia, vivemos de fato um período de fragmentação de valores e de demandas, quase uma democracia de minorias. Tornou-se lugar comum aceitar que devemos “tratar desigualmente os desiguais”, para dar-lhes oportunidades equivalentes. A participação coletiva em manifestações de rua, ou mediante organizações não governamentais, ou por campeões da causa, cria processos de proclamação de interesses, de debate e de negociação que correm em paralelo com as instituições consagradas na norma constitucional. No Brasil não é diferente. Por um lado, na dimensão do poder constituído, quase que se poderia dizer palaciano, o processo de deliberação democrática tem sido marcado, desde o impeachment de Fernando Collor, por uma construção de coalizões que, em vários momentos, cristalizou uma preponderância do Poder Executivo sobre os demais poderes da República. Um aspecto frequentemente citado desse retrato, aqui sugerido em linhas muito vagas, é o do controle do Planalto sobre a pauta de votações do Congresso Nacional, que se manteve vigoroso pelo menos até a crise global de 2008. Por outro lado, na dimensão do debate de grupos de interesse, assistimos a uma complexa rede de negociações paralelas e de captura de atores políticos, em que se esgrimem argumentos de princípio e de ideologia, troca de acertos políticos, uso patrimonialista da máquina pública e até episódios de puro e simples desmando ou de corrupção. O patrimonialismo na mentalidade política é revelado na recorrente tendência à acomodação de interesses e à atuação de oposições chapa-branca, que marcou, por exemplo, a política dos anos cinquenta. Por outro lado, não eximiu nossa história democrática de demonstrações de histrionismo retórico, de episódios de intervenção militar na vida pública, de períodos de confronto aberto entre classes ou grupos, de golpes de estado e atentados. A relativa paz política das últimas três décadas é mais uma novidade da nossa história republicana do que a retomada de hábitos passados. Apresentação 77 Muitas foram as mudanças institucionais e de valores nesses cento e vinte anos de república. Algumas destas marcaram a construção desse período de diálogo político (ainda que difícil) desenvolvido a partir do governo de Itamar Franco. Assistimos, desde então, a governos que se esforçaram na superação de uma difícil conjuntura econômica de estagflação, na solidificação de instituições essenciais à administração pública, na continuidade de políticas sociais que inseriram uma parcela importante da população na classe média e na construção de um ambiente político que viabilizou uma ainda incipiente modernização da justiça e uma revalorização da cidadania. É surpreendente, portanto, que tenhamos chegado, no governo Dilma Rousseff, a um tal esgarçamento desses valores que chegue a colocar em questão a própria legitimidade da escolha democrática. É possível que o governo esteja enfrentando uma maioria que, em lugar de ser um amálgama de interesses convergentes que se consolidam em uma opinião pública, preserva uma heterogeneidade irreconciliável de visões e demandas. A tentativa de compor interesses e de construir uma imagem de governo que seja capaz de satisfazer essa miríade de pequenos grupos e seus representantes pode ter conduzido o Executivo a uma pauta de negociação de complexidade e custos intoleráveis. O exame pormenorizado desses movimentos não é tarefa fácil e esta edição dos Cadernos Aslegis, histórica por ser a de número 50, busca oferecer elementos para essa reflexão. O artigo de Ricardo José Pereira Rodrigues que abre este número resenha as teorias que fundamentam a análise do comportamento da presidência da república, em um sistema presidencial como o nosso ou o norte-americano. Trata-se de uma valiosa discussão a respeito das premissas, do alcance e das limitações de teorias alternativas sobre a fonte e os instrumentos da ação presidencial. Leitura por certo oportuna para os momentos que se avizinham. O artigo seguinte, da lavra de Márcio Nuno Rabat nos apresenta o surgimento e evolução do nosso hodierno sistema eleitoral. Os vários aspectos da vida republicana são a seguir explorados em contribuições de caráter mais setorial. Os artigos de Nilo Alberto Barroso, Fábio de Barros Correia Gomes e do time de consultores de orçamento e fiscalização financeira: Vander Gontijo, Eugênio Greggianin, Eber Zoehler Santa Helena e Liliane Nogueira destrincham a dinâmica da atual conjuntura econômica nacional, a da política de saúde da Nova República e a relação entre as emendas parlamentares, o orçamento impositivo e a gestão participativa, respectivamente. Por fim temos uma reflexão sobre o problema da ética nos tempos políticos atuais, da lavra de Luiz Henrique Cascelli de Azevedo. Por derradeiro, na Sala de Visitas, um esclarecedor texto de Adam Przeworski, acerca do governo representativo no pensamento ocidental. Boa leitura. 8 Cadernos ASLEGIS | 50 • Setembro/Dezembro • 2014 Artigos & Ensaios Paradigmas para o estudo da Presidência Ricardo José Pereira Rodrigues Surgimento e evolução do sistema eleitoral proporcional atualmente em vigor no Brasil Márcio Nuno Rabat Emendas parlamentares, orçamento impositivo e gestão participativa Vander Gontijo Eugênio Greggianin Eber Zoehler Santa Helena Liliane Nogueira A dinâmica da atual conjuntura econômica brasileira Nilo Alberto Barroso Dinâmica da política de saúde na Nova República Fábio de B. Correia Gomes Relatividade ética, corrosão social e a fenomenologia do poder corrompido Luiz Henrique C. de Azevedo Artigos & Ensaios 9 Claudionor Rocha* Consultor Legislativo da Área de Segurança Pública e Defesa Nacional Ricardo José Pereira Rodrigues Doutor em Ciência Política pela State University of New York, Consultor Legislativo da Câmara dos Deputados Paradigmas para o estudo da presidência 11 Resumo Palavras-chave Este ensaio analisa duas teorias que explicam o desempenho da presidência no sistema político e na formulação de políticas públicas. A teoria do poder presidencial desenvolvida por Richard Neustadt na década de 1960 é comparada à teoria de liderança presidencial postulada por Stephen Skowronek trinta anos depois, identificando-se as virtudes e as limitações de cada modelo teórico. O ensaio realça a natureza paradigmática e o pioneirismo da teoria de Neustadt e demonstra as qualidades da teoria de Skowronek para explicar, de forma sistemática, situações políticas não adequadamente explicadas pela teoria de Neustadt. Presidência. Poder presidencial. Liderança política Abstract (Paradigms for the Study of the Presidency) This essay reviews two major theories that explain the role of presidents in a modern political system and in formulating public policies. Richard Neustadt’s theory of presidential power, developed in the nineteen-sixties, is compared to Stephen Skowronek’s theory of presidential leadership, in an analysis that focuses on the strengths and drawbacks of each theoretical model. The essay underlines the paradigmatic and pioneering nature of Neustadt’s theory and demonstrates the qualities of Skowronek’s theory to explain, in a systematic and elegant historical model, those political events not adequately explained by Neustadt’s theory. Keywords Presidency. Presidential power. Political leadership. 12 A teoria de Neustadt como paradigma Em sua clássica análise das revoluções científicas, Thomas Kuhn demonstrou que os paradigmas constituíam a força motriz das agendas de pesquisa científica. Paradoxalmente, ele não acreditava na existência de paradigmas definitivos. Para Kuhn, as revoluções científicas ocorrem precisamente porque os paradigmas predominantes em determinada época apresentam-se como convites naturais ao escrutínio da comunidade científica que os encara como verdadeiros desafios. Ao se debruçarem sobre as questões ainda não totalmente resolvidas pelos paradigmas predominantes, as novas pesquisas sobre o tema podem chegar a gerar novos paradigmas e substituírem a ortodoxia existente no meio científico até aquela data (KUHN, 1962). Não obstante Kuhn estivesse se referindo às ciências naturais, sua noção de ascensão e queda de paradigmas tem se mostrado verdadeira para outras áreas de investigação científica, incluindo as ciências sociais. Seu esquema retrata com bastante precisão o desenvolvimento, no âmbito da ciência política, de uma agenda de pesquisa gerada a partir da publicação da obra O Poder Presidencial e os Presidentes Modernos, de autoria de Richard Neustadt, lançada no Brasil após quatro décadas de seu lançamento original nos Estados Unidos (NEUSTADT, 2008). Distanciando-se das abordagens tradicionalmente impostas aos estudos presidenciais, com ênfase nas dimensões legais e constitucionais do ramo executivo do governo ou nas experiências individuais de presidentes, o livro de Neustadt elegeu o comportamento político como foco e marco de referência para compreender a liderança presidencial. A obra acabou dominando os estudos da presidência nos Estados Unidos, produzindo o que muitos consideram uma das mais bem sucedidas agendas de pesquisa da ciência política. Quarenta anos após sua publicação, o livro ainda é leitura obrigatória nos cursos de pós-graduação das universidades norte-americanas. Seu lançamento no Brasil, mesmo que tardio, veio preencher uma importante lacuna da literatura especializada sobre o tema da presidência em língua portuguesa. Não são poucos os que afirmam que O Poder Presidencial recebeu o status de obra paradigmática pela comunidade de estudiosos da presidência nos Estados Unidos tão logo fora lançada e, se considerarmos correta a visão de Thomas Kuhn sobre a evolução de paradigmas, não restam dúvidas de que seria apenas uma questão de tempo até que cientistas políticos de todo mundo começassem a desafiar as premissas teóricas do livro com abordagens inovadoras sobre o tema. De fato, durante os últimos quarenta anos, várias pesquisas buscaram desafiar o paradigma de Neustadt. Lowi, com seu livro The Personal President, Artigos & Ensaios 13 apontou para o aparecimento da presidência plebiscitária (1985), Kernell, com Going Public (1993), e Tulis, com The Rhetorical Presidency (1988), demonstraram, com abordagens distintas, que presidentes poderiam, em alguns casos, optar por recorrer diretamente ao público para tentar mover a opinião pública em seu favor e assim desvencilharem-se da necessidade de barganhar com a elite política, necessidade essa que constitui um dos pilares da teoria de poderes presidenciais limitados concebida por Neustadt. Uma das mais recentes tentativas de repúdio ao paradigma de Neustadt é o livro de Howell, Power without Persuasion (2003), no qual o autor postula que, com o uso de ordens executivas, o presidente tem o poder de impor unilateralmente suas políticas públicas no sistema e, dessa forma, livrar-se da necessidade de negociar sua posição com as lideranças no Congresso. Entretanto, nenhum dos livros citados conseguiu abalar o paradigma “Neustadtiano”. Os três primeiros complementam a teoria de Neustadt ao realçar aspectos não pesquisados por Neustadt, tais como o uso da retórica e a preocupação com a opinião pública. As pesquisas de Lowi, Kernell e Tulis deixam claro que nem o emprego do discurso presidencial, mesmo quando associado à televisão, nem o uso de pesquisas de opinião pública, apresentam-se como substitutos da ação presidencial marcada pela negociação, premissa básica da teoria legada por Neustadt. Dos autores citados, Howell é, possivelmente, o que mais perto chegou do objetivo de desbancar a teoria. Embora convincente em muitos aspectos, esse trabalho tampouco fez ruir o edifício teórico construído por Neustadt. Para Howell, o presidente pode simplesmente publicar seus decretos com força de lei sem se preocupar com o Poder Legislativo, o qual, segundo ele, mostra-se incapaz de sustar ou reverter a ação presidencial devido a problemas de ação coletiva. Por essa razão, afirma ele que “o poder presidencial moderno não mais envolve a persuasão como insistia Neustadt. Os presidentes atuais exercem o poder ao estabelecer políticas unilateralmente e impedir que o Congresso e o Judiciário façam qualquer coisa em contrário” (HOWELL, 2003: 14). Outro estudo sobre o mesmo tema, publicado com o título The Preeminence of Politics (RODRIGUES, 2007), demonstrou que, a despeito da elegância de seu modelo teórico, o trabalho de Howell não chega a refutar a teoria de Neustadt. Na investigação do uso que os presidentes norte-americanos fazem de ordens executivas conduzida por Rodrigues, ficou evidente que tais decretos não constituem instrumentos desenfreados de ação unilateral dos presidentes. A formulação de políticas públicas pelos presidentes mediante ordens executivas é altamente restringida pelo próprio sistema político. Tanto o Congresso, como a opinião pública, como 14 Cadernos ASLEGIS | 50 • Setembro/Dezembro • 2014 integrantes da própria base de sustentação dos presidentes, influenciam a direção e a intensidade das políticas efetivadas a partir de ordens executivas, além da própria decisão do presidente de nem sequer publicá-las. Considerando as substanciais limitações das ordens executivas enquanto veículos para expansão do poder presidencial e a relevância que tem o contexto político na decisão presidencial de empregá-las, conclui-se que continuam válidos os argumentos de Neustadt de que o poder presidencial é apenas o poder de persuadir (RODRIGUES, 2007: 281). O paradigma postulado por Neustadt é rivalizado apenas por uma teoria proposta pelo professor Skowronek, a qual, sem refutar integralmente os argumentos do primeiro, aponta limitações e indica um caminho alternativo para se compreender a dinâmica política da instituição da presidência. Com uma abordagem histórica, a teoria de Skowronek encontra-se no livro The Politics Presidents Make (1993), ainda sem publicação na língua portuguesa. Duelo de Teorias Até a mais superficial leitura dos livros de Neustadt e Skowronek revela haver mais diferenças do que semelhanças nas abordagens de cada autor. Cada livro fundamenta-se em um conjunto distinto de premissas e em estratégias metodológicas diferentes para apresentar modelos teóricos díspares com o objetivo de explicar realidades literalmente assemelhadas. Neustadt concebeu a presidência em termos de um ator individual que ocupa a chefia do Executivo e de seu poder para influenciar a formulação de políticas públicas. Para ele, ao invés de um sistema de separação de poderes, a Constituição dos Estados Unidos criou um governo de “instituições separadas que compartilham poderes” (NEUSTADT, 2008: 67). Já que a presidência “compartilha” autoridade com outras instituições, o presidente deveria negociar com outros atores envolvidos na formulação e deliberação de políticas públicas e persuadi-los a cooperar se desejar ser bem sucedido em seus empreendimentos. Na visão de Neustadt, este “compartilhamento” de poderes traduz-se em limitações ao exercício de liderança no ramo de governo que mais necessita de iniciativa e energia. Sua mensagem, fundada nas idéias do constituinte norte-americano Alexander Hamilton, é que o vigor de uma presidência constitui peça crucial para se ter políticas públicas eficazes e para se aprimorar o sistema de governo como um todo. Assim, dentro de um universo de atores políticos movidos por puro interesse pessoal, os presidentes deveriam maximizar seu poder pelo bem do próprio sistema político. E Artigos & Ensaios 15 como requisitos para este tipo de liderança, Neustadt enumerou a ambição, a experiência política, a autoconfiança e o senso de missão. Por sua vez. Skowronek aborda o estudo da presidência de forma bem diversa. Primeiro, concentra-se na instituição da presidência e não no indivíduo que ocupa o cargo. Segundo, para ele, a liderança presidencial é muito mais determinada pelo contexto político do que pelo esforço individual do presidente. Terceiro, ele sustenta que os presidentes podem mudar o sistema político e que o sistema não seria refratário ao exercício do poder presidencial, ao contrário do que Neustadt defendia. Skowronek aceita que o poder exerce um papel na política presidencial, mas não deve ser visto como uma força dominante por trás da política dos presidentes. Para ele, o exercício do poder tem sido bem menos problemático para os presidentes do que o exercício da autoridade. O primeiro termo refere-se aos recursos disponíveis aos presidentes para realizar tarefas enquanto o segundo refere-se à legitimidade, ou à percepção do que é apropriado para um presidente realizar. Para Skowronek, a autoridade é um fator proeminente na política de liderança porque, antes que um presidente possa formular uma estratégia de ação, precisa desfrutar de legitimidade na sociedade. Já Neustadt entendia que a autoridade era inerente ao cargo, sendo comum a todos os presidentes contemporâneos. Por essa razão, para Neustadt, todos presidentes desfrutariam de semelhante legitimidade perante a sociedade. Skowronek concorda com Neustadt que a Constituição cria um sistema de poderes “compartilhados”. Como Neustadt, ele também vê a presidência destacando-se entre os ramos do governo devido à unidade, energia e visibilidade do ramo executivo. Mas aqui termina a concordância entre ambos. A presidência é concebida por Skowronek como uma instituição de governo hostil a arranjos governamentais herdados. Herança e repúdio são conceitos chaves para sua teoria de liderança presidencial. Para Skowronek, liderança presidencial nada mais é do que “um esforço para solucionar as conseqüências rompentes da ação executiva na reprodução de ordem política legítima” (SKOWRONEK, 1993:19). Assim, a presidência, para ele, caracteriza-se pela tentativa recorrente de romper com a ordem institucional, com os ocupantes anteriores do cargo, na busca para se moldar o exercício do poder segundo uma visão individual do que a presidência deve legar. O poder de desfazer, afirmar e criar ordem no sistema depende, segundo ele, da autoridade de repudiar a ordem institucional anterior e, por essa razão, a presidência torna-se mais eficaz como um instrumento de negação. Nas palavras de Skowronek: 16 Cadernos ASLEGIS | 50 • Setembro/Dezembro • 2014 “A presidência funciona melhor quando seu exercício é direcionado para o desalojamento das elites estabelecidas, destruindo os arranjos institucionais que lhes dão suporte e desobstruindo o caminho para que novos arranjos sejam viabilizados” (1993:27). Os livros de Neustadt e Skorownek diferem também no formato de seus argumentos e na complexidade de suas respectivas teorias. A de Neustadt toma a forma de um manual para praticantes. Trata-se de um estudo do que os presidentes precisam fazer para ter influência, explorando as razões por que presidentes freqüentemente fracassam em tais empreendimentos. Por vezes, o livro de Neustadt aparenta ser um receituário de como evitar erros. Não por mera coincidência, alguns autores comparam o livro de Neustadt ao Príncipe de Maquiavel. Como Stephen Wirls apontou, Neustadt segue de perto o modelo prescritivo do pensador florentino, empregando a realidade inerente ao poder para educar a opinião pública e a comunidade profissional sobre os fins, os meios e as qualidades pessoais de líderes (WIRLS, 1993: 461). Por trás da uma aparente falta de sistematização, o livro de Neustadt apresenta um marco teórico com o qual pesquisadores podem melhor compreender aquele ramo do governo e as dificuldades que seus ocupantes têm para exercer uma influência sem restrições na formulação de políticas públicas. Em sua essência, a teoria de Neustadt postula que um presidente adquire influência a partir de três fontes básicas. Primeiro, conta com as vantagens de barganha associadas ao status e à autoridade do cargo. Entre outras, são vantagens do presidente a prerrogativa do veto à legislação aprovada pelo Poder Legislativo, a elaboração do orçamento da União e a nomeação para diversos cargos na administração pública. Além disso, o próprio potencial de ação futura de um presidente assegura-lhe vantagens comparativas no cenário político. Como Neustadt afirma, “o que fizer amanhã pode definir a vantagem de hoje” (2008: 67). Contudo, ressalve-se que as vantagens associadas ao cargo de presidente são contrabalançadas pelas vantagens de outros atores políticos. Em segundo lugar, um presidente também conta com a reputação profissional de que desfruta junto ao público atento ao jogo da política. Para Neustadt, as vantagens de barganha de um presidente aumentam ou diminuem de acordo com o que os outros pensam dele. Nas palavras de Neustadt, “a reputação, por si só, não convence, mas pode tornar a persuasão mais fácil, ou mais difícil, ou impossível” (2008: 98). Artigos & Ensaios 17 Por fim, constituem vantagens de barganha o prestígio público que um presidente detém junto ao público não atento. Neustadt operacionaliza sua variável de prestígio público com dados referentes à popularidade presidencial e ao nível de satisfação da população com o desempenho do presidente, mensurado em pesquisas de opinião pública. Considerando-se que os atores no jogo político prestam atenção no status de um presidente perante seu eleitorado, o prestígio público de um presidente torna-se uma importante fonte de influência. Os presidentes que buscam maximizar seu poder empregam um composto desses três tipos de vantagens básicas para melhorar sua influência pessoal e, ao fazê-lo, aumentam a vitalidade e a energia do próprio ramo executivo do governo. Franklin Roosevelt é, na visão de Neustadt, o modelo de presidente que maximizou o poder, e o histórico desempenho de sua presidência é usado como base de comparação para todos os presidentes norte-americanos subseqüentes. Segundo a teoria de Neustadt, o próprio presidente afeta o fluxo de poder derivado das fontes básicas. Suas escolhas do que diz e faz, e de como e quando o diz e faz, constituem seus meios de conservar e explorar as fontes de poder. As mesmas escolhas podem, contudo, transformar-se em meios com os quais ele dissipa seu poder (NEUSTADT, 2008: 215). A partir do alicerce construído por Neustadt, Skowronek produziu uma teoria alternativa. Primeiro, rejeitou a perspectiva “Neustadtiana” de que os presidentes enfrentam desafios semelhantes com poderes semelhantes, mas com diferentes habilidades individuais. Ao contrário, ele propôs que os desafios enfrentados pelos presidentes são moldados pelos contextos políticos que eles herdam de administrações anteriores.( SKOWRONEK, 1993: 28). Além disso, Skowronek identificou três tendências que afetam a política da liderança presidencial. Em primeiro lugar, há uma tendência de ruptura política, caracterizada pelo imperativo institucional que leva os presidentes a tentarem deixar sua marca própria no exercício de seus poderes. Em segundo lugar, há uma tendência recorrente de descobertas, fragmentação e colapso, presentes no exercício da presidência, realçada pelo engajamento de presidentes no repúdio ou na articulação de um regime. Em terceiro lugar, há uma tendência emergente de expansão de recursos e responsabilidades da governança. Quando agem, os presidentes se engajam em vários ordenamentos institucionais simultaneamente. As diferentes tendências constituem precisamente tais ordenamentos institucionais. 18 Cadernos ASLEGIS | 50 • Setembro/Dezembro • 2014 A existência desses ordenamentos levou Skowronek a comparar os presidentes de acordo com princípios de ordenamento, ao invés de usar esquemas de periodização tradicionais. O resultado é uma seqüência de ciclos presidenciais, que acontecem no âmbito do que Skowronek chamou de “tempo político”. O termo é definido pelo autor como “o meio histórico através do qual as estruturas de poder se repetem” (SKOWRONEK, 1993: 30). As tendências recorrentes, ou ciclos que acontecem no contexto do “tempo político”, produzem uma tipologia de autoridade presidencial baseada na postura dos presidentes relativa aos regimes pré-estabelecidos e a sua durabilidade. A política presidencial, portanto, apresentaria quatro tipos: de reconstrução, quando presidentes se opõem a regimes vulneráveis; de prevenção, quando se opõem a regimes fortes; de disjunção, quando estão associados a regimes vulneráveis; e de articulação, quando associados a regimes fortes (SKOWRONEK, 1993: 36-45). Os Presidentes e o Sistema Político nos Estados Unidos da América Tanto Neustadt quanto Skowronek oferecem modelos para explicar as dificuldades, os desafios, os sucessos e os fracassos dos presidentes na busca pela liderança do sistema político. Mas como esses modelos se comportam frente à evidência empírica e como mantêm seu poder explicativo diante da passagem do tempo? A teoria de poder presidencial de Neustadt serviu para revelar as nuanças das presidências dos meados do século XX, mas sua aplicação ficou mais problemática em períodos subseqüentes. As presidências de Lyndon Johnson e de Richard Nixon, por exemplo, simplesmente não se encaixam nos preceitos da teoria “Neustadtiana”. Esses presidentes seguiram todas as prescrições da teoria original e mesmo assim, por diferentes razões, suas presidências fracassaram. O presidente Johnson tinha incomparável experiência na formulação de políticas, desfrutava de grande prestígio junto aos públicos atentos e a grande margem de votos que recebeu em sua eleição confirmava seu prestígio junto ao público não atento. Por que, então, ele não obteve êxito como presidente? Para Neustadt, Johnson escolheu não arriscar seu programa legislativo com uma guerra, mas, ao mesmo tempo, optou pela guerra, encenando, assim, uma política de dissimulação. Na realidade, ele fez uma aposta. Conhecedor profundo das forças armadas norte-americanas, Johnson considerou aquela uma boa aposta. Entretanto, tratava-se de uma aposta na psicologia vietnamita sobre a qual ele nada Artigos & Ensaios 19 conhecia. Acabou hipotecando seu prestígio ao regime do Vietnam e sofreu as conseqüências. Da mesma forma, as explicações de Neustadt para o quebra-cabeça representado pela presidência de Richard Nixon e para o desvio daquele caso com relação a sua teoria concentram-se nos julgamentos supostamente equivocados feitos pelo presidente. Segundo Neustadt, Nixon era inábil com relação a um aspecto chave do poder, isto é, saber em quem confiar. Do início ao fim do caso Watergate, Nixon escolheu alternativas de ação que se mostraram inviáveis. Os dois casos demonstram que, para Neustadt, as habilidades individuais dos presidentes constituíam a variável determinante de sucesso ou fracasso de uma presidência. Reagan, por sua vez, é uma aberração para o modelo teórico de Neustadt. Segundo tal modelo, todas as características daquela presidência levariam -na ao fracasso. Contudo, não somente Reagan conseguiu um segundo mandato presidencial, como também deixou o cargo como um dos mais populares presidentes de história norte-americana até então. Como explicou Neustadt o sucesso de Reagan? Televisão e compromisso político foram suas respostas. Para o autor, Reagan protagonizou a primeira presidência midiática dos Estados Unidos (NEUSTADT, 2008:363). Tínhamos aqui um presidente com extraordinária experiência nos meios de comunicação de massa, experiência adquirida em carreiras prévias como ator e como porta-voz na televisão. Por sua vez, a agenda presidencial de Reagan havia sido colocada nas mãos de assessores de comunicação, responsáveis pelas relações do governo com a mídia. Ou seja, a comunicação tinha precedência sobre quaisquer outras considerações durante a Administração Reagan. Além disso, suas realizações enquanto presidente ligavam-se a compromissos anteriores que trouxe consigo para a presidência. Enquanto outros presidentes incorporavam compromissos no transcorrer de suas administrações, experimentando o impacto de eventos correntes nas suas intenções iniciais, Reagan assumiu o cargo com compromissos inalteráveis. Para Neustadt, os compromissos de Reagan não “eram extraídos a partir de eventos, mas sim de convicções anteriores” (NEUSTADT, 2008: 373). A reação de Neustadt ao fato de seu modelo teórico não explicar satisfatoriamente o desempenho de tais presidentes foi, basicamente, alterar as premissas de sua teoria original, incorporando a ela novos desenvolvimentos do sistema político. Em sua primeira reavaliação adicionou seis novos fatores que poderiam afetar a busca pelo poder presidencial no final 20 Cadernos ASLEGIS | 50 • Setembro/Dezembro • 2014 do século XX, destacando-se, entre eles, a legitimidade, as mudanças no ambiente político e a institucionalização da presidência. O caso do Presidente Richard Nixon forçou Neustadt a considerar a credibilidade como uma importante variável para reavaliar a presidência de Harry Truman e explicar o fracasso da presidência de Ford após o perdão concedido a Nixon pelo episódio do Watergate. Para Neustadt, entretanto, as alterações no modelo não implicavam uma rejeição dos seus preceitos básicos. Segundo ele, o presidente ainda teria que compartilhar a autoridade com outros atores do sistema político, pois não estava livre para governar por simples comando. A persuasão, a despeito de qualquer mudança no ambiente político, continuaria a ser, para ele, a marca do poder presidencial (NEUSTADT, 2008: 372). E quanto à teoria de Skowronek? Encontra respaldo na evidência empírica? Os casos que ele emprega para ilustrar a teoria encaixam-se em seu esquema teórico. Mais importante é que sua análise das presidências que comprometeram o modelo de Neustadt apresenta-se mais adequada e refinada. Skowronek retrata Johnson como um inovador ortodoxo, preso na teia da política presidencial de articulação. Democrata histórico que fez sua carreira política no legislativo, Johnson assumiu a presidência com a promessa de continuar o trabalho de John Kennedy e o legado do New Deal do Presidente Roosevelt. Por essa razão, não podia renegar o regime que permitiu sua ascensão à presidência. Entretanto, como previa a teoria de Skowronek, o sucesso da presidência de Johnson dependia de um desempenho que implicasse a destruição da ordem estabelecida. A estratégia de Johnson foi montar um conjunto de iniciativas de natureza reconstrutiva dentro de um programa geral voltado a manter intactas as formulas antigas do partido e a reafirmar a continuidade (SKOWRONEK, 1993: 331). Essa estratégia o deixou vulnerável em todas as frentes e terminou levando o Partido Democrata a entrar em crise. Enquanto alguns democratas criticavam as iniciativas domésticas de Johnson, como o projeto da Grande Sociedade, outros dirigiam suas críticas a sua política externa, em especial ao esforço de guerra. Skowronek considerou que a presidência de Johnson tornou-se vulnerável porque sua autoridade política ficou comprometida pelo grande número de compromissos assumidos. A decisão de Johnson de não concorrer à reeleição sinalizou sua completa inabilidade de liderar a coalizão dos Democratas. A explicação que Skowronek deu para a renúncia de Johnson serve para todos os presidentes que se enquadram na categoria de inovadores ortodoxos: a abdicação prematura é a forma de reconciliar Artigos & Ensaios 21 os efeitos destrutivos do legado presidencial com as salvaguardas de afirmação da ordem permanecente (SKOWRONEK, 1993:43). Outro exemplo da aplicação do modelo de Skowronek foi sua análise da presidência de Jimmy Carter como sendo a de um presidente liderando um regime vulnerável no contexto da política de disjunção. Carter chegou à presidência como um estranho à ortodoxia do partido, que concorrera ao cargo como candidato desligado do decadente regime do New Deal. Como a maioria de líderes confrontados com presidências de disjunção, a estratégia de Carter foi apelar para a técnica como meio de implementar sua rejeição ao regime e, assim, assegurar um lugar na história. Para ele, o problema não era o governo, mas sim a burocracia e sua solução era a reforma administrativa. Desde o início, Carter encontrou dificuldades para estabelecer sua credibilidade junto ao público, de uma forma geral. Sua luta contra os projetos distributivos do Congresso colocou até membros de seu partido contra seu governo. No fim, o escândalo com seu tesoureiro de campanha e a crise dos reféns no Irã demonstraram que seu governo era tão indisciplinado quanto os que ele tanto criticara durante sua campanha para a presidência. O Partido Democrata entrou em sua maior crise ao se revoltar contra Carter e suas iniciativas. As ações de Carter basicamente pavimentaram o caminho para o aparecimento de um grande repudiador, Ronald Reagan, e para o começo de uma nova era reconstrutiva, sob os auspícios do Partido Republicano. Assim como nos casos de Johnson e Carter, a análise que Skowronek faz da presidência de Ronald Reagan mostrou-se mais reveladora do que a análise feita por Neustadt. Para Skowronek, Reagan era um presidente reconstrutor e um perfeito repudiador do regime anterior. Com o slogan “o governo não é a solução para nossos problemas; o governo é o problema”, Reagan começou o assalto às fórmulas antigas. O sucesso do empreendimento foi tão grande que seu legado incluiu a equiparação do conceito de liberalismo à ilegitimidade, consolidando a crise de identidade do Partido Democrata. O problema com a reconstrução efetivada pelo Presidente Reagan, segundo Skowronek, foi não ter sido completa. Reagan não pôde terminar sua tarefa de reconstrução porque os compromissos institucionais do regime liberal, embora enfraquecidos, “não foram decididamente deslocados, de forma que os direitos e obrigações criadas pelo regime continuariam a determinar o âmbito das possibilidades políticas (SKOWRONEK, 1993:428).” Para Skowronek, o que ele chamou de “definhamento de impactos temporais” e de “engrossamento do universo institucional” têm tornado mais difícil para os presidentes reconstrutores fixarem sua liderança no sistema político (SKOWRONEK, 1993:445). 22 Cadernos ASLEGIS | 50 • Setembro/Dezembro • 2014 Neste ponto reside a maior limitação da teoria de Skowronek. A introdução de alternativas como “impactos temporais” e “engrossamento do universo institucional” lembra as modificações feitas por Neustadt à sua teoria original com o decorrer do tempo. Pode até mesmo ser uma forma engenhosa para não se alterar um arcabouço teórico. Pode também ampliar a abrangência da teoria. Entretanto, tal introdução altera a teoria original, deixando-a irreconhecível. Além disso, dificulta qualquer tentativa de refutação. É como se Skowronek estivesse nos dizendo que sua teoria funcionou para todos os presidentes dos Estados Unidos até o regime liberal do New Deal e, a partir daí, ficou difícil para os presidentes reconstrutores destruírem completamente os regimes anteriores. Podem apenas destruí-los em parte. Considerações Finais O esquema teórico de Skowronek não deve ser entendido como uma rejeição da teoria de Neustadt. De fato, muito do sucesso da teoria de liderança presidencial de Skowronek deve-se ao pioneirismo de Neustadt. Sem o último, não haveria o primeiro. A agenda de pesquisa gerada pelo paradigma “Neustadtiano” produziu as condições e o clima intelectual para se desbravar novas fronteiras teóricas no estudo da presidência. A teoria de Skowronek tem suas raízes nas idéias de Neustadt. O livro de Neustadt tem, assim, importância não apenas histórica. Trata-se de ponto de partida para qualquer tentativa séria de conhecer as complexidades da instituição da presidência estadunidense. Como bem colocou Cronin, a teoria de Neustadt “rompeu com a ênfase tradicional em traços individuais de liderança, com a descrição de tarefas funcionais e com a tendência dominante de então de se estudar a presidência somente do ponto de vista legal ou constitucional (1979:381-382)”. Ao invés disso, Neustadt concentrou-se no uso do comportamento organizacional e administrativo de presidentes como marco para o estudo do que um presidente deve fazer para ter influência no sistema político e para explicar como e porque os presidentes perdem tal influência com freqüência. A teoria de Skowronek, por sua vez, diverge da teoria original de Neustadt em premissas básicas. Primeiro, Skowronek não enxerga diferenças entre a política de liderança de presidentes modernos e a de presidentes do passado, fenômeno não explorado por Neustadt que se concentra na história recente. Segundo, para Neustadt, os presidentes não mudam o sistema político. Na teoria de Neustadt, o sistema apresenta-se indiferente ao exercício do poder presidencial, premissa não aceita por Skowronek. Mas tais diferenças não constituem uma rejeição integral da teoria de Neustadt. Trata-se de uma rejeição parcial que não implica a substituição Artigos & Ensaios 23 da teoria de Neustadt como paradigma. Kuhn ficaria surpreso se soubesse que, ao invés da substituição de um paradigma por outro, o que se tem observado no estudo da presidência é uma profusão de teorias. Algumas vezes essas teorias se complementam, outras vezes divergem, mas nenhuma delas tem assumido a primazia paradigmática ainda ocupada pela teoria de Neustadt. Referências CRONIN, Thomas E. Presidential power revised and reappraised. In: Western Political Quarterly, v. 32, n. 4, pp. 381-395, 1979. HOWELL, William. Power without persuasion. Princeton: Princeton University Press, 2003. KERNELL, Samuel. Going public: new strategies of presidential leadership. Washington, D.C.: CQ Press, 1993. KUHN, Thomas S. The structure of scientific revolutions. Chicago: University of Chicago Press, 1962. LOWI, Theodore. The personal president: power invested, promise unfulfilled. Ithaca: Cornell University Press, 1985. NEUSTADT, Richard E. Poder presidencial e os modernos presidentes: a política de liderança de Roosevelt a Reagan. Brasília, São Paulo: ENAP, Unesp, 2008. RODRIGUES, Ricardo José Pereira. The preeminence of politics: executive orders from Eisenhower to Clinton. New York: LFB Scholarly Publishing, 2007. SKOWRONEK, Stephen. The politics presidents make: leadership from John Adams to George Bush. Cambridge: Belknap Press, Harvard University Press, 1993. TULIS, Jeffrey K. The rhetorical presidency. Princeton: Princeton University Press. 1988. WIRLS, Stephen. Machiavelli and Neustadt on virtue and the civil prince. In: Presidential studies quarterly, v. 24, n. 3, pp. 461-478, 1993. 24 Cadernos ASLEGIS | 50 • Setembro/Dezembro • 2014 Claudionor Rocha* Consultor Legislativo da Área de Segurança Pública e Defesa Nacional Márcio Nuno Rabat Consultores Legislativos da Câmara dos Deputados Surgimento e evolução do sistema eleitoral proporcional atualmente em vigor no Brasil A primeira versão deste texto foi escrita com a finalidade de subsidiar as discussões do Grupo de Trabalho destinado a estudar e elaborar propostas referentes à reforma política e à consulta popular sobre o tema, criado por Ato da Presidência da Câmara dos Deputados de 9 de julho de 2013. 25 Resumo O artigo transmite informações sobre a criação e a evolução do sistema eleitoral em vigor no Brasil e ressalta algumas das características que o tornam resistente a mudanças. Palavras-chave Abstract Keywords Eleições; sistema proporcional. The text provides information on the origins and the evolution of the electoral system currently adopted in Brazil and points out some of the features that turn it resistant to changes Elections, proportional representation system 26 Introdução. As discussões sobre a reforma do sistema eleitoral brasileiro não podem prescindir da reflexão rigorosa a respeito do modelo proporcional atualmente em vigor. Este texto busca contribuir para essa reflexão com informações sobre sua criação em meados do século XX e sobre seu funcionamento desde então. Os anos que vão de 1930 a 1945 testemunharam a principal ruptura nos procedimentos de eleição de parlamentares da história do Brasil. Até 1930, as eleições eram guiadas pelo princípio majoritário e tinham os candidatos individuais como os agentes formalmente mais relevantes do processo eleitoral, enquanto, a partir de 1945, elas passaram a ser guiadas pelo princípio proporcional, tendo por principais agentes formais os partidos políticos1. Antes de passar a descrever os passos com que se chegou de uma situação à outra, vale a pena indicar contra que experiência anterior o sistema proporcional se alçou e apontar seu embrião em debates iniciados ainda no parlamento imperial. Antecedentes. Entre a eleição de nossa primeira assembléia constituinte, em 1823, e a ruptura institucional de 1930, as eleições dos deputados brasileiros foram sempre guiadas pelo princípio majoritário. As maneiras de concretizá-lo, no entanto, foram muitas. Houve períodos em que as circunscrições eram as províncias ou estados e períodos em que as províncias ou estados foram divididas em circunscrições de menor extensão. Houve períodos em que vários parlamentares eram eleitos na mesma circunscrição e períodos em que cada circunscrição elegia apenas um representante. Mas sempre o sistema se articulava ao redor do princípio majoritário, como, aliás, acontecia em toda parte do mundo ocidental, quase até o final do século XIX. A configuração formal do sistema eleitoral, favorável às maiorias, contribuiu para o fenômeno das “câmaras unânimes”, característico de boa parte de nossa história parlamentar, embora ele deva ser atribuído também, e muito, ao controle exercido pelo grupo político que chefiasse o governo central sobre a magistratura e os chefes de polícia, com seus delegados e subdelegados, e sobre outros instrumentos usados para assegurar vitórias eleitorais acachapantes. No segundo reinado, após a concentração 1 O caráter formal da mudança é realçado para lembrar que, na prática, a experiência política é mais rica que o desenho legal. Sendo assim, nem os agrupamentos políticos eram pouco relevantes nos processos eleitorais realizados sob o sistema legal majoritário, mesmo no tempo em que a lei não fazia qualquer referência a partidos políticos, nem os indivíduos deixaram de ocupar papel de destaque nos processos eleitorais realizados, posteriormente, sob o sistema legal proporcional. Artigos & Ensaios 27 de poderes ocorrida no início da década de 1840, o partido governante, em mais da metade das eleições para a Câmara dos Deputados, obteve, no mínimo, oitenta por cento das cadeiras, chegando, em alguns casos, a cem por cento. Na primeira república, após a consolidação da política dos governadores, a situação não foi substancialmente distinta. Era natural, portanto, que os políticos preocupados com a formação de um regime representativo minimamente consistente se voltassem, tanto sob a monarquia como na primeira república, para a construção de fórmulas eleitorais que assegurassem a presença das minorias nas câmaras. Sirva de exemplo a Lei nº 1.269, de 15 de novembro de 1904, a chamada “Lei Rosa e Silva”, que estabeleceu os traços básicos do sistema eleitoral em vigor desde sua promulgação até 1930: eleição em circunscrições plurinominais (cerca de cinco representantes eleitos por circunscrição), com os eleitores podendo votar em tantos nomes quantos fossem os lugares a preencher, menos um (para que os eleitores da maioria não pudessem ocupar com seus candidatos todas as vagas disponíveis), e com cada eleitor podendo dar mais de um voto ao mesmo candidato (para que os eleitores da minoria pudessem concentrar seus votos em poucos candidatos, garantindo a eleição de algum ou alguns deles). Artifícios como esses, aliás, raramente produziram os efeitos desejados. Já na década de 1860, o romancista e político José de Alencar começou a defender a adoção da representação proporcional, cujos traços mal começavam a ser desenhados no cenário internacional, como melhor solução para as deficiências do regime representativo brasileiro, desde, é claro, que o novo sistema viesse acompanhado de medidas para a apuração fidedigna dos votos. Em artigos e livros de extraordinária qualidade técnica (e, naturalmente, muito bem redigidos), José de Alencar explicou e defendeu os princípios básicos do sistema eleitoral proporcional2. Nas primeiras décadas republicanas, o título de maior defensor do sistema eleitoral proporcional passou para as mãos de Joaquim Francisco de Assis Brasil. Em livros também de grande qualidade, o político gaúcho não apenas defendeu a representação, nas câmaras legislativas, de todos os setores socialmente relevantes, como trabalhou incessantemente na elaboração de modelos eleitorais que assegurassem que essa representação tivesse lugar na proporção dos votos obtidos por cada fração política. Esses 2 José de Alencar, Systema Representativo (edição fac-similar), Brasília: Senado Federal, 1996. Na introdução, Walter Costa Porto informa que Borges de Medeiros, presidente do Rio Grande do Sul, que patrocinou a adoção do sistema proporcional, em 1913, no estado, declarou: “Na elaboração do projeto, ... , as minhas lucubrações só puderam haurir na ocasião ensinamentos luminosos em José de Alencar, cuja obra, sempre nova, a traça do tempo não consegue poluir”. 28 Cadernos ASLEGIS | 50 • Setembro/Dezembro • 2014 esforços culminaram na redação do Código Eleitoral de 1932, com que se iniciou a implantação do sistema eleitoral proporcional em nosso país. A transição: 1930 a 1945. O movimento insurrecional que levou à extinção da República Velha, em outubro de 1930, trazia a proposta de implantação de um regime efetivamente representativo entre suas principais bandeiras de agitação e mobilização. Tanto é assim que, já em dezembro de 1930, o governo provisório, chefiado por Getúlio Vargas, criou uma “subcomissão legislativa”, composta pelo próprio Assis Brasil, por João Crisostomo da Rocha Cabral e por Mário Pinto Serva para “propor a reforma da lei e do processo eleitorais”3. Os membros da subcomissão estipularam alguns princípios que dirigiriam seus trabalhos, entre os quais cabe destacar dois, de amplas consequências: “a representação dos órgãos coletivos de natureza política é automática e integralmente, ou tanto quanto possível, proporcional”; e “toda matéria de qualificação de eleitores, instrução e decisão de contendas eleitorais será sujeita à jurisdição de juízes e tribunais especiais, com as garantias inerentes ao Poder Judiciário”. O resultado dos trabalhos da subcomissão, a que se juntou a contribuição de uma comissão revisora, foi o Decreto nº 21.076, de 24 de fevereiro de 1932, ou Código Eleitoral. No que diz respeito à implantação do sistema proporcional, foi adotada, com poucas inovações, a proposta presente em livros de Assis Brasil, chamada de “processo de dois turnos simultâneos”, o que, para quem está acostumado com a terminologia atual, mais atrapalha do que ajuda a compreensão do sistema. Aparentemente, os dois turnos são considerados simultâneos porque o registro de candidatos em listas permite uma distribuição proporcional de parte dos lugares, com recurso ao cálculo do quociente eleitoral e do quociente partidário, enquanto o voto em indivíduos, inclusive em candidatos avulsos, permite a distribuição dos lugares sobrantes pelo critério (majoritário) das maiores votações individuais. Cada uma das distribuições corresponderia a um turno. O próprio Rocha Cabral informava, em 1934, que “ainda se discute um meio de modificar-se um pouco o magnífico sistema, sem prejudicar-lhe a pureza, muito facilitando a apuração dos pleitos” (p. 104). Dois pontos merecem ser destacados para que fique claro que se tratava efetivamente da introdução do sistema proporcional nas eleições 3 J. C. da Rocha Cabral, Código Eleitoral da República dos Estados Unidos do Brasil, Rio de Janeiro: Livraria Editora Freitas Bastos, 1934. Esse livro é provavelmente a principal fonte de informações sobre o processo de elaboração do Código. Artigos & Ensaios 29 brasileiras, ainda que não em estado puro4. O primeiro ponto é que a legislação passou a referir-se explicitamente aos partidos políticos como agentes do processo eleitoral (ver, em particular, arts. 99 a 102 do Código de 1932). Cabia aos partidos e alianças de partidos (coligações) registrar as listas de seus candidatos na Justiça Eleitoral5. Não era, no entanto, uma prerrogativa exclusiva, pois listas podiam ser registradas por grupos de cem eleitores e candidatos avulsos eram admitidos. O segundo ponto é a introdução do quociente eleitoral e do quociente partidário na legislação, definidos basicamente da mesma maneira que o são hoje. Com isso, ficou estabelecido quantos votos uma lista de candidaturas deve receber para ocupar um lugar na casa legislativa, consagrando o mecanismo fundamental para a garantia da proporcionalidade entre votos e lugares. Além das eleições para a assembleia constituinte, realizadas em maio de 1933, as eleições de outubro de 1934, para a Câmara dos Deputados e para as assembléias constituintes estaduais, foram feitas de acordo com o Código Eleitoral de 1932. A nova fórmula eleitoral combinou-se com o aumento significativo do controle da fidedignidade do voto para garantir a realização de eleições inusitadamente corretas do ponto de vista formal e para a eleição de candidatos representantes de várias correntes de opinião. Ademais, o aumento do número de votantes entre o primeiro e o segundo pleito indica que pode ter começado ali o processo de ampliação contínua do numero dos eleitores no Brasil (em termos absolutos e como proporção da população)6, processo em curso ao longo de todo o resto do século XX. A aplicação do sistema eleitoral proporcional ficou, no entanto, suspensa, junto com as eleições, desde a implantação da ditadura do Estado Novo, em 1937, até sua queda, em 1945, quando foi eleito o parlamento a que a Lei Constitucional nº 13, de 12 de novembro, concedeu poderes constituintes. O sistema proporcional voltou então à tona, no formato 4 Além desses dois pontos, existe, é claro, o argumento literal: o capítulo do Código de 1932 que detalhou as regras de distribuição de lugares nas casas legislativas se denominava justamente “da representação proporcional” (art. 58). 5 O Regimento Interno da Câmara dos Deputados, de 1934, contém, por sua vez, o embrião do que seria, no futuro, o reconhecimento formal da importância dos partidos políticos no encaminhamento dos trabalhos dentro da Casa, rompendo com toda a tradição anterior. Seu art. 34 determinava que as comissões permanentes, as de inquérito e as especiais fossem constituídas “proporcionalmente às correntes de opinião representadas na Câmara”. Embora somente a partir de 1945 se viesse a consolidar a centralidade dos partidos nas normas regimentais, a norma de 1934 reconhecia o direito de que as distintas correntes de opinião se fizessem representar simultaneamente dentro da Câmara dos Deputados e implicitamente supunha que aquelas distintas correntes estivessem, em alguma medida, formalmente organizadas fora e dentro da Casa, de maneira a possibilitar a avaliação minimamente objetiva da composição proporcional das comissões. Começava a surgir uma esfera política organizada ao redor dos partidos políticos tal como os entendemos hoje 6 Jairo Nicolau, Eleições no Brasil, Rio de Janeiro: Zahar, 2012: “houve um incremento significativo (85%) no número total de eleitores, que chegou a 2,66 milhões (7% da população total)” (p. 80). 30 Cadernos ASLEGIS | 50 • Setembro/Dezembro • 2014 que logo se consolidaria e que ainda perdura, mesmo tendo sofrido percalços ao longo do caminho. A consolidação: 1945 a 1950. As eleições parlamentares de 2 de dezembro de 1945 foram realizadas sob as regras do Decreto Lei nº 7.586, de 28 de maio de 1945, editado ainda sob a presidência de Getúlio Vargas. A nova legislação se situava no âmbito de influência da que tinha sido criada em 1932, mas levava até o fim algumas das idéias que naquela apareciam apenas embrionariamente, ao mesmo tempo em que tornava mais clara a redação de muitos dispositivos, inclusive daqueles referentes à representação proporcional. No que toca ao sistema eleitoral, talvez o elemento mais importante do Decreto Lei se encontrasse na centralidade ainda maior adquirida pelos partidos políticos. Assim, apenas partidos e alianças de partidos poderiam apresentar candidatos nas eleições realizadas no país. Desapareceram, pois, as candidaturas avulsas e as listas apresentadas por grupos de eleitores. Os partidos, ademais, não poderiam ser de caráter local, mas apenas agremiações de âmbito nacional. Por fim, embora se mantivesse a possibilidade de votação em candidaturas individuais, todos os votos se tornaram inequivocamente votos em partidos, pois sua primeira função seria agora a de compor a votação do partido para efeitos de definição dos lugares que lhe caberiam entre os disputados na circunscrição. Somente em um segundo momento o voto individual teria relevância, para a determinação de que candidatos apresentados pelo partido ocupariam as vagas, previamente definidas, reservadas à agremiação. A centralidade adquirida pelos partidos políticos constituiu um momento importante no processo de consolidação da representação proporcional. Ela se legitima, afinal, por assegurar a proporcionalidade entre os votos obtidos por partidos e coligações de partidos e os lugares que eles ocupam nas casas legislativas. No entanto, ainda não foi em 1945 que o princípio proporcional se aplicou integralmente. Ele ficou em falta exatamente no mesmo ponto em que claudicava na legislação de 1932, o da distribuição dos lugares não preenchidos com a aplicação dos quocientes partidários (ou distribuição das sobras ou restos). É certo que, em 1945, se deu maior peso aos partidos, pois a regra mandou que o mais votado deles ficasse com a totalidade dos lugares sobrantes após a aplicação dos quocientes partidários, enquanto pela regra de 1932 os lugares sobrantes seriam distribuídos em função das votações individualmente obtidas pelos candidatos. Mesmo assim, contudo, não havia qualquer preocupação com Artigos & Ensaios 31 a proporcionalidade. Ao contrário, valia o princípio intrinsecamente majoritário de que “o [partido] vencedor leva tudo“ (no caso, todas as sobras). O Código Eleitoral de 1950 (Lei nº 1.164, de 24 de julho) veio suprir essa deficiência, estabelecendo um critério proporcional também para a distribuição das sobras. Adotou-se o método das maiores médias: os partidos disputam cada lugar sobrante mostrando quantos votos teriam, em média, por cadeira ocupada, caso viessem a ocupar mais uma além das que já possuem. Aquele que apresentar a maior média de votos fica com o lugar. Trata-se, certamente, de um cálculo de proporcionalidade, entre outros possíveis. Com ele, o sistema se tornou quase totalmente proporcional, subsistindo, como resquício de desproporcionalidade, a regra, até hoje vigente, de que os partidos ou coligações de partidos que não alcancem o quociente eleitoral não participam sequer da distribuição das sobras7. Do ponto de vista das regras da distribuição dos lugares nas casas legislativas, a legislação consolidada em 1950 é, fundamentalmente, aquela que subsiste até hoje8. As circunstâncias em que ela vem sendo aplicada mudaram, no entanto, constantemente, às vezes de maneira profunda. De 1945 a 2013: três sistemas partidários distintos. As alterações mais profundas das circunstâncias em que o sistema eleitoral proporcional tem vigorado entre nós não resultaram de evolução interna “espontânea” da esfera político-eleitoral, mas de intervenções externas, autoritárias. Assim, o sistema partidário em desenvolvimento de 1945 a 1964 foi extinto em 1965 e substituído por um sistema bipartidário imposto, que, por sua vez, foi extinto em 1979, dando início à articulação de um novo sistema pluripartidário. Essa descontinuidade, péssima para o desenvolvimento do sistema eleitoral, nos permite perceber com toda clareza, pela comparação entre os três sucessivos sistemas partidários, como os efeitos das regras eleitorais não dependem apenas 7 É esse resquício que explica a existência de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF, em análise no Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de impedir o funcionamento do quociente eleitoral como barreira. Ver: http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico. jsf?seqobjetoincidente=2659082. 8 Rigorosamente, desde 1950, houve pelo menos uma mudança nas regras de distribuição proporcional dos lugares nas casas legislativas. É que, para o cálculo do quociente eleitoral (divisão do número total de votos válidos dados na circunscrição pelo número de lugares a preencher), os votos em branco eram incluídos naquele número total de votos válidos até a promulgação da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997 (Lei das Eleições). A mudança não foi de todo irrelevante, justamente porque o quociente eleitoral funciona como uma cláusula de barreira dentro da circunscrição. Como a exclusão dos votos em branco diminui o quociente eleitoral, ela aumenta as chances de os partidos menos votados participarem da distribuição de cadeiras. 32 Cadernos ASLEGIS | 50 • Setembro/Dezembro • 2014 delas mesmas, mas resultam, em boa medida, de influências que vêm da realidade circundante. O sistema eleitoral que funcionou entre 1966 e 1979 dificilmente pode ser comparado com aqueles que o antecederam e sucederam. A imposição do bipartidarismo mudava-lhe de tal maneira a feição, que ele mal se mantinha como um sistema proporcional, aproximando-se, em algumas de suas características centrais, dos sistemas majoritários. A diversidade social e política do país não se podia refletir em distintos partidos, presentes nas casas legislativas na proporção das votações que fossem capazes de obter do eleitorado. Só havia lugar, por definição, para dois, do que resultava, ademais, que o partido que ganhasse as eleições teria, necessariamente, maioria absoluta na circunscrição e, em última instância, na própria Câmara dos Deputados. Era um sistema que só podia produzir maiorias inequívocas. Já a comparação entre as duas experiências de pluripartidarismo realizadas desde 1945 (1945-1964 e 1980-2014) é mais produtiva, pois, embora as circunstâncias sejam por certo distintas, não há um fator externo, claramente preponderante, a impedir o funcionamento “normal” do sistema, como no período entre uma e outra. Resulta, por isso, ainda mais interessante que regras eleitorais praticamente idênticas tenham produzido sistemas partidários aparentemente tão diversos. O fenômeno abre campo extenso para pesquisa e reflexão. Vale a pena, mesmo assim, chamar a atenção, de imediato, para pelo menos um ponto. Ao longo do período que vai de 1945 a 1964, os mesmos três maiores partidos ocuparam, sempre, em conjunto, pelo menos oitenta por cento das vagas na Câmara dos Deputados. Já no período que vem desde as eleições de 1982, o quadro partidário tem sido marcado por intensa fragmentação e por mudanças significativas nas posições relativas dos maiores partidos, que, aliás, nem sempre são os mesmos. Duas configurações partidárias bastante diferentes, para regras eleitorais bastante similares. Considerações finais. A reforma do atual sistema eleitoral, como qualquer reforma abrangente de um regime de representação política, seja no Brasil ou em outro país, enfrenta obstáculos relevantes, que não estão sob foco neste texto. Há um obstáculo, no entanto, que, por resultar da própria estrutura do sistema vigente, merece referência aqui. Trata-se do fato de que nosso sistema eleitoral, até por combinar representação proporcional com voto em indivíduos, apresenta grande maleabilidade e, conseqüentemente, forte capacidade de resposta a diferentes situações e a diferentes demandas dos eleitores, dos partidos, dos candidatos ou do próprio momento histórico. Artigos & Ensaios 33 Foi por isso, talvez, que as regras atualmente vigentes puderam conviver, como se viu, com sistemas partidários muito diferentes. A maleabilidade do sistema eleitoral se manifesta, por exemplo, nas distintas estratégias que tanto os partidos como os eleitores podem seguir em suas decisões. Assim, um partido pode apostar na coesão programática e ideológica, apresentando apenas candidatos que estejam plenamente afinados com uma linha política bem definida, enquanto outro partido pode apostar em uma postura mais flexível, que admita candidatos ligados a um leque mais amplo de linhas políticas. O eleitor, por sua vez, tanto pode votar tendo em conta, principalmente, a legenda, ainda que vote em um indivíduo, como pode privilegiar a confiança em um candidato individual e, implicitamente, na escolha que ele fez da lista em que se apresenta aos eleitores. As duas estratégias, aliás, não são necessariamente conflitantes. Assim, os militantes mais afinados com o Partido Comunista e com o Partido Trabalhista, tal como eles surgiam em 1945, desejavam certamente criar legendas fortes, e se esforçaram nesse sentido, mas isso não impediu que as candidaturas de Luís Carlos Prestes e de Getúlio Vargas fossem usadas como pontos de referência para que o eleitorado pudesse identificar com mais facilidade a linha política das novas legendas. Mais recentemente, as candidaturas de Luiz Inácio Lula da Silva, em 1986, e do Dr. Enéas Carneiro, em 2002, fizeram parte da tática de implantação do PT e do PRONA. O êxito dos partidos dependeria, por certo, da existência de base social e de militância a sustentá-los, mas isso não invalida que a tática possa ter sido útil para os eleitores se localizarem politicamente. Da mesma maneira, o voto de legenda pode ser privilegiado por uma agremiação que, tendo apelo eleitoral em um determinado momento, não dispõe, ainda, de suficientes nomes conhecidos para neles basear, prioritariamente, sua campanha nas eleições proporcionais. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o Partido Verde e sua candidata à presidência de República, Marina Silva, em 2010. Assim, também, em 1990, mais de quarenta por cento dos votos do PT foram dados à legenda. No caso do PRONA, esse percentual chegou, em 1994, a oitenta por cento9. A combinação de um sistema proporcional de listas com a possibilidade de votação em indivíduos permite, ainda, que as demandas normalmente respondidas pela prevalência do princípio proporcional e as demandas respondidas pela prevalência do princípio majoritário sejam simultaneamente atendidas, mesmo que parcialmente, pelo sistema vi9 Dado retirado de David Samuels, “Determinantes do Voto Partidário em Sistemas Eleitorais Centrados no Candidato: Evidências sobre o Brasil”, Dados, vol. 40, nº 3, Rio de Janeiro, 1997. 34 Cadernos ASLEGIS | 50 • Setembro/Dezembro • 2014 gente no Brasil. Assim, tal como acontece com os sistemas proporcionais em geral, os eleitores simpáticos a programas e legendas ainda minoritários na sociedade freqüentemente verão os partidos de sua opção representados nas casas legislativas. Ao mesmo tempo, uma proporção muito significativa de eleitores, superior talvez à produzida na maior parte das eleições regidas por sistemas majoritários, encontrará na casa legislativa um parlamentar que recebeu individualmente seu voto, pois mais da metade dos votos válidos dados nas eleições proporcionais brasileiras (e, em algumas circunscrições, muito mais da metade) vão para um candidato que será efetivamente eleito. Além disso, a experiência eleitoral brasileira recente mostra que, em sua esmagadora maioria, os deputados federais eleitos foram os candidatos mais votados em sua circunscrição. O tema da maleabilidade do sistema eleitoral proporcional brasileiro admite ainda maior detalhamento, em várias direções. É notável, por exemplo, que alterações em pontos secundários de sua estrutura, como a permissão ou proibição de coligações eleitorais, podem produzir efeitos consideráveis. Mas o objetivo dessas considerações não é esgotar o tema ou, sequer, valorizar, em abstrato, a maleabilidade apontada. Trata-se, apenas, de chamar a atenção para uma das dificuldades de construir maioria, seja no Congresso Nacional, seja fora dele, para ultrapassar o sistema vigente. Como ele responde a demandas muito variadas, algumas, inclusive, que parecem contraditórias, sempre que uma pessoa é colocada frente a um modelo alternativo concreto, tende a valorizar aquelas características do modelo atual que se perderão com sua substituição. Artigos & Ensaios 35 Vander Gontijo Economista. Especialista em Gestão Estratégica do Orçamento Público. PhD com pós-doutorado pela Universidade do Estado da Carolina do Norte. Professor do Curso de Mestrado do CEFOR/CD, Consultor de orçamento da Câmara dos Deputados e Coordenador do GPE: Orçamento impositivo e despesas obrigatórias de caráter continuado - CEFOR/CD. Eugênio Greggianin Advogado. Mestrando pelo CEFOR/CD. Consultor de orçamento da Câmara dos Deputados e membro do GPE: Orçamento impositivo e despesas obrigatórias de caráter continuado - CEFOR/CD. Eber Zoehler Santa Helena Claudionor Rocha* Advogado. Mestre em Direito pelo Centro de Consultor da Ensino Unificado de Brasília –Legislativo CEUB. Consultor de orçamento dade Câmara dos Deputados Área Segurança Pública e membro do GPE: Orçamento impositivo e e Defesa Nacional despesas obrigatórias de caráter continuado CEFOR/CD. Liliane Nogueira Administradora de Empresas. Especialista em Orçamento Público pelo CEFOR/CD. Analista legislativo do DEMAP/CD e membro do GPE: Orçamento impositivo e despesas obrigatórias de caráter continuado - CEFOR/CD. Emendas Parlamentares, Orçamento Impositivo e Gestão Participativa. “Ninguém mora na União, ninguém mora no Estado, todos moram no Município”. André Franco Montoro 37 Resumo Palavras-chave Abstract Keywords 38 A Lei nº 12.919, de 2013 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2014), contém dispositivos sobre a obrigatoriedade de execução de programações constantes da Lei Orçamentária de 2014. Essa determinação abrange apenas as emendas individuais dos parlamentares. Não tem a amplitude pretendida nas propostas de emendas constitucionais iniciais que tratam do orçamento impositivo, nem abrange as prioridades orçamentárias exigidas no § 2º do art. 165 da Constituição Federal. Como as emendas individuais têm sido alvo de diversas críticas e suspeitas por parte da mídia e da sociedade, este estudo aborda a possibilidade de sua convergência, dentro do ciclo orçamentário, com as premissas do orçamento participativo. Espera-se que essa interação possa agregar valor e qualidade ao processo orçamentário da União, apresentar ganhos em efetividade e melhorar a avaliação da sociedade em relação às emendas parlamentares. Com esse propósito, descreve-se a experiência em orçamento participativo do Congresso Nacional e analisa-se o processo orçamentário com ampla participação popular que está sendo exitosamente conduzido pelo Município de Cascais, em Portugal. Execução orçamentária obrigatória; orçamento participativo; emendas individuais; corrupção; instrumento de barganha política. Federal Law 12.919/2013 (Law of Budgetary Directives for 2014) introduced mandatory budget execution for actions brought into the Federal Budget Law through individual parliamentary amendments, leaving aside the priorities required in article 165, paragraph 2, of the Brazilian Constitution. As such amendments are under heavy criticism and suspicion of corruption on the part of the media and society, this study addresses the possibility of establishing convergence between these amendments and the participatory budget cycle. Our main expectation is that such actions could aggregate value and quality to the legislative budgetary process and to the way society evaluates individual parliamentary amendments. For this purpose we describe the Brazilian Congressional experiences in this area, as well as one successful experience with a participatory budgetary process being carried out in Cascais, Portugal. Mandatory budget, participatory budget, parliamentary amendments, corruption, trade off political instrument. 1.Introdução A determinação do Congresso Nacional de tornar compulsória a execução orçamentária apenas das emendas individuais dos parlamentares ignora a abrangência pretendida nas propostas de emendas constitucionais iniciais que tratam do orçamento impositivo. Da mesma forma, menospreza a relevância que um tratamento especial em relação às prioridades orçamentárias exigidas no § 2º do art. 165 da Constituição Federal poderia ter para a sociedade. Essa decisão, além do mais, afasta-se do bom senso estratégico. Embora as emendas individuais sejam totalmente revestidas de legalidade, elas têm sido alvo de diversas críticas e suspeitas por parte da mídia e da sociedade. Este estudo1, com a intenção de agregar valor e qualidade ao processo orçamentário da União, apresentar ganhos em efetividade e melhorar a avaliação da sociedade em relação às emendas parlamentares, aborda a possibilidade de convergir, dentro do ciclo orçamentário, as emendas individuais com as premissas do orçamento participativo. No item 2 resumimos as etapas finais do processo que, sintetizado na Lei nº 12.919, de 2013 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2014 – LDO 2014) e na Proposta de Emenda Constitucional nº 353, de 2013 (PEC nº 353, de 2013), propõe tornar obrigatória a execução da programação incluída na lei orçamentária anual da União por meio de emendas individuais dos parlamentares. Em seguida sintetizamos as críticas existentes sobre as emendas parlamentares, colhidas na mídia e na literatura, em três vertentes: troca de apoio do eleitor, troca por apoio político nas votações do Congresso Nacional e corrupção. No item 3 resgatamos os fundamentos do orçamento participativo, ressaltando sua importância como recurso democrático. Para compreender as dificuldades encontradas, revisitamos algumas experiências no Brasil e as escassas tentativas do Congresso Nacional nessa área. Ressaltamos, ainda, a necessidade de a União criar mecanismos de participação dos Municípios na definição das transferências voluntárias. No item 4 exploramos uma bem sucedida experiência de orçamento participativo que está sendo realizada em Cascais, Portugal, com o propósito de extrair diretrizes para subsidiar uma proposta de integração das emendas parlamentares com o orçamento participativo. 1 Os autores agradecem os comentários e contribuições de dois avaliadores anônimos do corpo editorial da Revista ASLEGIS. Artigos & Ensaios 39 2.Impositividade de execução da programação das emendas individuais 2.1 Impositividade, prioridades e emendas parlamentares. No Brasil, o planejamento e orçamento governamental estão delineados nos termos do art. 165 da Constituição Brasileira de 1988 (CF88) que institui três instrumentos básicos: o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. Esse sistema integrado de planejamento e orçamento, ainda que racional e viável, encontra-se bastante enfraquecido, em razão da elaboração de planos e orçamentos pouco realistas e da concepção de que as programações da lei orçamentária teriam um caráter meramente autorizativo. Essa situação deixa ampla margem de discricionariedade para o órgão de execução definir, dentre as programações aprovadas, quais seriam consideradas prioritárias e de execução obrigatória, colocando-as ao alvedrio das conveniências político-econômicas contemporâneas2. Infelizmente a reação do Congresso Nacional, por meio da LDO 20143 e da PEC 353/2013, é viesada4 e sem significância, pois reserva tratamento prioritário apenas às emendas parlamentares individuais5. A atitude do Congresso Nacional é explicada como uma reação indignada à total liberdade do Poder Executivo na etapa de execução da despesa, principalmente em relação à execução das emendas parlamentares, bem como ao conseqüente uso político dessa falsa prerrogativa. 2.2. Da PEC nº 22, de 2000, à LDO de 2014. A primeira proposta de emenda constitucional tratando do orçamento impositivo foi apresentada pelo Senador Antônio Carlos Magalhães, da Bahia, em 2000 (PEC nº 22, de 2000). Várias outras se seguiram e foram a ela apensadas. Ferreira (2007) faz um exaustivo apanhado dessas PECs. 2 Nesse contexto é que se exalta a importância da definição das prioridades orçamentárias preconizadas no art. 165 da CF88 nas fases de elaboração e apreciação da proposta orçamentária. 3 O texto da LDO 2014 refletiu, em linhas gerais, o conteúdo da PEC Nº 353/2013 que se encontra em apreciação na Câmara dos Deputados. 4 Como contraponto ao controverso mérito das emendas individuais, Nogueira e Gontijo (2013) propuseram que a execução obrigatória deveria ser um tratamento dispensado pelo menos às prioridades mencionadas no § 2º do art. 165 da CF88, pois são elas que estabelecem, segundo Conti (2013), o elo entre a programação contida no Plano Plurianual (PPA) e a da Lei do Orçamento Anual (LOA). Sendo assim, sua execução é fundamental para a sustentação do sistema de planejamento e orçamento descrito na Constituição Federal. 5 Emendas são proposições acessórias com o objetivo de modificar ou aperfeiçoar a principal. A competência para apresentação e as exigências observadas na elaboração estão, em grande parte, disciplinadas em normas regimentais, as quais se subordinam às orientações fixadas na Constituição. 40 Cadernos ASLEGIS | 50 • Setembro/Dezembro • 2014 A PEC nº 22, de 2000, do Senado Federal, foi recebida na Câmara dos Deputados em 2006 e renumerada como PEC nº 565, de 2006. Sete anos mais tarde, patrocinada politicamente pelo Deputado Henrique Eduardo Alves, resolveu-se incluí-la na campanha para a disputa do cargo máximo da Câmara dos Deputados. A intenção, entretanto, não abrangia todo o conjunto das ações do orçamento como a PEC inicial do Senado Federal, mas apenas a parte inserida na lei orçamentária pelas emendas individuais dos parlamentares. De acordo com o parlamentar citado, a proposta visa traduzir a vontade majoritária de deputados e senadores6 que querem desatrelar a execução de suas emendas de um processo de negociação7. Nomeado Relator, o Deputado Édio Lopes, propôs, inicialmente, que seriam consideradas de execução obrigatória apenas aquelas emendas individuais que fossem compatíveis com as prioridades estabelecidas na LDO. Nossa proposta é tornar obrigatória a execução financeira de montante que compreenda programações oriundas de emendas individuais, compatíveis com as prioridades definidas na LDO [...]. (Relatório sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 565, de 2006, do Deputado Édio Lopes, p. 14). Esta orientação foi expressamente incluída no § 10 a ser introduzido no art. 166 da Constituição Federal, nos termos do Substitutivo apresentado pelo referido Relator. In litteris: § 10 É obrigatória a execução financeira da programação prioritária incluída na lei orçamentária por emendas individuais, observado o art. 165, § 2º [...]. No entanto, esse parágrafo não encontrou terreno apropriado no Plenário da Comissão Especial criada para dar parecer à PEC nº 353, de 2013, sendo retirado nas alterações supervenientes do referido Substitutivo. Alterada e votada na Câmara dos Deputados, a PEC nº 565-A, de 2013 volta a sofrer novas alterações no Senado Federal, onde foi recebida como PEC nº 22-A. Assim, não havendo entendimento, a PEC, agora sob o nº 353, de 2013, não conseguiu finalizar sua tramitação ainda no exercício de 2013 de forma que seus termos pudessem vigorar já em 2014. 6 A proposta resgataria a “dignidade dos deputados” e “nunca mais nenhum parlamentar se submeteria à humilhação de mendigar favores do Poder Executivo” (Deputado Henrique Eduardo Alves, Presidente da Câmara dos Deputados). 7 Para uma descrição pormenorizada dos procedimentos utilizados nessa negociação ver Vesely (2012). Artigos & Ensaios 41 A alternativa encontrada foi incluir dispositivos na LDO 2014 (art. 52 da Lei nº 12.919, de 2013) para dar efetividade ao intento de tornar obrigatória a execução das emendas individuais. Aprovada a LDO verificaram-se enormes dificuldades operacionais em relação aos dispositivos nela incluídos8. O Relator da PEC na Câmara dos Deputados para contornar vários problemas decorrentes de posicionamentos divergentes entre as duas Casas Legislativas e agilizar sua votação ainda no mês de abril de 2014, transformou o texto dos senadores em duas propostas. A PEC 358/13 que obriga o governo federal a executar as emendas dos parlamentares até o limite de 1,2% da Receita Corrente Líquida (RCL) e vincula metade delas à saúde e a PEC 359/13, que redefine os percentuais mínimos de receita de União a serem aplicados em saúde. As duas tramitaram em conjunto, mas com acordo feito com o governo de que seriam unidas novamente pela comissão especial. Em 9de abril de 2014 o Deputado Édio Lopes apresentou, na Comissão Especial destinada a proferir parecer à PEC nº 358-A, de 2013, do Senado Federal, Parecer pela aprovação da Proposta de Emenda à Constituição nº 358-A/2013, e da apensada PEC nº 359/2013, na forma de Substitutivo que, novamente, unificou as duas PECs. Em 6 de maio de 2014 a Câmara dos Deputados aprovou em primeiro turno o texto principal da PEC nº 353, de 2013, que obriga o governo a executar as despesas indicadas no orçamento anual por meio de emendas individuais até o limite de 1,2% da receita corrente líquida realizada no ano anterior. O texto ainda encontra-se em pauta do Plenário da Câmara dos Deputados para ser submetido à votação em segundo turno9. Se aprovado será promulgado pelo Congresso Nacional. 2.3 Críticas às emendas individuais Muitos comentários foram dirigidos ao fato de o Congresso Nacional, na versão atual da PEC nº 353/2013, no texto da LDO 2014 e no Parecer Preliminar ao PLN nº 3/2014-CN (Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2015 - PLDO 2015), exigir tratamento especial e privilegiado apenas para as emendas individuais dos parlamentares, desprezando programações prioritárias para a coletividade. Entre essas críticas pontuamos as seguintes: 8 Ver, a propósito, a Nota Técnica Conjunta nº 3, de 2014, e nº 4, de 2014, das Consultorias de Orçamento da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 9 Outubro de 2014. 42 Cadernos ASLEGIS | 50 • Setembro/Dezembro • 2014 • “São emendas que formam o curral eleitoral e constituem uma relação clientelista entre o deputado e os favorecidos.” (Deputado DR. ROSINHA, 2014); • “Governo e Parlamento precisam sair dessa votação reducionista e ouvir o povo. Não basta discutir apenas o cumprimento das emendas individuais, corre-se o risco de reproduzir a tragédia dos comuns. É o momento de pautar uma avaliação mais abrangente e qualificada com a sociedade sobre o orçamento público.” (CIALDINI, 2013). • “Com as campanhas cada vez mais caras e os parlamentares transformados em donos de ‘fatias do orçamento’, a corrupção aumentará na esfera política.” “[...] As (emendas) individuais é que farão de cada parlamentar um donatário de capitanias orçamentárias, como aqueles fidalgos portugueses que ganharam pedaços do Brasil para explorar”. (CRUVINEL, 2013). • “[...] Esta proposta tem o carimbo do paroquialismo”. (Senador ALOYSIO NUNES, 2013). • “Se já é um absurdo a existência da emenda parlamentar, mais absurdo ainda é ela ser impositiva”. (Senador HUMBERTO COSTA. 2013). • “Trata-se de uma porta aberta à corrupção, aos desmandos [...].” (Senador JARBAS VASCONCELOS. 2013). • “Haverá um reconhecimento tácito de que, afora os R$ 6,8 bilhões de emendas, todo o resto não é obrigatório”. (Senador PEDRO TAQUES, 2013). • “A prática das emendas individuais é um foco antigo, recorrente e descabido de corrupção no Congresso.” (PETRY, André. 2014. p. 80). • “Eu até receio que essas emendas, pelo histórico de irregularidades em suas execuções, se tornem um foco ainda maior de desvios”. “O parlamentar (agora) tem um valor de R$ 13 milhões nas mãos. O risco de desvios e de relação promíscua aumenta”. (CASTELLO BRANCO. 2013). Destacamos, ainda, o comentário feito por Weder de Oliveira que, oportunamente, alerta para o risco da apropriação individual do orçamento público. O Congresso está prestes a transformar normativamente o orçamento da União em um instrumento de apropriação inArtigos & Ensaios 43 dividual, o que deve ser um fato inédito em todo o mundo e na história da evolução moderna do orçamento público. (OLIVEIRA, 2014) As emendas parlamentares podem, sem dúvida, ser utilizadas pelos parlamentares para atender um conjunto de ações mantido pelo governo federal junto aos Municípios. Mas, segundo Cambraia (2011), a inexistência de discussão sobre os programas de governo e respectivos objetivos durante a apreciação da proposta de orçamento no Congresso Nacional, bem como a precária previsão de recursos destinados ao seu atendimento, as reduzem a um instrumento de baixa qualidade e eficiência. A literatura, nesse contexto, é farta em críticas a esse instrumento. Em termos gerais, elas podem ser classificadas em três vertentes. Na primeira, as emendas são vistas como instrumento de barganha entre o parlamentar e o eleitorado. Na segunda, a liberação de verbas para viabilizar sua execução é feita para garantir a fidelidade do parlamentar em votações importantes. A terceira as relaciona com graves problemas de corrupção. 2.3.1 Emendas em troca de apoio do eleitor. A vertente que considera as emendas individuais como instrumento utilizado pelo parlamentar para angariar votos assemelha-se à definição da emenda individual tipo pork barrel10 no orçamento dos Estados Unidos11. Segundo Macedo (2011), “na prática, seu objetivo é manter ou ampliar a popularidade dos parlamentares nas suas bases eleitorais.” Carvalho (2003) considera que a obtenção de recursos orçamentários para suas bases é fator significativo da conexão eleitoral do parlamentar com seu eleitorado. A escolha do Município destinatário das emendas parlamentares é uma questão de cunho político. Não existem critérios econômicos ou sociais específicos, nem prioridades gerais definidas ex-ante para orientar a destinação das emendas. Não há mecanismo regimental de coordenação da distribuição dos recursos. Além disso, as emendas são, em geral, aprovadas na lei orçamentária em programações genéricas, o que possibilita o 10 O processo orçamentário americano também admite a possibilidade de emendas individuais para favorecer uma localidade ou região especifica. São criticadas pois não mantêm compromissos com as políticas publicas. São pouco frequentes e popularmente chamadas de pork barrel. Nas Filipinas a Suprema Corte proibiu definitivamente as emendas pork barrel em novembro do ano passado. “Pork is now prohibited. The Supreme Court ruling [...] prohibits pork. It deems illegal any form of congressional intervention in the “post-enactment stages of the budget execution.” http://www.rappler.com/move-ph/ ispeak/44472-aceron-significance-pork-barrel-sc-ruling 11 Ver www.cagw.org para um acompanhamento detalhado das emendas pork barrels no orçamento americano. 44 Cadernos ASLEGIS | 50 • Setembro/Dezembro • 2014 atendimento de um ou mais Municípios definidos a posteriori na fase de execução da programação. O substitutivo final aprovado do projeto de lei orçamentária anual representa a soma das programações incluídas pelas emendas. O resultado final é uma “colcha de retalhos”. Os valores finais por programa e ação representam o somatório das estratégias individuais. Assim, o processo atual de seleção de prioridades locais na apresentação de emendas não garante universalidade dentro do ponto de vista federativo12. Ademais, diante da escassez de recursos, o modelo de disputa política por transferências voluntárias faz com que Municípios de maior porte tenham maiores chances de sucesso, não apenas em função da maior capacidade de articulação política e do potencial eleitoral, mas, também, pelo fato de dispor de melhor estrutura e capacidade técnica, legal e operacional (GREGGIANIN, 2014a). Na verdade, o parlamentar considera ser um “dever funcional” buscar recursos em benefício de localidades e regiões que o elegeram. Sabe, também, que o eleitor retribui com seu voto as alocações destinadas ao seu Município. Nesse sentido, a apresentação de emendas ao Projeto de Lei Orçamentária (PLOA) torna-se uma estratégia política para assegurar sua reeleição. Segundo Bezerra (2014), a “obtenção de recursos e benefícios para as localidades que representam é considerada pelas lideranças locais como uma das atribuições essenciais dos parlamentares”. Na mídia, o orçamento da União é visto como fonte de recursos para políticas de interesse paroquial e clientelista. Ou seja, apesar de o parlamentar ter um mandato federal, sua ação é guiada por uma visão de vereador: [...] Esse tipo de emenda parlamentar resulta normalmente em pulverização de recursos e, portanto, em aplicações ineficientes do ponto de vista das políticas nacionais. A maior parte dessas transferências representa desperdício. (O ESTADO DE SÃO PAULO). 2.3.2 Recursos por apoio político Nesta vertente a instância que autoriza a execução das emendas manipula o comportamento dos parlamentares nas votações de interesse do Executivo. Este possui graus de liberdade suficientes no controle orça- 12 Uma pesquisa feita na Câmara dos Deputados para capturar as percepções de chefes de gabinete parlamentar ou de assessores parlamentares especializados mostrou que o fator político é considerado como a principal causa de sucesso na liberação das verbas (GREGGIANIN, 2014). Artigos & Ensaios 45 mentário e financeiro que permitem utilizar a liberação da emenda como “moeda” política de baixo custo (PEREIRA e MUELLER, 2002). Para Figueiredo e Limongi (2008), a liberação dos recursos incluídos por emendas individuais é usada pelo governo como um instrumento de coesão da base de apoio político no Congresso. Mendes e Dias (2014) afirmam que os recursos alocados nas emendas servem mais para assegurar a fidelidade parlamentar do que para gerar o serviço público que será prestado pela obra ou programa instituído. Pereira e Mueller (2002) ofereceram evidências empíricas de que o Executivo usa estrategicamente a execução do orçamento como um dos mais importantes instrumentos de barganha na negociação do apoio do Congresso à sua governabilidade. Vesely (2013) também encontrou indícios de que a Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República (SRI/PR) elabora um cronograma definindo quanto e quando irá liberar as emendas parlamentares para garantir a aprovação de projetos de interesse do governo. O autor revisita o modelo de Figueiredo e Limongi (2008) com informações atualizadas do SICONV13 e conclui que a liberação das emendas orçamentárias é realizada em lotes e negociada de forma coletiva pelos líderes partidários, que as utilizam como instrumento de controle dos liderados em prol da formação do presidencialismo de coalizão. 2.3.3 Corrupção De acordo com Cambraia (2011), o uso indevido das emendas individuais tem sido reiteradamente relacionado às denúncias de corrupção, cujo combustível é um mix de somas estratosféricas de recursos públicos com falta de fiscalização. Para ilustrar, relembra o escândalo de 1993 que ficou conhecido como “anões do orçamento”. Naquela ocasião, os parlamentares indicavam emendas que propunham a alocação de recursos para entidades filantrópicas ligadas a parentes ou laranjas14. Grandes obras foram incluídas no orçamento em face de acerto com as empreiteiras beneficiadas. Outro exemplo, citado por Cambraia (2011) refere-se à “máfia dos sanguessugas”. Em 2006, segundo investigações da Polícia Federal, os parlamentares apresentavam emendas destinando verbas para área de saú- 13 Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse do Governo Federal. É uma ferramenta eletrônica que reúne e processa informações sobre as transferências de recursos do Governo Federal para órgãos públicos e privados sem fins lucrativos. 14 Derivação: sentido figurado. Uso: informal: Indivíduo, nem sempre ingênuo, cujo nome é utilizado por outro na prática de diversas formas de fraudes financeiras e comerciais, com a finalidade de escapar do fisco ou aplicar dinheiro de origem ilícita. (Dicionário Houais Eletrônico). 46 Cadernos ASLEGIS | 50 • Setembro/Dezembro • 2014 de. Após a liberação, os recursos eram utilizados em licitações fraudulentas para a compra de equipamentos superfaturados. Em seguida, novas denúncias surgiram relacionando a destinação de recursos para empresas de fachada com as emendas parlamentares. O episódio acarretou a queda do relator do Orçamento para 2011, que destinou R$ 1,4 milhão a institutos fantasmas por meio de emendas individuais ao orçamento. Observando-se a freqüência desses episódios pode-se concluir que, de modo geral, a emenda individual está associada à corrupção – razão pela qual a proposta de sua extinção tem sido colocada em debate. As facilidades de incluí-las na lei orçamentária provocam um total desvirtuamento das metas, objetivos e prioridades que devem nortear a atuação dos recursos disponíveis da administração publica. Cambraia (2011) fez um resumo de como esta vertente desorienta o processo de alocação dos recursos públicos: Na proposta orçamentária para 2011, 17,97% dos recursos das emendas individuais foram alocados para o Ministério do Turismo, que ficou atrás, apenas, do Ministério das Cidades, agraciado com 18,54% dos recursos. Até 2007, a maior parte das emendas, em quantidade e valor, era destinada à Pasta da Saúde. Porém, após as denúncias sobre a “máfia das sanguessugas”, o Turismo passou a ser o centro das atenções das emendas individuais de deputados e senadores. A quantidade de emendas individuais para o Ministério do Turismo saltou de 747, em 2007, para 1.275, na proposta orçamentária para 2011. Em termos de valores passou de R$ 384,7 milhões para R$ 1.384,8 milhões. (CAMBRAIA, 2011, p. 17). Em 2011, os Ministérios do Esporte e do Turismo foram contemplados com mais recursos de emendas parlamentares do que áreas sensíveis como educação e saúde: As duas pastas absorveram pouco mais de R$ 2 bilhões de recursos de deputados e senadores, superando em cerca de R$ 400 milhões as aplicações nos Ministérios da Saúde, da Educação e em instituições de ensino superior e técnico federais. (CORREIO BRAZILIENSE). Assim, diante da controvérsia em relação às emendas individuais, torna-se oportuno adentrar-se em novas reflexões, mas não sobre sua extinção e sim sobre eventuais alternativas que permitam correções de desvios. Artigos & Ensaios 47 A que abordamos é compatível com o eventual status de obrigatoriedade de execução de emendas parlamentares. O objetivo é convertê-las num conjunto de gastos mais nobres, eficazes e socialmente justificáveis, ou seja, mais apropriados do ponto de vista do atendimento das necessidades sociais. Isso seria conseguido se os créditos destinados à aquisição de bens e serviços, introduzidos no orçamento por meio de emendas individuais, fossem propostos pelas próprias comunidades beneficiárias. 3.O orçamento participativo 3.1 A responsabilidade do Estado Em geral, o bem ou serviço que satisfaz as necessidades sociais não podem ter seus valores expressos corretamente em termos de preço e, assim, na maioria das vezes ficam excluídos do mecanismo de mercado. Por isso, segundo Musgrave (1974), devem ser disponibilizados pelo Estado com recursos do orçamento público. O ciclo orçamentário inicia-se pela elaboração das propostas pelo Executivo. Os projetos de lei, decorrentes, são apreciados pelo Legislativo. Sancionados pelo Presidente da República, são executados pelos respectivos Poderes. Na esfera federal não há previsão constitucional explícita de participação da sociedade no processo de escolha das alocações de recursos públicos da União. Há, entretanto, fundamentos democráticos e legais que a justificam. Nesta parte, iniciamos breve análise do mecanismo de democracia participativa que permite aos cidadãos decidir sobre uma parte do orçamento. Apresentam-se os fundamentos legais e os princípios democráticos da gestão participativa no orçamento público. Mostra-se, entretanto, que a gestão participativa municipal, apesar de adequada, coerente e mesmo necessária, é insuficiente e quase impraticável em razão da pequena dimensão dos orçamentos locais frente às respectivas demandas sociais. Nessa situação, conclui-se pela necessidade do apoio federal. Esse apoio, no modelo atual, é passível de críticas e contestações do ponto de vista operacional e democrático. As tentativas de abertura do orçamento da União realizadas foram falhas e infrutíferas. Há, no entanto, espaço para insistir no modelo democrático de forma a produzir um apoio federal com qualidade. Conciliar a gestão participativa com as transferências voluntárias feitas por emendas individuais é uma alternativa que pode adicionar valor, qualidade, credibilidade e efetividade ao modelo atual. 48 Cadernos ASLEGIS | 50 • Setembro/Dezembro • 2014 3.2 A importância da participação popular A gestão orçamentária participativa é um instrumento que serve para inserir questões de política pública com forte componente local no orçamento público. Nesse processo a população é chamada a participar diretamente na escolha das prioridades da administração pública, opinando sobre problemas de maior gravidade e até mesmo decidindo acerca das obras prioritárias e seus impactos sociais. O orçamento participativo é, destarte, importante instrumento para a democratização do processo orçamentário. Como nos ensina Musgrave (1974) o orçamento participativo é, sem dúvidas, um canal direto de expressão da sociedade: Em uma sociedade democrática a decisão de satisfazer esta ou aquela necessidade social não pode ser imposta de forma ditatorial. De algum modo ela tem de ser derivada das preferências efetivas de cada membro do grupo [...] (MUSGRAVE, 1974, Vol. I, p. 30-32) O Orçamento Participativo é assim um passo importante para o aperfeiçoamento do orçamento democrático. Nesse caminho, a democracia passa a ser, também, um meio para se atingir o fim de melhor alocação de recursos. Segundo Pires (2001), na arena em que se dá a disputa por recursos públicos escassos, os cidadãos exercem, pelo voto, o seu direito e o seu dever de participação na definição dos rumos da ação governamental. Avritzer (2005) acrescenta, também, a ideia de justiça social a esse instrumento relembrando sua capacidade de favorecer aos menos favorecidos: O orçamento participativo é uma politica participativa em nível local que responde a demandas dos setores desfavorecidos por uma distribuição mais justa dos bens públicos. Ele inclui atores sociais, membros de associações de bairro e cidadãos comuns em um processo de negociação e deliberação [...] (AVRITZER, 2005, p. 575-5). Antes, porém, Laranjeira (1996) registrava que a intervenção na elaboração do orçamento efetuada diretamente pela comunidade proporcionaria às populações mais carentes – às vilas sem infraestrutura de serviços de água, esgoto, transporte, pavimentação – acesso prioritário às suas demandas, não através de favorecimentos feitos por interesse político, mas sim a partir do estabelecimento de critérios objetivos. Giacomoni (2005) endossa esse ponto de vista e ressalta a importância da participação social na identificação direta dos problemas pela própria comunidade beneficiária. De acordo com o autor “o modelo da Artigos & Ensaios 49 decisão participativa inova em relação aos métodos convencionais de planejamento e orçamentação [...]”. Além disso, “a ampla participação social na identificação dos problemas qualifica as escolhas”. Rezende e Cunha (2014) também aprovam a participação da sociedade nas decisões de alocação de recursos na fase de tramitação da proposta orçamentária. In litteris: As regras que comandam a elaboração e a execução do orçamento pressupõem que a sociedade deveria participar das decisões sobre o uso dos recursos que o compõem durante a tramitação da proposta que o governo elabora e envia ao Congresso para ser discutida e votada. (REZENDE e CUNHA, 2014. p. 7). E se justificam afirmando que “o orçamento é muito importante para ser ignorado. [...] Precisa ser conhecido e respeitado”. Schneider (2005) nos ensina que uma forma de assegurar a legitimação do Estado pode ser construída em um processo orçamentário que inclua práticas democráticas. Tais práticas abrem o processo orçamentário ao público e a seus representantes e forçam o governo a consultar os cidadãos antes de agir. [...] Ao fazê-lo, a ação do governo ganha a legitimidade trazida pela consulta popular e torna possível que os estados (e Municípios) tomem decisões autorizadas. (SCHNEIDER, 2005, p. 3). 3.2.1 Fundamentos legais da participação popular A Constituição Federal e a legislação infraconstitucional amparam de forma clara e indiscutível a necessidade de se criar mecanismos de gestão democrática e participativa dos recursos públicos. A cidadania, um dos fundamentos do estado democrático de direito, traz a ideia de que todos tem o direito de participar de forma ativa nas decisões políticas relacionadas à aplicação de recursos orçamentários. A Lei Complementar nº 101, de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF) fixou o princípio da transparência da gestão fiscal e do amplo acesso às informações relacionadas à matéria orçamentária e financeira: Art. 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o res- 50 Cadernos ASLEGIS | 50 • Setembro/Dezembro • 2014 pectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos. Parágrafo único. A transparência será assegurada também mediante: I – incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos. No âmbito municipal, o Estatuto das Cidades (Lei nº 10.257, de 2001) assim dispõe: Art. 4º Para os fins desta Lei serão utilizados, entre outros instrumentos: (...) III – planejamento municipal, em especial: (...) f ) gestão orçamentária participativa; (...) Art. 44. No âmbito municipal, a gestão orçamentária participativa de que trata a alínea f do inciso III do art. 4º desta Lei incluirá a realização de debates, audiências e consultas públicas sobre as propostas do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e do orçamento anual, como condição obrigatória para sua aprovação pela Câmara Municipal. Os conselhos, as conferências, as audiências, consultas e debates são espaços de diálogo entre os diversos interesses provenientes da sociedade civil, de proposições partindo dos diversos setores, da avaliação e fiscalização de decisões referentes aos investimentos públicos e privados nas cidades (BRASIL, 2005a, p. 195). Ainda sobre o tema, o governo federal, por meio do Decreto nº 8.243, de 23 de maio de 2014, instituiu a Política Nacional de Participação Social - PNPS e o Sistema Nacional de Participação Social - SNPS, com o objetivo declarado de “fortalecer e articular os mecanismos e as instâncias democráticas de diálogo e a atuação conjunta entre a administração pública federal e a sociedade civil (art. 1º)”. A Lei que instituiu o Plano plurianual da União para os exercícios de 2008 a 2011 (Lei nº 11.653, de 2008 - PPA 2008-11) estabeleceu a neArtigos & Ensaios 51 cessidade de se promover a participação direta da sociedade no processo de planejamento plurianual: Art. 20. O Poder Executivo e o Poder Legislativo promoverão a participação da sociedade na elaboração, acompanhamento e avaliação das ações do Plano de que trata esta Lei. Parágrafo único. As audiências públicas regionais ou temáticas, realizadas durante a apreciação da proposta orçamentária, com a participação dos órgãos governamentais, estimularão a participação das entidades da sociedade civil. 3.2.2 Experiências no Brasil A experiência de participação municipal15 na elaboração do orçamento público tornou-se mais conhecida depois de sua implantação em Porto Alegre (RS), em 200516. O governo local, a partir de debates e definições de prioridades, colocou em prática um compromisso político de cumprir um conjunto de etapas decisórias voltadas à maior participação dos moradores: reuniões preparatórias, assembleias regionais e temáticas e assembleia municipal. Amaral (2006) observou que a maioria das experiências em orçamento participativo é liderada pelo Poder Executivo. Em Minas Gerais, entretanto, é conduzida pela Assembleia Legislativa. O relativo sucesso alcançado indica que o Parlamento pode ser um fórum adequado para condução dessa iniciativa. São mais evidentes, afinal, suas características de representatividade e maiores as possibilidades de transparência e participação. O Movimento Voto Consciente17 de Jundiaí, em São Paulo, desenvolve um modelo interessante de participação comunitária. Por meio de concurso (CIDADONOS) seleciona doze ideias que passam a compor a AGENDA CIDADÃ. Essa agenda é protocolada na Prefeitura e Câmara Municipal e também junto a parlamentares eleitos ou candidatos da região. Dessa forma, o Movimento pretende efetivar um modelo de democracia em que os cidadãos comuns podem influenciar as decisões políticas a partir de suas próprias ideias. Trata-se de uma iniciativa de interação 15 Perez e Fausto (2009) registraram, em 2006, a existência de 194 experiências de orçamento participativo no Brasil. 16 A experiência é citada pela ONU e pelo Banco Mundial como uma das melhores práticas de gestão pública. 17http://www.cidadedemocratica.org.br/competitions/5-qual-seu-sonho-para-jundiai/fase/announce_phase. Acesso em 24 jul. 2014. 52 Cadernos ASLEGIS | 50 • Setembro/Dezembro • 2014 coletiva visando temas públicos, de modo a construir comunidades de colaboração social. 3.2.3 Necessidade de apoio aos Municípios Conforme observado por Greggianin (2014a), os Municípios, apesar da ampliação de sua competência constitucional na gestão das políticas públicas, recebem, em relação às demais esferas de governo, a menor parcela das receitas públicas. A Federação possui uma infinidade de Municípios que sobrevivem somente dos repasses obrigatórios realizados pela União. Nessas localidades, o gasto público representa, muitas das vezes, a única origem do dinheiro circulante. É exatamente nesses locais que a necessidade de uma sintonia com os interesses da população faz do orçamento público uma peça de maior importância, exigindo dos representantes do povo uma acuidade e um compromisso com a sua elaboração e votação. As dimensões continentais do país e as desigualdades regionais contribuem para a existência de grandes disparidades quanto às necessidades e demandas municipais. Verificam-se, adicionalmente, grandes desequilíbrios relacionados à capacidade de arrecadação e distribuição da carga tributária entre essas unidades de federação. Neste contexto, as transferências obrigatórias (do Fundo de Participação dos Municípios - FPM, especialmente) nem sempre conseguem atender de forma adequada os casos diferenciados. Esse cenário justifica a existência no orçamento da União das transferências voluntárias que, teoricamente, prestam-se para suprir lacunas e corrigir distorções, destinando bens e serviços públicos específicos aos Municípios selecionados. No âmbito do processo orçamentário as transferências voluntárias dependem essencialmente da celebração de convênios ou congênere com os demais entes da Federação A alocação de recursos federais aos Municípios por meio de emendas é, entretanto, função de decisões individuais e, na maioria das vezes causam distorções e injustiças, pois resultam apenas da articulação do parlamentar com o prefeito, como exemplifica Rabatone: As cidades de Frei Paulo e Campo do Britto, interior de Sergipe, ficam a menos de 30 km uma da outra. Ambas têm 15 mil habitantes e economias baseadas na agricultura, na pecuária e no comércio. A primeira exibe em suas ruas várias placas de investimentos federais. Já a segunda comemora quando consegue pagar os funcionários em dia. A distorção tem explicação. Nos últimos três anos, Frei Paulo foi alvo de Artigos & Ensaios 53 vinte emendas parlamentares federais. Campo do Britto, de nenhuma (RABATONE, 2013). Em recente estudo, Ribeiro (2011) destacou que os recursos das emendas podem amenizar o desequilíbrio existente entre as receitas da unidade federativa e as despesas necessárias ao cumprimento de suas atribuições para satisfazer os anseios da comunidade local. No período entre 2005 e 2011, mais da metade dos recursos das emendas coletivas e individuais foi alocada em transferências para os demais entes da Federação, sendo mais de 30% para os Municípios. No entanto, ainda de acordo com Ribeiro (2011), no período de 2003 a 2007 as receitas de transferências da União e suas entidades para os Municípios, a titulo de convênios, correspondem a apenas 1,8% do total de suas receitas. Em que pese esse reduzido valor, Cambraia (2011) considera que ele é de grande importância para os Municípios, pois agrega recursos para investimentos em localidades onde o orçamento está praticamente comprometido apenas com despesas correntes. Diante disso, entendemos que as importâncias alocadas por meio das emendas são materialmente significativas se comparadas com as despesas discricionárias que compõem a proposta orçamentária. Também possuem grande repercussão para os demais entes federativos, na medida em que incrementa a capacidade de investimento destes (CAMBRAIA, 2011, p. 13). Se de um lado as transferências voluntárias podem trazer benefícios aos Municípios, o fato é que o recebimento efetivo dos recursos alocados na lei orçamentária, além do atendimento de uma série de exigências e requisitos de ordem técnica, depende fortemente da variável política: Do ponto de vista dos Municípios, o recebimento efetivo de transferências voluntárias da União depende de uma dupla incerteza. Na primeira, o Município pode ou não ser contemplado na alocação das dotações orçamentárias do projeto do Executivo ou nas emendas aprovadas no Legislativo. Na segunda, o Município pode ou não receber o objeto da alocação. A taxa de execução das despesas discricionárias destinadas aos Municípios é baixa. No orçamento de 2012 foi de apenas 54,7 % (GREGGIANIN, 2014a, p. 4). 54 Cadernos ASLEGIS | 50 • Setembro/Dezembro • 2014 Vimos nas sessões anteriores que a execução da programação incluída por meio de emendas individuais é obrigatória nos termos da LDO e pode ser, em breve, por mandamento constitucional. Mostrou-se, também, a importância da participação social no orçamento público e a necessidade de os Municípios contarem com a ajuda federal. Propõe-se, então, que as emendas parlamentares a eles destinadas sejam escolhidas pelos próprios cidadãos desses Municípios. 3.2.4 Emendas municipais ao orçamento da União As experiências anteriores em gestão participativa do Congresso Nacional não alcançaram os resultados esperados. Neste trabalho essas experiências são revisitadas com o propósito de mostrar a viabilidade, a coerência e a conveniência de as comunidades municipais participarem diretamente das propostas de elaboração de emendas ao orçamento da União. Espera-se que o apoio federal possa ser realizado com qualidade se a gestão participativa for conciliada com as transferências voluntárias feitas por meio de emendas parlamentares. Com esse propósito destaca-se a experiência do Congresso Nacional com as emendas de iniciativa popular na apreciação da proposta orçamentária de 201218 (GREGGIANIN, 2014a)19. Pela primeira vez20 as demandas municipais, selecionadas com o suporte das audiências públicas locais, foram diretamente encaminhadas à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização - CMO. Coube ao parlamentar e à bancada estadual um papel de coordenação do processo, alterando-se, assim, a prática tradicional que colocava essas demandas na dependência exclusiva da avaliação do parlamentar21. Nos termos do art. 166 da CF88, a apresentação de emendas às leis do ciclo orçamentário deve ser feita na CMO, na forma regimental, sendo que a atual resolução que rege o processo orçamentário (Resolução nº 1, de 2006-CN) estabelece a possibilidade de apresentação de vários tipos de emendas, podendo ser de iniciativa de parlamentar, bancada, comis18 Em 2006 Amaral apresentou, por solicitação da Presidência da CMO, um estudo preliminar sobre a importância do Orçamento Participativo para o Congresso Nacional. 19 Em 2013 registrou-se outra tentativa de abrir o orçamento da União à participação popular. Com a utilização do Portal e-Democracia da Câmara dos Deputados foram recebidas 156 sugestões dos internautas, sendo 56 em Educação, Cultura, Turismo e Desporto; 23 em Viação e Transporte; 22 em Saúde e Assistência Social; e 21 em Relações Exteriores e Segurança Nacional. De acordo com registro feito pelo Deputado Paulo Pimenta, na época, Presidente da CMO, muitos parlamentares incorporaram em suas emendas as sugestões recolhidas nesse processo. Fora essa informação não há registro de evolução desse processo que possa ser utilizado para avaliar os resultados alcançados com essa experiência. 20 O projeto foi relatado pelo Deputado Arlindo Chinaglia – PT/SP. 21 Nos termos regimentais, cabe à cada parlamentar a iniciativa exclusiva da apresentação de emendas até 25 emendas ao projeto de lei orçamentária, observados os montantes definidos no parecer preliminar. Artigos & Ensaios 55 são ou do próprio relator. As emendas de relator somente são permitidas caso sua finalidade esteja prevista nas especificações do parecer preliminar 22 . Foi por meio da autorização dada no parecer preliminar que a CMO absorveu as emendas de iniciativa popular, ou seja, as indicações foram incluídas na lei orçamentária como emendas de autoria do relator geral. O parecer preliminar é uma proposição do trâmite interno que regula parâmetros e critérios para a apresentação de emendas e elaboração do substitutivo (CONGRESSO NACIONAL, 2012). Cada pequeno Município passou a ter o direito de indicar, dentre um conjunto de ações, entre R$ 300 mil e R$ 600 mil, variando de acordo com a faixa populacional. A deliberação, quanto à programação pretendida, foi feita em audiência pública local, com ampla divulgação e participação da sociedade, envolvendo a Câmara de Vereadores e a Prefeitura Municipal, do qual deveria ser lavrada ata pública com a respectiva lista de presença, encaminhando-se o material à Comissão Mista. A adesão às emendas de iniciativa popular foi bastante satisfatória, considerando-se que o procedimento era inédito e que os Municípios tiveram tempo relativamente curto, cerca de três semanas, para convocar e organizar a audiência pública deliberativa acerca das emendas. Mais de 74% dos Municípios com população até 50 mil habitantes realizaram as audiências públicas e cadastraram com sucesso as indicações de emendas. Coube ao Prefeito comunicar a decisão, acompanhada da ata da audiência, à CMO e também à bancada federal do respectivo estado. O encaminhamento das demandas ao coordenador da bancada teve como propósito estabelecer um elo entre as demandas locais e o representante na bancada federal. A taxa de adesão dos pequenos Municípios do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul foi superior a 80 %. Um conjunto de 510 Municípios não conseguiu cumprir os requisitos exigidos, o que prejudicou a validação das indicações. Nesses casos, os recursos foram alocados automaticamente na ação 8.581 – “Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde”. O resultado final apresentou as 3.677 indicações distribuídas em seis ações orçamentárias, perfazendo um montante de cerca de R$ 2,2 bilhões. Essa inovação, [...] constitui um importante passo no processo de democratização e incentivo ao exercício da cidadania. Além dos necessários recursos, o maior mérito desse 22 Art. 144, III da Resolução nº 1, de 2006-CN. 56 Cadernos ASLEGIS | 50 • Setembro/Dezembro • 2014 instrumento está em incentivar a participação popular, o que concorre para legitimar as escolhas públicas, evitar a apropriação dos recursos por grupos específicos e melhorar o controle social (BRASIL, 2011, p. 25). Entretanto, apesar do grande esforço empreendido e dos nobres propósitos fixados: [...] a execução23 dessa programação no exercício financeiro de 2013 foi simplesmente nula. Nenhuma das 3.677 indicações criadas a partir das audiências públicas municipais foi empenhada em 2012. Com isso, fechou-se também a possibilidade de diferimento da execução financeira para os anos seguintes, por meio da inscrição em restos a pagar. (GREGGIANIN, 2014a, p. 17). Ainda que fosse possível prever alguma frustração na liberação de recursos, tratando-se de dotações discricionárias24, não se poderia imaginar a ausência completa de execução orçamentária e financeira dos subtítulos incluídos pelas emendas participativas. Uma análise inicial sobre as causas da não execução dessas emendas indica que: [...] houve intenção deliberada do Executivo, seja por iniciativa da unidade responsável pela execução ou do órgão de articulação política, de não promover qualquer execução orçamentária das dotações aprovadas nas instâncias participativas. (GREGGIANIN, 2014a, p. 19). A falta de execução gerou descrédito no novo instrumento. Como conseqüência, as disposições que constaram do parecer preliminar ao projeto de lei orçamentária para 2013 não foram reproduzidas no processo orçamentário para o exercício seguinte. Com o objetivo de melhor avaliar a experiência de orçamento participativo realizada durante a apreciação do projeto de lei orçamentária para 2012, algumas questões relacionadas ao tema foram inseridas em uma pesquisa destinada a capturar as percepções de chefes de gabinete e assessores parlamentares da Câmara dos Deputados no âmbito da matéria orçamentária (GREGGIANIN, 2014b). 23 Para fins de acompanhamento da execução, todos os subtítulos gerados pelas emendas de iniciativa popular foram identificadas na lei orçamentária para 2012 com o Identificador de Uso 7. 24 A tabela 2 mostrou uma execução média igual a 54,7 % das transferências voluntárias destinadas a Municípios em 2012. Artigos & Ensaios 57 Quando indagados se a experiência deveria ser retomada e aperfeiçoada, ou não, os dados, foram reveladores. Ao contrário do argumento de que esse modelo subtrairia prerrogativa exclusiva do parlamentar de indicar beneficiários, a maioria considerou que a experiência deveria ser retomada e aperfeiçoada. Com esse endosso, consideramos razoável propor que o Congresso Nacional prossiga com a tentativa de incluir esse instrumento no ciclo orçamentário com aperfeiçoamentos. O problema da motivação individualista observada nos processos desenvolvidos com participação popular, por exemplo, dificulta o alcance de uma visão do bem comum. Segundo Avritzer (2005, p. 588), uma alternativa para contornar esse problema e guardar sua concepção democrática consiste em deixar em mãos do eleitorado a escolha dos interesses dominantes de uma determinada proposta política. Ou seja, o modelo democrático recomenda que a escolha entre alternativas de alocação de recursos seja feita por meio de voto. 4.Uma experiência externa Laranjeira (1996) considerou que as experiências de orçamento participativo ocorridas na Europa são relevantes para a geração de conhecimento prático do processo. In litteris: [...] algumas experiências ilustrativas, especialmente na Europa – casos de Bolonha, na Itália, de Barcelona, na Espanha, de Lyon, na França –, surgidas com a ascensão de grupos de esquerda comprometidos com a perspectiva de descentralização administrativa e participação popular, têm-se constituído em objeto privilegiado de observação e análise, permitindo uma discussão mais consistente em torno das possibilidades de implementação dos novos princípios, os quais, precisamente pela novidade, oferecem oportunidade para debates e controvérsias. (LARANJEIRA. 1996. p. 130). Nesse sentido, a experiência de orçamento participativo - OP do Município de Cascais25, em Portugal, apresenta-se também com rico conteúdo para observação e estudo. A metodologia utilizada é moderna e totalmente fundamentada em deliberações tomadas pelos cidadãos por meio do voto. 25 Os autores agradecem a colaboração da Dra. Isabel Xavier e da Técnica Superior Marta Osório da Divisão de Cidadania e Participação da Presidência da Câmara Municipal de Cascais, Portugal, pelas informações e comentários que permitiram a elaboração desta parte do trabalho. 58 Cadernos ASLEGIS | 50 • Setembro/Dezembro • 2014 Da mesma forma que no Brasil, a Constituição da República Portuguesa também apresenta suporte para essas atividades: Art. 2º: Estado de direito democrático A República Portuguesa é um Estado de direito democrático, baseado na soberania popular, no pluralismo de expressão e organização política democráticas, no respeito e na garantia de efectivação dos direitos e liberdades fundamentais e na separação e interdependência de poderes, visando a realização da democracia económica, social e cultural e o aprofundamento da democracia participativa. (PORTUGAL, 2005) O modelo de participação popular na elaboração do orçamento público da Câmara Municipal de Cascais26, instituído em 2011, tem os seguintes objetivos: a) Promover a participação ativa e construtiva dos munícipes nos processos de governança local; b)Aproximar os munícipes dos órgãos de decisão, aumentando a transparência das atividades do governo; c) Fomentar uma sociedade civil dinâmica e coesa; e d) Conhecer e responder às reais necessidades e aspirações da população. Em três anos esse processo envolveu 64 mil eleitores que decidiram onde investir 6,5 milhões de euros em 35 novos projetos. O processo começa por volta de fevereiro quando o Executivo define a parte do orçamento que será destinada à realização de projetos apresentados, debatidos e priorizados pelos munícipes de Cascais. Em média, o valor inicialmente destinado aos projetos se situa em torno de 1,5 milhão de euros, cerca de 3,5% do orçamento de investimento local. Esse valor pode ser aumentado em razão de verificação da importância dos projetos e da disponibilidade de recursos. Em 2014 o valor máximo de cada iniciativa foi fixado em 300 mil euros. Os cidadãos participam da fase de apresentação das propostas e da fase de votação dos projetos finalistas. Essas propostas devem gerar bens 26 Cascais é sede de um concelho com 97,4 km² de área e 206 429 habitantes (2011), subdividido em 4 freguesias, em 2013, depois de uma reforma administrativa nacional. Artigos & Ensaios 59 e serviços destinados ao bem estar coletivo dos cidadãos e devem estar inseridas nas competências da Câmara Municipal27. Nas sessões de discussão das propostas apenas podem participar os cidadãos maiores de 16 anos que comprovadamente se relacionem com o Município de Cascais. Podem ser residentes ou estudantes, trabalhadores.28 Os representantes de movimentos associativos do setor privado e das organizações da sociedade civil podem participar e votar, mas não podem apresentar propostas em nome de terceiros. O interessado pode participar em mais de uma sessão. As propostas são apresentadas em nove sessões de participação pública que são espacialmente distribuídas pelo Município em datas diferentes. São organizadas e coordenadas pela Câmara e seguem uma metodologia específica. As propostas emergem dos debates nas sessões de participação. A participação é individual29, busca favorecer a definição coletiva das prioridades por meio de debates e tem como objetivo a melhoria da qualidade de vida da comunidade. O direito a voto na sessão exige a presença em tempo integral do participante nas sessões. Cada participante só pode apresentar uma proposta. Uma mesma proposta pode ser apresentada por mais de um participante. A localização dos participantes nas mesas é feita por sorteio no momento em que chegam ao local da sessão. Uma mesa é composta de um moderador e de um número impar de cidadãos30. Cada mesa só pode encaminhar até duas propostas. Quando uma mesma proposta é aprovada em mais de uma mesa, será validada na mesa onde foi mais votada. As discussões na mesa estão limitadas ao período de 45 minutos. O moderador procura conduzir as discussões para que as principais informações do projeto sejam esclarecidas e utilizadas para o preenchi27 A Câmara Municipal é o órgão executivo colegiado (Art. 252 da Constituição da República Portuguesa). O Município não tem secretários municipais. Suas atribuições são assumidas por vereadores diretamente eleitos pelos cidadãos (Lei nº 169, de 1999). A Câmara Municipal de Cascais tem um Presidente e dez vereadores, sendo um designado vice-presidente. A Assembleia Municipal é o órgão colegiado deliberativo do Município de Cascais. A Mesa é constituída por um Presidente e dois Secretários, escolhidos por escrutínio secreto entre os seus 33 Membros eleitos pelo Colégio Eleitoral do Município. 28 Observa-se que esse critério obedece mais ao fato de a pessoa ser um contribuinte do que ao de ser um cidadão residente. O interessado pode participar em mais de uma sessão. 29 A apresentação da proposta é individual. Não se admite proposta de associação. Este é um ponto controverso, pois o próprio panfleto distribuído convida “representantes de associações privadas e das organizações da sociedade civil”. Teoricamente, a norma tem fundamento. Primeiro para evitar manipulação da participação dos cidadãos por meio de “representante”. Segundo, porque se pressupõe igualdade de oportunidades entre todos os participantes. O caráter de representação, por certo, distorce e compromete esse principio. 30 Em Cascais, costuma-se alocar cinco participantes em cada mesa. 60 Cadernos ASLEGIS | 50 • Setembro/Dezembro • 2014 mento de uma ficha básica. Como essa experiência já conta com três anos, alguns participantes já trazem todas as informações em meio eletrônico ou em planilhas pré-elaboradas. Numa segunda etapa, as propostas das diversas mesas são afixadas num painel. Um interessado na proposta teria três minutos para defendê-la. Todas são submetidas a votação. Cada participante tem direito a dois votos. Poderá assim demonstrar interesse na sua proposta e numa segunda, ou votar duas vezes na mesma proposta. A quantidade de propostas apresentadas que segue para análise técnica depende do número de participantes nas sessões. Há uma tabela previamente divulgada especificando o mínimo de uma proposta e um máximo de nove propostas para a sessão que alcançar participação superior a 160 pessoas31. As propostas mais votadas serão submetidas à avaliação da equipe técnica da Câmara Municipal. Nessa avaliação afere-se a viabilidade da sua concretização. Aspectos como interesse coletivo, compatibilidade com a programação do Município, propriedade do terreno para a obra, competência do Município, valor total do projeto, são examinados. Além disso, a proposta não poderá ser aprovada se a Câmara Municipal não puder garantir a manutenção e funcionamento do investimento em causa ou se estiver identificado com confissões religiosas ou grupos políticos. O resultado da análise das propostas pela equipe técnica é amplamente divulgado. As propostas que não foram aprovadas podem ser objeto de recurso desde que um fato novo possa ser apresentado. Na quinzena posterior à fase de recursos, os projetos aprovados e validados são novamente divulgadas, inclusive por vídeo de curta metragem, e submetidos à discussão pública nas freguesias para as quais foi proposta sua implementação. A seguir, as propostas são submetidas a voto pelos cidadãos cascalenses por meio de um SMS32 gratuito. Cada projeto recebe um código33. Cada número de telefone só pode ser associado a um único voto. Pode-se optar por um voto em contrário. Um investimento, por exemplo, pode ser merecedor do interesse da comunidade, mas por alguma razão (barulho, aumento de tráfego, agressão ao meio ambiente, entre outros), poderia vir a desagradar a alguns moradores. Nesse caso o voto em contrário é uma opção democrática. 31 A tabela é construída de correlacionando positivamente o número de participantes com a quantidade de propostas passíveis de aprovação. Busca-se, assim, incentivar uma maior participação dos interessados. 32 Short Message Service (Serviço de Mensagem Curta). 33 OPxx, por exemplo, onde xx seriam dígitos. Artigos & Ensaios 61 Esse processo de consulta busca conferir o acerto da escolha com as partes a serem afetadas pelo projeto. Seguindo conceito semelhante descrito por Little (2014, p. 416), pratica-se o princípio do consentimento já que outorga aos próprios cidadãos uma espécie de poder de veto sobre o empreendimento. Ao completar com sucesso as etapas da votação o eleitor recebe uma mensagem de volta confirmando a validade do voto. A aferição final dos projetos vencedores é efetuada por meio do cálculo da diferença apurada entre votos a favor e contra, adicionando o número de votos atribuídos na Sessão de Participação em que os mesmos foram aprovados (Item 3 do art. 13 das Normas de Participação 2014 da Câmara Municipal de Cascais). Os resultados são amplamente divulgados. Os projetos são submetidos a voto da Assembleia Municipal para ratificação34. A execução é garantida nos dois exercícios seguintes, ou no máximo em três, se submetida à licitação pública. No triênio 2011-2013, cerca de 1.700 pessoas participaram das 27 sessões, onde 710 propostas foram apresentadas. Dessas, 143 foram submetidas à análise técnica. A equipe técnica averiguou que 88 propostas são tecnicamente viáveis. Essas propostas foram submetidas à votação popular onde 64 mil cidadãos participaram. Em decorrência dessa votação, 35 projetos foram vencedores e receberam uma alocação total de 6,5 milhões de euros35. Note-se que o processo se desenvolve paralelamente à elaboração da proposta do orçamento para o exercício seguinte. Esta antecipação é possível uma vez que os recursos são previamente definidos e comprometidos. O cronograma de trabalho do Município de Cascais começa em março e termina em setembro. Essa amplitude de tempo permite análises técnicas mais acuradas e uma melhor preparação das reuniões. 5.Conclusões e recomendações Ao invés de privilegiar a execução da programação das prioridades orçamentárias, o Congresso Nacional decidiu aprovar normas concedendo obrigatoriedade de execução apenas à programação incluída na lei orçamentária por meio de emendas individuais. Justamente a programação que tem sido objeto de inúmeras críticas, conforme indicado neste trabalho. 34 A Assembleia Municipal aprova ou rejeita a proposta orçamentária da Câmara Municipal. Não há previsão regimental de emendamento. O Membro da Assembleia pode, no entanto, sugerir ou recomendar alterações ou modificações no orçamento. 35 Em 2012, o valor dos projetos aprovados no Orçamento Participativo representou 5,8% do valor dos investimentos da municipalidade. 62 Cadernos ASLEGIS | 50 • Setembro/Dezembro • 2014 Entre essas se destaca a vertente que considera as emendas apenas como um instrumento de obtenção de retorno político para o deputado ou senador. Essa interpretação inibe ou retira a visualização de um importante papel que por elas pode ser desempenhado na alocação de recursos federais na satisfação das necessidades existentes na esfera municipal. Na verdade, os Municípios são carentes de bens e serviços públicos e necessitam do apoio federal para atender parte dessa demanda, seja por meio de transferências constitucionais ou legais, seja por meio de transferências voluntárias da União. Junto com as transferências voluntárias, o Congresso Nacional pode participar de forma mais concreta e objetiva neste apoio. Cremos que isso pode ser alcançado se o orçamento participativo puder ser conciliado com a programação proposta para as emendas individuais. A junção desses dois instrumentos permitiria a participação direta da população na alocação dos recursos da União, que assim faria a escolha de suas próprias prioridades por meio do voto. Essas escolhas se transformariam em decisões que poderiam ser veiculadas e expressas no âmbito do Congresso Nacional por intermédio de emendas parlamentares. Essa metodologia acrescentaria valor, credibilidade e qualidade às emendas parlamentares, com triunfo inequívoco da democracia. Dos casos estudados neste trabalho retiram-se detalhes operacionais importantes, diretrizes e subsídios que permitiriam o delineamento de um modelo de orçamento participativo direto da comunidade no orçamento da União, como por exemplo: • O processo de escolha dos investimentos nos Municípios deve ser desencadeado no início do exercício de elaboração da proposta orçamentária e sempre com ampla divulgação e estímulos à participação popular. • Para dar credibilidade ao processo, é necessário que um volume mínimo de recursos para as propostas municipais fique acordado entre Executivo e Legislativo e seja previamente anunciado. • Recomenda-se a inclusão de dispositivo na LDO que garantiria a inclusão das propostas municipais na fase de apreciação da proposta orçamentária pelo Congresso Nacional durante o processo orçamentário. • O sistema descrito poderia ser iniciado com uma amostra representada pelos munícipios brasileiros que já praticam o orçamento participativo. Isso teria dois efeitos. Garantiria um aprendizado Artigos & Ensaios 63 conjunto e multiplicador e incentivaria os demais Municípios a implantar o seu próprio. • A metodologia deverá privilegiar as decisões por voto dos participantes e do colégio eleitoral de cada Município. • As propostas deverão gerar projetos que serão classificados e discriminados individualmente no orçamento da União e do Município e receber identificação especifica na classificação funcional-programática das ações orçamentárias. • Toda decisão deve ser feita por meio do voto. O voto para escolha final das propostas do Município que serão encaminhadas para o banco de propostas deveria ser captado via SMS, ou via Internet quando esses instrumentos estiverem disponíveis. • A programação aprovada deverá ser incorporada à programação pelo Congresso Nacional durante o processo orçamentário. • A execução da programação derivada das propostas municipais será considerada prioritária e deverá ser efetivada nos termos da legislação vigente sobre as emendas individuais. Essa programação não será objeto de contingenciamento e será obrigatoriamente executada, exceto se objetivamente demonstrada sua impossibilidade técnica ou legal. • O interesse da comunidade deverá ser assumido pelo parlamentar por meio de emenda de sua autoria. Com isso sua proposta ganharia valor e qualidade para merecer a devida e meritória prioridade no orçamento da União. REFERÊNCIAS ALBUQUERQUE, Guilherme Pinto de. O orçamento participativo como instrumento de desenvolvimento da cidade e da cidadania. Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas – Centro de Formação Acadêmica e Pesquisa. Fundação Getúlio Vargas. Rio de Janeiro. ALOYSIO NUNES, Senador. Aloysio: Orçamento impositivo facilita corrupção. Blog do Josias de Souza. 14 out. 2013. Disponível em: http://josiasdesouza.blogosfera.uol.com.br/2013/10/14/aloysio-orcamento-impositivo-facilita-corrupcao/. Acesso em 18 ago. 2014. 64 Cadernos ASLEGIS | 50 • Setembro/Dezembro • 2014 AMARAL, Gardel Rodrigues. Informação S/N ao Presidente da CMO. 2006. Não publicada. AVRITZER, Leonardo. O Orçamento Participativo e a teoria democrática: um balanço crítico. Disponível em: http://www.democraciaejustica.org/cienciapolitica3/sites/default/files/orcameto_ participativo_e_teoria_democratica_-_leoardo_avritzer.pdf. Acesso em 9 mai. 2014 BERNARDES, Elizete Nery Ribeiro. O envolvimento do cidadão no orçamento participativo. Monografia apresentada à Escola de Contas e Gestão do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (ECG/TCE-RJ) e à Fundação Getúlio Vargas (FGV) como requisito para obtenção do certificado de Pós-graduação em Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas. Turma 1 – TCE/RJ. Rio de Janeiro, 31 mai. de 2007. BEZERRA, Marcos O. Políticos, Representação Politica e Recursos Políticos. Horizontes Antropolóticos, v. 7, n.15. Porto Alegre: jul. 2001. p. 190. http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/ mista/orca/orcamento/or2012/rel_final/vol1/02_rel_e_voto.pdf>. Acesso em 31 mai. 2014. BRASIL. Congresso Nacional. Resolução nº 1, de 21 de dezembro de 2006. Diário Oficial da União, Brasília, p. 4, seção 1, 26 dez. 2006. _______. Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização – CMO. Relatório Final ao Projeto de lei orçamentária para 2012 (PLN nº 28, de 2011-CN). 2011. Disponível em: http:// www.camara.gov.br/internet/comissao/index/mista/orca/orcamento/ or2012/rel_final/vol1/02_rel_e_voto.pdf. Acesso em 29 set. 2014. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Câmara dos Deputados, Coordenação de Publicações, 1988, 293p. ________. Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000. Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF. Brasília. DF. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp101.htm. Acesso em 26 set. 2014. CAMBRAIA, Túlio. Emendas ao Projeto de Lei Orçamentaria Anual: algumas distorções. Estudo CONOF/CD. Brasília, 2011. http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/orcamentobrasil/orcamentouniao/estudos/2011/artigo022011.pdf. Acesso em 18 ago. 2014. Artigos & Ensaios 65 CARVALHO, Nelson Rojas de. E no início eram as bases: geografia política do voto e comportamento legislativo no Brasil. Rio de Janeiro: Revan. 2003. CASTELLO BRANCO, Gil. Orçamento impositivo é porta aberta para a corrupção. Brasil Econômico. 18 nov. 13. Disponível em: http://brasileconomico.ig.com.br/ultimas-noticias/orcamento-impositivo-e-porta-aberta-para-a-corrupcao_137170.html. Acesso em 30 set. 2014. CIALDINI, Alexandre Sobreira. A tragédia dos comuns e o orçamento público. Jornal O Povo. Opinião. 17 set. 2013. Disponível em: http://www.opovo.com.br/app/opovo/opiniao/2013/09/17/ noticiasjornalopiniao,3130820/a-tragedia-dos-comuns-e-o-orcamento-publico.shtml. Acesso em 30 set. 2014. CONTI, José Maurício. LDO é instrumento eficiente para a administração pública. Consultor Jurídico. 09-04-2013. Disponível em www.conjur.com.br. Acesso 7 jun. 2014. CORREIO BRAZILIENSE. De olho no resultado rápido. Edição de 11/04/2011. Disponível em http://www.senado.gov.br/noticias/OpiniaoPublica/inc/senamidia/notSenamidia.asp?ud=20110411&datNoticia= 20110411&codNoticia=541142&nomeOrgao=&nomeJornal=Correio +Braziliense&codOrgao=47&tipPagina=1#. Acesso em 25 set. 2014. COSTA, Amarildo Lourenço. Gestão orçamentária participativa. Jus Navigandi. Disponível em: http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto. asp?id=3187. Acesso em 24 jun. 2009. CRUVINEL, Tereza. Desatinos em série. Jornal Correio Braziliense. 24 out. 2013. Disponível em: http://www.pmdbnacamara.org. br/sites/default/files/Clipping%20da%20Lideran%C3%A7a%20 do%20PMDB-%2024-10-2013.pdf. Acesso em 30 set. 2014. DR. ROSINHA, Deputado. Ninguém presta. Congresso em Foco. 11 mar. 2014. Disponível em: http://congressoemfoco.uol.com.br/ opiniao/colunistas/ninguem-presta/. Acesso em 17 set. 2014. FERNANDES, Antônio Sérgio Araújo. Gestão municipal e participação municipal no Brasil: dialogando entre teoria e fatos. X Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Santiago, Chile, 18 - 21 Oct. 2005. Disponível em: http://www.iij.derecho.ucr.ac.cr/archivos/documentacion/inv%20otras%20entidades/CLAD/CLAD%20X/documentos/ fernanan.pdf. Acesso em 19 dez. 2010. 66 Cadernos ASLEGIS | 50 • Setembro/Dezembro • 2014 FERREIRA, Marcelo Vaz. Orçamento impositivo no Brasil: Análise da proposta de Emenda à Constituição nº 565/2006 e as implicações políticas e econômicas do novo arranjo institucional. Monografia apresentada para aprovação no Curso de Especialização em Orçamento Público realizado pelo Instituto Serzedello Corrêa do Tribunal de Contas da União em parceria com o Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento – CEFOR/CD. Brasília, DF, 2007. FERREIRA, Francisco Gilney Bezerra de Carvalho. Do controle de constitucionalidade de leis orçamentárias e sua evolução jurisprudencial. Jus Navigandi, Teresina, ano 19, n. 3888, 22 fev. 2014. Disponível em: http://jus.com.br/artigos/26721. Acesso em 24 fev. 2014. FIGUEIREDO, A. C. e LIMONGI, F. Política orçamentária no presidencialismo de coalizão. Rio de Janeiro: Editora da FGV/Fundação Konrad Adhenauer. 2008. GONTIJO, Vander. Orçamento impositivo, contingenciamento e transparência. Cadernos ASLEGIS: Perspectivas e Debates para 2011. Nº 39, jan/abr 2010. Brasília. _______________. O sistema de planejamento e o anexo de metas e prioridades da lei de diretrizes orçamentárias. Estudo Técnico nº 2, de 2012. Câmara dos Deputados. Disponível em: http://www2. camara.leg.br/atividade-legislativa/orcamentobrasil/orcamentouniao/ estudos/2012/ET022012SISTDEPLANEOANEXODEMETASDALDOx.pdf. Acesso em 14 abr. 2014. Brasília. ________________. Orçamento impositivo e o contingenciamento de emendas parlamentares. Estudo Técnico nº 10, de 2013. Câmara dos Deputados. Disponível em: http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/orcamentobrasil/estudos/2013/EST10.pdf. Acesso em 14 abr. 2014. Brasília. ________________. Um tiro no pé dos congressistas. Jornal Gazeta do Povo. Curitiba. Edição de 01 jun. 2014. Disponível em: www. gazetadopovo.com.br/opiniao/conteudo.phtml?ema=1&id=147284. Acesso em 28 jul. 2014. ________________, et al. O orçamento impositivo, o PAC e a aplicabilidade da legislação eleitoral. Revista de Administração Pública e Política – L&C, nº 189, de mar. de 2014. Brasília. ________________ e Liliane NOGUEIRA. Emendas ao anexo de metas e prioridades do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Artigos & Ensaios 67 Nota Técnica n.º 5 de 2013. Câmara dos Deputados. Disponível em: http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/orcamentobrasil/estudos/2013/NotaTcnicaN5_2013PrioridadeseImpositividadeVand er_Liliane.pdf. Acesso em 26 set 2014. Brasília. GREGGIANIN, Eugênio. Orçamento Participativo: Emendas de iniciativa popular ao Projeto de Lei Orçamentária da União para 2012. Estudo Técnico nº 17/14. CONOF/CD. Disponível em http://www2. camara.leg.br/atividade-legislativa/orcamentobrasil/estudos/2014/ EST17_2014.pdf; Acesso em 20 out. 2014. Brasília, 2014a. ___________________. Emendas Orçamentárias: Importância para os Municípios, Execução das Emendas, Orçamento Impositivo, Orçamento Participativo. Pesquisa de Opinião junto aos Gabinetes Parlamentares da Câmara dos Deputados. Estudo Técnico nº 16/14. CONOF/CD. Disponível em: http://www2.camara.leg.br/ atividade-legislativa/orcamentobrasil/estudos/2014/et16.pdf. Acesso em10 jun. 2014. Brasília, 2014b. HUMBERTO COSTA, Senador. Senado aprova em primeiro turno PEC do orçamento impositivo. In Priscilla Mendes. G1 Política. 05 nov. 2013. Disponível em: http://g1.globo.com/ politica/noticia/2013/11/senado-aprova-em-primeiro-turno-pec-do-orcamento-impositivo.html. Acesso em 18 ago. 2014. JARBAS VASCONCELOS, Senador. Senado aprova em primeiro turno PEC do orçamento impositivo. In Priscilla Mendes. G1 Política. 05 nov. 2013. Disponível em: http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/11/senado-aprova-em-primeiro-turno-pec-do-orcamento-impositivo.html. Acesso em 18 ago. 2014. LARANJEIRA, Sônia M. G. Gestão pública e participação: a experiência do orçamento participativo em Porto Alegre. In São Paulo em Perspectiva: 10 (3): 129-137. São Paulo: 1996. Disponível em: http://www.seade. gov.br/produtos/spp/v10n03/v10n03_16.pdf. Acesso em: 25 set. 2014. LITTLE, Paul E. (Org.). Os novos desafios da política ambiental brasileira. Editora Mil Folhas do IEB. Brasília, 2014. MACEDO, Roberto. Porcas emendas parlamentares. O Estado de São Paulo. Edição de 07 jul. 2011. Disponível em: http://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,porcas-emendas-parlamentares-imp-,741726. Acesso em 30 set. 2014. 68 Cadernos ASLEGIS | 50 • Setembro/Dezembro • 2014 MENDES, Marcos e Fernando Álvares Correia DIAS. A PEC do orçamento impositivo. Textos para discussão nº 149. Núcleo de Estudos e Pesquisas da Consultoria Legislativa do Senado Federal. Brasília. Maio de 2014. Disponível em www.senado.leg.br/estudos. Acesso em 14 mai. 2014. MUSGRAVE, Richard Abel. Teoria das Finanças Públicas: um estudo de economia governamental. Tradução de Auriphebo Berrance Simões. Atlas. Brasília, 1974. ______________________ e Peggy B. MUSGRAVE. Finanças Públicas: teoria e prática. Tradução Carlos Alberto Primo Braga. Rio de Janeiro: Campus, 1980. 673 p. NOGUEIRA, L. O. R. e V. GONTIJO. Orçamento Impositivo e o Sistema de Planejamento e Orçamento: a impositividade do Anexo de Metas e Prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Cadernos ASLEGIS. Nº 47. Brasília. Set/Dez 2012 NOGUEIRA, L. O. R. A impositividade do Anexo de Metas e Prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Trabalho de conclusão de curso apresentado ao Programa de Pós-Graduação do Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento da Câmara dos Deputados/Cefor como parte da avaliação do Curso de Especialização em Orçamento Público. Brasília, 2012. Biblioteca Digital da Câmara dos Deputados. Disponível em http://bd.camara.gov.br/bd/ bitstream/handle/bdcamara/11955/impositividade_anexo_nogueira. pdf?sequence=1. Acesso em 15 mai. 2014. O Estado de São Paulo. Opinião: A barganha das emendas. Edição de 23-11-2012. Disponível em http://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,a-barganha-das-emendas-imp-,963972. Acesso em 25 set. 2014. OLIVEIRA, Weder. Texto extraído de correspondência eletrônica mantida com o primeiro autor. 2014. PEREIRA, Carlos e Bernardo MUELLER. Comportamento estratégico em presidencialismo de coalizão: as relações entre Executivo e Legislativo na elaboração do orçamento brasileiro. Dados – Revista de Ciências Sociais. Vol. 45, nº 2. 2002 (PP. 265 a 301). Rio de Janeiro. PEREZ, Fausto; FAUSTO, Priscila. Democracia Direta e Cidadania: Um Estudo de Caso sobre o Orçamento Participativo em Guarulhos. Artigos & Ensaios 69 Revista Selected Works. 2009. Disponível em: http://works.bepress. com/pauloperes/3/. Acesso em 20 mai. 2014. PETRY, André. Cambalacho a caminho. Revista Veja. Edição de 14 de maio de 2014. PORTUGAL. Assembleia da República. Constituição da República Portuguesa. VII revisão constitucional - 2005. Disponível em http:// www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx. Acesso em 26 set. 2014. RABATONE, Daniel Bramatti Diego. Brasil do orçamento impositivo deixa 51% das cidades sem verba de emenda. Jornal O Estado de São Paulo. Edição de 09 set. 2013. Disponível em: http://politica.estadao. com.br/noticias/eleicoes,brasil-do-orcamento-impositivo-deixa-51-das-cidades-sem-verba-de-emenda-imp-,1072713. Acesso em 20 ago. 2014. REZENDE, Fernando e Armando CUNHA. O orçamento dos brasileiros: por que ele não desperta maior interesse? FGV Projetos nº 20. Cesar Cunha Campos, organizador. Rio de Janeiro. 2014. RIBEIRO, Romiro. Orçamento público semi-impositivo para transferências voluntárias: diagnóstico, perspectivas e proposta de mudanças. E-Legis - Revista Eletrônica do Programa de Pós-Graduação da Câmara dos Deputados, [S.l.], p. 149-167, jun. 2010. ISSN 2175-0688. Disponível em: http://e-legis.camara.leg.br/cefor/index. php/e-legis/article/view/30/40. Acesso em 26 Set. 2014. SANCHES, Osvaldo Maldonado. Dicionário de orçamento, planejamento e áreas afins. 2. ed. Brasília: OMS, 2004. SCHNEIDER, Aaron. Conflito Político e Instituições Orçamentárias: aprofundando a democracia no Brasil. Rev. Sociologia Política, nº 24, Curitiba, Junho 2005. Disponível em: http://www.scielo.br/ pdf/rsocp/n24/a07n24.pdf. Acesso em 22 out. 2013. PEDRO TAQUES, Senador. Aloysio: Orçamento impositivo facilita corrupção. Blog do Josias de Souza. 14 out. 2013. Disponível em: http://josiasdesouza.blogosfera.uol.com.br/2013/10/14/aloysio-orcamento-impositivo-facilita-corrupcao/. Acesso em 18 ago. 2014. TEIXEIRA, Ana Cláudia Chaves. O orçamento participativo em pequenos Municípios rurais: contextos, condições de implementação e formatos de experiência. Disponível em: http://democraciaejustica.org/ 70 Cadernos ASLEGIS | 50 • Setembro/Dezembro • 2014 cienciapolitica3/sites/default/files/orcamento_participativo_em_pequenos_municipios_rurais_anaclaudia.pdf. Acesso em 25 mai. 2014. VESELY, Thiago Andrigo. Emendas orçamentárias como instrumento de coordenação no legislativo brasileiro. Monografia apresentada ao Programa de Pós-Graduação do Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento da Câmara dos Deputados/CEFOR como parte da avaliação do Curso de Especialização em Política e Representação Parlamentar. Brasília, 2012. Disponível em: http:// bd.camara.gov.br/bd/handle/bdcamara/11755. Acesso em 26 set. 2014. VOLPE, Ricardo Alberto. Planejamento e desenvolvimento: produtividade dos programas federais. In Orçamento e Políticas Públicas: Condicionantes e Externalidades. ANFIP e Fundação ANFIP. Brasília, 2011. Artigos & Ensaios 71 Claudionor Rocha* Consultor Legislativo da Área de Segurança Pública e Defesa Nacional Nilo Alberto Barroso Consultor aposentado da Câmara dos Deputados, Advogado e Economista-MSc. A dinâmica da atual conjuntura econômica brasileira 73 Introdução O artigo objetiva mostrar que os resultados da política fiscal do novo Ministro da Fazenda poderão demandar mais tempo do que o desejável e que dificilmente a economia brasileira escapará de um quadro recessivo em 2016, ao contrário do que imagina o Governo. Por se tratar de análise conjuntural, não serão abordados as questões institucionais e estruturais e, entre estas últimas, o estado de ciência e tecnologia, do qual depende os ganhos constantes de produtividade. Esses fatores são vitais à retomada da atividade econômica em bases sólidas e nos níveis de crescimento desejados, assuntos que pertencem ao campo da teoria do desenvolvimento econômico. Metodologia A presente análise cingir-se-á ao exame das injeções e vazamentos da renda nacional em vez da utilização dos modelos econométricos tradicionais. Como injeções consideram-se as seguintes variáveis: investimento privado (I), os gastos do governo (G) e as exportações (X). Como vazamentos: poupança agregada (S), total das importações (M) e o total de impostos (T). Em síntese: Injeções = I + G + X Vazamentos = S + T + M A lógica desse método fundamenta-se no fato de que o incremento das despesas (demanda agregada) têm o poder de amplificar a renda nacional mais do que proporcionalmente ao acréscimo da demanda, o que os economistas chamam de efeito multiplicador das despesas, amplificação que encontra seu limite na propensão marginal a poupar, ou seja, na relação incremento de renda nacional/incremento da poupança. Já os efeitos multiplicadores dos impostos e das importações são negativos, no curto prazo, já que apresentam vazamentos do fluxo de renda. Obviamente esse método apresenta muitas limitações teóricas, sobretudo no presente artigo, por não se utilizar dados paramétricos. Mas, em compensação, tem a virtude de propiciar, no caso, maior nível de compreensão dos assuntos aqui tratados. O comportamento das variáveis macroeconômicas na política de ajustamento fiscal no curto prazo O método básico da presente análise é de fácil compreensão. Se as injeções forem maiores do que os vazamentos, haverá crescimento do Produto Interno Bruto (PIB). Se as injeções forem menores do que os vazamentos, haverá redução do ritmo de crescimento do PIB. Se as injeções Artigos & Ensaios 75 forem iguais aos vazamentos, o ritmo de crescimento do PIB manter-se-á estável, que tanto pode ser com desemprego de recursos produtivos e com inflação alta, ou com pleno emprego e nível geral de preços sob controle. Injeções>vazamentos – o PIB está crescendo Injeções<vazamentos – o PIB está em queda Injeções=vazamentos – o PIB está em equilíbrio A julgar pelo fato de que o crescimento, nos dois últimos anos, não difere estatisticamente de zero, significa que os gastos do Governo (G), apesar de elevados – 40% do PIB – não tiveram força suficiente para alavancar a economia. O governo gasta muito e gasta mal. De outro lado, a política econômica implementada nos últimos anos afugentou os investimentos privados. Já a balança comercial, muito dependente das importações chinesas e dos preços das commodities, apresentou, em 2014, déficit sem precedentes desde 1998. Ou seja, todas as forças propulsoras da economia foram comprometidas pela ineficiência e desperdícios na alocação dos recursos produtivos, ensejados pela má-governança e pela condução equivocada da política econômica. O esforço de ajustamento fiscal a ser implementado provavelmente terá de ser mais profundo do que se imagina, já que as distorções acumuladas nos últimos anos foram grandes. Certamente, haverá pressões políticas muito fortes em sentido contrário às mudanças desejadas, tendo em vista o quadro recessivo que predominará em 2015 e 2016. E a julgar pelos resultados dos programas de ajustamento fiscal postos em prática em Portugal, Espanha, Grécia e Irlanda, tomara que isso não ocorra no biênio seguinte. Introduzir reajustes na fase de expansão da economia é tarefa relativamente fácil. Difícil, contudo, é fazê-los na estagnação e com níveis de inflação elevados. Isso requer disciplina fiscal, persistência na obtenção dos objetivos almejados e decisivo apoio político. O Japão é um caso típico de manejo inadequado dos instrumentos macroeconômicos de expansão da atividade econômica, pois as políticas implementadas foram débeis para superar os efeitos recessivos da crise dos anos 90. Resultado: até hoje patinha em patamares de crescimento medíocres. No Brasil, a situação é mais delicada quanto ao uso desses instrumentos, dada a existência de recessão e níveis elevados de inflação (talvez se tenha que combinar, de forma equilibrada, o que recomenda a escola de pensamento de Milton Friedman com o uso moderado da teoria keynesiana). 76 Cadernos ASLEGIS | 50 • Setembro/Dezembro • 2014 Não se pode desprezar, portanto, a hipótese de que se os ajustes na política fiscal forem insuficientes, a retomada do crescimento será débil e intermitente. Feitas essas ponderações, serão analisados os resultados previsíveis, mas não livres de surpresas, das medidas de ajuste econômico que o Governo pretende adotar ou que serão adotadas após sua aprovação pelo Congresso Nacional. Primeiro serão analisados os efeitos das injeções e depois os dos vazamentos. Injeções Investimento privado (I). Tudo leva a crer que os investimentos privados não terão impactos significativos no crescimento do PIB, pelo menos no biênio 2015/2016, visto que o investimentos em execução não afetam a oferta agregada no curto prazo e os novos investimentos requerem prazo de maturação para entrarem em operação. Sem mencionar, obviamente, o ambiente de incerteza prevalecente na classe empresarial e os elevados níveis das taxas de juros em relação aos retornos esperadas. Ademais, ainda não se tem uma ideia de qual será política econômica a ser posta em prática, caso a primeira fase de ajuste tenha êxito. Gastos do governo (G). Não se sabe até agora qual será a magnitude do nível de ajuste fiscal a ser implementado pelo Ministério da Fazenda e do Planejamento, porque isso dependerá das alterações a serem feitas pelo Congresso Nacional. Os novos investimentos do Governo dependem de prazo longo para entrarem em operação, em face das análises ambientais e dos processos de licitação. As obras em andamento estão com seus cronogramas atrasados, porque as maiores construtoras nacionais estão sob suspeita e investigação. Ademais, a rigidez do orçamento fiscal, o tamanho do aparato administrativo do Executivo, o serviço da dívida pública e sua rolagem (esse item sozinho correspondeu a cerca de 40% do orçamento fiscal aprovado para 2014), constituem limitações severas ao corte significativo dos gastos públicos, de modo a assegurar um ajustamento fiscal mais rápido e profundo. Tais fatores irão impactar negativamente a retomada do crescimento. Exportações (X). A desvalorização cambial é um fator positivo no ritmo de crescimento da economia. Mas, como o resultado líquido das exportações (X-M) são da ordem de 5,0% do PIB, o seu poder de alavancagem é relativamente pequeno. Além disso, o crescimento das exportações em nível acelerado dependerá de uma política comercial mais agressiva, inviável no curto prazo. E os ganhos adicionais de renda e emprego nas cadeias produtivas dos setores industriais e exportadores dependem da desvalorização do real em relação aos preços das commodities. Artigos & Ensaios 77 Vazamentos Poupança agregada (S). A inflação em patamares elevado está aumentando os gastos com alimentação, vestuário, gasolina, energia e os preços dos serviços públicos e privados. Esses aumentos, juntamente com o crescente nível de desemprego, reduzirão a margem da renda real destinada à poupança privada. A esperança é que a situação não se agrave com a elevação da taxa de juros da economia americana, porque, se isso acontecer, a poupança externa sofrerá acentuado decréscimo, além de agravar o déficit em transações correntes. Considerados todos esses fatores, a poupança agregada poderá constituir severa restrição à elevação da taxa de investimento bruto da economia, com reflexos negativos no crescimento do PIB. Impostos (T). Mesmo que não haja aumento da tributação (hipótese improvável, dada a rigidez orçamentária a impedir cortes mais profundos dos gastos públicos), as tarifas e os preços públicos, juntamente com o alinhamento dos preços privados em sintonia com as forças de mercado provocarão efeitos negativos na renda familiar e na poupança privada (as retiradas nas cadernetas de poupança em março foram maiores do que os depósitos e essa parece ser a tendência futura). Contudo, uma provável elevação da carga tributária encontrará seu limite no fato de que acentuará ainda mais os fatores recessivos. A alternativa, uma política de contingenciamento orçamentário mais forte do que o programado, agravará também o quadro recessivo. Não há alternativa indolor. Importações (M). O valor das importações deverá cair em face da desvalorização do real, com reflexos negativos nas taxas de inflação e nas opções de ajustamento fiscal. No entanto, a desvalorização da nossa moeda frente ao dólar poderá ter efeitos positivos no equilíbrio das contas externas e na recuperação do setor industrial e de sua cadeia produtiva. Conclusões Pesados todos esses fatores, verifica-se que a expansão da economia brasileira poderá ser influenciada positivamente pelo comportamento das exportações e importações a depender dos níveis de desvalorização do real. De qualquer modo, os seus efeitos não serão significativos em termos de alavancagem econômica, pois o valor da balança comercial representa cerca de 10% do PIB. Assim, os efeitos das medidas de ajustamento fiscal talvez demandem mais tempo do que o desejável e os cortes poderão ser mais profundos do que se imagina. Tudo dependerá, inclusive, do nível de calibragem entre 78 Cadernos ASLEGIS | 50 • Setembro/Dezembro • 2014 as diversas medidas de ajustamento econômico, tarefa que exige paciência, perseverança, eficiência e habilidade das autoridades econômicas em face da necessidade de conciliar situações conflitantes derivadas de pressões políticas. Nesse cenário, será uma proeza a economia brasileira livrar-se de um quadro recessivo em 2016, ao contrário do que seria desejável. E a julgar pelos resultados dos programas de ajustes implementados por Portugal, Espanha, Grécia e Irlanda, infelizmente não são animadoras as possibilidades de que a economia entre em ritmo autossustentado e de crescimento nos níveis desejados em 2017/2018. Artigo escrito em abril de 2015. Artigos & Ensaios 79 Claudionor Rocha* Consultor Legislativo da Área de Segurança Pública Fábio de Barros Correia GomesNacional e Defesa Doutor em ciência política pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) – Rio de Janeiro (RJ), Brasil. Consultor legislativo da Câmara dos Deputados – Brasília (DF), Brasil. Professor do mestrado profissional em Poder Legislativo dessa instituição. [email protected] Dinâmica da política de saúde na Nova República 81 Resumo Palavras-chave Abstract Keywords Esse artigo reflete sobre a dinâmica política entre atores do Legislativo e do Executivo federal na Nova República, a partir de dispositivos sobre políticas de saúde inseridos na Constituição de 1988, os quais tentaram estabelecer uma conexão normativa com a legislação que seria necessária à implantação do sistema de saúde. A apreciação da dinâmica utiliza-se de dados da literatura e da análise de caso sobre as proposições legislativas que definiram o financiamento da saúde. Foi observado que prevaleceu o poderio das coalizões de governo nas superações do conflito distributivo, as quais não têm privilegiado o alcance de níveis de financiamento adequados às demandas do sistema de saúde. O Legislativo buscou a superação dessa situação, contudo, ainda sem a autonomia necessária para alcançar resultados suficientes. Poder Executivo; Poder Legislativo, política pública, saúde. Dynamics of Health Policy in the New Republic. This article considers the political dynamics between actors of the Legislative and the Executive Branch in the New Republic, from directions on health policies embedded in the 1988 Constitution, which tried to establish a normative connection with legislation that would be required for the health system implementation. The appreciation of the dynamics used data from the literature and case analysis on legislative proposals that defined health financing. It was observed the prevailing power of coalition governments to overcome the distributive conflict, which has not favored adequate fund levels, according to the demands of the health system. The Legislative sought to overcome this situation, however, without the necessary autonomy to achieve sufficient results. Executive Power; Legislative Power, public policy, health. 82 1- Introdução O contexto democrático da Nova República propiciou profundas alterações nas “regras do jogo” para elaboração das mais variadas políticas públicas no Brasil, bem como no conteúdo das mesmas, atendendo aos anseios de setores organizados da sociedade. A Constituição de 1988 não apenas estabeleceu os limites e potencialidades dos atores políticos, como também o “caminho” a ser seguido por estes na implantação de políticas específicas, como as saúde. Nesse artigo, são expostos argumentos sobre a relevância da Constituição de 1988 na definição dos marcos das políticas de saúde, bem como sobre a dinâmica entre os atores políticos (com ênfase no nível federal), visando à concretização das mesmas. Para tanto, inicia-se com a identificação da abordagem da saúde nas Constituição brasileira; seguindo-se uma apreciação da relação entre atores do Executivo e Legislativo federal na definição de políticas de saúde, considerando dados da literatura e de análise de proposições legislativas que definiram o financiamento do SUS; finalizando com considerações sobre a dinâmica política relacionada. 2- Abordagem da saúde na Constituição do Brasil Em análise prévia sobre a abordagem da saúde nas constituições brasileiras, observou-se que a mesma “evoluiu progressivamente, acompanhando o processo histórico de ampliação dos direitos do cidadão” (GOMES, 2008). Em quase 200 anos, “a sociedade brasileira partiu de uma visão política mais liberal do Estado - garantidor das liberdades individuais e da segurança coletiva -, passando pelo Estado promotor do desenvolvimento e garantidor de direitos trabalhistas e da reprodução da força de trabalho, até chegar ao Estado provedor, bem-feitor e garantidor de direitos sociais, não apenas vinculados à condição de trabalhador, mas à condição de cidadão”. Conquistas sociais (e até expressões) de constituições anteriores foram mantidas e progressivamente ampliadas; com progressiva menção de deveres das entidades federadas, iniciando pela União, até alcançar os Municípios (GOMES, 2008). A Constituição de 1988 (BRASIL, 1988) explicitou a saúde como um dos direitos sociais (art. 6º). Ao dispor sobre o salário mínimo (art. 7º, IV), indicou ques este deveria ser capaz de atender as necessidades vitais básicas do trabalhador e sua família, incluindo a saúde. O art. 23, inciso II, reconheceu a competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para “cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência” e o art 24, a competência Artigos & Ensaios 83 concorrente da União, Estados e Distrito Federal para legislar sobre “previdência social, proteção e defesa da saúde” (inciso XII). O mesmo artigo limitou a competência da União ao estabelecimento de normas gerais, sem excluir a competência suplementar dos Estados. Os Municípios receberam competência para “legislar sobre assuntos de interesse local” (art. 30, I); para “suplementar a legislação federal e a estadual no que couber” (art. 30, II); e para “prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população (art. 30, VII). A Constituição de 1988 inseriu a saúde no contexto da seguridade social, que “compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social” (art. 194). Foi estabelecido que o financiamento da seguridade social seria realizado mediante recursos dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e de contribuições sociais (art 195). Admitiu-se que a “lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da seguridade social, obedecido o disposto no art. 154, I (art 195, § 4º). Foi mantida previsão da constituição anterior, segundo a qual “nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total” (art 195, § 5º) . Os artigos 196 a 200 tratam especificamente da saúde. Destacando-se seu reconhecimento como “direito de todos e dever do Estado” (art. 196) e a relevância pública das ações e serviços de saúde, que podem ser executadas diretamente ou através de terceiros, inclusive da iniciativa privada (art. 197). O art. 198 explicitou uma rede regionalizada e hierarquizada, constituindo um sistema único de saúde, sob as diretrizes da descentralização, integralidade da atenção e da participação da comunidade; a ser financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes. A Emenda Constitucional nº 29, de 2000, modificou esse artigo, tornando mais específicas as obrigações relacionadas ao financiamento da saúde para os entes federados.1 Foi determinado que a assistência à saúde “é livre à iniciativa privada”, admitindo sua participação de forma complementar, com preferência para as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos (art. 199). Foi vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições com fins lucrativos e a participação direta ou indireta de 1 O ato das disposições constitucionais transitórias também apresentou relevantes determinações para o financiamento da saúde. O art. 55, indicou que, até que fosse “aprovada a lei de diretrizes orçamentárias, trinta por cento, no mínimo, do orçamento da seguridade social, excluído o seguro-desemprego”, seriam destinados ao setor de saúde. 84 Cadernos ASLEGIS | 50 • Setembro/Dezembro • 2014 empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde, salvo nos casos previstos em lei. O art. 199 também tratou de políticas específicas, como o transplante de órgãos e a transfusão sanguínea. O art. 200 especificou algumas das competências do Sistema Único de Saúde (SUS) e indicou que outras podem ser estabelecidas em lei. Em outros capítulos da Constituição de 1988 há interfaces explícitas entre a saúde e outras políticas públicas, como: a educação (artigos 208 e 212), comunicação social (art. 220), proteção à criança e ao adolescente (art. 227) e controle do abuso de drogas (art. 243). Enfim, a Constituição de 1988 estabeleceu os pilares da política de saúde pública, alterando radicalmente sua estrutura. Fleury (2009) destacou que a Constituição “representou uma ruptura com o modelo tanto de Estado quanto de cidadania anteriores, em resposta à mobilização social que a antecedeu”. É comum a percepção de que os constituintes não previram as fontes dos recursos para implantar as políticas sociais, mas no caso da saúde, ainda que não tenha sido possível solução duradoura, o art. 55 do Ato das Disposições Transitórias estabeleceu que um mínimo de 30% do orçamento da seguridade social, excluído o seguro-desemprego, seriam destinados ao setor de saúde até a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Apesar de “constitucionalização” da saúde, graças às demandas da sociedade civil e do “movimento sanitário”, para ser implantado, o SUS passou a depender da regulamentação legal de temas que viriam a se constituir nos seus grandes gargalos: o financiamento, os recursos humanos, as atribuições de gestão das unidades federadas e o efetivo controle social. Tais temas de conflito representam oportunidades de observação da dinâmica de definição de políticas de saúde entre atores políticos no contexto da Nova República. Tal dinâmica será abordada na seção seguinte e, em razão da limitação de espaço de um artigo, será priorizado um tema que tem gerado vários impasses: o financiamento do SUS. 3- Relação entre o Executivo e o Legislativo federal na definição de políticas de saúde Em análise sobre a relação entre o Legislativo e o Executivo federal na produção de políticas de saúde, Nitão (1997) concluiu que, entre 1947 e 1964, as diversas políticas de saúde implantadas no Brasil decorreram de propostas elaboradas por iniciativa do Executivo e que o Legislativo foi incapaz de formular propostas que viabilizassem a construção de um arcabouço jurídico-legal universal, limitando-se a realizar ajustes nas propostas do Executivo. Artigos & Ensaios 85 Rodrigues e Zauli (2002) avaliaram o período entre 1985 e 1998 e observaram que os presidentes legislaram na área da saúde “praticamente à margem do Congresso,” por meio da edição de medidas provisórias, que foram pouco modificadas em seu conteúdo. Entretanto, sugeriram uma recuperação da capacidade “legiferante” do Congresso, pois muitas das medidas provisórias foram reeditadas por algum tempo, mas ao final não foram convertidas em lei. Além disso, o Legislativo destacou-se como autor de legislação relevante para o setor da saúde, particularmente no nível de emendas constitucionais. Baptista (2003, 2010) avaliou o período pós-Constituição de 1988 e identificou três períodos de elaboração de leis na saúde: o primeiro, relacionado à definição da base institucional do Sistema Único de Saúde (SUS) (1990-1994); o segundo, de expansão de políticas técnicas e específicas de saúde, seguidas de uma política de regulação do mercado em saúde (1995-2002); o terceiro, de retorno das políticas específicas diretamente atreladas a um projeto do Governo Federal (2003-2006).” Segundo Baptista (2010), no primeiro período, a autoria do Executivo e os interesse macro-econômicos foram predominantes, mas o Legislativo atuou na negociação de relevantes leis para o SUS e destacou-se em reformas constitucionais. No segundo período, destacam-se temas que reafirmam o direito à saúde e o Legislativo atuou para atender interesses de corporações e de movimentos sociais. Também destacam-se as leis sobre dias comemorativos. No terceiro período, também voltado a demandas específicas, a autora destacou a produção de leis sobre políticas de interesse do Executivo (não exclusivas da área da saúde), visando a redução da desigualdade. Seus dados indicaram preponderância do Executivo na aprovação de leis, “persistindo o caráter indutor e concentrador desse poder na forma de relação estabelecida com o Congresso Nacional” (BAPTISTA, 2003). Godoi (2008) analisou a legislação da saúde produzida entre 1988 e 2008 e rejeitou “as teses de que os parlamentares tendem a produzir leis que distribuem benefícios concentrados e da primazia do Poder Executivo na produção de leis.” Encontrou predomínio do Legislativo na aprovação de leis ordinárias e também de emendas constitucionais. O Executivo predominou na autoria de leis estruturantes do SUS e o Legislativo, na de políticas de saúde específicas ou de cunho simbólico. Em análise da tramitação de mais de 20 mil proposições apresentadas entre 1999 e 2006 e um subconjunto de projetos relacionados à saúde, por meio de abordagem sistêmica e estratégica, foram questionadas as 86 Cadernos ASLEGIS | 50 • Setembro/Dezembro • 2014 teses da demarcação da agenda entre os Poderes e da predominância do Executivo na produção legislativa (GOMES, 2011). No conjunto total de temas, o êxito legislativo do Executivo variou inversamente com a hierarquia da via (se ordinária, complementar ou constitucional). O desempenho do Legislativo chegou a superar o do Executivo na via constitucional, com destaque para a atividade do Senado, e na via ordinária (apenas no caso dos projetos de lei ordinária, pois os privilégios de iniciativa exclusiva do Executivo para leis orçamentárias e de edição de medidas provisórias garantiram maior desempenho quantitativo a esse Poder nessa via). Os dados quantitativos e qualitativos sugeriram a existência de mais de um tipo de relação entre o Executivo e o Legislativo na produção legislativa (a depender do conteúdo da proposição), incluindo a cooperação, a liderança da coalizão, a liderança do Legislativo, e o impasse. Contudo, a força da coalizão foi expressiva em todas as vias legislativas (GOMES, 2011, 2012). No caso da saúde, a produção na via constitucional foi mais expressiva que na complementar, quebrando o padrão geral, refletindo a “constitucionalização” presente nessa área. Uma análise dos conteúdos das proposições de saúde sugeriu que o nível de conflito distributivo gerado pela proposição é importante para motivar um maior envolvimento do Executivo na tramitação.2 Contudo, conteúdos não-orçamentários que afetem a “accountability”, a governabilidade, ou, mais amplamente, a sua “capacidade governativa” - na expressão de Santos (1997) – também podem originar interações conflituosas (GOMES, 2011). Um tema que resultou em várias situações de impasse (e também de superação das mesmas) é considerado a seguir. 3.1 Interações entre o Legislativo e o Executivo na definição do financiamento da saúde pública3 Esta seção considera a tramitação de proposições que resultaram nos marcos legais do financiamento do SUS, cujas tramitações são ilustradas nas figuras 1 (destacando as proposições) e 2 (destacando as situações de resistência à ampliação do financiamento). 2 Por exemplo, o comprometimento do orçamento federal, esteve presente em 10 das emendas constitucionais aprovadas e todas foram de autoria da coalizão de governo, sendo 6 do Executivo e as demais, de parlamentares da coalizão (GOMES, 2011). 3 O caso do financiamento da saúde também foi abordado em publicação com foco direcionado à política de saúde (GOMES, 2014), enquanto que o presente artigo prioriza a dinâmica política e representa aperfeiçoamento de trabalho apresentado em sessão oral do Encontro da Associação Brasileira de Ciência Política de 2012 (área temática 05 – Estado e Políticas Públicas - Financiamento das políticas). Artigos & Ensaios 87 O financiamento da saúde pública tem produzido conflito desde a Constituinte que resultou na Constituição de 1988. Rodriguez Neto (2003) observou que “o aspecto mais polêmico, além do referente ao detalhamento e à participação do setor privado, foi o relativo ao financiamento, evidenciando seu insuficiente tratamento técnico anterior” (nas comissões da Constituinte). Após a criação do SUS, segundo Carvalho (2008), desde 1989, as leis orçamentárias mantiveram a definição dos 30% dos recursos da seguridade para o financiamento da saúde, mas em 1994 o presidente Itamar Franco vetou este dispositivo. Caso tivesse sido adotado como solução permanente, o nível federal disporia hoje de pouco mais que o dobro do orçamento para a saúde (CARVALHO, 2008; JORGE, 2010). Apesar da constitucionalização da saúde, persistiu a “necessidade de mecanismos legais que assegurem pisos de gastos necessários à saúde, seja por via de percentuais mínimos, seja pela vinculação interna de elementos da receita da seguridade social à saúde” (...) “tudo” teria “que ser conquistado através da legislação complementar” (RODRIGUEZ NETO, 2003). Figura 1. Linha do tempo de proposições que resultaram nos marcos legais do financiamento do SUS, segundo períodos de governo. Legendas: A barra horizontal superior representa os períodos de governo dos presidentes da República, a inferior, o tempo e as intermediárias, as proposições legislativas. As bandeiras representam os marcos legais. 88 Cadernos ASLEGIS | 50 • Setembro/Dezembro • 2014 Figura 2. Linha do tempo dos marcos legais do financiamento do SUS e das situações de resistência à ampliação deste, segundo períodos de governo. Legendas: A barra horizontal superior representa os períodos de governo dos presidentes da República e a inferior, o tempo. As bandeiras representam os marcos legais e os triângulos, as situações de resistência à ampliação de recursos. A implantação do SUS requeria, assim, a produção de legislação regulamentadora, o que se efetivou por meio das Leis no 8.080 e no 8.142, ambas de 1990, e que compõem a denominada “Lei Orgânica da Saúde”. Ambas foram iniciadas pelo Executivo, e não poderia ser diferente, pois apenas este Poder tem a competência para iniciar proposições que abordem a estruturação das atividades sob sua responsabilidade. Assumir uma liderança do Executivo apenas em função da autoria não seria adequado, pois segundo o art. 59 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o Executivo deveria encaminhar os projetos de lei relativos à organização da seguridade social no prazo máximo de seis meses, mas o Presidente José Sarney enviou o da saúde após quase 10 meses. Foi necessária a realização de Simpósio Nacional de Saúde na Câmara dos Deputados em 1989, por demanda do movimento sanitário, a fim de pressionar o Executivo a elaborar o projeto da Lei Orgânica da Saúde (RODRIGUEZ NETO, 2003). O projeto de lei ordinária (PL) no 3.110 foi apresentado na Câmara dos Deputados em 1o de agosto de 1989 e tramitou no Congresso por pouco mais de um ano, sem regime de urgência. A Lei no 8.080 foi sancionada em 19 de setembro de 1990 pelo presidente Collor de Mello, com 26 vetos parciais (mensagem 680/90), os quais foram mantidos em abril de 1991. Um dos vetos incidiu sobre artigo abordando o financiamento da saúde. Nova mobilização junto ao Executivo fez com que este apresentasse novo projeto (PL 5.995) em 12 de dezembro de 1990, aborArtigos & Ensaios 89 dando apenas a questão da participação social e a transferência de recursos no SUS, resultando na Lei no 8.142, sancionada em 28 de dezembro de 1990, em apenas 16 dias (seis deles correspondendo à tramitação nas duas Casas). As resistências para a aprovação dessas leis e os vetos presidenciais são indicativos das tensões que persistiram após a Constituinte. Após a produção da Lei Orgânica, prevaleceu a via infra legal, na normatização da estruturação do SUS, por meio de numerosas portarias ministeriais (para onde se deslocou também o foco da sociedade organizada), por exemplo, que introduziram as Normas Operacionais Básicas (NOBs), as quais estabeleceram “obrigações” aos entes federados para o recebimento de recursos; que até poderiam ser questionáveis em relação ao que foi delegado em lei, mas que persistiram sem a devida fiscalização da parte do Legislativo. Por exemplo, planos e relatórios de gestão, que deveriam ser exigidos de todos os gestores do SUS, segundo a Lei no 8.142, de 1990, em geral tem recebido tratamento burocrático, deixando de contribuir para o planejamento coerente das atividades do sistema. Segundo Rodriguez Neto (2003), a implantação do SUS foi realizada de modo a prejudicar “o planejamento ascendente, os planos de saúde e a descentralização com direção única em cada esfera de governo”, provocando o afastamento do SUS do princípio da integralidade da atenção à saúde. Em 2002, o Ministério da Saúde possuía mais de 60 maneiras de repassar recursos. Os recursos tornaram-se “carimbados” pelo nível central, prejudicando o planejamento e a ação dos conselhos de saúde. A indefinição sobre um montante estável para o financiamento do setor saúde resultou em crise a partir da década de 1990. Então, a CPMF foi criada após demandas do ministro Adib Jatene por mais recursos para a saúde. Foi inspirada no Imposto Provisório sobre Movimentação Financeira (IPMF), instituído pela Lei Complementar N° 77, de 13 de julho de 1993, com alíquota de 0,25% sobre as movimentações financeiras e incidência até dezembro de 1994; a qual permitiu alocação de recursos em programas de educação e habitação popular, mas não de saúde. A CPMF foi criada pela Emenda Constitucional nº 12, de 15 de agosto de 1996, que incluiu o art. 74 nas disposições transitórias, permitindo à União “instituir contribuição provisória sobre movimentação ou transmissão de valores e de créditos e direitos de natureza financeira.” A alíquota de contribuição não poderia exceder a 0,25%; com o produto da arrecadação a ser “destinado integralmente ao Fundo Nacional de Saúde, para financiamento das ações e serviços de saúde”. Também havia previsão de que não poderia ser cobrada por prazo superior a dois anos. A regulamentação ocorreu por meio da Lei ordinária no 9311, de 90 Cadernos ASLEGIS | 50 • Setembro/Dezembro • 2014 24 de outubro de 1996. Essa matéria foi alterada por mais oito leis e três medidas provisórias (até 2007) e, principalmente, por mais três Emendas Constitucionais (a 21/1999, a 37/2002, e a 42/2003), que prorrogaram sua duração ou modificaram sua alíquota. Essas alterações constitucionais no Ato das Disposições Transitórias, bem demonstram o caráter temporário das soluções. Tal transitoriedade teria continuado caso a oposição, com apoio de parte da base governista do Senado Federal não tivesse derrubado a CPMF em 2007. A votação por artigos da proposta de emenda à Constituição (PEC), que tentava nova prorrogação da CPMF, provavelmente permitiu “salvar” o conteúdo restante, que tratava nada menos que da desvinculação das receitas da União (DRU), outro dispositivo de grande interesse orçamentário do Executivo. As normas relacionadas à CPMF terminaram por promover a elevação dos recursos disponíveis ao Executivo, sem uma preocupação efetiva em ampliar o financiamento da saúde. Na prática, apesar de a saúde ter sido utilizada como justificativa para a criação e manutenção dessa contribuição, a situação de insuficiência permaneceu inalterada. Segundo Carvalho (2008), a CPMF “já chegava à saúde mordida em 20%” pela DRU, o que foi complementado pelo decréscimo de outras fontes (principalmente a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social – COFINS – e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSSL). Persistia, assim, o subfinanciamento da saúde. Outras soluções para o problema do financiamento continuaram a ser apresentadas por parlamentares. Destacou-se a PEC 169, de autoria dos deputados Waldir Pires (PSDB/BA) e Eduardo Jorge (PT/SP), apresentada em 7 de julho de 1993 e que pretendia uma garantia de aplicação na saúde pela União de no mínimo 30% dos recursos da seguridade social provenientes das contribuições sociais e de 10% da receita resultante dos impostos. Para os Estados e Municípios, o mínimo seria de 10% da receita dos impostos. A justificação da proposta foi breve e não mencionou montantes, nem a evolução dos recursos. Até 1999, nenhuma providência foi tomada para que a proposição fosse votada em plenário. Nesse período, a opção foi pela produção de normas sobre a CPMF. Outra PEC que tramitava em paralelo, a PEC 82, apresentada em 27 de abril de 1995, pelo deputado Carlos Mosconi (PSDB/MG), destinava à saúde todos os recursos das contribuições dos empregadores sobre o faturamento e o lucro. Em 31 de agosto de 1999, já numa nova legislatura, a presidência da Câmara determinou a apensação da PEC 82/1995, à PEC 169/1993. O deputado Ursicino Queiroz (PFL/BA) foi nomeado relator, agrupando as propostas na PEC 82-A. Em 10 de novembro, a proposta foi aprovada e Artigos & Ensaios 91 encaminhada ao Senado. Naquela Casa, a proposição (denominada de PEC 86/1999) foi relatada pelo Senador Antônio Carlos Valadares (PSB/SE), com o voto pela aprovação da matéria. Nessa fase final, a tramitação foi consensual e a Emenda Constitucional nº 29 foi promulgada em 13 de setembro de 2000. Ressalte-se que a aceleração da fase final da tramitação contou com o apoio do então ministro da saúde, José Serra (PSDB/SP). Finalmente, foram estabelecidas previsões mais estáveis para o financiamento da saúde, tornando mais específicas as obrigações relacionadas ao financiamento da saúde. Os Estados deveriam aplicar um mínimo de 12% de suas receitas em ações e serviços de saúde, e os municípios, 15%. A União não foi contemplada com percentual de vinculação de receita, mas em 2000, deveria aplicar o montante empenhado em ações e serviços públicos de saúde no exercício financeiro de 1999, acrescido de, no mínimo, cinco por cento. Entre 2001 e 2004, a União deveria aplicar o valor apurado no ano anterior, corrigido pela variação nominal do Produto Interno Bruto (PIB). Esses critérios deveriam ser revistos em cinco anos, mas foi indicado que na ausência de lei complementar, a partir do exercício financeiro de 2005, seriam mantidos. Entre os avanços da Emenda 29, Carvalho (2008) destacou: a possibilidade de fixar recursos constitucionalmente para a saúde, a definição de critérios para tanto; a constitucionalização do fundo de saúde em cada esfera de governo e das atribuições do conselho de saúde para acompanhar e fiscalizar o fundo de saúde; a definição de sanções para o descumprimento da Emenda e auto-aplicabilidade da norma. Como derrotas contabilizou: os quantitativos definidos (melhores, mas ainda insuficientes) e a redução da participação dos recursos da União, com elevação para Municípios e Estados. Segundo esse autor, “a grande jogada” do governo foi pressionar o Congresso para aprovar sua proposta. Simulações sobre a evolução do financiamento indicaram que a proposta do governo teria reduzido em mais de 50%, os valores a serem aplicados em saúde pela União, em comparação ao pretendido pela PEC 169/1993 (CARVALHO, 2008). Após a Emenda 29, observou-se aumento da participação no financiamento por parte dos municípios e dos estados e retração relativa da União (FRENTE PARLAMENTAR DA SAÚDE, 2005, 2007; MENDES e MARQUES, 2009). Embora a regulamentação da Emenda 29 por meio de lei complementar só tenha sido aprovada pelo Congresso no final de 2011, propostas foram apresentadas desde 2001, contudo, mais evidências se acumularam indicando resistências do Executivo em promover um aumento de sua participação no financiamento da saúde. 92 Cadernos ASLEGIS | 50 • Setembro/Dezembro • 2014 O PLP 201/2001, de autoria do deputado Ursicino Queiroz, que relatou a Emenda 29 na Câmara, previa como critério para a União a partir de 2005, o percentual de 11,5%, calculados sobre o total de receitas de impostos e contribuições da União, descontadas as transferências constitucionais. Os critérios para estados e municípios seriam mantidos. O parlamentar mencionou a necessidade de regulamentação da Emenda 29, para que também ficassem claros os gastos admissíveis como da saúde. Essa proposição foi completamente ignorada e arquivada ao final da legislatura sem ter recebido um único parecer de comissão. O relator designado na Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF), em junho de 2001, devolveu a proposição sem manifestação em 13 de dezembro de 2002. Com a nova legislatura e alternância de poder no Executivo, em 18 de fevereiro de 2003, o deputado Roberto Gouveia (PT/SP) apresentou o PLP 01/2003, com absolutamente o mesmo teor e critérios do PLP 201/2001. Na CSSF, o deputado Guilherme Menezes (PT/BA) foi nomeado relator e após amplas consultas apresentou seu relatório. No que concerne a União, a proposta foi de destinar para ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 10% de suas receitas correntes, tomadas como base de cálculo. Comparando com a proposta original, considerou que a mesma resultaria num orçamento de 28 bilhões de Reais em 2002, enquanto que a nova proposta resultaria em 34 bilhões de Reais. Segundo o relator, o substitutivo apresentado na CSSF avançou na delimitação do campo a que correspondem as ações e serviços públicos de saúde, “para por fim às controvérsias que a ausência de tal definição tem gerado e que causam problemas para os gestores quando da aplicação dos recursos.” Segundo Carvalho (2008), o PLP 01/2003 passou a ser a nova bandeira da Reforma Sanitária. Na CSSF, comissão permanente que tem competência regimental para debater a política de saúde e composta por muitos profissionais da saúde e sanitaristas históricos, a proposição não tramitou com facilidade, mesmo considerando que a autoria, a relatoria e a presidência da comissão (no ano da apresentação) pertenciam a membros do mesmo partido que o do chefe do Executivo. Segundo Carvalho (2008), o relatório foi aprovado “a duras penas”, pois o governo de Lula da Silva “fez de tudo” para que o projeto não fosse aprovado na CSSF. Episódios que precederam a votação na CSSF não deixam dúvida de que o Executivo não desejava a progressão da matéria naquele momento. Em reunião do Conselho Nacional de Saúde em 4 de agosto de 2004 o ministro da saúde Humberto Costa informou que a Emenda deveria permanecer como estava, para discussão posterior (CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE, 2004). Nessa reunião foram aprovadas sugestões para mobilização dos conArtigos & Ensaios 93 selheiros a fim de participarem das sessões da CSSF, além de cobrarem “mais empenho do ministro da saúde” (CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE, 2004). No dia da votação na CSSF, 11 de agosto de 2004, o presidente da Comissão, deputado Eduardo Paes (PSDB/RJ) abriu a sessão assim que o quórum foi alcançado, colocou a matéria em votação e solicitou que os contrários se manifestassem. Como não houve objeção, pois muitos parlamentares da coalizão haviam se ausentado do recinto, a matéria foi aprovada (em menos de dois minutos). Quando retornaram, protestaram com veemência, mas o fato já estava consumado (BRASIL, 2004). Em 10 de novembro de 2004 a Comissão de Finanças e Tributação (CFT) aprovou o Substitutivo da CSSF, com emendas, e na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania (CCJC) aprovou a matéria em setembro de 2005. A discussão no plenário da Câmara foi iniciada apenas em 10 de abril de 2006, mas não progrediu. A legislatura findou e durante 2007 foram apresentados 8 requerimentos solicitando inclusão na pauta do plenário. O deputado Acélio Casagrande (PMDB/SC) requereu urgência em 9 de maio, o que só foi aprovado em 16 de outubro de 2007. A partir daí, foi retomada a discussão no plenário. Sucederam-se requerimentos solicitando a apreciação da matéria. Em 31 de outubro, foram lidos os pareceres sobre as emendas de plenário. Coube novamente ao deputado Guilherme Menezes relatar a matéria. Rejeitou cinco de 14 emendas e apresentou um substitutivo de plenário, que modificou seu próprio relatório, anteriormente aprovado na CSSF, o qual previa critério de aplicação pela União de 10% da receita corrente bruta (RCB). Mas o substitutivo de plenário alterou esse critério para o montante correspondente ao empenhado no ano anterior acrescido da variação do PIB ocorrida entre os dois exercícios financeiros imediatamente anteriores. Até aqui, semelhante ao que já previa a Emenda 29. Como adicional, foi previsto que nos exercícios de 2008, 2009, 2010 e 2011, seriam destinadas proporções não incorporáveis referentes à receita da CPMF. Enfim, foi aprovado o substitutivo do plenário, com as modificações desejadas pela coalizão de governo (291 votos a favor – 56,7% do total de deputados, superando a maioria absoluta de 257 votos requeridos -, 111 contrários, uma abstenção, num total de 403) nessa mesma data. A votação desse projeto na Câmara expôs os membros da Frente Parlamentar da Saúde a escolher entre apoiar a proposta defendida pelas entidades organizadas da saúde e a proposta mais restritiva do governo. Ocorreu uma fragmentação, segundo a dimensão oposição / governo. Fonseca (2008) analisou as votações em plenário dos membros dessa frente nesta matéria em particular, e concluiu que os mesmos não se comportaram como 94 Cadernos ASLEGIS | 50 • Setembro/Dezembro • 2014 membros de um “partido da saúde”, uma vez que a coesão e a disciplina foram baixas (ambas em torno de 30%). Observe-se que foi aprovado pela Câmara um projeto que previa recursos da CPMF, que estava para ser extinta em dois meses e cuja proposta de prorrogação ainda tramitava na via constitucional. Esta foi efetivamente derrubada no Senado ainda no mês de novembro de 2007. Assim, a tramitação do PLP 1/2003 no Senado (onde recebeu a denominação de PLC 89/2007) quase que perdeu o sentido.4 Contudo, o foco desviou para outra proposição do Senado, o PLS 121 apresentado em 20 de março de 2007 (início da legislatura, coincidindo com o período em que a discussão do PLP 1/2003 não progredia no plenário da Câmara), de autoria do Senador Tião Viana (PT/AC). Esse projeto previa o critério de 10% da RCB da União, como no substitutivo original da CSSF e conseguiu aprovação relativamente rápida.5 A matéria seguiu para a Câmara (sob a denominação de PLP 306/2008 – o pivô do impasse que foi quebrado apenas em 2011) onde a coalizão reconsiderou as estratégias para reverter a situação, num ambiente em que já demonstrara possuir uma base mais coesa. Em 13 de maio de 2008 o projeto foi despachado para apreciação do mérito pelas comissões. No dia seguinte, os líderes partidários conseguiram aprovar requerimento de urgência, de modo que a matéria permaneceu no plenário. Em 21 de maio 4 No Senado, em 17 de setembro de 2008, foi aprovado requerimento para que esse projeto e o Projeto de Lei do Senado nº 156, de 2007, tramitassem conjuntamente. Este, de autoria do Senador Marconi Perillo (PSDB/GO), preservava o teor do PLP 1/2003 e previa aplicação em saúde pela União de 18% de sua receita corrente líquida (o que segundo o autor corresponderia a 10% da RCB, mas que seria de mais clara aplicação). A matéria foi para a CCJ e em 31 de julho de 2009 e a Senadora Lúcia Vânia (PSDB/GO) apresentou parecer pela prejudicialidade dos dois projetos. Contudo, revisou o parecer em 25 de março de 2010, recomendando a rejeição do PLC 89/2007 e a aprovação do PLS 156/2007. Esse parecer foi aprovado em 7 de julho de 2010 pela CCJ. A matéria seguiu, então, para a Comissão de Assuntos Econômicos e lá permaneceu até 2011, sem que fosse designado um relator. 5 O PLS 121/2007 foi à CCJ e só em 22 de agosto de 2007 foi distribuído ao Senador Antonio Carlos Valadares (PSB/SE), que rapidamente (em 9 de setembro) apresentou relatório favorável, aprovado no mesmo dia. A matéria foi à Comissão de assuntos Econômicos (CAE), recebeu quase 50 emendas e a relatora, Senadora Patrícia Saboya (PDT/CE), propôs a aprovação do projeto e de várias das emendas. A CAE aprovou o PLS em 2 de outubro de 2007 e a matéria seguiu para a Comissão de Assuntos Sociais (CAS). Esta aprovou a matéria com algumas emendas do relator, Senador Augusto Botelho (PT/RR), em 24 de outubro de 2007. O projeto foi ao plenário, recebeu 16 emendas e retornou às comissões para avaliação. Em 9 de abril de 2008 a CAS solicitou urgência, aprovada no mesmo dia. Os pareceres dos relatores em geral rejeitaram as emendas de plenário. Diante da derrota iminente em plenário da tentativa de modificar o critério de 10% da RCB, os líderes da coalizão liberaram o voto da base do governo e o projeto foi aprovado por unanimidade. Um dos senadores fez questão de anunciar que seu voto contrário (o único) foi devido a engano e solicitou retificação. Seguiram-se discursos emocionados dos senadores, indicando que sentiam-se orgulhosos em atuar na defesa da política de saúde, pois raramente tinham oportunidade de realizar atividade com tal relevância. Muitos consideraram aquele um dia histórico para o Senado. Carvalho (2008) descreve a percepção desses acontecimentos no Senado como “surpresa” e “alegria geral”. Artigos & Ensaios 95 a CSSF aprovou o relatório favorável do deputado Rafael Guerra (PSDB/ MG), uma das lideranças da Frente Parlamentar da Saúde. Em 4 de junho de 2008, o relator da CFT, deputado Pepe Vargas (PT/ RS), apresentou parecer favorável na forma de um substitutivo que modificou os critérios de financiamento de responsabilidade da União. O critério de 10% da RCB foi novamente eliminado, retornando a uma solução semelhante ao que havia prevalecido no caso do PLP 1/2003, ou seja, o critério da variação do PIB e mais um adicional, só que, dessa vez, incorporável. Naquela ocasião, o adicional viria da CPMF, mas com sua extinção foi proposta a criação de uma Contribuição Social para a Saúde (CSS), com alíquota de 0,1% e de caráter permanente. O relator estimou que esses critérios elevariam a aplicação pela União em 11,8 bilhões em 2009. Na mesma data, o relator da CCJC, deputado Eduardo Cunha (PMDB/RJ) foi favorável à proposição e ao substitutivo da CFT. A oposição apresentou vários requerimentos tentando adiar a discussão. O relator da CSSF conseguiu prazo para apreciação das emendas de plenário. A votação da matéria deveria ocorrer em 10 de junho, contudo os vários requerimentos, questões de ordem e verificações de votação foram adiando, para os dias, 11, 17, e 18 de junho. Nesta data, a primeira votação foi sobre os critérios da União (art. 5º do substitutivo da CFT, objeto do destaque para votação em separado da bancada do DEM) e o mesmo foi aprovado (incluindo a CSS), como desejado pela coalizão (291 votos favoráveis, 84 contrários, nenhuma abstenção, num total de 375). Na votação do § 4º do art. 5º do substitutivo da CFT, objeto do destaque para votação em separado da bancada do PSDB (abordando a exclusão da CSS e do Fundo de Erradicação da Pobreza do cálculo da receita corrente) foi mantido o parágrafo, como desejado pela coalizão. (291 votos favoráveis; 44 contrários; uma abstenção, num total de 336). Na votação do art. 2º do PLP 306/08 em substituição ao art. 5º do substitutivo da CFT, objeto do destaque para votação em separado da bancada do PPS – nova tentativa de resgatar o critério de 10% da RCB - o destaque da oposição foi rejeitado por 262 parlamentares (muito próximo do mínimo exigido de 257 votos) e apoiado por 107, com duas abstenções. O último destaque a ser votado seria o do artigo 16 do substitutivo da CFT, objeto do destaque para votação em separado da bancada do DEM – com o objetivo de eliminar a base de cálculo para CSS, tornando a contribuição sem efeito. Ocorreu obstrução e a sessão foi adiada sucessivamente para 24 de junho, depois para 1, 2, 8, 9, 15, e 16 de julho, cessando, a partir daí, qualquer tramitação, observando-se apenas requerimentos de inclusão da matéria na pauta. 96 Cadernos ASLEGIS | 50 • Setembro/Dezembro • 2014 Ficou caracterizado o impasse. Além das discordâncias sobre o mérito da proposta adicionaram-se a crise econômica mundial e as eleições presidenciais como fatores que retardaram uma definição sobre o tema. Carvalho (2008) também destacou as ameaças de veto do presidente divulgadas pela mídia, caso o Congresso aprovasse projeto de aumento de recursos para a saúde, sem indicação de “nova fonte”. A matéria só voltou à deliberação pelo plenário em 2011, após forte demanda da sociedade, diante da crise na atenção a saúde por meio do SUS. O Executivo (nos sucessivos governos) colocou-se sistematicamente contra aquelas que resultariam em maiores ganhos para o financiamento da saúde, como o art. 55 do Ato das Disposições Transitórias (de fato, os recursos decorrentes da Emenda no 29 representam cerca da metade do que seria disponível caso estivesse sendo utilizado o critério inicial previsto pela Constituição – 30% do orçamento da seguridade social), a PEC 169/1993 e, mais recentemente, as propostas que defendiam 10% da RCB. O Executivo não conseguiu aprovar a CSS, devido à influência da forte rejeição na opinião pública sobre membros da coalizão, mas utilizou a maioria que detinha em ambas as Casas para aprovar o PLP 306/08, modificado de modo a manter os critérios de financiamento para a União, Estados e Municípios, e apenas avançar na definição e controle dos gastos com ações e serviços de saúde, o que, na prática, afetará mais os Estados, visto que vários deles não cumpriam rigorosamente a Emenda 29. Apesar da regulamentação da Emenda 29, por meio da Lei complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, o debate sobre o financiamento da saúde prossegue, visto que o critério para a União não atingiu patamares considerados necessários para um adequado desenvolvimento do SUS. Destacam-se novas proposições que buscam instituir o critério de aplicação mínima de 10% da RCB na saúde pela União (apresentadas por parlamentares e pela sociedade civil6), enquanto que o Executivo persiste em proposta que atenue a elevação nos gastos (o tema foi inserido pelo Executivo no debate atual do orçamento impositivo, que tramita na via constitucional).7 Assim, o financiamento do SUS persiste como demanda 6 As quase 2 milhões de assinaturas de projeto de iniciativa popular foram coletadas pelo Movimento Nacional em Defesa da Saúde Pública, o Saúde Mais Dez, com apoio de mais de 100 entidades, entre elas, o Conselho Nacional de Saúde (CNS), a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). O projeto foi transformado num projeto de lei complementar (PLP) na Comissão de Legislação Participativa e, em seguida, apensado a projeto sobre o mesmo tema que já tramitava nesta Casa, o PLP no 123, de 2012 (que possui outras quatro proposições apensadas). A matéria foi aprovada na CSSF em 2013 e se encontra na CFT. 7 Tramitam em Comissão Especial da Câmara as Propostas de Emenda à Constituição (PEC) no 358 e 359, ambas de 2013, defendidas pela coalizão do governo, as quais geram consequências ao financiamento da saúde, em função de vinculações relacionadas às emendas parlamentares destinadas à saúde Artigos & Ensaios 97 não suficientemente atendida e fonte de conflitos entre os atores políticos. Além disso, a baixa qualidade em vários dos serviços oferecidos à população, em parte devido ao subfinanciamento do SUS, abala a credibilidade e suporte ao sistema. 4- Considerações Os dados apresentados no caso sobre a tramitação de proposições sobre o financiamento da saúde exemplificam a ocorrência de variados padrões de relacionamento entre o Legislativo e o Executivo na produção de legislação relacionada à saúde. Foram observadas situações de liderança do Legislativo (na Constituinte, na produção da Lei Orgânica e nas iniciativas para aumentar os recursos para o SUS), impasse nos projetos com elevado conflito distributivo e impacto no orçamento da União e cooperação (na resolução dos impasses). Contudo, ficou clara a liderança da coalizão (não apenas do Executivo) na definição do destino das proposições. Apesar de o Legislativo ter sido mais ativo em buscar um financiamento mais adequado para o SUS, igualmente contribuiu como participante das coalizões para que o resultado tenha permanecido aquém das necessidades por recursos, em geral, indicando reduzida prioridade de ambos os Poderes para a adoção de soluções mais duradouras e suficientes. A dependência de estímulos externos para avançar na agenda da política de saúde tem tornado a atuação do Legislativo fragmentada e inconsistente. Os atores do Legislativo, responderam às demandas iniciadas externamente. No caso da Constituinte e da Lei Orgânica, foi destacado o papel do movimento sanitário; e nas definições mais recentes com impacto no financiamento, à indução do Executivo como líder da coalizão (foram significativas a influência da coalizão na substituição dos critérios de financiamento pela União tanto no substitutivo da CSSF ao PLP 1/2003, quanto no PLP 306/2008). Deputados e Senadores demonstraram participação similar nas decisões e foram mobilizados pela coalizão ou oposição, segundo o balanço de forças em cada Casa. Os atores dos dois Poderes, entretanto, comportaram-se estrategicamente e de maneira similar durante a tramitação das proposições quando pertenciam à oposição ou ao governo. A alternância do poder no Executivo a partir de 2003 permitiu observar que os que eram contrários à criação da CPMF, a mantiveram posteriormente e os que a criaram e prorrogaram foram os que contribuíram decisivamente para sua extinção. Os partidos políticos não demonstraram orientação ideológica consistene da definição de critério gradativo de vinculação orçamentária para a União, contudo resultaria num patamar de recursos inferior ao proposto pelo Saúde Mais Dez. 98 Cadernos ASLEGIS | 50 • Setembro/Dezembro • 2014 te ao longo desse extenso debate, mas funcionaram como confiáveis mediadores da disputa entre as coalizões e as oposições de momento. A análise sugere que a “conexão normativa” que os constituintes tentaram estabelecer para implantar o SUS tem sido capaz de pautar o debate na direção da ampliação do financiamento e de resistir à completa desestruturação da política. Mesmo diante do poderio das coalizões também na via constitucional e das resistências demonstradas pelo Executivo de vários governos em ampliar o financiamento do setor, as diretrizes básicas da política foram formalmente mantidas. Entretanto, a influência da Constituição não se dá a ponto de concretizar uma ampliação suficiente de recursos, de acordo com as suas diretrizes. Na realidade, os maiores avanços foram os indicados no texto original da Constituição. De certo, um pouco mais de estabilidade no financiamento veio com a Emenda Constitucional no 29, de 2000, o que não deixa de ser um avanço, contudo, foi insuficiente e de menor amplitude que o primeiro critério temporário previsto pelos constituintes. A sucessiva falta de prioridade na implantação do SUS e a desarticulação em sua defesa foi de tal intensidade que marcos foram sendo perdidos e os patamares das demandas por financiamento foram se reduzindo. Por exemplo, apesar da retórica em defesa do SUS, vários recursos obstrutivos foram usados pela coalizão para postergar a aprovação do PLP 1/2003 na Câmara e depois para modificá-lo, a fim de excluir o critério de 10% da receita corrente bruta. O mesmo foi feito com o projeto que saiu do Senado para a Câmara e que previa o mesmo critério. Em todo o impasse o foco foi o quantitativo a ser alocado pela União, sem que prevalecesse o debate sobre a real necessidade de financiamento, sobre as atividades que seriam priorizadas por metas objetivas, segundo um modelo de gestão que considere a responsabilidade sanitária dos gestores, a disponibilidade de recursos humanos e de mecanismos de combate às fraudes, de modo que o SUS funcione como previsto na Constituição. Enfim, a discussão sobre o mérito da política ficou em segundo plano em relação às necessidades de limitação do impacto orçamentário. Finalmente, os usuários do sistema pouco tem sido envolvidos na discussão do mérito das propostas, prevalecendo uma abordagem extremamente técnica e complexa, inacessível a maior parte da população. O impasse dependeu menos de deficiências institucionais no tratamento da questão que da falta de coesão em torno da proposta de ampliação do financiamento e, em última análise, do próprio SUS. Em outras palavras, as maiores dificuldades não se relacionam às regras de decisão, aos recursos e instâncias de decisão disponíveis, mas aos próprios atores. Artigos & Ensaios 99 As explicações oferecidas por Weyland (1996) para falhas em reformas em políticas públicas na década de 1990 no Brasil persistem válidas: a fragmentação na sociedade e no interior do Estado. Na sociedade, tem ocorrido fragmentação nas preferências nos grupos de interesse, pois a proposta do SUS foi defendida por segmento da sociedade organizada e que posteriormente não demonstrou a mesma coesão do período da Constituinte, pois muitos passaram a participar dos governos e das oposições que se seguiram e defensores históricos encontraram dificuldades entre apoiar um projeto político ou o projeto sanitário. Além disso, a “via do parlamento” perdeu prioridade para uma atuação no interior do Executivo. A pouca apropriação do SUS pela parcela da população que depende unicamente dele para a atenção à saúde tem dificultado seu fortalecimento. Isso demonstra mais uma aspecto da fragmentação da sociedade brasileira salientado por Weyland: a dificuldade da parcela mais pobre da população em coordenar a vocalização de suas demandas. Mesmo na relevante experiência participativa do SUS, os representantes dos usuários têm sua atuação muitas vezes limitada pelo Executivo nos vários níveis da federação. Quase diariamente há denúncias da população na mídia sobre os problemas de atenção à saúde no País, mas raramente as matérias associam os problemas à situação de subfinanciamento. Os usuários persistem fragmentados sem capacidade de vocalização de propostas políticas concretas. Representante da Contag em evento na Câmara dos Deputados (FRENTE PARLAMENTAR DA SAÚDE, 2007) bem expressou a sensação de que os usuários seriam mais objetos que sujeitos do SUS. Desse modo, o grande ausente no debate sobre o financiamento da saúde persiste sendo o cidadão-usuário totalmente dependente do SUS. Os trabalhadores formais, os servidores públicos e a classe média em geral pouco se envolvem, pois muitos estão cobertos por planos privados de saúde, principalmente os coletivos, mas sem deixar de utilizar as “ilhas de excelência” do SUS (muitas vezes sem perceber), como nos procedimentos de custo catastrófico e nos que foram implementados segundo as diretrizes originais (vigilância epidemiológica e sanitária). Também no interior do Estado persiste a fragmentação. Isso foi exemplificado no comportamento dos membros da Frente Parlamentar da Saúde quando foram confrontados na votação do PLP 1/2003 entre apoiar a proposta que mais beneficiaria o SUS ou aquela que produziria um financiamento mais limitado. O resultado foi a divisão dos membros da Frente, prevalecendo os interesses da coalizão. O caso também demonstrou que no interior da própria coalizão há fragmentação, pois os autores de propostas, relatores e presidentes de comissões envolvidos nas situações de impasse, pelo menos na Câmara, pertenciam a partidos da coalizão. Tornou-se clara a pouca firmeza ideológica dos partidos nas definições do setor, variando de posicionamento, por ocasião da alternância de poder no Executivo, conforme o pertencimento à coalizão de governo. Diante dessa indefinição partidária, que induziu uma fragmentação programática das legislaturas subsequentes à Constituinte, da fragmentação das demandas da sociedade e de mecanismos endógenos pouco fortalecidos para enfrentar os problemas do SUS, o Legislativo, praticamente, abdicou da regulamentação da implementação do SUS, conforme os princípios constitucionais. No Executivo, também são reconhecidos os conflitos entre as burocracias das áreas econômica e social, como se tivessem objetivos diferentes. Baptista (2003) identificou esse tipo de conflito no interior do Executivo, envolvendo as políticas de saúde no pós-Constituinte. É certo que esses setores respondem a conexões normativas constitucionais algo conflitantes, visando tanto a responsabilidade orçamentária (relacionada à “accountability”), quanto à equidade social. Os atores estatais mais explícitos na busca da ampliação do financiamento tem sido os do nível municipal, que estão enfrentando diretamente as dificuldades do SUS e, aparentemente, cumprindo os critérios de financiamento da Emenda 29, além dos membros da oposição no Legislativo. O nível estadual não produz um discurso uniforme, pois muitos estados já não cumprem os limites mínimos de financiamento da saúde previstos na Emenda 29, enquanto que o nível federal tem promovido a redução relativa de sua participação no financiamento da saúde e apresentado resistências à ampliação necessária dos recursos em todos os governos do pós-Constituinte. Como consequência da fragmentação na sociedade e no Estado, não se implementou o SUS como uma política de maioria, - custos e benefícios difusos, conforme a tipologia de Lowi (1972) e Wilson (1973) -, como pretendido pela Constituição. O conflito tem ocorrido como se fosse uma política redistributiva (custos e benefícios concentrados), o que seria compreensível pelas grandes desigualdades sociais, mais acentuadas em algumas das regiões do País, que tornam grande parcela da população totalmente dependente dos serviços públicos. Contudo, também há componentes distributivos (custos difusos com benefícios concentrados) no financiamento do sistema de saúde, em que só as camadas com renda suficiente para arrecadar imposto de renda podem se beneficiar do subsídio federal aos gastos privados com a saúde para ter acesso a serviços com melhor qualidade nas áreas em que o SUS é deficiente. Artigos & Ensaios 101 Também como consequência dessas fragmentações, o consenso sobre o nível adequado de financiamento do setor ainda não foi atingido e o processo deliberativo tem se alargado, sem o senso de urgência (que deveria refletir os problemas enfrentados pelos que dependem do SUS) e com tendência de adoção de soluções temporárias e insuficientes. Como resultado, a parcela mais pobre sai em desvantagem na defesa de seus interesses e as legislações referidas no caso dão mostra disso. É preciso considerar que a situação de subfinanciamento do SUS é satisfatória para os que valorizam apenas a questão do equilíbrio fiscal, afinal são anos em que expressivo volume de recursos aplicados na saúde foram menores que o necessário. A superação do subfinanciamento é improvável na ausência de um maior envolvimento dos usuários e de mais setores organizados. A atuação apenas do movimento sanitário, diante da divisão de alguns enquanto adeptos da oposição ou da coalizão, não tem conseguido obter a coesão necessária para alcançar o mesmo sucesso que nos tempos da Constituinte. Sem tal mobilização, a adesão de atores do interior do Executivo para além da retórica de defesa do SUS parece improvável no quadro político atual. De todo modo, avanços podem ser observados nas normas produzidas (a partir de soluções definidas pelas coalizões de governo), mas não num nível que promova efetivamente as capacidades dos cidadãos para obter uma adequada situação de saúde. Ao que parece, apenas uma atuação mais autônoma do Legislativo frente ao Executivo, para solucionar adequadamente os problemas que já vem pautando, seria capaz de efetivar a conexão normativa pretendida pelos constituintes para as políticas de saúde. Referências BAPTISTA, T.W.F. Políticas de saúde no pós-constituinte: um estudo da política implementada a partir da produção normativa dos poderes executivo e legislativo no Brasil 2003. Tese (Doutorado em Medicina Social). – Instituto de Medicina Social, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2003. ______. Análise da produção legislativa em saúde no Congresso Nacional brasileiro (1990-2006). Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 26, n. 1, p. 97-109, jan. 2010. 102 Cadernos ASLEGIS | 50 • Setembro/Dezembro • 2014 ______. Constituição Política do Império do Brasil, de 25 de março de 1824. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ Constituicao/Constituicao24.htm>. Acesso em 5 mai. 2014. ______. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 24 de fevereiro de 1891. Disponível em: < http://www.planalto.gov. br/ccivil_03/Constitui cao/Constituicao91.htm>. Acesso em 5 mai. 2014. ______. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 16 de julho de 1934. Disponível em: <http://www.planalto.gov. br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao 34.htm>. Acesso em 5 mai. 2014. ______. Constituição dos Estados Unidos do Brasil, de 10 de novembro de 1937. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ Constituicao/Constituicao37 .htm>. Acesso em 5 mai. 2014. ______. Constituição dos Estados Unidos do Brasil, de 18 de setembro de 1946. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ Constituicao/Constituicao46. htm>. Acesso em 5 mai. 2014. ______. Constituição da República Federativa do Brasil de 1967. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao67.htm>. Acesso em 5 mai. 2014. ______. Emenda Constitucional nº 1, de 17 de outubro de 1969. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/ Emc_anterior1988/emc01-69.htm>. Acesso em 5 mai. 2014. ______. Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988. Disponível em: < http: //www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em 5 mai. 2014. ______. Câmara dos Deputados. Áudio da sessão ordinária da Comissão de Seguridade Social e Família do dia 11 de agosto de 2004. Artigos & Ensaios 103 Disponível em: <http://imagem.camara.gov.br/internet/audio/Resultado.asp?txtCodigo=22886>. Acesso em: 5 mai. 2014. CARVALHO, G. Financiamento da saúde pública no Brasil no pós-constitucional de 88, Tempus - Actas de Saúde Coletiva, Brasília, v.2, n.1, p.39-51, jul./dez., 2008. CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE. Ata da centésima quadragésima quinta reunião ordinária do CNS. Brasília: CNS, 2004. Disponível em: <http://conselho.saude.gov.br/atas/2004/Ata145.doc>. Acesso em 5 mai. 2014. FONSECA, E. J. O papel do Poder Legislativo na construção do Sistema Único de saúde: a Frente Parlamentar da Saúde e a regulamentação da Emenda à Constituição nº 29. 2008. Monografia (Especialização em Instituições e Processos Políticos do Legislativo da Câmara dos Deputados) – Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento da Câmara dos Deputados. Brasília, 2008. Disponível em: <http://www2.camara.gov.br/responsabilidade-social/edulegislativa/educacao-legislativa-1/posgraduacao/arquivos/publicacoes/banco-de-monografias/ip-2a-edicao/EdisonJosdaFonsecamonografiacursoIP2ed.pdf>. Acesso em: 5 mai. 2014. FLEURY, S. Reforma sanitária brasileira: dilemas entre o instituinte e o instituído. Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 14, n. 3, p. 743-752, maio/jun. 2009. FRENTE PARLAMENTAR DA SAÚDE. Relatório do seminário “Um Olhar Social sobre o Orçamento Público - Saúde, Educação e Assistência Social”. Belo Horizonte, 2005. Mimeo. ______. Relatório do seminário sobre saúde e seguridade social. Brasília, 2007. Mimeo. GODOI, A. M. M. Executivo e Legislativo na produção legal em saúde, de 1988 a 2008. Monografia (Especialização) – Universidade do Legislativo Brasileiro, Brasília, 2008. GOMES, F. B. C. Saúde nas Constituições Brasileiras. In: Câmara dos Deputados. (Org.). Ensaios sobre impactos da Constituição Federal de 1988 na sociedade brasileira. Brasília: Câmara dos Deputados, 2008, v. 2, p. 889-901. Disponível em: 104 Cadernos ASLEGIS | 50 • Setembro/Dezembro • 2014 <http://www.google.com.br/url?q=http://bd.camara.gov.br/bd/ bitstream/handle/bdcamara/2915/ensaios_impactos_volume2. pdf%3Fsequence%3D2&sa=U&ei=_D1pU_iDGLPCyAHygoH QDg&ved=0CCYQFjAB&usg=AFQjCNFTN28-PEZpAmimb5n1EswsrWc07A>. Acesso em: 5 mai. 2014. ______. Interações entre o Legislativo e o Executivo federal do Brasil na definição de políticas de interesse amplo: uma abordagem sistêmica, com aplicação na saúde. 2011. Tese (Doutorado em Ciências Políticas) – Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2011. Disponível em: <http://bd.camara.gov.br/bd/bitstream/handle/bdcamara/6165/interacao_legislativo_gomes.pdf>. Acesso em: 5 mai. 2014. ______. Cooperação, liderança e impasse entre o Legislativo e o Executivo na produção legislativa do Congresso Nacional do Brasil. Dados (Rio de Janeiro. Impresso), v. 55, p. 911-950, 2012. Disponível em: < http://dx.doi.org/10.1590/S0011-52582012000400003>. Acesso em: 5 mai. 2014. ______. Impasses no financiamento da saúde no Brasil: da constituinte à regulamentação da emenda 29/00. Saúde em Debate, v. 38, p. 6-17, 2014. Disponível em: < http://cebes.com.br/site/wp-content/uploads/2014/04/saude_debate_ed100.pdf>. Acesso em: 5 mai. 2014. JORGE, E. Apresentação sobre o SIOPS como instrumento de gestão. I Congresso Brasileiro de Política, Planejamento e Gestão em Saúde –ABRASCO. Bahia, 24 a 26 de agosto de 2010. LOWI, T J. Four Systems of Policy, Politics, and Choice. Public Administration Review, v. 32, no. 4, p. 298-310, 1972. MENDES, A N; MARQUES, R M. Crônica de uma crise anunciada: o financiamento do SUS sob a dominância do capital financeiro In: CD Rom do XII Encontro de Pesquisadores da PUCSP na área da Saúde, São Paulo, 2009. NITÃO F J V. Elaboração de Políticas Públicas de Saúde no Brasil: o papel do congresso nacional, 1945-1964. 1997. Tese. [Mestrado] – Brasília: Universidade de Brasília, 1997. Artigos & Ensaios 105 RODRIGUES, M M A e ZAULI, E. Presidente e Congresso Nacional no Processo Decisório da política de Saúde no Brasil Democrático (1985-1998). Dados – Revista de Ciências Sociais, v. 45, n. 3, p. 387429, 2002. RODRIGUEZ NETO, E. Saúde: promessas e limites da Constituição. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2003. SANTOS, M H C. Governabilidade, governança e democracia: criação da capacidade governativa e relações Executivo-Legislativo no Brasil pósconstituinte. DADOS, v. 40, n. 3, Rio de Janeiro, 1997. WEYLAND, K G. Democracy without equity: failures of reform in Brazil. Pittsburgh, University of Pittsburgh Press, 1996. WILSON, J Q. Political Organizations. New York: Basic Books, 1973. 106 Cadernos ASLEGIS | 50 • Setembro/Dezembro • 2014 Claudionor Rocha* Consultor Legislativo da Área de Segurança Pública e Defesa Nacional Luiz Henrique Cascelli de Azevedo Graduado em Direito e em Filosofia, pós-graduado em Fenomenologia, Mestre em Direito Público e do Estado, Doutor em Teoria do Direito. Relatividade ética, corrosão social e subversão ideológica do Estado 107 Resumo Palavras-chave O artigo trata da objetividade da Ética e da corrosão social provocada pela corrupção, procurando delimitar qual seria o derradeiro denominador comum de uma comunidade dilacerada. Corrupção, Ética, honestidade, Estado. Abstract Keywords This article starts with an identification of Ethics objetivity, considering corruption as a corrosive element in society and aims to identify what would be the main element to maintain the togetherness of a community. Corruption, Ethics, honesty, State. 108 Os reinos sem justiça assemelham-se a uma quadrilha de ladrões. Afastada a justiça, que são, na verdade, os reinos senão grandes quadrilhas de ladrões? Que é que são, na verdade, as quadrilhas de ladrões senão pequenos reinos? Estas são bandos de gente que se submete ao comando de um chefe, que se vincula por um pacto social e reparte a presa segundo a lei por ela aceite. Se este mal for engrossado pela afluência de numerosos homens perdidos, a ponto de ocuparem territórios, constituírem sedes, ocuparem cidades e subjugarem povos, arroga-se então abertamente o título de reino, título que lhe confere aos olhos de todos, não a renúncia à cupidez, mas a garantia da impunidade. Foi o que com finura e verdade respondeu a Alexandre Magno certo pirata que tinha sido aprisionado. De facto, quando o rei perguntou ao homem que lhe parecia isso de infestar os mares, respondeu ele com franca audácia: «O mesmo que a ti parece isso de infestar todo o mundo; mas a mim, porque o faço com um pequeno navio, chamam-me ladrão; e a ti porque o fazes com uma grande armada, chamam-te imperador» [Santo Agostinho, A Cidade de Deus, tradução João Dias Pereira, 2ª Edição, Fundação Calouste Gulbekian, Lisboa, 1996, p. 383] Ideologicamente reinterpretados, os direitos naturais passaram de eternos para invenções histórica e geograficamente locais, de absolutos para contextualmente determinados, de inalienáveis para relativos a contingências culturais e jurídicas. (...) A nova moralidade era uma moralidade de grupos, classes, partidos e nações, de intervenção social, reforma jurídica e cálculos utilitários. Os direitos naturais foram reduzidos a um sucateamento de ideias, sua relevância exaurida com o final das aventuras napoleônicas. Eles não representavam quaisquer obstáculos no caminho do poder e poderiam ser removidos ou restringidos à vontade a fim de promover os objetivos do Estado e a engenharia social. ” [Costa Douzinas, O FIM dos Direitos Humanos, tradução Luzia Araújo, Editora Unisinos, São Leopoldo, 2009, p. 124] Artigos & Ensaios 109 I- Noções introdutórias Do que se pode apreender da literatura especializada, o Estado foi sendo, ao longo da história, estruturado para servir de instrumento gerenciador do produto resultante dos esforços de determinada comunidade, acumulados sobretudo em direitos patrimoniais e pecuniários. Tais esforços comuns justificaram – grosso modo, sem querermos adentrar a análise de modelos teóricos que se sucedem ao longo da reflexão histórica sobre o tema – o desenvolvimento de uma burocracia especializada para administrar os referidos recursos.1 Dada a importância desse mister, e também numa perspectiva histórica, era natural que o exercício das funções superiores de controle dessa burocracia fosse realizado por alguns poucos, surgindo, como conhecemos, os Poderes e o problema da sua titularidade, com investiduras diferenciadas. Em geral, em sistemas que nos são mais próximos, os representantes do povo no Poder Legislativo são eleitos, assim como aqueles que exercem a titularidade do Poder Executivo, sendo que os juízes, diferentemente, prestam concurso no início da carreira, critério que se flexibiliza com a intrusão política nos órgãos colegiados revisores. Toda essa estrutura – vale ressaltar – existe tão-somente para gerir, administrar os bens coletivos. Os agentes políticos são gestores, mandatários servientes do povo, vinculados, portanto, àqueles que detêm a efetiva titularidade do Poder. Subjaz a essa brevíssima consideração, o tema discorrido na filosofia (política) sobre os que se dispõem ao exercício desse mister: são necessárias algumas qualidades especiais para falar, representar ou compor conflitos em nome do povo. Naturalmente surge uma questão que também vem demandando a atenção, qual seja a configuração de critérios que possibilitem a distribuição daquilo que foi acumulado como resultante dos esforços comuns e que servem para balizar a atuação dos agentes políticos: o almejado conceito de justiça. Bem sabemos que concepções sucessivas vêm sendo desenvolvidas ao longo do tempo. Não consideramos, todavia, que uma delas tenha delineado de modo definitivo a melhor maneira de distribuir aqueles bens acumulados pelo esforço coletivo e que devem ser aplicados para melhorar a vida da comunidade, minorando ou suprimindo seus pontos mais vulneráveis. II - Coesão social e objetividade da ética Mas teria o Estado, em nossos tempos, outra função? 1 M. Van Creveld, Ascensão e declínio do Estado, tradução de Jussara Simões, São Paulo, Martins Fontes, 2004. Artigos & Ensaios 111 Se na Grécia antiga, o Estagirita2 lecionava a propósito da coesão em torno das virtudes que tornavam possível a felicidade – sendo a justiça, pelo seu caráter relacional, a principal delas –, hoje, ao contrário, em ambiente de coesão rarefeita se faz cada vez mais necessária a presença do Estado para compor a vida em comum, seja mediante o uso da força, seja pela força da propaganda que obnubila a verdade. Isso basicamente ocorre pela ausência ou enfraquecimento do bem comum como norteador das relações sociais – fonte unificadora das virtudes –, tornando-se, assim, imperiosa a participação do Estado como instrumento procedimental, formal e impositivo da “paz social”. Há, na verdade, fragmentação na percepção do Bem, que passa, quando muito, a ter apenas valor referencial, simbólico, mas efetivamente segmentado, prevalecendo o interesse de uns em detrimento do todo. Nossos tempos indicam, portanto, a relativização da ética, centrando-a em perspectivas meramente históricas, circunstanciais, ideológicas, grupais, cada qual valorizando – sem critério – o próprio grupo, a despeito do seu respectivo desmerecimento. Nesse particular, incluo parêntesis: se na postura filosófica originária – estupor, admiração e a tomada de consciência que diferencia o homem do meio circunstante –, buscava-se encontrar a essência da natureza, suas causas, seja na água, no ar, no fogo..., depois no indeterminado, no devir, e finalmente no ser – causa das causas, configurando-se a metafísica ou ontologia –, é assente justamente nesse campo filosófico a identidade analógica entre o ser e outros transcendentais (paixões do ser), entre os quais se encontra o Bem.3 4 Afinal, se no Ser encontramos a extensão máxima em detrimento da compreensão, é certo, mesmo assim, que no princípio da identidade (e seus desdobramentos no princípio da não contradição e no do terceiro excluído) se assenta qualquer conhecimento humano. Ele constitui a base lógica compatível com o reconhecimento do Bem como expressão básica de qualquer existência, pois se o mal fosse admitido nessa função, seria admissível, como consequência, a corrosão e a destruição da própria vida. O Bem Ontológico assim referido como objeto do pensamento – como também o são, por exemplo, o uno, o verdadeiro e o belo – pode ser também captado de forma sensorial, o que se chama bem moral, o bom em uma ordem especial de realização do ser (humano). Aqui adentramos o âmbito da conduta, do proceder, da moral. Desse bem moral particula2Aristóteles, Ética a Nicómaco, Edición bilíngue y tradución de María Araujo y Julián Marías, Centro de Estudios Políticos y Constitucionalies, Madrid, 2002. 3 Aristóteles, Metafísica, Edición trilíngue por Valentín García Yebra, Gredos, Madrid, 1987. 4 Jacques Maritain, Problemas Fundamentais da Filosofia Moral, tradução de Gerardo Dantas Barretto, Agir, Rio de Janeiro, 1977. 112 Cadernos ASLEGIS | 50 • Setembro/Dezembro • 2014 rizado é que podem ser extraídas as noções de fim, valor, norma. Daqui é possível avaliar a realização de uma ação boa, diretamente relacionada ao uso da liberdade, que, aliás, não depende de bens exteriores, corporais e intelectuais (um “gênio” pode ser um homem que procede com maldade, nas palavras de Maritain). Decorre, dessas considerações, por mera consequência lógica, que, mesmo no plano concreto da ação moral boa, há um liame – embora em muitos casos diferido –, com o bem ontológico, isto é, o Ser. Por outro lado, o mal proceder se relaciona com a privação do Bem (privação do ser, ausência de ser, ideia de débito).5 O raciocínio que desenvolvemos é no sentido de que, no plano ético e lógico, o bem ontológico é referencial, uma vez que não se pode conceber um sistema ético que tenha como suposto uma negatividade6, não havendo margens para relativizações em todas as suas instâncias. Dizendo de outra forma, seria ilógico admitir que o Bem pudesse ser segmentado, de modo que cada um dos grupos de determinada comunidade tivesse a sua noção particular de bem, porquanto isso caracterizaria verdadeiro caos social, ou mesmo que pudesse ser substituído por algum desvalor (negatividade), porque por meio dessa última via seria gerada a divisão e, afinal, a destruição do próprio grupo. A concretização do Bem ontológico está na apuração da lei natural sob a perspectiva objetiva, isto é, no esclarecimento de como a lei da natureza rege a vida com base em suas necessidades elementares de sobrevivência, manifestadas pelas inclinações à reprodução, ao provimento da prole etc. Assim, o primeiro elemento ontológico que decorre dessa Lei, de acordo com o Aquinate, é a própria natureza humana – comum, portanto, a todos os homens – que pela inteligência compreende e estabelece finalidades. Entretanto, quais seriam os fins exigidos pela natureza? Entendemos que existe uma ordem ou disposição que a razão pode descobrir, devendo a vontade agir para pôr-se em consonância com esses fins essenciais e necessários do ser humano. Tal lei, no âmbito social, é reconhecida como direito natural.7 Nesse sentido, podemos indicar o âmago do posicionamento de Francisco de Vitoria no século XVI, diante do descobrimento da América, ao tomar o direito das gentes, isto é, o direito que vai além de uma cidade, o direito dos povos, como decorrente da objetividade da lei natural, considerando os índios, por consequência, como homens tão merecedores de respeito quanto qualquer povo existente, ao contrário da pretensão espanhola de entender aplicável aos índios o direito das gentes em pers5 Jacques Maritain, obra citada. 6 A despeito dos esforços do Projeto de ética negativa, Julio Cabrera, Mandacaru Graphbox, 1990. 7 Jacques Maritain, “O Homem e o Estado”, tradução Alceu de Amoroso Lima, Agir, 1956, p. 102. Artigos & Ensaios 113 pectiva positiva para classificá-los, assim, homúnculos com o propósito de despossuí-los, degradá-los e devastá-los.8 Temos aqui a intenção de aprofundar ainda mais a percepção da objetividade da Ética, mediante a captação do Bem no plano cotidiano. Fica claro que essa percepção não pode desconsiderar a inteligibilidade inerente a qualquer pessoa, a capacidade cognitiva essencial, a capacidade, enfim, lógica. Como antes dissemos, o ser humano tende a agir no sentido básico de preservar a sua própria integridade, de sobreviver, de arranjar meios para tanto, de associar-se para o mesmo fim, de rechaçar a morte perpetrada contra outrem de modo injustificado; há um senso comum de que o apoderar-se do que é de outro agride um sentimento natural (propriedade). Em suma, todos esses exemplos podem ser contrariados – atentar-se contra a própria integridade, não buscar os meios para a sobrevivência, evitar o contato com o outro, provocar deliberada e injustificadamente a morte alheia –, mas os que assim agem agridem o senso comum inerente a cada pessoa (salvo se o agente que incorre nessas práticas estiver acometido por algum distúrbio psicológico). Esse senso comum funda-se na lógica mais básica que nos torna iguais, isto é, seres humanos. No plano social, parece-nos também evidente que os meios auferidos, no seio de uma comunidade, são comuns – coisa pública – e que devem ser partilhados e usufruídos em observância de determinadas regras de justiça, mesmo tácitas, no sentido de proceder em prol do todo. Se um membro de um grupo, ou se um grupo entre vários que compõem um grupo maior, enfim, se há desrespeito a esse parâmetro, é também objetivo que tal proceder é equivocado, constitui um mal. Ou poderíamos pensar que o contrário é o correto? O correto seria nos apropriarmos do que não nos pertence ou de nos apropriarmos do que é de todos? O correto seria matar o outro injustificadamente? São, desse modo, padrões calcados em nossa organização mental, claramente objetivos sobre o que é certo e sobre o que é errado. Nesse particular, não há espaço para a superação – nem mesmo ideológica – dessa objetividade. Mesmo um autor como John Finnis9 – que parte da experiência concreta e da percepção que temos do que é certo e errado para, no passo seguinte, atingir o bem ontológico (metafísico) mediante a reflexão10, fazendo o caminho contrário do que temos como o mais apropriado – 8 Minha tese de doutorado Ius Gentium em Francisco de Vitoria, a Fundamentação dos Direitos Humanos e do Direito Internacional na tradição tomista, Safe, Porto Alegre, 2008. 9 Ley Natural y Derechos Naturales, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2000, p. 117 e seguintes. 10 Nesse particular, discordamos da posição de Anthony J. Lisska, Finnis and Veatch on Natural Law in Aristotle and Aquinas, American Journal of Jurisprudence, volume 36, Issue 1, Article 4, 1-1-1991. 114 Cadernos ASLEGIS | 50 • Setembro/Dezembro • 2014 chega a catalogar as formas básicas do bem humano em vista seja dos “resultados descritivos ou ‘especulativos’ da antropologia e da psicologia, seja da disciplina crítica e essencialmente prática”: a vida, o conhecimento, o jogo como experiência, a experiência estética, a sociabilidade, a racionalidade prática e a religião. Esses seriam bens humanos disseminados nos sociedades humanas. Cada grupo humano tem tais bens, pois são básicos. Esses bens, em cada comunidade, são conjugados – temos como certo – para a consecução de um bem comum ao todo. Se não for assim, não se justifica a existência unificada da referida comunidade. Deve haver consenso dentro da comunidade de modo a tornar a vida comum suportável, na pior das hipóteses, ou aprazível, na melhor, e para que os esforços comuns se dirijam ao bem-estar de todos.11 Em última análise, os bens particulares se conjugam em busca da finalidade, qual seja, a felicidade como bem maior, como supedâneo do bem comum. A esse propósito, importa considerar a posição de Finnis na obra “Fundamentos de Ética”, especificamente em seu Capítulo 3, intitulado “Objetividade, Verdade e Princípios Morais”, quando se refere a princípios: “E o que nós chamamos de princípios morais corretos representa simplesmente uma manifestação das exigências da razoabilidade na escolha de formas de viver”. Finnis12 confronta os dois principais argumentos dos céticos, lembrando a denominação de John Mackie13: o argumento da “estranheza” (queerness) e o argumento da relatividade (variedade de opiniões morais divergentes). Para Finnis, o modelo concebido em torno desses dois argumentos falharia em “fornecer razões para duvidar da objetividade ou da veracidade de tais juízos.”14 Finnis, assim, ressalta a objetividade dos bens básicos, em detrimento da postura do Ceticismo (“O cético que sustenta que a Ética é subjetiva – que princípios morais não são, objetivamente, nem verdadeiros nem 11 Aristóteles, na Ética a Nicômacos, contribuiu decisivamente para definir a busca do bem verdadeiro como razão da existência humana inserida em um meio social. 12 Fundamentos de Ética, Campus Jurídico-Elsevier, tradução de Arthur M. Ferreira Neto, revisão de Elton Somensi de Oliveira, Rio de Janeiro, 2012, pp. 58-61 13 J. L. Mackie, Ethics: Inventing Right and Wrong, Penguin, Hardmondsworth: 1977, p. 38. 14 Na página 64 aduz: “Então não há nenhuma razão para negar a objetividade – i.e., a inteligibilidade, a razoabilidade e a verdade... – de afirmações sobre o que constitui o bem-estar de alguém (e é portanto, algo de seu interesse). As investigações de David Wiggins [‘Truth, Invention and the Meaning of Life’] sobre a verdade convergem em uma conclusão muito semelhante. A objetividade é, fundamentalmente, uma questão de raciocínio em direção à verdade.” Artigos & Ensaios 115 falsos, mas apenas uma questão de gosto e de convenção”), das diferentes formas de Conseqüencialismo e do Formalismo kantiano.15 Por fim, vale tomar o argumento de Finnis a propósito do segundo argumento dos céticos morais, qual seja o da relatividade nas palavras de John Mackie. Partindo da “variedade histórica, geográfica e antropológica das regras morais e de outras culturas, ele ‘possui como premissa’, afirmou Mackie, ‘ a bem conhecida variedade de códigos morais de uma sociedade para outra e de um período para o outro e também as diferenças nas crenças morais entre diferentes grupos e classes dentro de uma comunidade complexa’ ”. Sobre o referido argumento, rebate Finnis16: “A atenção adequada aos dados históricos e antropológicos demonstra que as formas básicas do bem humano e os princípios práticos correspondentes são reconhecidos por seres humanos tanto em pensamento quanto em ação, com quase universalidade, em todos os tempos e lugares. (...) Afirmar, portanto, que a objetividade é impossível é simplesmente uma falácia (grosseira), uma clara afronta à lógica.”17 Essas são noções elementares, básicas, da Ética, tanto como preocupação até mesmo científica em torno dos princípios, quanto também daquela preocupação de ordem moral, em torno do agir. Insistimos nesse ponto, qual seja o da objetividade da Ética, porque mesmo o Leviatã, ou o soberano, enfim, o poder formalizado no Estado lhe está sujeito. 15 Nesse particular, extrai de Tomás de Aquino: “(i) O objeto geral da vontade de alguém é um bem inteligível em termos gerais (e, mais radicalmente, aquele bem supremamente inteligível relacionado ao conhecimento do criador, sustentador e diretor de todos os outros bens); e internamente a esse objeto geral, estão ‘compreendidos’ e ‘contidos’ (‘representando, por assim dizer, bens particulares’) aquelas formas de bem que são os fins, não apenas das capacidades humanas particulares (assim como a verdade é o objeto de sua inteligência), mas também da totalidade da pessoa na sua integridade natural (de modo que ‘a existência, a vida etc.” devam estar incluídas na lista desses bens naturais básicos). (ii) Essa lista é expandida para algo mais próximo do seu comprimento correto quando Aquino argumenta que não existe um, mas um número variado de ‘primeiros princípios’ da razão prática (i.e., do direito natural), todos ‘fundados’ na inteligibilidade do bem a ‘ ser realizado e perseguido (e o mal a ser evitado)’ e, com isso, passível de identificação de todos os bens a serem realizados e perseguidos:...’ (iii) (...) A sabedoria prática, por sua vez, recebe o seu direcionamento indispensável daqueles outros princípios básicos, princípios esses formulam o entendimento de alguém sobre os outros bens básicos e fins presentes na lista (vida, conhecimento, sociabilidade, etc...).”16 Op. cit., p. 77. 17 Vale ressaltar, na perspectiva de Finnis, a recusa do simplismo da maioria dos raciocínios que rejeitam a objetividade, baseando-se em que a veracidade dos juízos se reduziria à correspondência aos “fatos”, “ao mundo”, “a realidade” (reducionismo do chamado “empirismo filosófico” de Hobbes, Hume e sucessores, como John Mackie). 116 Cadernos ASLEGIS | 50 • Setembro/Dezembro • 2014 III- Corrosão social e a busca de um denominador comum para a manutenção da vida social A coesão social, aprimorada pela longa convivência entre os membros de uma comunidade18 (por exemplo, a admiração e prática reiterada de certas ações que favorecem a amizade cívica, fortalecida pela busca da felicidade – bem comum –, conforme bem nos ensinou Aristóteles na obra já referida), é de fundamental importância para o sucesso da vida em comum. Diríamos mais: tal convivência, em limite extremo, ainda se faz possível, a despeito das tentativas de destruí-la, pela esgarçadura da empatia natural, por uma leitura ideológica, segmentária e desarrazoada. É certo, não obstante, que uma sociedade tem cada vez mais dificuldades quanto menos eficazes forem seus elementos de coesão. Assim, em ambiente em que a coesão social depende da supremacia de um Estado formalista, aumenta-se a necessidade de elaborar e construir argumentos de forma contínua, incessante, exaustiva e extenuante, principalmente quando a proeminência no debate é reclamada pelo ser humano autárquico e plenipotenciário (“tudo lhe é devido, não deve nada a ninguém”), com seus argumentos falaciosos, aos quais se somam as “vítimas”19 que se julgam, mediante discurso histriônico, as principais merecedoras da titularidade de direitos, a despeito da supressão dos direitos dos outros. Há aqui a supervalorização de conflitos, hipótese diferente da perspectiva da inclusão do outro20 e da busca de reconhecimento21. Nesse caso, a coesão deverá ser buscada, como antes dissemos, na construção incessante de pontes, pelo diálogo e pela persuasão. Para tanto, faz-se insuperável o reconhecimento de denominador comum, de critério mínimo de inteligibilidade, em torno do qual o consenso possa ser construído. Em última análise, para superar as diferenças inclusive ideológicas no seio de uma sociedade, é preciso que remanesça e haja o compartilhamento de algum valor, ou de algo que torne possível a comu18 Ressaltamos que a convivência em espaço geográfico compartilhado entre brancos, negros, mulatos, amarelos, crentes, agnósticos, ateus, índios, homens, mulheres, crianças, jovens, adultos, velhos, deficientes, enfim, toda a diversidade possível e imaginável, pode ocorrer em função de empatia desenvolvida ao longo de uma história de convivência, de compartilhamento de lutas e conquistas comuns. 19 É preciso ser uma vítima – mesmo que simuladamente – para obter um lugar na sociedade e, assim, apontar constantemente o débito que essa mesma sociedade tem para consigo (vale considerar a obra de Bruce Bawer, The Victm’s Revolution: The Rise of Identity Studies and the Closing of the Liberal Mind, que fornece um painel da valorização, no meio universitário, de vítimas como categoria objeto de estudo e de promoção). 20 J. Habermas, A Inclusão do Outro, estudos de teoria política, tradução de Geroge Sperber, Paulo Astor Soethe e Milton Camargo Mota, Loyola, São Paulo, 2002. 21 Axel Honneth, Luta por reconhecimento, A gramática moral dos conflitos sociais, tradução de Luiz Repa, editora 34, São Paulo, 2003. Artigos & Ensaios 117 nicação e a argumentação, algo que propicie o mínimo de inteligibilidade entre as diferenças. Se nos impõe, portanto, a busca da essência do liame que permite a convivência em pequenos grupos ou até mesmo em países. É preciso compartilhar algo ou alguma coisa para a manutenção do tecido social mínimo. Fica difícil manter a unidade em uma comunidade – não desconsideramos que as diferenças devem ser respeitadas e protegidas, inclusive porque a sua existência fortalece e enriquece os laços da comunidade – quando se estimula a dissensão, o litígio, quando se investe na ruptura dos laços confeccionados ao longo de uma história comum. Aqui começa a delinear-se uma grande dificuldade. Qual seria o denominador comum? Qual seria o elemento crucial, fundamental, de uma sociedade em que a empatia está perigosamente se esvaindo e a igualização social deixa de ser sentimento de genuína justiça, para se tornar, infelizmente, mero recurso de propaganda que visa à manutenção do poder (de um grupo em detrimento do todo)? Firma-se, então, a indagação sobre qual seria a essência deste liame e mesmo qual a identidade do elemento deletério que tem o propósito de corroê-lo. Como resposta, verificamos uma sucessão de diversas experiências históricas negativas que vêm atentando contra a convivência social. Como fibras de uma corda que vão sendo paulatinamente seccionadas, restaria a última fibra como elo unificador, cuja essência está na ação cotidiana correta, honesta, em homenagem a uma ética universalmente humana – porquanto imbricada na natureza de todos os homens – e assim objetiva. Esse é o padrão último que permite a comunicação entre os diferentes. Se esse padrão não é mais considerado, a sociedade corre o risco de sua desintegração. Constatamos, infelizmente, a tentativa de que venha a prevalecer uma “ética” particularista, relativista, própria de um grupo ideológico em detrimento do todo, com a preponderância de licenciosidade perniciosa, que procura o fortalecimento desse grupo em desfavor dos demais no âmbito da comunidade. E o mais surpreendente – consequência aliás inexorável desse comportamento exclusivista – é que esta ação negativa está contribuindo para destruir a própria utopia que motivava a ação dos seus membros, graças à utilização de expedientes e de meios que fogem inclusive ao que sua ideologia apregoa, em termos formais, do que seria um proceder correto. Em outras palavras, chega-se ao absurdo de uma ética particularista – ideia inerentemente contraditória –, cuja ação de muitos que a apologizam foge inclusive dos seus próprios parâmetros formais e doutrinários, mediante a ação mais deletéria de qualquer comunidade: a corrupção. 118 Cadernos ASLEGIS | 50 • Setembro/Dezembro • 2014 Justamente aqui encontramo-nos com o elemento corrosivo e injustificável sob qualquer ponto de vista. Se a honestidade é virtude essencial da vida social, a desonestidade, veiculada pela corrupção, é o vício devastador que corrói uma sociedade. Quando tal vício se torna usual, a divisão social antes estimulada por um discurso político e ideológico em favor de “desvalidos” sociais, acaba gerando a consciência da hipocrisia dessa postura, e aí sim, aqueles que, pela força da propaganda, se sentiam privilegiados por angariar condições favoráveis para viver pelo seu esforço pessoal “enquanto outros tantos nada têm”, passam a se sentir ludibriados pela mentira, hipocrisia e, sobretudo, pela mediocridade.22 Se propunha que fosse ampliada a justa participação dos extratos da sociedade “menos favorecidos”, mas, ao invés disso, foi imposta, sob esse título, a prevalência, em nível gerencial, de medíocres e aproveitadores dos diversos extratos sociais, unificados por uma ideologia particularista. IV- Conclusão O poder e a burocracia deveriam ser apenas instrumentos de gestão da vontade da comunidade, a fim de viabilizar a distribuição do resultado dos esforços comuns a todos os seus segmentos, sobretudo os mais necessitados, de modo a fazer, na medida do possível, que a felicidade viesse a atingir o maior número dos seus membros. Daí a relevância da missão (múnus) daqueles que se dispõem a gerenciar, em nome de todos – e considerando a impossibilidade de que todos os membros participem da gestão (imagine-se um país com milhões de habitantes) – , os resultados decorrentes dos esforços comuns. É atividade nobre, amplamente reconhecida como tal, que deveria ser efetivamente exercida pelos melhores em termos de compromisso, desprendimento, honestidade. Esses agentes devem ser recrutados com cuidado e critério, independentemente do seu extrato social, rechaçando-se os medíocres e os virtuosos travestidos do exercício de tal mister. Talvez esse seja o principal problema da nossa época: um Estado formalista, tomado ideologicamente por um grupo – apogeu de uma sociedade doentia, esvaziada de valores que pudessem unificá-la –, a escolha equivocada dos gestores por uma população estimulada pela propaganda, que também incentiva o histrionismo de grupos estimuladores de divisões, o uso indiscriminado da mentira e da hipocrisia, enfim, o caos plantado pela subversão lógica: em vez de o Bem ser tomado objetivamente como ápice 22 Daí, segundo Ratzinger (citado por Finnis), o perigo “especial da nossa era e de o coração da nossa crise cultural: a desestabilização da Ética, a pressuposição de que a moralidade não seria uma questão de razão, mas, sim, de subjetividade ou de cálculo.” Artigos & Ensaios 119 da organização social, dele derivando valores e referências, coloca-se no seu lugar o falso bem – parcial, relativizado, segmentado, ideológico – daí extraindo-se o que não poderia ser diferente: hipocrisia, despreparo, mentira e falsidade, gênese e essência de um poder corrompido. Portanto, objetivamente, temos como certo: 1. A Ética não pode ser relativizada ou “domesticada” por facção, grupo, qualquer manifestação ideológica ou mesmo pelo Estado, em detrimento da sociedade, o que implicaria, no mínimo, uma contradição lógica. Por consequência, nenhum grupo pode arvorar-se em representar ou ser o porta-voz do sentimento ético do todo, sobretudo com o uso massivo de propaganda; 2. O exercício moral (ação cotidiana) também já se faz a partir das inclinações naturais em direção à realização do bem; 3. No âmbito de uma comunidade, ou de qualquer comunidade, não se pode atingir o bem em detrimento do todo; 4. Todas as atividades da sociedade devem ser pautadas pela Ética, sobretudo o exercício do poder – mero instrumento para alcançar-se o bem de todos; 5. Deve ser rechaçada a prática jurídica, institucional, partidária ou ideológica que procure particularizar a Ética em detrimento do todo; 6. Deve ser rechaçada a “filiação” do Estado a ideologia que dele faça instrumento particularista, em detrimento do todo; 7. A honestidade, a correção e a busca da realização da felicidade do todo pelo atingimento do bem comum constituem o denominador comum, último elemento de coesão que garante a inteligibilidade mínima propiciadora do diálogo entre os diferentes, sem o qual determinada comunidade perde a derradeira chance de ter uma identidade e razão de ser. REFERÊNCIAS ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, Edición bilíngue y tradución de María Araujo y Julián Marías, Centro de Estudios Políticos y Constitucionalies, Madrid, 2002. 120 Cadernos ASLEGIS | 50 • Setembro/Dezembro • 2014 __________ Metafísica, Edición trilíngue por Valentín García Yebra, Gredos, Madrid, 1987. AZEVEDO, Luiz Henrique Cascelli. Ius Gentium em Francisco de Vitoria, a Fundamentação dos Direitos Humanos e do Direito Internacional na tradição tomista, Safe, Porto Alegre, 2008. CABRERA, Julio. Projeto de ética negativa, Mandacaru Graphbox, 1990. DOUZINAS, Costa. O FIM dos Direitos Humanos, tradução Luzia Araújo, Editora Unisinos, São Leopoldo, 2009. FINNIS, J. Fundamentos de Ética, Campus Jurídico-Elsevier, tradução de Arthur M. Ferreira Neto, revisão de Elton Somensi de Oliveira, Rio de Janeiro, 2012. _________Ley Natural y Derechos Naturales, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2000 HABERMAS, J. A Inclusão do Outro, estudos de teoria política, tradução de Geroge Sperber, Paulo Astor Soethe e Milton Camargo Mota, Loyola, São Paulo, 2002. HONNETH, Axel. Luta por reconhecimento, A gramática moral dos conflitos sociais, tradução de Luiz Repa, editora 34, São Paulo, 2003. LISSKA, Anthony J., Finnis and Veatch on Natural Law in Aristotle and Aquinas, American Journal of Jurisprudence, volume 36, Issue 1, Article 4, 1-1-1991. MACKIE, J. L. Ethics: Inventing Right and Wrong, Penguin, Hardmondsworth: 1977. MARITAIN, J. O Homem e o Estado, tradução Alceu de Amoroso Lima, Agir, 1956. _________ problemas fundamentais da Filosofia Moral, tradução de Gerardo Dantas Barretto, Agir, Rio de Janeiro, 1977. SANTO AGOSTINHO, A Cidade de Deus, tradução João Dias Pereira, 2ª Edição, Fundação Calouste Gulbekian, Lisboa, 1996. VAN CREVELD, M. Ascensão e declínio do Estado, tradução de Jussara Simões, São Paulo, Martins Fontes, 2004. Artigos & Ensaios 121 Sala de Visitas Consenso e conflito no pensamento ocidental acerca do governo representativo Adam Przeworski Sala de Visitas 123 Claudionor Rocha* Consultor Legislativo da Área de Segurança Pública e Defesa Nacional Adam Przeworski Department of Politics, New York University.a Consenso e conflito no pensamento ocidental acerca do governo representativo Artigo preparado para o Beijing Forum 2006. Agradeço os comentários de John Ferejohn, Raquel Fernandez, Russell Hardin, Stephan Holmes, Bernard Manin e Pasquale Pasquino. Tradução e revisão de Bernardo Felipe Estellita Lins, Ricardo José Pereira Rodrigues e Marcelo Barroso Lacombe (NT). 125 Resumo O governo representativo no Ocidente nasceu sob uma ideologia que postulava uma harmonização básica de interesses na sociedade. Esperava-se, pois, que o processo de decisão política fosse, em grande medida, consensual. Essa ideologia ofuscou importantes conflitos de valores e interesses e tornouse insustentável com a ascensão de partidos políticos baseados em classes ou em religião. Começando com Kelsen (1923) e culminando com Schumpeter (1942), os teóricos do governo representativo o conceberam como um sistema para administrar conflitos. Em uma visão, a representatividade é garantida por compromissos entre os partidos. Em outra, pela alternância dos partidos no poder. 126 1. Introdução O ideal que impulsionou os movimentos em defesa de um governo representativo no Ocidente era o de um “auto-governo do povo”, expressão em que “o povo” sempre aparece no singular, como le peuple, el pueblo, etc. Mas como poderia o povo governar-se a si mesmo? “O povo”, no singular, não é capaz de agir. Tal como o demiurgo, é apático. É por essa razão que Rousseau (1964: 184) precisou fazer distinções de terminologia: “aqueles que se associam tomam coletivamente o nome de povo, e cada qual em particular chama-se cidadão, por ser participante na autoridade soberana, e sujeito, por estar submetido às leis do Estado” .1 Mas como pode o desejo do povo, no singular, ser determinado pelos cidadãos, no plural? Trata-se de um problema que não iria surgir se todas as pessoas fossem, de algum modo, idênticas, se os cidadãos que irão escolher o regime ao qual irão obedecer enquanto sujeitos não fossem senão cópias de um único espécime. Na visão de Kant (1793), sendo guiados por uma razão universal, cada um e todo indivíduo desejaria viver sob as mesmas leis. “Pois a razão mesma assim o deseja”. Berlin (2002: 191-2) enfatiza que a ideologia do auto-governo baseava-se no pressuposto de que haveria uma verdade única, que seria auto-evidente ou que poderia ser descoberta, à la J. S. Mill, se as opiniões fossem livremente confrontadas entre si. Sua caracterização dessa ideia merece uma citação in extenso: “Todas as verdades poderiam ser, em princípio, descobertas por um pensador racional, e demonstradas tão claramente que todas as outras pessoas racionais não poderiam deixar de aceitá-las... Dado esse pressuposto, o problema da liberdade política pode ser resolvido se estabelecermos uma justa ordem, que daria a cada indivíduo toda a liberdade a que uma pessoa racional tenha direito... somente a irracionalidade da parte dos homens (de acordo com essa doutrina) poderia levá-los a desejar oprimir, explorar ou humilhar uns aos outros. Homens racionais respeitam o princípio da razoabilidade nos demais...” Como Descombes (2004: 337) coloca, “o homem enquanto sujeito não é este ou aquele homem, mas uma representação das faculdades racionais que são encontradas entre os seres humanos, consideradas, em geral, idênticas”. 1 Kant (1891 [1793]: 35) fez distinções similares quando falava da Liberdade de todos como Homem, Igualdade como Sujeito e Auto-dependência (autossuficiência, autonomia) como Cidadão. Sala de Visitas 127 O governo representativo no Ocidente nasceu, então, sob uma ideologia que postulava uma harmonia básica dos interesses na sociedade. A condição sob a qual o povo iria governar a si mesmo seria a de que cada uma e todas as pessoas desejariam, racionalmente, viver unanimemente sob as mesmas leis. Se uma mesma ordem jurídica é considerada a melhor por todos, a decisão de cada um seria a mesma dos demais. E, de fato, é irrelevante que os demais desejem o mesmo: se os outros me ordenam a fazer aquilo que eu mesmo me obrigaria a fazer, estarei apenas obedecendo a mim mesmo. Mais ainda, o processo de confecção das leis não terá importância: quando todos querem o mesmo, todos os procedimentos levam a uma mesma decisão. Um subconjunto de todos irá ditar aos demais precisamente aquilo que todos concordam em fazer. Essa ideologia era naturalmente hostil a qualquer forma de divisão política. Protagonistas do governo representativo acreditavam que o povo seria naturalmente unido e que poderia ser dividido apenas artificialmente. Como Hofstadter (1969: 12) relata, os pensadores do século dezoito “frequentemente postulavam que a sociedade poderia ser levada ao acordo e governada por um consenso que se aproximaria da unanimidade, quando não a atingisse. Acreditava-se que os partidos, e o espírito malicioso e mentiroso que encorajavam, criariam conflitos sociais que de outro modo não ocorreriam...”2. “Nada me assusta tanto”, apontou John Adams, “quanto a divisão da república em dois partidos grandes, cada qual organizado em torno de seu líder, e planejando medidas em oposição um ao outro” (citado em Dunn, 2004: 39). Os fundadores das instituições representativas não conseguiam reconhecer um caminho intermediário entre consenso e guerra civil, entre harmonia e mutilação. Porém, enquanto em qualquer sociedade as pessoas compartilham interesse, valores e normas, haverá outros interesses, valores e normas que irão dividi-los. Todas as pessoas razoáveis irão concordar em banir as ações que classificamos como “homicídio”, mas estamos profundamente divididos quanto a classificar o aborto como tal. Todas as pessoas razoáveis concordarão que a economia deve funcionar de modo eficiente, mas cada grupo desejará receber um rendimento elevado. Mesmo quando todos forem dotados de razão, e todas as razões forem elucidadas, a deliberação racional não culmina necessariamente em uma unanimidade. A ideologia do consenso subjacente à formação de governos representativos ofusca 2 George Washington (2002: 48) discorre sobre o espírito do partido em seu discurso de despedida de 1796, afirmando que este “distrai as assembleias públicas e enfraquece a administração pública, agita a comunidade com ciúmes infundados e alarmes falsos, acende a animosidade de uma parte contra a outra, fomenta distúrbios e insurreições ocasionais. Abre a porta à influência estrangeira e à corrupção…”. 128 Cadernos ASLEGIS | 50 • Setembro/Dezembro • 2014 importantes conflitos de valores e de interesses. Com a ascensão dos partidos políticos baseados em classes ou religiões, essa ideologia tornou-se insustentável. Começando com Kelsen (1988 [1928]) e culminando com Schumpeter (1942), os teóricos do governo representativo passaram a concebê-lo não mais como uma instituição para identificar e implementar o bem comum, mais como um método para processar conflitos. A questão central que essa nova concepção expôs é a de como as instituições representativas podem estruturar, absorver e regular conflitos, de modo a confiná-los no âmbito das soluções pacíficas. Instituições políticas precisam se auto-sustentar, ou seja, irão sobreviver e funcionar somente se puderem oferecer, continuamente, resultados que sejam preferíveis ao uso da força por cada um dos grupos que teriam uma oportunidade de se impor pela violação da ordem institucional. Tais resultados podem ser obtidos tanto por acordos entre as partes quanto pela perspectiva da sua alternância no poder. Nenhuma dessas soluções, no entanto, assegura que qualquer conflito venha a ser resolvido de modo pacífico sob qualquer condição e, mesmo que essa solução pacífica seja alcançada, que todos os setores da sociedade venham a ser representados nela. Esta é uma antecipação deste artigo. A próxima seção faz um sumário das principais características dos fundamentos consensuais do governo representativo. Essa seção é seguida por uma releitura diferente da mesma história. As críticas ao consensualismo oferecidas por Kelsen e Schumpeter são ali resumidas. A validade dos compromissos partidários e da alternância no poder como métodos para tratar conflitos é então examinada. A conclusão dá destaque ao tema da representação. 2. O conceito “clássico” de governo representativo O pressuposto básico subjacente à concepção “clássica”3 de governo representativo é a de que a sociedade é caracterizada por uma harmonia básica de valores e interesses e que existe algo que pode ser identificado como um bem, interesse ou desejo comum, público ou geral. O papel das instituições representativas seria o de identificar e implementar esse interesse comum. Esse é, então, um papel epistêmico: o da busca por uma verdade. Para participar no processo de deliberação racional, cada um precisa estar dotado de razão e virtude; assim, nem todos estarão aptos a qualificar-se como um representante em potencial. Dado que a verdade está disponível para ser descoberta, a deliberação deveria alcançar a unanimidade, ou pelo menos um consenso esmagador. Divisões políticas 3 Acompanhando Schumpeter, me referirei à teoria “clássica” de governo representativo como a ideologia sob a qual este se formou ao final do século XVIII, e não à da Grécia antiga. Sala de Visitas 129 decorrentes de interesses ou valores são inimigas dessa busca pela verdade, pois introduzem elementos de paixão e irracionalidade. Uma vez que o bem comum tenha sido identificado, deverá ser implementado pelos representantes sem a interferência dos cidadãos comuns. Assim, a oposição ao governo seria vista como uma forma de obstrução. 2.1 O bem comum Concepções de bem ou desejo comum, público ou de interesse geral oferecidas por pensadores em particular não eram as mesmas: a diversidade de terminologias não é acidental. Uma distinção refere-se a considerar se assumia-se uma existência do bem comum independente dos desejos individuais ou se aquele era identificado apenas como a agregação destes. Rousseau pensava da primeira forma, enquanto os utilitaristas sustentavam a última. Outra distinção diz respeito à possibilidade do interesse comum ser reconhecido por todas as pessoas por meio de algum processo, ou se era reconhecível apenas a alguns iluminados. Nesse aspecto, tanto Rousseau quanto os utilitaristas alinhavam-se à primeira hipótese, enquanto os autoritários das diversas estirpes mantiveram a última visão. Usando o moderno aparato analítico, podemos distinguir dois tipos de situações em que os interesses poderiam ser harmonizados: (1)Desejos individuais coincidem, no sentido de que um mesmo estado do mundo é o melhor para cada qual e para todos. Todos desejamos evitar uma invasão estrangeira; todos queremos fazer comércio, se este resulta em uma situação melhor para cada um e para todos; queremos evacuar uma cidade costeira se um furacão estiver se formando; etc. Como uma ressalva menor, observe que a mesma construção seria verdadeira se todos forem indiferentes acerca de fazer uma coisa ou outra, desde que todo mundo faça o mesmo. Ninguém se importa se dirigimos automóveis pela faixa da direita ou da esquerda, desde que todos o façam de igual maneira. Em um exemplo clássico, podemos nos encontrar em uma estação de trem ou em um terminal rodoviário, e estamos preocupados apenas em nos encontrarmos, não em que lugar. Veja que quando os desejos individuais coincidem, o desejo comum é apenas uma agregação destes. Quando os interesses são harmônicos nesse sentido, as decisões coletivas são autoimpostas. Não é necessária qual- 130 Cadernos ASLEGIS | 50 • Setembro/Dezembro • 2014 quer coação para que todos façam o que é ditado pelo interesse comum: cada indivíduo desejará fazê-lo movido pelo próprio interesse. Pode-se questionar, inclusive, a necessidade de haver leis. Mesmo no caso de ser necessária alguma coordenação, um simples aviso será suficiente e anúncios não são leis, pois não envolvem sanções. Desacordos surgirão nessa situação apenas se alguns indivíduos se sentirem incertos quanto à decisão que mais lhes convém. Por exemplo, suponha que todos os membros de um júri queiram condenar um réu se este for culpado e absolvê-lo se for inocente. Os jurados não desejam outra coisa senão exercer a justiça. Nessa situação, se o verdadeiro estado da natureza (ser o réu culpado, ou inocente) fosse conhecido, a decisão seria unânime. Em outro exemplo, todos os moradores de uma localidade costeira desejarão evacuar a cidade se um furacão se aproximar, ou ali permanecer se isso não vier a ocorrer. O único problema, portanto, é determinar se isso irá acontecer. O processo decisório coletivo, nesses casos, é o da busca da verdade. Seu papel é epistêmico (Coleman, 1989). Se houver desacordos, estes serão puramente cognitivos. (2)A busca de interesses individuais conduz coletivamente a um resultado subótimo. Tais situações são tipificadas pelo problema do dilema do prisioneiro: situações em que, dado que um indivíduo persegue seus interesses ou valores, os demais indivíduos ficarão em pior situação do que poderiam. O resultado coletivo das decisões racionais individuais será socialmente subótimo. Os exemplos abundam. Todos gostariam de se apropriar de bens dos demais, mas se todos tentassem fazê-lo, o resultado seria de que todos estariam envolvidos em lutas, em vez de investir, a vida seria severa, curta e brutal. Eu desejo pescar o maior número possível de peixes em um lago, do mesmo modo que você. O resultado, ao longo do tempo, será o de que cada um de nós pescará menos peixes4. 4 Esse tópico é fonte de frequentes confusões, portanto deixem-me enfatizar que nada está sendo assumido a respeito dessas preferências: se eu for perfeitamente altruísta e desejo que só você pesque peixes e você aja da mesma forma, acabaremos ambos sem nenhum peixe do mesmo jeito, ainda que Sala de Visitas 131 Como remediar essa situação? Pode-se adotar leis. A lei diria que não devemos furtar, ou que não se deve pescar mais do que certo número de peixes, e que violações serão punidas. Suponha-se que devêssemos votar se uma lei tal seria adotada, ou se cada indivíduo deveria tomar decisões de modo independente. Dado que a adequação à lei deixará a todos em situação melhor, o voto a favor da lei será unânime. Nosso interesse comum será o de que a lei seja aplicada e nosso desejo geral será o de que todos a obedeçam. Assim, os indivíduos são livres para agir atendendo ao interesse comum se a lei compelir a todos a agir dessa mesma forma. No estado da natureza, se eu soubesse que ao agir no interesse comum os demais não o fariam, então eu também deixaria de fazê-lo, ou seja, não estaria livre para fazer o que é melhor para mim. Note-se, porém, que agir no interesse comum não é o melhor para cada indivíduo, se os demais assim o fizerem. Se os outros realizam investimentos, eu ainda estarei melhor se puder me apropriar do seu patrimônio acumulado. Se os demais não pescam em demasia, eu ainda preferiria fazê-lo. Devemos ser compelidos, contra nossa vontade, a não agir em nosso interesse individual, O desejo geral, portanto, não é uma agregação de desejos particulares5. O resultado coletivamente benéfico pode ser também defendido com argumentos de moralidade racional. Suponha que eu me pergunte: “o que é que eu não gostaria que os outros me fizessem?” A resposta seria a de que eu não gostaria que os outros me furtassem propriedades ou que pescassem em demasia. A regra de conduta que, então, eu gostaria que os demais seguissem seria a de “não fazer aos outros o que não se deseja que os outros façam a si”. Cada indivíduo desejaria que os demais adotassem tal regra. Esta, portanto, é a única regra que poderá ser adotada universalmente e, se estivermos sendo guiados por motivações universais, todos iremos adotá-la. pudéssemos pescar alguns sem prejudicar o estoque do lago. O que eu desejo apontar é que cada pessoa se comporta de modo independente, como indivíduo, e não qual o conteúdo da sua preferência. 5 Nesse aspecto, veja-se a polêmica entre Grofman e Feld (1989), Eastlund (1989) e Waldron (1989). 132 Cadernos ASLEGIS | 50 • Setembro/Dezembro • 2014 Seria isto que Rousseau ou Kant teriam em mente? Certamente há diversas passagens em Rousseau que dariam suporte à visão de que ele não objetaria a tal interpretação, que estava deliberadamente inserida em seu linguajar6. Rousseau acreditava que o contrato social seria Pareto-superior ao estado da natureza. De outro modo, não poderia ser voluntariamente concluído. Ele também pensava que “como o desejo particular não pode representar o desejo geral, este, por sua vez, não pode se tornar um desejo particular sem que sua natureza seja mudada” (1964: 129). O que importa é que tanto a ideia de que em certas situações os indivíduos serão compelidos a agir em seu próprio interesse quanto a de que os indivíduos aceitarão ser compelidos pela lei são perfeitamente coerentes. Para poder perseguir o bem comum, os indivíduos devem agir com base na vontade coletiva, consubstanciada em leis, mesmo se contrariamente aos seus desejos particulares. 2.2 O papel das instituições representativas A finalidade das instituições representativas é a de deliberar no sentido de alcançar o bem comum de todos. Como expõe a conhecida formulação de Edmund Bourke em 1774: “O Parlamento não é uma congregação de embaixadores com interesses diferentes e hostis, interesses que devem manter na medida em que são agentes e advogados, confrontando outros agentes e advogados. Mas o parlamento é uma assembleia deliberativa de uma nação, com um interesse, o da totalidade, que não será guiada por objetivos locais ou preconceitos locais, mas pelo bem geral, resultante da razão geral da coletividade.” A política, diria Sieyes, “não é uma questão de eleições democráticas, mas de propor, escutar, chegar a um acordo, mudar a própria opinião, com o objetivo de formar, coletivamente, o bem comum”. Como Schumpeter (1942: 250) apropriadamente caracteriza, “A filosofia da democra6 Quanto a Kant (1881 [1793]: 34-35), eis a passagem relevante: “O direito em geral pode ser definido como o limite à liberdade de qualquer indivíduo na medida da sua adequação à liberdade de todos os outros indivíduos, na medida em que isto seja viável em uma lei universal... Agora, se todas as limitações à liberdade pelo conjunto dos desejos dos demais são impostas pela coerção ou pela coação, segue-se que a Constituição civil é uma relação de homens livres que vivem sob leis coercitivas, sem prejudicar de outro modo sua liberdade no conjunto das suas ligações com os demais”. Sala de Visitas 133 cia do século XVIII sustentava que... haveria o bem comum, o óbvio farol da política... Não há desculpas para deixar de vê-lo e, de fato, não há explicações para a presença de pessoas que não o vêem, exceto a da ignorância – que pode ser removida –, a da estupidez ou a do interesse contrário à sociedade”. Note-se primeiramente que nem todos os que se supusessem qualificados iriam participar no processo de deliberação racional. Ainda que os argumentos fossem intrincados e parciais, as restrições de acesso eram apontadas por seus proponentes como estando a serviço do bem comum. A declaração de direitos da França restringia seu reconhecimento da igualdade na frase que imediatamente se seguia: “Os homens nascem em igualdade e permanecem livres e iguais em seus direitos. Distinções sociais serão fundamentadas unicamente em prol do bem comum.” O argumento para limitar o sufrágio já era apresentado em sua plenitude por Montesquieu (1995: 155), que partia do princípio de que “toda desigualdade, em uma democracia, deveria resultar da própria natureza da democracia e dos próprios princípios democráticos”. O exemplo que ele oferece é o de que as pessoas que devem trabalhar continuamente para viver não estão preparadas para a função pública e irão negligenciar suas obrigações. “Nesses casos”, aponta Montesquieu, “A igualdade entre cidadãos em uma democracia pode ser suspensa para o bem da própria democracia. Mas é apenas a igualdade aparente que é suspensa...”. O argumento mais geral, que pode ser encontrado em versões ligeiramente distintas umas das outras, é o de que: 1. A representação deve agir no melhor interesse de todos. 2. É preciso apelar para a razão para compreender qual o melhor interesse de todos. 3. A razão tem determinantes sociológicos: não precisar trabalhar para viver (”desinteresse”) ou não ser empregado ou dependente de outros (“independência”). Como um político chileno expressou em 1865, para exercer os direitos políticos, é preciso “possuir a inteligência para reconhecer a verdade e o bem, a vontade de alcançá-los e a liberdade para executá-los” (um discurso do senador Abdón Cifuentes, citado em Maza Valenzuela 1995: 153). Por sua vez, a alegação de que apenas uma igualdade aparente estaria sendo violada era construída em três passos: 1. Quem age no melhor interesse de todos considera a todos em condições de igualdade, de modo que todos estão igualmente representados. 134 Cadernos ASLEGIS | 50 • Setembro/Dezembro • 2014 2. A única qualidade que está sendo considerada é a capacidade de reconhecer o bem comum. 3. Ninguém é impedido de adquirir essa capacidade, portanto o sufrágio está potencialmente aberto a todos. As eleições eram vistas como uma forma de identificar aqueles habilitados para governar no melhor interesse de todos (Manin, 1997). O papel dos eleitores era o de reconhecer os líderes naturais. “A finalidade das eleições” diziam os moderados na Espanha por volta de 1870, “é a de identificar o poder social e transformá-lo em poder político” (Garrido, 1998: 214). Nas eleições indiretas no Brasil monárquico, o papel do eleitor era o de “apontar os bons homens, dignos de governar...“ (Neves, 1995: 395). As eleições na América Latina, à época, deveriam ser entendidas como “um mecanismo para escolher os melhores... supunha-se que nessa transação os notáveis de cada lugar iriam se impor naturalmente”, resume Sabato (2003). A qualidade de líder, de estar melhor apto a governar7, era manifesta e portanto espontaneamente reconhecível como tal. Candidaturas seriam desnecessárias, de acordo com Montesquieu (1995 [1748]: 99). “O povo é admirável em sua habilidade para escolher aqueles a quem confiar parte da autoridade. Deve apenas decidir com base em coisas que não pode ignorar e em fatos que são evidentes”. Condorcet (1986 [1788]: 293) acreditava que reconhecer a habilidade natural para o governo era tão simples que até as mulheres (ainda que apenas aquelas que tivessem posses) poderiam fazê-lo. Madison acreditava que uma grande república permitiria um “processo eleitoral que certamente extrairia da massa da sociedade as mais puras e nobres personalidades que ali existissem” (citado em Rakove 2002: 56). Os representantes deveriam encontrar o mais verdadeiro interesse comum. Mas como eles o identificariam e quando iriam encontrá-lo? Qual seria, para usar a linguagem da ciência da computação, o “sinal de parada” das suas deliberações?8 Verdades objetivas são subjetivamente convincentes, pelo menos para as pessoas dotadas de razão. Assim, Milton proclamava: “Deixemos a [ver7 Winston Churchill usaria essa expressão ainda em 1924, para desqualificar o governo trabalhista. 8 Urfalino (2005: 2) identifica o problema do seguinte modo: “Com efeito, as reflexões sobre a democracia deliberativa, de modo semelhante às descrições dos etnólogos, sofrem na quase totalidade dos casos de um mesmo defeito. A sequência final daquilo que é chamado de ‘decisão por consenso’ ou de ‘decisão por unanimidade’ é evocada apenas de maneira alusiva. O leitor deve ter em mente que um consenso permite que, ao final, se tome uma decisão. Mas os autores não descrevem a maneira como essa decisão é implementada, eles não oferecem os meios para responder à seguinte pergunta: como os participantes se asseguram de que, de fato, um consenso teria sido estabelecido e de que a decisão coletiva correspondente teria sido tomada?”. Sala de Visitas 135 dade] e a falsidade se confrontarem; quem pode imaginar que a verdade venha a ficar em desvantagem em um encontro livre e aberto”9. Locke acreditava que “a verdade prevaleceria por si se lhe fosse dado por alguma vez ajustar-se a si mesma”. Catão escreveu que “a verdade tem tantas vantagens sobre o erro que ela deseja apenas ser mostrada, para ganhar estima e admiração”. Jefferson afirmou que “a verdade é grandiosa e prevalecerá se deixada a si mesma”. E, considerando que a verdade é manifesta, todo mundo seria capaz de reconhecê-la. Portanto, o sinal mais óbvio de que uma verdade é encontrada é a unanimidade. E esse critério, de fato, era amplamente usado nos tempos medievais: Urfalino (2005: 2) relata que “o consenso ou unanimidade parece ter sido o modo predominante de decisão coletiva em praticamente todas as sociedades, antes de ser substituído pelo voto”. Bentham registra que 99 em cada cem decisões do parlamento britânico eram unânimes por volta do final do século XVIII. Ainda em 1962, Buchanan e Tullock entendiam que as deliberações convergiriam à unanimidade se não fosse a pressão do prazo. E, mesmo atualmente, esse é um pressuposto de algumas teorias de deliberação política. Dotado de razão, reconhecendo os demais como iguais e suscetíveis aos apelos morais, os participantes de um processo deliberativo não precisam “agregar” suas preferências pela votação, pois todos chegam a uma mesma decisão. Assim, de acordo com Cohen (1989: 33), “a deliberação busca chegar a um consenso racionalmente motivado – encontrar argumentos que sejam persuasivos para todos...”. Se a unanimidade não é alcançada, a verdade é posta em dúvida. Como Simmel (1950: 241) observou, “uma decisão meramente majoritária não contem ainda a verdade completa, pois se a contivesse teria sucesso em unir todos os votos”. Desacordo pode indicar que a verdade não é manifesta, que qualquer decisão poderia ser errônea. Nesse sentido, Condorcet (1986) exigia unanimidade nas situações em que asseverar a verdade fosse uma questão de vida ou morte, ainda que admitisse menos consenso em outras situações. Um “júri enforcado”, que não conseguisse alcançar a unanimidade mesmo após todas as deliberações possíveis, não oferece uma diretriz certa de como devemos agir. Se alguns queremos fazer uma coisa e outros, algo diferente, o que iremos ter em comum? Note as ressalvas de Schumpeter: a unanimidade pode não ser alcançada mesmo no caso em que a luz do farol seja clara, devido à ignorância, à estupidez ou ao interesse contrário à sociedade. Mas como é possível dizer se não foi alcançada porque não é manifesta ou em decorrência des9 136 Esta citação e as seguintes são de Holmes (1995: 169-170). Cadernos ASLEGIS | 50 • Setembro/Dezembro • 2014 sas razões ilegítimas? Uma solução seria a de identificar as pessoas e seus motivos. Além do número de pessoas (numerus), as teorias jurídicas e a lei canônica alemã distinguia a autoridade (auctoridad), o mérito (meritus) e a intensidade (zelum). Na teoria medieval inglesa, estes eram a patente, a reputação e a capacidade de julgamento. As decisões deveriam basear-se não apenas em decorrência de uma avaliação mais numerosa, mas que fosse também mais qualificada, major et sanior. Porém, mesmo que nem todas as opiniões sejam de uma mesma qualidade, uma evidência numérica esmagadora é suficiente para que se reconheça que a decisão tem fundamento em todas as suas dimensões. Assim, de acordo com Heinberg (1926), diferentes modalidades de maioria qualificada eram usadas por treze comunas italianas: enquanto Gênova tipicamente demandava a unanimidade, Brescia, Ivrea e Bolonha requeriam dois terços e algumas outras cidades, quatro sétimos. Por sua vez, enquanto a eleição do papa Alexandre III por 24 em 27 votos provocou um cisma, a regra dos dois terços foi posteriormente adotada pela igreja para as eleições papais. Em suma, maioria qualificada passaram a ser aceitas como indicação de que o interesse comum havia sido identificado. Se as decisões alcançadas por um consenso generalizado indicavam o verdadeiro interesse comum, ou se simplesmente apontavam que desobedecê-las seria fútil, a votação era vista, na melhor das hipóteses, como um expediente para substituir a unanimidade10. Divisões eram sinal de alguma enfermidade, seja de conhecimento incompleto ou interesses particulares. 2.3 Sem divisões A ideologia original do governo representativo era hostil a qualquer divisão política. O povo era um corpo e “nenhum corpo, orgânico ou político, poderia sobreviver se seus membros trabalharem em desarmonia” (Ball 1989: 160). A analogia com o corpo surgiu no período da baixa idade média e, mesmo quando a perspectiva contratual substituiu a orgânica, as partes de um contrato ou de um pacto eram vistas como pertencentes a um todo, e não como qualquer forma de divisão. Muitos, se não todos os protagonistas democráticos, acreditavam que na medida em que o povo era naturalmente unido, só poderia ser dividido artificialmente. Partidos ou “facções” eram vistas como divisões espúrias de um 10 Descrevendo o que chama de “decisões por consenso aparente”, Urfalino (2005) enfatiza que “o consenso aparente exige não a unanimidade, mas, a par dos que o aprovam, o consentimento dos reticentes” e que “a contribuição dos participantes à decisão é marcada pelo contraste entre um direito igual ao da participação e de uma desigualdade legítima das influências”. Sala de Visitas 137 corpo naturalmente íntegro, produtos das ambições dos políticos, em vez de reflexos de diferenças ou conflitos pré-políticos. A rejeição às divisões políticas não se limitava aos partidos. Como Rosanvallon (2004) enfatiza, ainda que a democracia não fosse direta, era “imediata”, no sentido de que nenhum obstáculo poderia se interpor entre os indivíduos e seus representantes. Na conhecida frase de Le Chapelier, “Não há corporações no âmbito do Estado, não há nada além dos interesses particulares de cada indivíduo e do interesse público. Ninguém tem o direito de inspirar os cidadãos com interesses intermediários, de separá-los do ambiente público por um espírito corporativo” (citado por Rosanvallon, 2004: 13). Rosanvallon (2004) enfatiza que na França a ação coletiva era tida como um instrumento inadequado para influir ou opor-se ao governo incumbente. O derradeiro decreto da Assembleia Constituinte de 1791 estabelecia: “Nenhuma sociedade, clube, associação de cidadãos poderá ter existência política de qualquer forma ou exercer qualquer tipo de inspeção de atos dos poderes constituídos e de autoridades legais; não podem, sob qualquer pretexto, apresentar-se sob uma denominação coletiva, seja para formular petições ou representar a terceiros, participar em cerimônias públicas ou para quaisquer outros fins.” (citado por Rosanvallon, 2004: 59) E esse princípio parece ter viajado: a Constituição de 1830 do Uruguai também considerou ilegal que os cidadãos se organizassem em associações (López-Alves, 2000: 55). Ainda que a França representasse um caso extremo, vozes semelhantes ouviam-se nos Estados Unidos. Como alerta Hofstadter (1969: 8), “a ideia de uma oposição legítima... não era uma ideia que os Pais da Pátria encontraram plenamente desenvolvida e disponível quando estes deram início ao seu esforço no constitucionalismo republicano em 1788. Iremos compreender erradamente suas políticas se as lermos de modo tão anacrônico a ponto de imaginarmos que eles já tinham uma concepção amadurecida do que fosse uma oposição legítima...”. Como Noah Webster escreveu em famosa carta a Joseph Priestly: “Em nosso país o poder não está nas mãos do povo, mas de seus representantes. Os poderes do povo estão primariamente restritos ao exercício direto dos direitos de sufrágio... de onde o termo Democrata tem sido usado como sinônimo da palavra Jacobino na França; e por uma concepção adicional, decorrente da tentativa de controlar nosso governo por 138 Cadernos ASLEGIS | 50 • Setembro/Dezembro • 2014 meio de associações populares, o termo passou a identificar a pessoa que procura exercer oposição indevida ou influênciano governo por meio de clubes privados, intrigas secretas ou por reuniões públicas populares que sejam estranhas à constituição. Por Republicanos entendemos os amigos de nosso Governo Representativo que acreditam que não deve ser exercida sobre o estado qualquer influência que não esteja diretamente autorizada pela Constituição e pelas leis”. Desse modo, quando o presidente Washington apodou os clubes de “auto-criados” ele queria sugerir que eles existiam à margem da norma jurídica e que apenas os entes apropriadamente constituídos e os representantes devidamente eleitos poderiam deliberar ou exercer pressões sobre assuntos públicos (Palmer, 1964; Peterson, 1973: 7). O discurso de despedida de Washington, escrito em 179611, é tão espantoso em sua intolerância contra qualquer tipo de oposição que merece ser citado por extenso: “Toda obstrução à execução das leis, toda combinação e associação, com qualquer finalidade plausível, mas com o verdadeiro desígnio de dirigir, controlar, confrontar ou coibir a deliberação regular e a ação das autoridades constituídas é destruidora desse princípio fundamental [o dever de todo indivíduo de obedecer o governo estabelecido] e é tendente ao dano. Serve para organizar facções, para dar-lhes força artificial e extraordinária, para colocar, no lugar do poder delegado pela nação, o desejo de um partido, não raro uma minoria, pequena mas habilidosa e empreendedora, da comunidade; e, dependendo da alternância de triunfos dos diferentes partidos, serve para fazer com que a administração pública se torne um espelho de projetos incongruentes e mal planejados de facções, em lugar de ser o instrumento de um planejamento integrado e consistente, formulado por conselhos da comunidade e modificados segundo interesses mútuos” (2002: 47; itálico inserido para referência futura). De acordo com Palmer (1964: 526-527), “Hamilton, apoiado por Washington, adotou a visão de que a oposição [segundo seu entendimento] era oposição ao próprio governo. Como não havia partidos no sentido moderno e a ideia de que seriam necessários não era sequer reconhecida, o tema logo alcançou uma dimensão maior, tornando-se uma questão da 11 O discurso nunca foi proferido. Alguns trechos foram minutados por Hamilton. Ellis (2002: 152) reconhece a voz de Hamilton no princípio citado entre aspas. Sala de Visitas 139 oportunidade de qualquer oposição, o do direito dos cidadãos de discordar, criticar ou opor-se aos agentes públicos”12. Oposição seria então algo equivalente a uma obstrução do governo legitimamente constituído. 3 Ideologia e realidade Há outro modo de mudar o rumo desse relato estilizado. Uma razão para fazê-lo é a de que a tradição aristotélica, da qual Maquiavel foi o último representante (Pasquino, 1996, 1998), prolongou-se pelo menos até a revolução americana. Mais ainda, o temor de que os pobres, se dotados de direitos políticos, os usassem para confiscar propriedades, renascia junto com os fundamentos das instituições representativas modernas. Mas um motivo mais fundamental é o de que a realidade não se curva facilmente à ideologia do consenso. Na tradição aristotélica, o conflito era inevitável e se constituía no conflito entre ricos e pobres. A solução para esse conflito era uma constituição mista, na qual diferentes classes pudessem encontrar suas próprias representações nos órgãos do estado. A diferença entre as duas tradições e melhor exemplificada pelas justificativas para o bicameralismo: enquanto Madison e Hamilton insistiam em que a Câmara e o Senado representassem a todos, sendo apenas de modo diferente, Adams concebia as duas casas representando grupos distintos. Ainda assim, a tradição aristotélica não teria como sobreviver, e não sobreviveu, ao ímpeto do princípio democrático de que as instituições representativas devam ser cegas à posição social dos indivíduos. A democracia recobre com um véu as diferenças que existem na sociedade. O único atributo dos cidadãos de uma democracia é o de que eles não possuem qualquer atributo enquanto tais. Como diria Rousseau (1964: 129), “o soberano [o povo unido] reconhece apenas o corpo da nação e não distingue qualquer um que o componha”. O cidadão democrático é “um homem sem qualidades” (Pasquino, 1998: 149-150), um indivíduo quando fora da sociedade. Pode-se dizer “um aristocrata”, “uma pessoa de posses” ou um “homem”, mas não “Um cidadão aristocrata”, “um cidadão de posses” ou “um cidadão do sexo masculino”. Como Sieyes (1979: 183) explica, “deve-se conceber as nações da Terra como de indivíduos fora do vínculo social”. E na medida em que os cidadãos são indistinguíveis, nenhuma lei poderia, possivelmente, estabelecer uma distinção. Portanto, o aspecto democrático das instituições representativas tornaria inconcebível uma representação em termos de classes. 12 Para evidências de que a oposição era vista como ilegítima pelo governo nos Estados Unidos, entre 1794 e 1800, ver Dunn (2004), Stone (2004) e Weisberger (2000). 140 Cadernos ASLEGIS | 50 • Setembro/Dezembro • 2014 Isto não quer dizer que os fundadores das instituições representativas fossem cegos aos conflitos, ao fato manifesto de que nem todos iriam concordar sobre tudo. Nem mesmo Sieyes sustentava que o consenso devesse incluir todos os assuntos: “Dizer que as pessoas se unem no interesse comum não quer dizer que todos colocam todos os seus interesses em comum” (citado por Pasquino, 1998: 48). Condorcet (1986: 22) destacava que “só uma norma que não seja adotada unanimemente pode submeter as pessoas a opiniões que não sejam as delas ou a decisões que eles acreditem ser contrárias aos seus interesses”. O argumento clássico admitia que o povo poderia discordar em muitos temas; sua alegação era apenas a de que alguns valores ou interesses o unem de modo tão forte que o que é comum elimina toda divisão. Tudo o que se exige é apenas um acordo sobre alguns fundamentos; nas palavras de Rousseau (1984: 66), “algum ponto sobre o qual todos os interesses convergem”13. A realidade das divisões e dos conflitos que estas provocam, era, ainda que a contragosto, admitida pela tradição iniciada em Hume. Algumas divisões da sociedade eram vistas como inevitáveis; Madison, educado nessa tradição, observaria n’O Federalista nº 10 que “as fontes latentes da facção estão... semeadas na natureza humana”. O próprio Hume (2002 [1742]) acreditava que divisões decorrentes de interesses materiais fossem menos perigosas do que aquelas baseadas em princípios, particularmente em valores religiosos ou no afeto. No entanto, quase todos os demais viam como principal ameaça a perspectiva de que a participação política dos pobres poderia colocar em xeque a propriedade e, portanto, a ordem social em que a sociedade se baseava. Em uma sociedade desigual, a igualdade política abre a possibilidade de que a maioria pudesse, pela lei, equalizar a propriedade ou os benefícios do seu uso. Tendo em vista que, ao contrário da liberdade ou da felicidade, a propriedade, o tipo de propriedade que pode ser usado para gerar rendimentos, sempre foi e continua a ser detido por uma minoria, o direito de proteger a propriedade entraria em confronto com o interesse das maiorias. Assim, a tensão entre democracia e propriedade seria previsível, e foi de fato prevista. Inclusive, em algum momento, igualdade legal e igualdade econômica ficariam ligadas por um silogismo: o sufrágio universal, combinado com uma regra da maioria, garante poder político à maioria; e como a maioria é pobre, irá confiscar os ricos. Esse silogismo talvez tenha sido proposto por um polemista conservador francês, J. Mallet du Pan, que insistia em 1796 que a igualdade legal teria que resultar na igualdade de posses: “você deseja uma república de iguais entre as desigualdades 13 A referência completa é “se não houver algum ponto sobre o qual todos os interesses convirjam, nenhuma sociedade poderá existir”. Sala de Visitas 141 que o serviço público, a herança, o casamento, a indústria e o comércio introduziram na sociedade? Você terá de subverter a propriedade” (citado por Palmer, 1964: 230)14. Veja que, contrariamente a uo frequente erro de citação, do qual sou também culpado15, Madison (O Federalista nº 10) acreditava que esse efeito se aplicaria a democracias diretas, mas não a democracias representativas. Tendo identificado uma “democracia pura” como um sistema de regramento direto, Madison prossegue afirmando que “tais democracias foram sempre um espetáculo de turbulência e confronto; foram sempre incompatíveis com a segurança pessoal ou os direitos de propriedade e foram em geral de vida curta e de morte violenta” (itálico no original). Ainda assim, “uma república, termo que entendo como um governo no qual o esquema de representação ocorre, abre uma perspectiva diferente e promete a cura que procuramos”. Ele parece, também, ter-se tornado menos otimista décadas depois: “Os riscos para os detentores de propriedades não podem ser dissimulados, se eles permanecem sem defesa diante de uma maioria sem propriedades. Grupos de pessoas não são menos seduzidos pelo interesse do que os indivíduos... Por isso, a responsabilidade dos direitos de propriedade...” (nota escrita em algum período entre 1821 e 1829, em Ketcham, 1986: 152). Uma vez criado, esse silogismo dominou os temores e as esperanças ligadas, desde então, à democracia. Conservadores concordaram com socialistas16 em que a democracia, especificamente o sufrágio universal, iria minar a propriedade. O caráter mesquinho dos argumentos distorcidos para restringir o sufrágio aos detentores de propriedade era aparente. O filósofo escocês James Mackintosh previu em 1818 que se as “classes operárias” ganhassem espaço, “uma permanente animosidade entre opinião e propriedade seria a consequência” (citado em Collini, Winch e Burrow, 1983: 98). David Ricardo estava preparado para estender o sufrágio somente “para aqueles que não se suponha que tenham interesse em derrubar o direito à propriedade” (em Collini, Winch e Burrow, 1983: 107). Thomas Macaulay, em um discurso de 1842 sobre os cartistas, ilustrou os perigos oferecidos pelo sufrágio universal nos seguintes termos: 14 Hamilton formulou algo semelhante a esse silogismo em seu Plano para um Governo Nacional (em Ketcham, 1986: 75), proferido na Convenção em 18 de junho: “em toda comunidade em que a indústria é encorajada, haverá uma divisão entre os poucos e os muitos. Assim, interesses dispares surgirão. Haverá credores e devedores, etc. Dê o poder aos muitos e estres irão oprimir os poucos”. Ainda assim, ele acreditava, tal como Madison, que esse efeito poderia ser evitado. 15 O erro de citação consiste em omitir a palavra “tais” na citação que se segue. Veja, por exemplo, Hanson (1985: 57) ou Przeworski e Limongi (1993). 16 Segundo Rosanvallon (2004), esse termo em particular surgiu na França em 1834. 142 Cadernos ASLEGIS | 50 • Setembro/Dezembro • 2014 “A essência do cartismo é o sufrágio universal. Se impedirmos isto, não será muito importante o que oferecermos. Se oferecermos isto, não será nada importante o que evitarmos. Se o assegurarmos, o país estará perdido... Minha firme convicção é a de que, em nosso país, o sufrágio universal é incompatível, não apenas com esta ou aquela forma de governo, mas com tudo aquilo pelo qual o governo existe; ou seja, é incompatível com a propriedade e é incompatível com a civilização” (1900: 263). Mesmo os que reconheciam a inevitabilidade das divisões sociais insistiam, porém, que divisões partidárias poderiam e deveriam ser moderadas e mitigadas por um desenho apropriado das instituições representativas. “Se... interesses distantes não forem averiguados e não forem dirigidos aos público” previa Hume, “iremos constatar nada mais do que parcialidade, desordem e tirania de tal governo”. A primeira virtude da Constituição norte-americana que Madison apontou no parágrafo inicial d’O Federalista nº 10 foi a de que “entre as numerosas vantagens prometidas por uma União bem construída, nenhuma merece ser melhor elaborada do que a tendência a romper e controlar a violência das facções”. Madison reconhecia que diferenças de paixões e interesses eram generalizadas e inevitáveis na sociedade; mais ainda, sua fonte mais comum e persistente era a “distribuição variada e desigual da propriedade”. Não se deveria permitir que tais diferenças entrassem no domínio da política. O custo de proibi-las, porém, seria a perda da liberdade. Assim, Madison concluía que “as causas do sectarismo não podem ser removidas, e algum alívio deve ser buscado apenas no controle dos seus efeitos”. “Facções” eram exatamente o que hoje entendemos como “partidos”17, mesmo que a etimologia dessas duas palavras seja diferente (Ball, 1989: 139). “Entendo que facção”, definia Madison, “seja um número de cidadãos, que totalize tanto uma maioria quanto uma minoria, que se unem e atuam por um impulso ou uma paixão comum, ou por interesses opostos aos outros cidadãos, ou aos interesses permanentes e agregados da comunidade”. Ainda assim, facções deveriam ser controladas, assevera Madison, seja pelo debate entre representantes, seja porque em distritos suficientemente grandes, cada representante iria responder a interesses heterogêneos. Assim, a solução de Madison não é a de proibir a organização da opinião pública, mas a de confiar o governo exclusivamente a representantes. 17 “Facção”, no entanto, tinha claramente uma conotação mais ofensiva: como diria Bolingbroke, “facção está para partido como o superlativo está para o positivo; o partido é um mal da política e facção é o pior de todos os partidos” (citado em Hofstadter, 1969: 10). Sala de Visitas 143 Talvez paradoxalmente, uma solução para divisões partidárias pudesse ser a de um partido único, unindo a todos na busca do bem comum. De acordo com Hofstadter (1969: 23), o proponente mais importante dessa solução era James Monroe: “é o conflito partidário o que é danoso, postulava Monroe, mas um partido único poderia ser louvável e útil... se este pudesse fazer-se suficientemente universal e forte para incorporar o interesse comum e sufocar o conflito partidário... Monroe não entendia ser legítimo proibir a oposição por lei. Ele esperava, antes, que o partido único viesse a eliminar o partidarismo graças à sua qualidade ecumênica e absortiva”. Qualquer que fosse a unidade a ser alcançada, era a unidade a que deveria prevalecer. A ideologia democrática não experimentou em qualquer outro aspecto as mudanças agudas que ocorreram em relação aos partidos políticos. Considere-se o próprio Madison. Tão logo ele se viu na oposição às políticas de Hamilton, por volta da primavera de 1791, ele empreendeu com Jefferson uma viagem por Nova York e Vermont, cujo objetivo não era senão o de criar um partido18. Embora idealmente ele acreditasse que partidos seriam desnecessários se as diferenças econômicas pudessem ser reduzidas, ele chegou ao reconhecimento de que “a grande arte dos políticos encontra-se em fazer de um partido um controle sobre um outro” (citado em S. Dunn, 2004: 53). Logo ele usaria um rótulo, “republicano”, para identificar sua orientação programática. E mais para o fim da sua vida, em algum momento entre 1821 e 1829, Madison chegaria à conclusão de que “nenhum país livre jamais persistiu sem partidos, que são descendentes naturais da liberdade” (em Ketcham, 1986: 153). As primeiras divisões partidárias surgiram na Inglaterra em 1679-8019. A polarização sobre a política em relação à França resultou na criação de partidos nos Estados Unidos em 179420, mesmo que o Partido Federalista se dissolvesse após a derrota de 1800 e um sistema bipartidário se consolidasse um quarto de século adiante. Na França, partidos se tornaram reconhecíveis em 1828. Em alguns países latino-americanos, notadamente na Colômbia e no Uruguai, partidos emergiram das guerras de independência, antes mesmo da formação do estado (López-Alves, 2000). Ainda assim, a hostilidade aos partidos era tão profunda que eles foram banidos nos municípios germânicos em 1842; em alguns países era 18 O relato subsequente baseia-se em S. Dunn (2004: 47-61). Laslett (1998: 31) considera as Instruções para os Cavaleiros do País para sua Conduta no Parlamento, de 1681, talvez escritas por Locke, como o primeiro documento partidário da história. 19 Laslett (1998: 31) considera as Instruções para os Cavaleiros do País para sua Conduta no Parlamento, de 1681, talvez escritas por Locke, como o primeiro documento partidário da história. 20 De acordo com S. Dunn (2004: 70), “historiadores que analisaram os padrões de votação no Congresso confirmam a existência de blocos partidários de votação desde 1794”. 144 Cadernos ASLEGIS | 50 • Setembro/Dezembro • 2014 ilegal referir-se a partidos no parlamento até 1914; e partidos de massa tornaram-se plenamente legais na França apenas em 1901. Burke defendia os partidos em 1770 e converteu-se ao que todos considerariam uma visão otimista: “Um partido é um corpo de homens que se unem para promover, com seu esforço conjunto, o interesse nacional acerca de algum princípio sobre o qual todos eles concordam” (2002: 40, itálico nosso)21. Henry Peter, Lord Brougham, referia-se em 1839 ao governo de partidos como “o mais anômalo estado de coisas – esse arranjo político que exclui sistematicamente pelo menos a metade dos grandes homens de cada faixa etária do serviço ao seu país e faz com que ambas as classes se devotem infinitamente mais a manter um conflito com a outra do que a buscar o bem comum” (2002: 52)22. Ainda que tenham aperfeiçoado a democracia ao vincular representantes e representados, os partidos eram tidos como destruidores do debate e enfraquecedores da separação dos poderes. “Governo de partidos” era uma expressão depreciativa, sugerindo conflitos motivados pelas ambições pessoais dos políticos, “obsessão em ganhar poder ganhando eleições”23, perseguição de interesses particulares, no conjunto um espetáculo bastante repulsivo. Requeria um remédio, na forma de um poder moderador como o do imperador na Constituição brasileira de 1825 ou o de um presidente na Constituição de Weimar24. Schmitt (1998) observou que mesmo essa solução era devorada pela política partidária; no fim, presidentes eram eleitos por acordo entre os partidos. E quando essa solução falhava, a revisão constitucional de tribunais independentes surgia para constranger o governo de partidos (Pasquino, 1998: 53). O governo representativo certamente implica em que as pessoas tenham o direito de organizar-se para remover o governo incumbente pelas eleições, mas o papel adequado do povo no período entre as eleições permaneceu, e continua a permanecer, ambíguo. Madison (Federalist nº 63) observou que aquilo que distingue a república norte-americana das repúblicas da antiguidade “fundamenta-se na total exclusão do povo, na sua capacidade coletiva, de qualquer ação” no governo. Aparentemente, 21 Além disso, Hofstadter (1969: 34) observa, essa visão obteve não mais que um frágil eco nos Estados Unidos. 22 O grande Lorde certamente não era um matemático: a regra da maioria excluiria no máximo a metade. 23 Expressão usada pelo presidente alemão Richard von Wizsaker, em Scarrow (2002: 1). 24 A conexão entre o surgimento dos partidos e a necessidade de um poder moderador era o tema de Henry Saint-John, Visconde de Bolingbroke, em 1738: “não desposar qualquer partido, mas governar como o pai comum de todo o povo é tão essencial ao caráter de um rei patriota que quem se conduz de modo diferente terá o título confiscado” (2002: 29). Washington, em seu discurso de despedida, acreditava que os partidos dispunham de mérito sob a monarquia, pois o rei poderia arbitrar entre estes, mas não em uma democracia. Sala de Visitas 145 ele queria dizer literalmente isto, que o povo deveria deixar o governo a cargo dos seus representantes, “como uma defesa contra seus próprios erros e enganos temporários”. De acordo com Hofstadter (1969: 9), “Quando eles {os pais da pátria] deram início ao seu trabalho, eles falaram muito – de fato, falaram quase incessantemente – sobre liberdade e eles compreenderam que a liberdade exigia certa latitude para a oposição. Mas eles estavam longe de ser claros sobre como a oposição se faria sentir, dado que eles valorizavam também a unidade e a harmonia sociais e não haviam alcançado a visão de que a oposição, manifestada em partidos populares organizados, poderia sustentar a liberdade sem fatalmente fraturar tal harmonia”. Lavaux (1998: 140), por sua vez, observa que “As concepções de democracia oriundas da tradição do Contrato Social não tomam a defesa da minoria, para não falar da oposição. A democracia, concebida como identidade de governantes e governados, não deixa espaço para o reconhecimento de um direito de oposição...”. A noção de que o povo possa opor-se livremente a um governo eleito por uma maioria emergiu somente de modo gradual e doloroso em todo lugar, inclusive nos Estados Unidos. Afinal, Hofstadter (1969: 7) está correto. “A visão usual de um governo a respeito de uma oposição organizada é a de que esta é intrinsecamente subversiva e ilegítima”. E a insistência em delegar a governança a uns poucos ilustres, excluindo o povo do governo, perpetuou-se no núcleo do pensamento liberal, de Montesquieu (1995: 332) a Mill. J. S. Mill (1859, cap. 5) insistiria em que a liberdade seria mantida somente “separando a tarefa de controlar e criticar da efetiva condução dos negócios, e remetendo a primeira para os representantes dos muitos, enquanto se assegura para a última, sob estrita responsabilidade da nação, o conhecimento adquirido e a inteligência praticada pelos poucos especialmente treinados e experientes”. Eis aqui, então, uma mudança de direção alternativa na ideologia consensualista. Os ideólogos do governo representativo sabiam que divisões sociais e os conflitos que iriam originar eram inevitáveis. Temiam, porém, que tais conflitos, ou ao menos alguns destes, poderiam transbordar para além dos limites institucionais e conduzir a um confronto civil, quiçá até guerras civis. Uma forma de evitar a violência era desenhar corretamente as próprias instituições representativas, sobretudo pela restrição do sufrágio aos detentores de propriedades, mas também mediante uma variedade de outros dispositivos, tais como o bicameralismo, a votação indireta ou aberta, as listas de candidatos oficiais, etc. (sobre tais dispositivos, ver Przeworski, 2006). Mas um outro caminho é persuadir a todos que aquilo 146 Cadernos ASLEGIS | 50 • Setembro/Dezembro • 2014 que compartilham é mais profundo do que aquilo que os divide. Assim, a ideologia da harmonia de interesses era um instrumento normativo. Tal interpretação levanta aspectos metodológicos complexos aos quais não é possível dar aqui uma atenção apropriada. Não quero certamente sugerir que as elites detentoras de posses tivessem de algum modo conspirado para usar a ideologia do consenso como um instrumento para persuadir os pobres de que eles estariam melhor se governados pelos ricos. Também não acredito ser possível impor qualquer ideologia de modo arbitrário25. Uma ideologia só será plausível se corresponder à experiência da vida real e se mostrar um guia eficaz do dia a dia. O poder da ideologia consensualista devia-se, talvez, ao fato de que esta falava aos temores e perspectivas das massas, e em grande medida ainda o faz. É uma ideologia que satisfaz o critério de hegemonia de Gramsci (1971: 161, 182): “O desenvolvimento e a expansão de um grupo em particular são concebidos e apresentados como uma força motora da expansão universal, do desenvolvimento de todas as energias nacionais; em outras palavras, o grupo dominante coordena-se concretamente com o interesse geral dos grupos subordinados e a vida do Estado é concebida como um processo contínuo de formação e de sobreposição de equilíbrios instáveis (no plano jurídico) entre os interesses do grupo fundamental e aqueles dos grupos subordinados – equilíbrios nos quais os interesses do grupo social dominante prevalecem, mas apenas até um certo ponto, ou seja, aquém dos interesses econômicos estritamente corporativos.” 4 O governo representativo em face a conflitos Por volta de 1929, Kelsen (1988: 29) escreveria que “As democracias modernas se apoiam inteiramente em partidos políticos... A hostilidade das velhas monarquias contra os partidos políticos... a oposição entre estes e o Estado, não eram senão uma mal velada manifestação de hostilidade contra a democracia.. é ilusão ou hipocrisia sustentar que a democracia seja viável sem partidos políticos... Democracia é, em suma, necessária e inevitavelmente um Estado de partidos (Parteienstaat)”. Várias constituições pós-1945 reconheceram os partidos como instituições essenciais à 25 Uma interpretação instrumentalista de Gramsci (1971), oferecida por Anderson (1977), é pouco persuasiva, por razões discutdas em Przeworski (1998). Sala de Visitas 147 democracia (Lavaux, 1998: 67-68)26. Mais ainda, os partidos desenvolveram a capacidade de disciplinar o comportamento de seus membros nas legislaturas, de modo a que os representantes individuais não pudessem mais exercitar suas próprias motivações. Inclusive, em alguns países, os deputados são legalmente compelidos a renunciar aos seus mandatos se eles mudarem de partido: a lei reconhece que eles cumprem o mandato apenas enquanto membros do partido. A partir de Kelsen (1988: 27) os teóricos do governo representativo passaram a considerar como premissa que não é viável que todos os cidadãos governem ao mesmo tempo. “Não é possível que todos os indivíduos que são sujeitos e governados pelas normas do estado participem na criação destas, o que é a forma necessária de exercício do poder; isto parece tão evidente que os ideólogos da democracia com frequência não se dão conta do abismo que tentam esconder quando equiparam pessoas e povo”. As pessoas têm que ser representadas e podem ser representadas unicamente mediante partidos políticos27, que “agrupam homens de uma mesma opinião para dar-lhes influência sobre a administração da coisa pública” (Kelsen, 1988: 28) ou que são grupos “cujos membros se propõem a agir conjuntamente no confronto competitivo pelo poder político” (Schumpeter, 1942: 283) ou “um grupo de homens que buscam controlar o aparato governamental pela conquista do mandato em uma eleição legitimamente constituída” (Downs, 1957: 25). Indivíduos isolados não têm como influir no governo, eles existem politicamente apenas por intermédio dos partidos (Kelsen, 1988: 29). Enquanto os governos podem não conseguir expressar o desejo de todas as pessoas, os apoiadores de partidos em particular podem ser suficientemente homogêneos para dar sentido à noção do interesse partidário. É verdade que mesmo a vontade dos adeptos de certos partidos pode provavelmente ser multidimensional, de modo a que o interesse partidário não poderia ser singularmente determinado. Mas dada a plataforma de outros partidos – que entendo alcançar tanto os temas nos quais devem ser tomadas posições quanto as posições já tomadas – as plataformas com as quais os adeptos de um certo partido concordariam são limitadas. Nas eleições, as pessoas se ajustam, de acordo com seus gostos, em resposta às propostas dos partidos que, por sua vez, devem antecipar como as pessoas 26 A constituição italiana de 1947 foi a primeira a mencionar o papel dos partidos na “determinação da política nacional” (art. 2º). A constituição de Bonn de 1949 (art. 21) e a da Espanha de 1978 asseguram status constitucional aos partidos. A constituição sueca de 1974 menciona o papel proeminente dos partidos na formação da vontade democrática. 27 Tanto Kelsen quanto Bobbio (1987) consideram e rejeitam a alternativa de uma representação funcional por instâncias corporativas. 148 Cadernos ASLEGIS | 50 • Setembro/Dezembro • 2014 irão se posicionar. Ao final, no “equilíbrio eleitoral”, as pessoas votam em certos partidos porque acreditam que estes irão representa-las de melhor forma de que outros. Em suma, os interesses partidários se diferenciam28. Partidos têm seguidores e líderes, que se tornam representantes por meio de eleições. Representantes que decidem pelas pessoas. Kelsen (1988: 38) observa que o “parlamentarismo é a formação das decisões diretivas do Estado por um órgão colegiado eleito pelo povo... a decisão de Estado tomada pelo Parlamento não é o desejo do povo...”. Schumpeter (1942: 269) ecoa: “suponha que possamos inverter os papéis desses dois elementos e fazer com que a decisão de questões pelo eleitorado seja secundária em face da eleição das pessoas que tomarão as decisões”. Enquanto a teoria clássica postula que “o método democrático é o arranjo institucional para se chegar à decisão política... fazendo com que o povo decida as questões por meio da eleição de indivíduos que se reunirão para tomar a decisão” (1942: 250), Schumpeter afirma que, de fato, o método democrático é aquele pelo qual os indivíduos que se reúnem para decidir no lugar do povo foram escolhidos pelas eleições. Até então essas visões não divergem tanto da concepção clássica como Schumpeter poderia supor. Apesar de que se sentiriam em desconforto com a ênfase em interesses e partidos. Madison ou Seyes teriam concordado que o papel dos deputados é o de determinar pelo povo, e às vezes em oposição ao povo, o que é bom para eles. Mas eis aí a ruptura crucial com a tradição clássica: Kelsen (1988), Schumpeter (1942), Downs (1957), Dahl (1971) e Bobbio (1987) concordam que ninguém e nenhuma organização podem representar o desejo de todas as pessoas. Sociedades são inevitavelmente divididas por interesses e valores, e grupos em particular são, na melhor das hipóteses, representados por partidos políticos. A teoria do governo representativo baseada no pressuposto do bem comum é simplesmente incoerente. Como Schklar (1979: 14) coloca, em um artigo intitulado “Não sejamos hipócritas”, “Um povo não é 28 Para compreender esse processo, é útil considerar a competição eleitoral entre dois partidos (ou coalizões) que escolhem posições relativas a uma única dimensão de política, digamos o grau de redistribuição. Na medida em que os partidos proponham ou implementem diferentes plataformas, quase todos os eleitores, com exceção daqueles cujas preferências sejam equidistantes das propostas dos dois partidos, preferirão estritamente um partido sobre o outro. Mas mesmo que ambos os partidos ofereçam uma mesma plataforma (como é o caso do modelo do eleitor mediano), os partidos ainda representam diferentes eleitorados. As restrições eleitorais conduzem os partidos para o centro (a posição do eleitor mediano), mas os partidos ainda são diferenciados como de “esquerda” ou de “direita”, o que pode ser constatado da seguinte forma. Se a restrição eleitoral é relaxada por um recorte, de modo que ambos os partidos mantivessem a mesma chance de vencer a eleição (que, neste caso, é 50/50) se implementassem a preferência ideal do eleitor imediatamente à esquerda do eleitor mediano removido, o partido de esquerda se deslocaria a esse eleitor e o de direita não o faria. Assim, mesmo quando os partidos convergem, o fazem “da esquerda” ou “da direita”. E os eleitores estão cientes disso. Sala de Visitas 149 apenas uma entidade política, como alguma vez já se imaginou. Partidos, campanhas organizadas e líderes constituem a realidade, senão a promessa, dos regimes eleitorais...”. O pressuposto clássico da harmonia básica de interesses foi primeiramente questionado por Marx, que acreditava que os interesses mais relevantes dividiam as sociedades de modo profundo e irrevogável, ao ponto de nenhum interesse comum ser encontrado: “Mesmo a mais favorável situação para a classe operária, o mais rápido crescimento econômico do capital, qualquer que seja sua contribuição para melhorar a existência material do trabalhador, não logra remover o antagonismo entre seus interesses e os interesses da burguesia. Lucros e salários se mantêm, como antes, em proporções inversas” (Marx, 1952 [1867]: 37). Equipados com aparatos analíticos modernos, sabemos que sua alegação não é exatamente correta: os conflitos de classe têm aspectos cooperativos, tanto quanto de confronto (Przeworski, 1986). Mas mesmo se a adoção de soluções ineficientes seja obviamente algo irracional, cada grupo deseja posicionar-se em um local diferente ao longo das possíveis fronteiras, de modo que certo grau de conflito torna-se inevitável. Kelsen (1988: 25-26) talvez tenha sido o primeiro a objetar sistematicamente contra a teoria do governo representativo baseada no pressuposto da harmonia de interesses: “Dividida por diferenças nacionais, religiosas e econômicas, a população se apresenta ao olhar do sociólogo mais como uma variedade de grupos do que como uma massa coerente e única”. Ele rejeitou com igual vigor o que Schumpeter mais tarde batizaria como a “concepção clássica”. “Mais ainda, o ideal de um interesse geral, superior, transcendendo os interesses de grupos, portanto partidos, o ideal de uma solidariedade de interesses de todos os membros da coletividade, sem distinção de religião, de nacionalidade, de classe, etc., é uma ilusão metafísica ou, mais precisamente, metafórica, habitualmente expressada ao falarmos, com uma terminologia obscura, de uma estrutura ‘coletiva’ ou ‘orgânica’...” (Kelsen, 1988: 32-33). Schumpeter (1942: 250-1) ofereceu uma crítica sistemática do conceito de bem comum ou vontade geral, sinalizando quatro pontos: (1)“Não existe algo como um bem comum determinado univocamente sobre o qual todos concordem ou sejam levados a concordar com argumentos racionais“. 150 Cadernos ASLEGIS | 50 • Setembro/Dezembro • 2014 (2)As preferências individuais que os utilitaristas adotam para justificar sua concepção de bem comum não são autônomas, mas conformadas pela persuasão, “não uma vontade genuína, mas produzida”. (3)Mesmo se uma vontade em comum pudesse emergir do processo democrático29, não teria a sanção racional de necessariamente apontar o bem comum. Dadas as patologias da psicologia de massas, nada garante que o povo seria capaz de reconhecer o que o bom para si. (4)Mesmo que soubéssemos qual é o bem comum, haveria ainda assim controvérsias sobre como implementá-lo. O processo político, então, não é a busca do verdadeiro bem comum – não pode ter uma qualidade epistêmica – pelo simples motivo de que tal verdade não pode ser encontrada. A concepção clássica de representação era logicamente incoerente. O que é bom para distintos grupos não é a mesma coisa e nenhum processo de deliberação racional ou de agregação pode superar esse fato sociológico. Schumpeter quis fazer-nos acreditar que sua visão seria “mais consistente com a vida e, ao mesmo tempo, capaz de salvar muito do que os defensores do método democrático realmente queriam dizes com esse termo”. Porém, mesmo sendo sua concepção mais realista, não é o que a teoria clássica queria dizer com “democracia”. A associação entre as decisões tomadas pelos representantes e a vontade do povo era a justificativa para o governo representativo em primeiro lugar. Se a democracia é apenas um método, é um método para que? A teoria clássica tinha uma resposta para essa pergunta: o governo representativo era um sistema pelo qual o povo poderia identificar e implementar seu bem comum. Schumpeter considerou essa resposta irrealista, mas não ofereceu alguma outra em seu lugar. Ele ficou, portanto, com um método sem uma finalidade. 5 Conflitos e representação Se interesses ou valores estão em conflito e não há governo que possa representar a todos, o que impede os partidos em conflito de apelar para a força física com o objetivo de impô-los? Como vimos, a teoria clássica acreditava que um governo representativo não fosse viável, a não ser que os interesses estivessem em harmonia: divisões políticas seriam um presságio de violência, guerra civil. A afirmação de que alguns interesses 29 A dificuldade de identificar a vontade comum foi reconhecida somente nove anos antes de Schumpeter publicar seu texto por Arrow (1951). Sala de Visitas 151 seriam harmonizados não é suficiente para garantir a pretensão de que as sociedades encontrarão um caminho para resolver os problemas que as dividem. Todos os argentinos gostariam que a Argentina vencesse a Copa do Mundo, mas um jogo Boca-River pode e de fato já provocou distúrbios da ordem. Mesmo quando certas leis são unanimemente aceitas, leis que criam divisões não precisam necessariamente ser aceitas por uma minoria. Como um teórico político francês escreveu em meados do século XVIII30, se as eleições puderem ser contestadas, “considerando o modo como são feitos os homens, não existiria acordo ou mérito; cada um acharia que ele próprio ou seu líder são mais meritórios que os demais; conflito e até guerra civil viriam em seguida”. Mesmo para Marx, o conflito de classes resultaria necessariamente em revolução e para J. S. Mill (1991:230), divisões étnicas e linguísticas tornariam um governo representativo “quase uma impossibilidade”31. Por outro lado, é óbvio que, apesar dos terríveis alertas sobre os efeitos das divisões partidárias e das associações independentes, em muitos países as instituições representativas alcançam sucesso em confinar esses conflitos aos canais institucionais. Portanto, a questão central posta pela visão revisionista é de que modo pode o conflito ficar limitado a soluções pacíficas, como as instituições de um governo representativo podem estruturar, absorver e regular tais soluções, para que estas sejam tratadas rotineiramente, sem irromper em violência. Instituições representativas irão processar pacificamente os conflitos somente se gerarem continuamente resultados que sejam preferíveis ao uso da força por cada um dos grupos que poderiam impor-se pelo caminho da violação da ordem institucional32. Um sistema institucional que processe pacificamente os conflitos pode não ter como existir sob qualquer condição, em particular se o país é pobre e desigual. Aliás, se algum sistema desse tipo for factível em face das condições históricas, estas condicionarão as instituições políticas a se organizar de modo a que seus resultados, sejam rendimentos, distribuição de renda ou valores não materiais, reflitam a distribuição do poder bruto pré-institucional, inclusive a força militar dos vários grupos. Finalmente, tais instituições deverão neutralizar os retornos crescentes da incumbência, senão aqueles não 30 Real de Curban, em trabalho publicado postumamente entre 1751 e 1764, citado em Palmer (1959: 64). 31 “Instituições livres são quase uma impossibilidade em um país consolidado a partir de diferentes nacionalidades. Em um povo sem sentimento de companheirismo, especialmente se se escrevem e falam vários idiomas, a opinião pública unida, necessária às atividades de um governo representativo, não tem como existir”. 32 Para uma lógica geral das instituições autossustentáveis, ver Przeworski (2006). 152 Cadernos ASLEGIS | 50 • Setembro/Dezembro • 2014 incluídos se anteciparão, preferindo o confronto imediato a esperar que seu poder seja corroído. A pergunta, então, refere-se aos mecanismos que possam gerar resultados que sejam tolerados por todas as forças políticas relevantes em conflito. Um desses mecanismos é o compromisso entre partidos políticos, principalmente a maioria e a minoria. Outro é a alternância de partidos no poder. Ambos serão discutidos a seguir. 5.1 Compromissos Se nenhum governo representa a todos, como podem todos ser representados? Se nenhuma organização, seja parlamento ou governo, pode decidir por todo o povo, seria a democracia um método para impor a vontade de alguns, que constituem a maioria, em detrimento dos outros? Schumpeter (1942: 272-3) faz essa pergunta mas logo abandona a única solução que lhe ocorre, que é a representação proporcional. “Evidentemente”, observa, ”a vontade da maioria é a vontade da maioria, não do povo”. Menciona, então, que alguns autores – ele devia estar se referindo a Kelsen (1988: 60-63) – tentaram resolver o problema mediante vários planos de representação proporcional. Ele considera o sistema inexequível, pois “pode impedir a democracia de dar origem a governos eficientes e, portanto, mostrar-se um perigo em tempos de estresse”. “O princípio da democracia”, insiste Schumpeter, “significa apenas que as rédeas do governo deveriam ser detidas por aqueles que obtêm mais apoio do que quaisquer outros indivíduos ou equipes”. Mas por que uma minoria deveria obedecer aos ditames da maioria? Kelsen (1988: 34) oferece uma solução: um compromisso entre partidos. Ele argumenta que “a vontade geral, se não expressa o interesse de um único grupo específico, só poderá ser o resultado desses confrontos, um compromisso entre interesses opostos. A distribuição das pessoas em partidos políticos é de fato uma organização indispensável para que tais compromissos sejam alcançados, de modo que a vontade geral possa ser deslocada a uma linha média”. “A aplicação do princípio da maioria”, sustenta Kelsen (1988: 65), “possui limites quase naturais. Maioria e minoria devem compreender-se reciprocamente se irão chegar a um acordo”. Mas então ele encontra um problema tão espinhoso que requer algo de psicologia freudiana, o “inconsciente”, para ser resolvido: por que um “compromisso”, de fato concessões feitas pela maioria à minoria, seria específico da democracia? Ele argumenta – erroneamente, à luz de pes- Sala de Visitas 153 quisas recentes (Ghandi, 2004) – que autocracias não fazem acordos33. A única razão que consegue alegar é psicológica: “democracia e autocracia distinguem-se, portanto, por uma diferença psicológica no seu estado político” (1988: 64). Mas essa solução – preservar a condução política fazendo concessões – não é exclusiva da democracia e o valor central que Kelsen reivindica para a democracia se esvai. Um mecanismo que dá sustento a compromissos partidários, a moderação por parte da maioria, foi elucidado por Alesina (1988). Mesmo que líderes de partidos não representem a mais ninguém – se o sistema fosse uma verdadeira “poliarquia” em lugar de ser eleitoral – enquanto os líderes de partidos preferirem oscilações de políticas pequenas em vez de grandes ( porque suas preferências são côncavas), a linha média de Kelsen seria sustentada pela ameaça de alguém assumir uma posição extrema (seu próprio ponto ideal) se o controle sobre o cargo pudesse mudar (Alesina, 1988). Observe, no entanto, que tais compromissos são induzidos apenas pela perspectiva de que uma maioria pudesse mudar em decorrência do resultado de eleições, da alternância no poder, em vez de alguma predisposição psicológica ao acordo. E a pergunta passa a ser por que uma maioria teria que mudar, se governos de todas as tendências partidárias perseguem as mesmas políticas oriundas de acordos. Realmente, Bobbio (1989: 116), atribuindo essa visão a Max Weber, afirma que o procedimento normal para a tomada de decisões em uma democracia é o de que “a decisão coletiva é fruto de negociações e acordos entre grupos que representam forças sociais (associações) e forças políticas (partidos), em vez de uma assembleia em que o voto da maioria opera”. Claramente, partidos de oposição no parlamento podem tentar persuadir a maioria a mudar sua posição; eles podem usar de suas prerrogativas institucionais para bloquear alguma legislação (na Alemanha, várias presidências de comitês do parlamento são distribuídas de acordo com o peso dos partidos; no Reino Unido, o Comitê de Fiscalização Pública e sempre controlado pela oposição); podem ameaçar com táticas de obstrução (uma proposta do governo de privatizar uma empresa do setor elétrico foi objeto de milhares de emendas na França e de obstrução no Senado dos Estados Unidos); podem ameaçar de não cooperar em instâncias de segundo o terceiro escalões do governo que estas controlem. Assim, a minoria não é impotente. 33 A diferença entre esses dois tipos de regime não está na ocorrência de compromissos apenas na democracia, mas no fato de que autocracias podem ser, e muitas são, governos de minorias. Mas ditadores também combinam repressão com cooptação para manter o poder. 154 Cadernos ASLEGIS | 50 • Setembro/Dezembro • 2014 Porém, quando líderes de partido negociam, o papel dos eleitores é reduzido a um mínimo. Tudo o que estes podem fazer é ratificar os acordos “alcançados em outros lugares pelo processo de negociação” (Bobbio, 1989: 116). Compromissos entre líderes de partidos, sujeitos a uma periódica ratificação pelos eleitores, e tudo o que Kelsen ou Bobbio logram preservar da concepção clássica de governo representativo. Governo representativo significa, agora, o governo de partidos no parlamento. Partidos não perseguem o bem comum, mas negociam acertos de interesses partidários. A barganha toma o lugar da deliberação. Os efeitos são, em grande medida, independentes dos resultados das eleições. A especificidade da democracia fica reduzida ao requisito de que essas barganhas sejam, de tempos em tempos, aprovadas pelos eleitores. E, ainda assim, tudo o que os eleitores podem fazer é aprovar as negociações conduzidas pelas lideranças partidárias ou, esporadicamente, em um rompante, escorraçar os patifes: na linguagem usada em uma recente manifestação na Argentina contra a classe política, “fuera todos!”, “todo o mundo para fora”. E depois? 5.2 Alternância no cargo Sendo justo com Kelsen, após resumir as razões pelas quais a democracia deveria e iria gerar compromissos, dos quais o mais importante seria a proporcionalidade, ele conclui seu ensaio com a frase “E é necessário que essa ordem coercitiva [democracia] seja organizada de modo a que a minoria também possa... a qualquer momento vir a ser a maioria” (1988:93). O surgimento da alternância dos partidos no cargo é o aspecto mais surpreendente da história do governo representativo34. Dahl (1966: xvii) observa que “o sistema de permitir que um ou mais partidos de oposição possam competir com o partido do governo pelos votos nas eleições e no parlamento é, portanto, não apenas moderno; é também uma das melhores e mais inesperadas descobertas com a qual a humanidade tenha tropeçado”. A ideia de um governo perder o cargo em decorrência da perda de uma eleição jamais havia sido sequer concebida na perspectiva do século XVIII. A própria linguagem em que essa noção se expressa seria incompreensível, pois seus ingredientes ainda inexistiam. Eleições destinavam-se a escolher indivíduos, não partidos. Como deputados, os eleitos deveriam servir ao interesse de todos, não daqueles que haviam 34 A primeira alternância de partidos na história aconteceu na Grã Bretanha, mas sua datação não é trivial. Em 1700 os Tories venceram as eleições parlamentares e o rei os incorporou ao seu gabinete mas, já em 1741, Walpole recusou-se a renunciar após perder as eleições. Schmitt (1988: 468) data a primeira troca de partidos no gabinete em 1782 e o reconhecimento do princípio da responsabilidade parlamentar em 1803. Sala de Visitas 155 votado neles. Como as ações dos representantes não deveriam depender do resultado das eleições, a noção de alternância pelas eleições não tinha como ser vislumbrada, e como não havia partidos, a alternância não teria como ser partidária. O que ocorreu nos Estados Unidos em 1801 – “então, sem o uso de um golpe de estado, e sem qualquer revolta armada contra si, um homem denunciou histérico em alguns quartéis a forma como um jacobino assumira o mais alto posto do executivo”, como Palmer (1964: 511) descreve o episódio – é incompreensível35. A mágica da alternância de poder reside na possibilidade de que sua mera perspectiva induza a atual minoria a esperar por sua vez e obedecer, enquanto isso, à atual maioria. Se um partido tem a certeza de permanecer no poder indefinidamente, os apoiadores dos demais partidos saberão que nunca irão viver sob as leis de sua preferência. Por sua vez, suponha que um partido vença a atual eleição mas outros partidos tenham uma probabilidade positiva de chegar ao governo como resultado de uma próxima eleição. Agora os apoiadores desses partidos têm a expectativa de vitória no futuro. Assuma que os membros desses partidos podem tanto aceitar o resultado da eleição atual ou rebelar-se contra esta. Se o valor da rebelião for mais elevado para estes do que a perspectiva de viver sob uma ordem social que lhes desagrada, porém menor do que a perspectiva associada com a possibilidade de vencer no futuro, esses partidos se rebelariam se tivessem a certeza de uma futura derrota, mas aceitariam o resultado se tivessem uma chance suficiente de vencer as eleições seguintes. Alternância no cargo possibilita as forças políticas de raciocinarem em termos intertemporais, refletindo “nem tudo está perdido; fomos derrotados desta vez, mas venceremos em algum momento no futuro e podemos esperar nossa vez”. E se todos fizerem os mesmos cálculos, todos obedecerão ao atual governante enquanto esperam sua vez de governar. Como Bobbio (1984: 116) coloca, “ a democracia é um conjunto de regras... para a solução de conflitos sem derramamento de sangue” (ver também Popper, 1962: 124 e Przeworski, 1999). A genialidade do sistema de governo representativo reside na possibilidade de que grupos em conflito pensem em termos intertemporais, de modo a aguardar pela sua oportunidade de serem representados, ao tempo em que respeitam o veredito da votação enquanto aguardam por isso. Essa mágica, porém, pode não funcionar sob todas as condições. Pessoas pobres podem não querer esperar (benhabib e Przeworski, 2005; Przeworski, 2005). Mais ainda, enquanto os antigos gregos garantiam que todos teriam uma mesma chance de governar tirando a sorte e que essa 35 A situação não era calma 156 Cadernos ASLEGIS | 50 • Setembro/Dezembro • 2014 chance iria materializar-se ao manter os períodos no cargo curtos (Finley, 1983; Hansen, 1991), o governo representativo não oferece esse tipo de garantia. Algumas pessoas irão esperar para sempre. Por exemplo, em um eleitorado que permanece inalterado, em que as crianças herdam as preferências de seus avós, um partido responsável ficará no poder indefinidamente. Assim, se os partidos não cometerem deslizes na representação de seu eleitorado, algumas pessoas, talvez até metade do povo, nunca seriam representadas. Essa possibilidade assombra a democracia em sociedades etnicamente divididas (Chandra, 2004). Para que uma alternância seja viável, ou seja, para que as possibilidades de vitória de alternativas em particular permaneçam incertas, as preferências individuais devem ir mudando ou os incumbentes devem errar ao representá-las. 6. Representação e auto-governo A regra da maioria satisfaz o critério de Kelsen de maximizar o número de pessoas que vive sob leis que desejam. Kelsen (1988: 19) propõe o seguinte teorema: “Existe apenas uma ideia que conduz de modo razoável ao princípio da maioria: a ideia de que, se não todos os indivíduos, pelo menos o maior número deles seria livre, ou seja, que a ordem social estivesse em contradição com a vontade do menor número possível de pessoas... A maioria absoluta representa aqui um limite superior. Se não houvesse essa exigência, poderia ocorrer que o número de adversários de uma regra social fosse, no momento em que esta é proclamada, maior do que o número de seus partidários; caso se exigisse mais, uma minoria poderia, ao obstruir a mudança da regra, determinar a ordem social contra o desejo da maioria”., Esse teorema foi provado formalmente por Rae (1969) e generalizado por Taylor (1969). Rae parecia desconhecer o argumento de Kelsen e usou uma linguagem diferente: o que para Kelsen era “autonomia”, para Rae tornou-se o critério do “individualismo político”. Mas a intuição era a mesma: a virtude que Rae (1969: 42) atribui à regra da maioria é a de que esta “irá otimizar a correspondência entre valores individuais e políticas coletivas”. No entanto, representação não é o mesmo que auto-governo. Kelsen (1949: 284), seguindo Rousseau, afirmou que “é politicamente livre aquele que se sujeita a uma norma legal de cuja criação participou”. Mas na medida em que eu viver sob uma ordem social que eu iria escolher, o que importa se de fato a escolhi, ou seja, de que fiz algo que resultasse Sala de Visitas 157 em sua adoção? Alguém poderia argumentar, à la Sen (1988), que ser um agente ativo, alguém que escolhe, é algo que tem um valor autônomo para cada um, que o resultado advindo da própria ação é mais valioso do que esse mesmo resultado produzido de modo independente desta36. Mas, por que importaria se eu votei em algo em lugar de simplesmente ter observado que a moeda caiu com o lado que eu prefiro? Não pode ser uma diferença causal: a probabilidade de que meu voto venha a fazer diferença é minúscula em qualquer grande eleitorado. De um ponto de vista individual, o resultado de uma eleição é jogar uma moeda: independe da ação de cada um. Um governo é representativo quando resulta de se agregar as decisões individuais, não quando cada voto teve uma influência causal no resultado37. O valor de votar repousa na correspondência ex post entre as leis que todos devem obedecer e o desejo da maioria: a escolha de governos mediante eleições maximiza o número de pessoas que vive sob as leis que desejam mesmo que nenhum indivíduo possa considerar essas leis como uma consequência direta da sua escolha. Assim, as pessoas podem dar valor à votação como processo por fazer escolhas coletivas e, simultaneamente, constatar que seu próprio voto pode revelar-se ineficaz. Mas podem as pessoas influenciar efetivamente as decisões de governo entre as eleições? Podem, nas palavras de Dahl (1966: xix), embarcar em “uma linha de ação orientada a modificar a conduta do governo”? É fácil acreditar que, na medida em que as expressões da opinião pública reflitam reações do eleitorado a determinada política pública, antecipando julgamentos retrospectivos por ocasião das eleições, os incumbentes possam modificar suas políticas para maximizar as chances de reeleição. Nessa medida, portanto, reações esporádicas da opinião pública, quaisquer que sejam as formas que assumam, influenciam a política de governo (particularmente quando as pesquisas de opinião mostram uma oposição da maioria a tais medidas). Porém, excetuados os referendos, nossos sistemas representativos não possuem mecanismos institucionais para garantir que a oposição será ouvida, menos ainda prevalecer, por mais intensa que seja. Ainda assim, governos não são ouvintes passivos: eles possuem e usam um extenso repertório de instrumentos para influir nas opiniões, promovendo algumas e sufocando outras. Quando um presidente acusa os oponentes de uma guerra a que deu início, de enfraquecer as tropas que estão em campo, ele está afirmando que essa oposição não é legítima. Não se 36 O exemplo clássico de Sen é o de “passar fome versus fazer jejum”. Em qualquer dos casos, eu irei consumir o mesmo número de calorias. Mas passar fome não é uma escolha, enquanto jejuar o é, e Sen vê o ato de escolher como valioso por si mesmo. Sobre o valor da escolha na democracia, ver Przeworski (2003). 37 Devo essa formulação a Ignacio Sánchez-Cuenca. 158 Cadernos ASLEGIS | 50 • Setembro/Dezembro • 2014 trata de direitos: pelo menos ao longo da segunda metade do século XX, os direitos de expressão e de associação estiveram axiomaticamente vinculados à democracia. Mas direitos podem não ser o suficiente: o direito de falar não é suficiente para uma efetiva oportunidade de falar em público. Expressão pública é cara, não há livre expressão, esta é sempre patrocinada, seja comercialmente ou pelo governo. E mesmo se o povo fala, talvez apenas à boca pequena, o que iria compelir o governo a ouvi-lo? Aspectos normativos são também opacos. Terá o governo eleito pela maioria uma obrigação integral de atender a uma minoria? Terá o governo a obrigação de não perseguir políticas específicas que são contrárias à maioria da opinião pública (como gostariam aqueles que propõem referendos abrogativos)? Devem os governos acomodar objeções particularmente intensas, mesmo de minorias? Afinal, partidos propõem políticas nas campanhas eleitorais e eleitores escolhem plataformas. Deveriam os partidos renega-las quando alguma minoria, mesmo intensa, opõe-se a estas? Será que uma derrota nas eleições impõe à minoria uma obrigação de aceitar as políticas de um governo eleito? Deveríamos acreditar, como o fez J. McGurk, presidente do Partido Trabalhista em 1919, que: “Ou somos constitucionalistas, ou não o somos. Se formos constitucionalistas, se acreditarmos na eficácia da arma política (e acreditamos, senão por que teríamos um Partido Trabalhista?) então isto seria tolo e antidemocrático, por termos falhado em alcançar a maioria nas disputas para darmos uma guinada e pedir que se mude a ação industrial?” Tudo o que posso dizer é que sem uma participação efetiva entre eleições, a representação não será o mesmo que auto-governo. E nas modernas democracias, Kelsen (1988: 35) foi forçado a reconhecer, “os direitos políticos – o que equivale a dizer a liberdade – estão reduzidos em essência ao mero direito ao voto”. Referências bibliográficas Alesina, Alberto. 1988. ”Credibility and Convergence in a Two-Party System with Rational Voters.” American Economic Review 78: 796805. Anderson, Perry. 1977. ”The Antinomies of Antonio Gramsci.” New Left Review 100 : 5-78. Sala de Visitas 159 Arrow, Kenneth A. 1951. Social Choice and Individual Values. New Haven: Yale University Press. Ball, Terence. 1989. ”Party.” In Terence Ball, James Farr, and Russel L. Hanson (eds.), Political innovation and conceptual change. Cambridge: Cambridge University Press. Pages 155-176. Beitz, Charles R. 1989. Political Equality. Princeton: Princeton University Press. Benhabib, Jess, and Adam Przeworski. 2005. “The political economy of redistribution under democracy.” Economic Theory. Berlin Isaiah. 2002. Liberty. Edited by Henry Hardy. Oxford University Press. Bolingbroke, Henry Saint-John Viscount. 2002 [1738]. ”The Patriot King and Parties.” In Susan E. Scarrow (ed.), Perspectives in Political Parties. New York: Palgrave Macmillan. Pages 29-32. Buchanan, James M. and Gordon Tullock. 1962. The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy. Ann Arbor: University of Michigan Press. Burke, Edmund. [1774]. ”Speech to the Electors of Bristol.” Berlin, Isaiah. 2002. Liberty. Edited by Henry Hardy. Oxford: Oxford University Press. Bobbio, Norberto. 1987. Democracy and Dictatorship. Minneapolis: University of Minnesota Press. Bobbio, Norberto. 1989. The Future of Democracy. Minneapolis: University of Minnesota Press. Chandra, Kanchan. 2004. Why ethnic parties succeed : patronage and ethnic head counts in India. Cambridge, MA: Cambridge University Press. Cohen, Joshua. 1989. ”The Economic Basis of Deliberative Democracy.” Social Philosophy & Policy 6: 25-50. Coleman, Jules. 1989. “Rationality and the justi…cation of democracy.“ In Geo¤rey Brennan and Loren E. Lomasky, eds. Politics and Process : 194-220. New York: Cambridge University Press. Condorcet. 1986 [1785]. ”Essai sur l’application de l’analyse a la probabilité des décisions rendues a la pluralité des voix.” In Sur les élec- 160 Cadernos ASLEGIS | 50 • Setembro/Dezembro • 2014 tions et autres textes. Textes choisis et revus par Olivier de Bernon. Paris: Fayard. Pages 9-176. Dahl, Robert A. 1966, Introduction. In: Regimes and Oppositions. New Haven: Yale University Press. Dahl, Robert A. 1971. Polyarchy: Participation and Opposition. New Haven: Yale University Press. Dahl, Robert A. 1989. Democracy and Its Critics. New Haven: Yale University Press. Descombes, Vincent. 2004. Le Complément De Sujet: Enquête sur le fait d’agir de soi-même. Paris: Gallimard. Downs, Anthony. 1957. An Economic Theory of Democracy. New York: Harper and Row. Dunn, Susan. 2004. Je¤erson’s Second Revolution: The Election Crisis of 1800 and the Triumph of Republicanism. Boston: Houton Miin. Finley, M.I. 1983. Politics in the Ancient World. Cambridge: Cambridge University Press. Gandhi, Jennifer. 2004. Dictatorial Institutions. Ph.D. Dissertation. Department of Politics, New York University. Garrido, Aurora. 1998. “Electors and Electoral Districts in Spain, 1874-1936.” In Ra¤aele Romanelli (ed.), How Did They Become Voters? The History of Franchise in Modern European Representation. The Hague: Kluwer. Pages 207-226. Gramsci, Antonio. 1971. Prison Notebooks. Edited by Quintin Hoare and Geo¤rey Nowell Smith. New York: International Publishers. Hansen, Mogens Herman. 1991. The Athenian Democracy in the Age of Demosthenes. Oxford: Blackwell. Heinberg, John Gilbert. 1926. ”History of the Majority Principle.” American Political Science Review 20: 52-68. Heinberg, John Gilbert. 1932. ”Theories of Majority Rule.” American Political Science Review 26: 452-69. Hofstadter, Richard. 1969. The Idea of the Party System: The Rise of Legitimate Opposition in the United States, 1780-1840. Berkeley: University of California Press. Sala de Visitas 161 Holmes, Stephen. 1995. Passions and Constraints: On the Liberal Theory of Democracy. Chicago: University of Chicago Press. Hume, David. 2002 [1742]. ”Of Parties in General.” In Susan E. Scarrow (ed.), Perspectives in Political Parties. New York: Palgrave Macmillan. Pages 33-36. Kant, Immanuel. 1891 [1793]. ”The Principles of Political Right,” in Kant’s Principles of Politics. Edited and translated by W. Hardie, B.D. Edinburgh: T&T. Clark. Kelsen, Hans. 1988 [1929]. La Démocratie. Sa Nature-Sa Valeur. Paris: Economica. Kelsen, Hans. 1949. General Theory of Law and State. Cambridge, MA: Harvard University Press. Ketcham, Ralph (ed.) 1986. The Anti-Federalist Papers and the Constitutional Convention Debates. New York: Mentor Books. Laslett, Peter. 1988. ”Introduction” to Locke. Two Treaties of Government. Cambridge: Cambridge University Press. Lavaux, Philippe. 1998. Les grands démocraties contemporaines. 2nd edition. Paris: PUF. López-Alves, Fernando. 2000. State Formation and Democracy in Latin America, 1810-1900. Durham: Duke University Press. Madison, James. 1982 [1788]. The Federalist Papers by Alexander Hamilton, James Madison and John Jay. Edited by Gary Wills. New York: Bantam Books. Manin, Bernard. 1997. The Principles of Representative Government. Cambridge: Cambridge University Press. Maza Valenzuela, Erika. 1995. ”Catolicismo, Anticlericalismo y la Extensión del Sufragio a la Mujer en Chile.” Estudios Politicos 58: 137-197. Miliband, Ralph. 1975. Parliamentary Socialism: A Study in the Politics of Labour. 2nd edn. London: Merlin Press. Mill, John Stuart. 1991 [1857]. Considerations on Representative Government. Cambridge: Cambridge University Press. Montesquieu. 1995 [1748]. De l’esprit des lois. Paris: Gallimard. 162 Cadernos ASLEGIS | 50 • Setembro/Dezembro • 2014 Neves, Lúcia Maria Bastos P. 1995. ”Las elecciones en al construcción del imperio brasileño: los límites de una nueva práctica de la cultura politica lusobrasileña 1820-1823.” In Antonio Annino (ed.). Historia de la elecciones en Iberoamérica, siglo XIX. México: Fondo de Cultura Económica. Pages 381-408. Paine, Thomas. 1989 [1776-1794]. Political Writings. Edited by Bruce Kuklick. Cambridge: Cambridge University Press. Pasquino, Pasquale. 1998. Sieyes et L’Invention de la Constitution en France. Paris: Editions Odile Jacob.. Popper, Karl. 1962. The Open Society and Its Enemies. London: Routledge and Kegan Paul. Przeworski, Adam. 1991. Democracy and the Market. New York: Cambridge University Press. Przeworski, Adam. 1998. ”Deliberation and Ideological Domination.” In Jon Elster (ed.), Deliberative Democracy. New York: Cambridge University Press. Pages 140-160. Przeworski, Adam. 1999. ”Minimalist Theory of Democracy: A Defense.” In Ian Shapiro and Casiano Hacker-Cordon (eds.), Democracy’s Value. Cambridge: Cambridge University Press. Przeworski, Adam. 2003. ”Freedom to choose and democracy.” Economics and Philosophy 19: 265-79. Przeworski, Adam. 2005. “Democracy as an Equilibrium.” Public Choice 123: 253-273. Przeworski, Adam. 2006. ”Self-Sustaining Democracy.” In Donald Wittman and Barry Weingast (eds.), Oxford Handbook of Political Economy. New York: Oxford University Press. Rakove, Jack N. 2002. James Madison and the Creation of the American Republic. Second Edition. New York: Longman. Rae, Douglas W. 1969. ”Decision Rules and Individual Values in Constitutional Choice.” American Political Science Review 63: 40-56. Rosanvallon, Pierre. 2004. Le Modèle Politique Français: La société civile contre le jacobinisme de 1789 á nos jours. Paris: Seuil. Rousseau, Jean-Jacques. 1964 [1762]. Du contrat social. Edited by Robert Derathé. Paris: Gallimard. Sala de Visitas 163 Sabato, Hilda. 2003. ”Introducción,” in Sabato (ed.), Ciudadanía política y formación de las naciones: Perspectivas históricas de América Latina. Mexico: El Colegio de Mexico. Pages 11-29. Scarrow, Susan E. Ed. 2002. Perspectives in Political Parties. New York: Palgrave Macmillan. Schmitt, Carl. 1988 [1923]. The Crisis of Parliamentary Democracy. Cambridge, MA: MIT Press. Schumpeter, Joseph A. 1942. Capitalism, Socialism, and Democracy. New York: Harper&Brothers. Sen, Amartya. 1988. ”Freedom of Choice: Concept and Content.” European Economic Review 32: 269-94. Shklar, Judith. 1979. ”Let us not be hypocritical”. Daedalus, Vol. 108, No. 3, Hypocrisy, Illusion, and Evasion (Summer, 1979), pp. 1-25. Sieyes, Emmanuel. 1970 [1789]. Qu’est-ce que le tiers état? Edited by Roberto Zapperi. Genève: Droz. Simmel, Georg. 1950 [1908]. The Sociology of Georg Simmel. Translated, edited, and with an introduction by Kurt H. Wol¤. New York: Free Press. Stone, Geo¤rey R. 2004. Perilous Times. New York: W.W. Norton. Taylor, Michael. 1969. ”Proof of a Theorem on Majority Rule.” Behavioral Science 14: 228-31. Urfalino, Philippe. 2005. ”La decision par le consensus apparent: description et propriétés.” Unpublished paper. Paris: CESTA/EHESS-CNRS. Washington, George. 2002 [1796]. ”Farewell Address to Congress.” In Susan E. Scarrow (ed.), Perspectives in Political Parties. New York: Palgrave Macmillan. Pages 45-50. Weisberger, Bernard A. 2000. America A…re: Je¤erson, Adams, and the First Contested Election. New York: HarperCollins Publishers. 164 Cadernos ASLEGIS | 50 • Setembro/Dezembro • 2014 Claudionor Rocha* Consultor Legislativo da Área de Segurança Pública e Defesa Nacional Adam Przeworski Department of Politics New York University, October 20, 2006 Consensus and Conflict in Western Thought on Representative Government Revised paper prepared for the 2006 Beijing Forum. I appreciate comments by John Ferejohn, Raquel Fernandez, Russell Hardin, Stephan Holmes, Bernard Manin, and Pasquale Pasquino. 165 Abstract Representative government in the West was born under an ideology that postulated a basic harmony of interests in society. The political decision process was thus expected to be largely consensual. This ideology obfuscated important conflicts of values and interests, and it became untenable with the rise of class-based and religious parties. Beginning with Kelsen (1923) and culminating with Schumpeter (1942), theorists of representative government conceptualized it as a system for processing conflicts. In one view, representation is assured by compromises among parties, in another by partisan alternation in office. 166 1 Introduction The ideal that propelled movements toward representative government in the West was ”self-government of the people,” where ”the people” always appears in singular, as le peuple, el pueblo, etc. But how could the people govern itself? ”The people” in singular cannot act. As the Demiurge, it is an apathetic one. This is why Rousseau (1964: 184) needed to make terminological distinctions: ”As for those associated, they collectively take the name of the people, and are called in particular Citizens as participants in the sovereign authority and Subjects as submitted to the laws of the State.”1 But how is the will of the people in singular to be determined by Citizens in plural? Clearly, this question does not arise if all people are in some way identical, if the citizens who choose the order which they are to obey as subjects are but copies of a species. In Kant’s (1793) view, guided by universal reason, each and all individuals will want to live under the same laws,”For Reason itself wills this.” As Berlin (2002: 191-2) emphasized, the ideology of self-government was based on the premise that there was a single truth, which was either self-evident or could be discovered, à la J. S .Mill, if opinions are free to confront one another. His characterization of this idea merits citing in extenso: All truths could in principle be discovered by any rational thinker, and demonstrated so clearly that all other rational men could not but accept them.... On this assumption the problem of political liberty was soluble by establishing a just order that would give to each man all the freedom to which a rational being was entitled.... it is only irrationality on the part of men (according to this doctrine) that leads them to wish to oppress or exploit or humiliate one another. Rational men respect the principle of reason in each other.... As Descombes (2004: 337) puts it, “the man as subject is not this or that man, but rather something like the rational faculty which is found among human individuals, everywhere identical”. Representative government in the West was thus born under an ideology that postulated a basic harmony of interests in society. The condition under which the people would rule itself is that each and all persons rationally want to live under the same laws, unanimity. If the same legal order is considered best by all, the decision of each is the same as would be that of 1 Kant (1891 [1793]: 35) made similar distinctions when he spoke of everyone’s Liberty as a Man, Equality as a Subject, and Self-dependency (self-sufficiency, autonomy) as a Citizen. Sala de Visitas 167 all others. Indeed, the fact that others want the same is irrelevant: if others command me to do the same that I command myself to do, I obey but myself. Moreover, the procedure for law making is inconsequential: when everyone wants the same, all procedures generate the same decision. Each one and any subset of all can dictate to all others with their consent. This ideology was naturally hostile to any kind of political divisions. Protagonists of representative government thought that since the people was naturally united, it could be divided only artificially. As Hofstadter (1969: 12) reports, eighteenth century thinkers ”often postulated that society should be pervaded by concord and governed by a consensus that approached, if it did not attain, unanimity. Party, and the malicious and mendacious spirit it encouraged, were believed only to create social conflicts that would not otherwise occur....”2 ”There is nothing I dread so much,” John Adams remarked, ”as a division of the republic into two great parties, each arranged under its leader, and concerting measures in opposition to each other” (cited in Dunn 2004: 39). The founders of representative institutions could see no middle road between consensus and civil war, harmony and mayhem. But while in any society people share many interests, values or norms, other interests, values, and norms divide them. All reasonable people would agree to ban actions we classify as “murder”, but we are still deeply divided whether to aborting a fetus qualifies as such. All reasonable people would agree that the economy should function efficiently, but each group wants to receive high income. Even if all were endowed with reason, and even when all the reasons have been elucidated, rational deliberation need not culminate in unanimity. The consensual ideology that underlaid the formation of representative governments obfuscates important conflicts of values and interests. With the rise of class-based and religious parties this ideology became untenable. Beginning with Kelsen (1988 [1928]) and culminating with Schumpeter (1942), theorists of representative government conceptualized it no longer as an institution for identifying and implementing the common good but as a method for processing conflicts. The central question which this new conception thus opened was how representative institutions can structure, absorb, and regulate conflicts so as to confine them to peaceful solutions. Political institutions must be self-sustaining, that is, they survive and function only if they continually generate outcomes that are preferred to the use of force by 2 The spirit of party, George Washington (2002: 48) sermonized in his 1796 Farewell Ad-dress,”ser vestodistractthepubliccouncilsandenfeeblethepublicadministration. It agitates the community with ill-founded jealousies and false alarms, kindles the animosity of one part against another, foments occasionally riots and insurrections. It opens the door to foreign influence and corruption....” 168 Cadernos ASLEGIS | 50 • Setembro/Dezembro • 2014 each and every group that could impose itself by violating the institutional order. Such outcomes can be generated either by compromises among parties or by prospects of partisan alternation in o¢ce. Neither of these solutions, however, guarantees that conflicts would be solved peacefully under all conditions and, even if they are peacefully resolved, that all sectors of society would be represented. This is the preview of the paper. The next section summarizes the main features of the consensualist foundations of representative government. This section is followed by a different reading of the same history. The critiques of consensualism offered by Kelsen and Schumpeter are summarized next. The validity of partisan compromises and of alternation in office as methods for processing conflicts is then examined. A conclusion focuses on the issue of representation. 2 The ”Classical” Conception of Representative Government The basic assumption underlying the ”classical”3 conception of representative government was that the society is characterized by a basic harmony of values and interests, so that there exists something that can be identified as the common, public, or general good, interest, or will. The role of representative institutions was to identify and implement this common interest. This role was thus epistemic: a search for truth. To be able to participate in the process of rational deliberation, one needed reason and virtue: thus not everyone qualified as a potential representative. Since the truth was out there to be discovered, deliberation should arrive at unanimity, or at least an overwhelming consensus. Political divisions based on interests or values are inimical to this search for truth, since they introduce elements of passion and irrationality. Once the common good was identified, it was to be implemented by the representatives without interference by ordinary citizens. Thus, opposition to the government was seen as obstruction. 2.1 Common Good Conceptions of the common, public, or general interest, good, or will offered by particular thinkers were not the same: the multiplicity of the terminology is not accidental. One distinction is whether the common good was assumed to exist independently of individual wills or was identified only as their aggregation. Rousseau thought the former, while utilitarians maintained the latter. Another distinction was whether the common interest could be identified by all the people through some process or only by 3 Following Schumpeter, I will refer as the ”classical” theory of representative government to the ideology under which it was formed at the end of the eighteenth century, rather than to ancient Greece. Sala de Visitas 169 some enlightened few. Here both Rousseau and utilitarians maintained the former, while authoritarians of different stripes held the latter view. Using modern analytical apparatus, we can distinguish two types of situations in which interests would be harmonious: (1) Individual wills coincide in the sense that the same state of the world is best for each and all. We all want to prevent foreign invasion; we all want to be able to trade if trade makes each and all better o¤, we all want to evacuate a coastal town if a hurricane is impending, etc. As a small wrinkle, note that the same would be true if everyone was indifferent whether to do one thing or another as long as everyone does the same. No one cares whether we drive on the left or the right as long as we drive on the same side. In a classical example, we can meet at the train station or at the bus station, and we care only that we meet, not where. Such problems are solved simply by communication: it is enough that we announce where to meet. Note that when individual wills coincide the common will is just an aggregation of individual wills. When interests are harmonious in this sense, collective decisions are self-enforcing. No compulsion is needed for everyone to do whatever the common interest dictates: each individual wants to do it in self-interest. Indeed, one can wonder why we would need laws. Even in the case of coordination a simple announcement is sufficient and announcements are not laws since they do not carry sanctions. Disagreements may emerge in such situations only if individuals are uncer-tain which decision is best. For example, all members of a jury want to condemn an accused if he is guilty and to absolve him if he is innocent. The jurors have no other interest than to administer justice. Hence, if the true state of nature (guilty, innocent) were known, the decision how to act would be unanimous. Everyone in a coastal town wants to evacuate it if the hurricane is to strike and not to evacuate if it will not, so that the only issue is whether it will. The collective decision process is then a search for truth. Its role is epistemic (Coleman 1989). If there are any disagreements, they are purely cognitive. (2) Pursuit of individual interests leads to an outcome that is collectively suboptimal. Such situations are typified by the prisoners’ dilemma: situations in which whenever each individual pursues his interests or values, his will, all individuals are worse off than they could be. The collective result of individually rational actions is socially suboptimal. Examples abound. Everyone would want to grab everyone else’s property, but if everyone tries to do so, the result is that everyone fights rather than invests, life that is grim, short and brutish. I want to catch as many fish 170 Cadernos ASLEGIS | 50 • Setembro/Dezembro • 2014 from the lake as I can; so do you; and as the result over time each of us catches fewer fish4. How can we remedy this situation? We can adopt laws. The law would say that no one can steal or that no one can catch more than some number of …sh, and that violations would be subject to punishment. Suppose we were to vote whether to adopt this law or to allow each individual to make decisions independently. Since compliance with this law makes each and all of us better o¤, the vote for this law would be unanimous. Our common interest is for everyone to obey the law and our general will is that everyone should obey it: Moreover, individuals are free to act in the common interest only if the law compels everyone to act in this way. In the state of nature, I would know that if I act in the common interest, others will not do so, so that I would not be free to do what is best for me. Note, however, that acting in the common interest is not in the best interest of each individual when other individuals do so. If others invest, I am still better off grabbing their accumulated property. If others do not overfish, I am still better o¤ if I do. We have to be compelled not to act in our individual interests, against our individual will. The general will is thus not an aggregation of particular wills5. The collectively beneficial outcome can also be supported by rational morality. Suppose I ask myself ”What is it that I would not want others to do to me?,” the answer to which is that they should not steal my property or overfish. The rule of conduct I would want everyone else to adopt is thus ”do not do to others what you do not want them to do to me.” Each individual would want all others to adopt this rule. This, then, is the only rule that can be adopted universally and, if we are guided by universal reason, we would all adopt it. Is this what Rousseau, or Kant, had in mind? There are certainly enough passages in Rousseau to support the view that he would not object to this interpretation, which was deliberately couched in his language6. 4 4Since this topic is a matter of frequent confusion, let me just emphasize that nothing is assumed here about the content of these preferences: if I am perfectly altruistic and want only you to catch fish and so are you, we will both end without any fish, while each of us could catch some without reducing the stock. What matters here is that each person behaves independently, as an individual, not what the content of preferences is. 5 On this issue, see the polemic between Grofman and Feld (1989), Eastlund (1989) and Waldron (1989). 6 As for Kant (1881 [1793]: 34-35), here is the relevant passage: ”Right in general may be de…ned as the limitation of the Freedom of any individual to the extent of its agreement with the freedoms of all other individuals, in so far as this is possible by a universal Law... Now as all limitations of freedom by external acts of the will of another, is a mode of coercion or compulsion, it follows that the Civil Constitution is a relation of free men who live under coercive Laws, without prejudicing their Liberty otherwise in the whole of their connection with others.” Sala de Visitas 171 Rousseau did think that the social contract must be Pareto superior to the state of nature: otherwise it would not be voluntarily concluded. He also thought that ”as the particular will cannot represent the general will, general will, in turn, cannot without changing its nature become particular will”(1964:129). What matters is that both the idea that in some situations individuals must be compelled to act in their own good and that each individual would want to be compelled by laws are perfectly coherent. To be able to pursue the common good, individuals must act on the basis of the general will, as instituted in laws, even against their particular wills. 2.2 The Role of Representative Institutions The role of representative institutions was to deliberate so as to find the common good of all. As formulated famously by Edmund Burke in 1774, Parliament is not a congress of ambassadors from different and hostile interests; which interests each must maintain, as an agent and advocate, against other agents and advocates, but parliament is a deliberative assembly of one nation, with one interest, that of the whole; where, not local purposes, not local prejudices ought to guide, but the general good, resulting from the general reason of the whole. Politics, Sieyes would say, ”is not a question of a democratic election, but of proposing, listening, concerting, changing one’s opinion, in order to form in common a common will.” As Schumpeter (1942: 250) aptly characterized it, ”The eighteenth century philosophy of democracy held that ... there exists a Common Good, the obvious beacon light of policy.... There is no excuse for not seeing it and in fact no explanation for the presence of persons who do not see it except ignorance – which can be removed – stupidity and anti-social interest.” Note first that not everyone was deemed to be qualified to participate in this process of rational deliberation. While the arguments were self-serving and convoluted, franchise restrictions were portrayed by their proponents as serving the common good of all. The French Declaration of Rights qualified its recognition of equality in the sentence that immediately followed: ”Men are born equal and remain free and equal in rights. Social distinctions may be founded only upon the general good.” The argument for restricting suffrage was spelled out in full already by Montesquieu (1995: 155), who parted from the principle that ”All inequality under democracy should be derived from the nature of democracy and from the very principle of democracy”. His example was that people who must continually work to live are not prepared for public office or would have to neglect to their functions. ”In such cases,” Montesquieu went on, ”equality among citizens can be lifted in a democracy for the 172 Cadernos ASLEGIS | 50 • Setembro/Dezembro • 2014 good of democracy. But it is only apparent equality which is lifted....” The generic argument, to be found in slightly different versions, was that: (1)Representation is acting in the best interest of all. (2)To determine the best interest of all one needs reason. (3)Reason has sociological determinants: not having to work for a living (”disinterest”), or not being employed or otherwise dependent on others (”independence”). As a Chilean statesman put it in 1865, to exercise political rights it is necessary ”to have the intelligence to recognize the truth and the good, the will to want it, and the freedom to execute it.” (A speech by Senador Abdón Cifuentes, cited in Maza Valenzuela 1995: 153). In turn, the claim that only apparent equality is being violated was built in three steps: (1)Acting in the best common interest considers everyone equally, so that everyone is equally represented. (2)The only quality that is being distinguished is the capacity to recognize the common good. (3)No one is barred from acquiring this quality, so that suffrage is potentially open to all. Elections were seen as a way of recognizing those fit to govern in the best interest of all (Manin1997). The role of voters was to acknowledge natural leaders. ”The purpose of elections,” said the Spanish Moderates around 1870, ”is to identify social power and turn it into political power” (Garrido 1998: 214). In the indirect elections in monarchical Brazil, the role of the elector was to ’nominate the good men, worthy of governing ....”’ (Neves, 1995: 395). Early elections in Latin America, Sabato (2003) summarizes ,were understood “as a mechanism for selecting the betters... . It was supposed that in this transaction the notables of each place will impose themselves naturally.” The quality of leadership, of being ”fit to govern,”7 was manifest and thus spontaneously recognizable as such. Candidatures were unnecessary since, according to Montesquieu (1995 [1748]: 99), ”The people is admirable it its ability to choose those to whom it must entrust some part of authority. It has only to decide on the basis of things it cannot ignore and of facts that are self-evident.” Condorcet (1986 [1788]: 293) thought that recognizing the natural ability to govern is so simple that even women (albeit only propertied among them) can do it. Madison believed that a large republic would permit such “a process of elections as will most certainly extract from the mass 7 Winston Churchill used this phrase still in 1924 to disqualify Labour government. Sala de Visitas 173 of the society the purest and noblest characters which it contains” (cited in Rakove, 2002: 56). The representatives were to find the true common interest of all. But how were they to know if and when they found it? What should be, to use the language of computer science, the ”stopping signal” for their deliberations?8 Objective truth is subjectively convincing, at least to people endowed with reason. Thus, Milton proclaimed, ”Let [Truth] and Falsehood grapple; who ever knew Truth put to the worse in a free and open encounter.”9 Locke believed that ”the truth would do well enough if she were once left to shift for herself.” Cato wrote ”Truth has so many Advantages above Error, that she wants only to be shewn, to gain admiration and Esteem.” Jefferson asserted that ”Truth is great and will prevail if left to herself.” And since truth was manifest, everyone should be able to recognize it. Hence, the obvious sign that the truth is found is unanimity. Indeed, this criterion was widely used in early medieval times: Urfalino (2005: 2) reports that ”consensus or unanimity seem to have been the predominant mode of collective decisions in almost all human societies before it was replaced by vote.” Bentham reports that ninety-nine of each one hundred decisions in the English parliament were unanimous at the end of the eighteenth century. Still in 1962, Buchanan and Tullock assumed that deliberation would lead to unanimity if not for the pressure of time. And even today, this is the assumption of some theories of political deliberation. Endowed with reason, recognizing everyone as equal, and susceptible to moral appeals, participants in the deliberative process do not need to ”aggregate” their preferences through voting since they arrive at the same decision. Thus, according to Cohen (1989: 33), ”deliberation aims to arrive at a rationally motivated consensus – to find reasons that are persuasive to all....” If unanimity cannot be reached, the truth is in doubt. As Simmel (1950: 241) observed, ”a mere majority decision probably does not yet contain the full truth because, if it did, it ought to have succeeded in uniting all votes.” Disagreement may indicate that the truth is not ma8 Urfalino (2005: 2) identifies the problem as follows: ”En effet, les ré‡exions sur la dé¬mocratie délibérative, aussi bien que les descriptions des ethnologues, sou¤rent dans la quasi¬totalité des cas du même défaut. La séquence finale de ce qu’ils appellent la « décision par sonsensus» ou la «décision à l’unanimité» n’est évoquée que de manière allusive. L‘electeur est censé comprendre que, à la fin, un consensus permet de prendre la décision. Mais les auteurs ne décrivent pas la manière dont la décision est arrêtée, ils ne se sont pas donnés les moyens de répondre à la question suivante : comment les participants se rendent-ils compte que, de fait, un consensus a été établi et donc que la décision collective est prise ?” 9 This and the subsequent quotes are from Holmes (1995: 169-170). 174 Cadernos ASLEGIS | 50 • Setembro/Dezembro • 2014 nifest, that any decision may be erroneous. Hence, Condorcet (1986) required unanimity in situations when ascertaining truth was a matter of life and death, although he was willing to accept less consensus in other situations. A ”hung jury,” a body that cannot reach unanimity even after all the deliberation, does not provide certain guidance as to how each and all of us ought to act. If some want us to do one thing and others another, what ought we do in common? Note Schumpeter’s caveats: unanimity may be not reached even when the beacon light is obvious, because of ignorance, stupidity, or anti-social interests. But how can one tell whether it is not reached because the truth is not manifest or because of these illegitimate reasons? One solution was to distinguish persons and their reasons. In addition to numbers (numerus), both the early German legal theories and the canon law held, we can distinguish authority (auctoridad), merit (meritus), and intensity (zelum). In the early medieval English theory, these were rank, repute, and judgment. Decisions should be based on the views that are not only more numerous but also more valid, major et sanior. Yet even if not all opinions are of the same quality, an overwhelming numerical evidence is sufficient to recognize that the decision is based on all the relevant dimensions. Thus, according to Heinberg (1926) different supermajorities were used by thirteen Italian communes: while Genoa typically demanded unanimity, Brescia, Ivrea, and Bologna required two-thirds, and several other cities fourth-seventh. In turn, while still in 1159 the election of the pope Alexander III by twenty four out of twenty seven votes provoked a schism, the rule of two-thirds was subsequently adopted by the church for the election of popes. Hence, super-majorities were accepted as the indication that the common interest had been identified. Whether decisions reached by an overwhelming consensus indicated the true common interest or only that disobeying them would be futile, voting was thought to be at best an expedient substitute for unanimity10. Divisions were a sign of a malady, either incomplete knowledge or particularistic interests. 2.3 No Divisions The original ideology of representative government was hostile to all political divisions. The people were a body and ”No body, corporeal or political, could survive if its members worked at cross-purposes” (Ball 10 Describing what he calls ”decisions by apparent consensus, Urfalino (2005) emphasizes that ”Le consensus apparent exige non pas l’unanimité mais, àcôté de ceux qui approuvent, le consentement des réticents;” and ”La contribution des participants à la décision est marquée par le contraste entre un droit égal à la participation et une inégalité légitime des in‡uences.” Sala de Visitas 175 1989: 160). The analogy with the body originated in the late medieval period and even when the contractual perspective replaced the organic one, parties to a covenant or contract were seen as parts of a whole, rather than any kind of divisions. Many, even if not all, democratic protagonists thought that since the people was naturally united, it could be divided only artificially. Parties or “factions” were seen as spurious divisions of a naturally integral body, products of ambitions of politicians, rather than reflections of any pre-political differences or conflicts. The rejection of political divisions was not restricted to parties. As Rosanvallon (2004) emphasizes, while democracy was not to be direct, it was ”immediate,” in the sense that nobody could stand between individuals and their representatives. In the famous phrase of Le Chapelier, ”There are no more corporations within the state; there is no more that the particular interest of each individual and the general interest. No one is permitted to inspire citizens with intermediate interests, to separate them from the public realm by a spirit of corporation.” (cited by Rosanvallon 2004: 13). Rosanvallon (2004) emphasizes that in France collective action was an improper instrument for influencing or opposing the incumbent governments. The last decree of the Constituent Assembly stated in 1791: ”No society. club, association of citizens can have, in no form, a political existence, nor exercise any kind of inspection over the act of constituted powers and legal authorities; under no pretext can they appear under a collective name, whether to form petitions or deputations, participate in public ceremonies, or whatever other goal.” (cited in Rosanvallon 2004: 59). And this principle seems to have travelled: the 1830 Constitution of Uruguay also made it illegal for citizens to organize into associations. (López-Alves 2000: 55). While France was an extreme case, similar voices were heard in the United States. As Hofstadter (1969: 8) warns, ”The idea of a legitimate opposition ... was not an idea that the Fathers found fully developed and ready to hand when they began their enterprise in republican constitutionalism in 1788. We will misunderstand their policies badly if we read them so anachronistically as to imagine that they had a matured conception of a legitimate opposition...” As Noah Webster’s wrote in the famous letter to Joseph Priestly: In our country this power is not in the hands of the people but of their representatives. The powers of the people are principally re¬stricted to the direct exercise of the rights of su¤rage.... Hence the word Democrat has been used as 176 Cadernos ASLEGIS | 50 • Setembro/Dezembro • 2014 synonymous with the word Ja¬cobin in France; and by an additional idea, which arose from the attempt to control our government by private popular associations, the word has come to signify a person who attempts an undue oppo¬sition or influence over government by means of private clubs, secret intrigues, or by public popular meetings which are extraneous to the constitution. By Republicans we understand the friends of our Representative Government, who believe that no influence whatever should be exercised in a state which is not directly authorized by the Constitution and laws. Thus, when President Washington called the clubs ”self-created,’ he meant that they were extra-legal and that only duly constituted bodies and duly elected representatives should deliberate or exert pressure on public issues (Palmer 1964; Peterson 1973: 7). Washington’s Farewell Address, written in 179611, is so astonishing in its intolerance of any kind of opposition that it requires citing in extenso: All obstructions to the execution of the laws, all combinations and associations, under whatever plausible character, with the real design to direct, control, counteract, or awe the regular deliberation and action of the constituted authorities, are destructive of this fundamental principle [the duty of every individual to obey the established government] and of fatal tendency. They serve to organize faction; to give it an artificial and extraordinary force; to put in the place of the delegated will of the nation the will of a party, often a small but artful and enterprising minority of the community, and according to the alternate triumphs of different parties to make the public administration the mirror of the ill-conceived and incongruous projects of faction rather than the organ of consistent and wholesome plan, digested by common councils and modified by mutual interests. (2002: 47; italics supplied for a future reference.) According to Palmer (1964: 526-7), ”Hamilton, supported by Washington, took the view that the opposition [to his measures] was opposition to government itself. Since no parties of modern kind yet existed, nor was the idea or need of them even recognized, the issues soon took on larger dimensions, becoming a question of the propriety of opposition 11 The Address was never delivered. Some parts of the Address were drafted by Hamilton: Ellis (2002: 152) hears Hamilton’s voice in the principle cited in the brackets. Sala de Visitas 177 itself, or the right of citizens to disagree with, criticize, and work against public officials”.12 Opposition was thus tantamount to obstruction of legitimately constituted government. 3 Ideology and Reality There is another way to spin this stylized tale. One reason to do so is that the Aristotelian tradition, of which Machiavelli was the last representative (Pasquino 1996, 1998) lingered until at least the American revolution. Moreover, the fear that, if endowed with political rights, the poor would use them to confiscate property was reborn together with the founding of modern representative institutions. But a more fundamental reason is that the reality did not bend easily to the consensual ideology. In the Aristotelian tradition, conflict was inevitable and it was a conflict between the rich and the poor. The solution to this conflict was a mixed constitution, in which different classes would find separate representation in the organs of the state. The difference between these two traditions is best exemplified by the justifications of bicameralism: while Madison and Hamilton insisted that the House and the Senate equally represent everyone, just differently, Adams saw them as representing different groups. Yet the Aristotelian tradition could not and did not survive the onslaught of the democratic principle that representative institutions must be blind to the social position of individuals. Democracy places a veil over distinctions that exist in society. The only attribute of democratic citizens is that they have none as such. As Rousseau (1964: 129) said, ”the sovereign [the people united] knows only the body of the nation and does not distinguish any of those who compose it.” The democratic citizen is a ”man without qualities” (Pasquino 1998: 149-150), an individual outside society. One can say ”an aristocrat,” ”a wealthy person,” and ”male,” but not ”an aristocratic citizen,” ”a wealthy citizen,” or ”a male citizen.” As Sieyes (1979: 183) put it, ”On doit concevoir les nations sur terre comme des individues hors de lien social.” And since citizens are indistinguishable ,there is nothing by which law could possibly distinguish them. Hence, the democratic aspect of representative institutions rendered representation in class terms no longer conceivable. This is not to say that founders of representative institutions were blind to conflicts, to the manifest fact that not everyone would agree to everything. Not even Sieyes maintained that the consensus must include all issues: ”That people unite in the common interest is not to say that 12 For the evidence that opposition was seen as illegitimate by the government in the United States between 1794 and 1800, see Dunn (2004), Stone (2004), and Weisberger (2000). 178 Cadernos ASLEGIS | 50 • Setembro/Dezembro • 2014 they put all their interests on common” (cited by Pasquino 1998: 48). Condorcet (1986: 22) pointed out that “what is entailed in a law that was not adopted unanimously is submitting people to an opinion which is not theirs or to a decision which they believe to be contrary to their interest. “The classical argument admitted that people may disagree about many issues; it claimed only that some values or interests bind them together so strongly that whatever is common overwhelms all the divisions. All that was required was an agreement on some basics, in Rousseau’s (1984: 66) words ”some point in which all interests agree.”13 The reality of divisions and of conflicts they generated was, even if grudgingly, admitted in the tradition originating with Hume. Some social divisions were seen as inevitable: as Madison, educated in Hume, would observe in Federalist #10, ”the latent sources of faction are ... sown in the nature of man.” Hume (2002 [1742]) himself thought that divisions based on material interests were less dangerous than those based on principles, particularly religious values, or affection. Yet almost everyone else saw as the central threat the prospect that political participation of the poor would undermine property and thus the social order on which the society was based. In a society that is unequal, political equality opens the possibility that the majority would by law equalize property or the benefits of its use. Since, as distinct from liberty or happiness, property, the kind of property that can be used to generate incomes, always was and continues to be held by a minority, the right to protect property would have to hurl itself against the interest of majorities. Hence, a tension between democracy and property was predictable, and it was predicted. Indeed, at some moment, legal and economic equality became connected by a syllogism: Universal suffrage, combined with majority rule, grants political power to the majority. And since the majority is poor, it will confiscate the riches. The syllogism was perhaps first drawn by a French conservative polemicist, J. Mallet du Pan, who insisted in 1796 that legal equality must lead to equality of wealth: ”Do you wish a republic of equals amid the inequalities which the public services, inheritances, marriage, industry and commerce have introduced into society? You will have to overthrow property” (cited by Palmer 1964: 230).14 13 The full quote is ”If there were not some point in which all interests agree, no society could exist.” 14 14 Hamilton formulated something like this syllogism in his ”Plan for the National Government” (in Ketcham 1986: 75), delivered at the Convention on June 18: ”In every community where industry is encouraged, there will be a division of it into the few and the many. Hence separate interests will arise. There will be debtors and creditors, etc. Give all power to the many, they will oppress the few.” Yet he thought, like Madison, that this effect can be prevented. Sala de Visitas 179 Note that, contrary to frequent misquoting, of which I am guilty as well15, Madison (Federalist #10) thought that this consequence applied to direct, but not to representative democracies. Having identified a ”pure Democracy ” as a system of direct rule, Madison continues that ”such Democracies have ever been spectacles of turbulence and contention; have ever been found incompatible with personal security or the rights of property; and have in general been as short in their lives as they have been violent in their deaths” (italics supplied). Yet ”A Republic, by which I mean a Government in which the scheme of representation takes place, opens a different prospect and promises the cure for which we are seeking.” Still, he seems to have been less sanguine some decades later: ”the danger to the holders of property cannot be disguised, if they are undefended against a majority without property. Bodies of men are not less swayed by interest than individuals.... Hence, the liability of the rights of property....” (Note written at some time between 1821 and 1829, in Ketcham 1986: 152). Once coined, this syllogism has dominated the fears and the hopes attached to democracy ever since. Conservatives agreed with socialists16 that democracy, specifically universal suffrage, must undermine property. The self-serving nature of the convoluted arguments for restricting suffrage to the propertied was apparent. The Scottish philosopher James Mackintosh predicted in 1818 that if the ”laborious classes” gain franchise, ”a permanent animosity between opinion and property must be the consequence” (Cited in Collini, Winch and Burrow, 1983: 98). David Ricardo was prepared to extend suffrage only ”to that part of them which cannot be supposed to have an interest in overturning the right to property” (In Collini, Winch and Burrow, 1983: 107). Thomas Macaulay in the 1842 speech on the Chartists pictured the danger presented by universal suffrage in the following terms: The essence of the Charter is universal suffrage. If you withhold that, it matters not very much what else you grant. If you grant that, it matters not at all what else you withhold. If you grant that, the country is lost.... My firm conviction is that, in our country, universal suffrage is incompatible, not only with this or that form of government, and with everything for the sake of which government exists; that it 15 The misquoting consists of skipping the ”such” in the citation below. See, for example, Hanson (1985: 57) or Przeworski and Limongi (1993). 16 According to Rosanvallon (2004), this particular word appeared in France in 1834. 180 Cadernos ASLEGIS | 50 • Setembro/Dezembro • 2014 is incompatible with property and that it is consequently incompatible with civilization. (1900: 263) Yet even those that recognized the inevitability of social divisions insisted that partisan divisions can be and must be moderated and mitigated by a proper design of representative institutions. ”If...separate interest be not checked, and not be directed to the public” Hume predicted, “we ought to look for nothing but faction, disorder, and tyranny from such government.” (***cite). The first virtue of the United States Constitution Madison vaunted in the opening sentence of Federalist #10 was that ”Among the numerous advantages promised by a well-constructed Union, none deserves to be more accurately developed than the tendency to break and control the violence of factions.” Madison recognized that differences of passions and interests are ubiquitous and inevitable in soci¬ety; moreover, their most common and durable source has been the ”various and unequal distribution of property.” Such differences cannot be permitted to enter into the realm of politics. But the cost of prohibiting them would be the loss of liberty. Thus Madison concluded that while ”the causes of faction cannot be removed; and that relief is only to be sought in the means of controlling its effects.” Even if the etymology of these two words is different (Ball 1989: 139), ”factions” were exactly what we would understand today as ”parties”17: ”By a faction,” Madison defines, ”I understand a number of citizens, whether amounting to a majority or minority of the whole, who are united and actuated by some common impulse of passion, or of interest, adverse to the rights of other citizens, or to the permanent and aggregate interests of the community.” Yet factions would be controlled, Madison asserts, by discussion among representatives as well as by the fact that insufficiently large districts each representative would respond to heterogeneous interests. Hence, Madison’s solution was not to prohibit the organization of public opinion but to entrust the government exclusively to representatives. Perhaps paradoxically, one solution to partisan divisions could be a single party, uniting everyone in the pursuit of common good. According to Hofstadter (1969: 23) the main proponent of this solution was James Monroe: ”It is party conflict that is evil, Monroe postulated, but a single party may be laudable and useful, ... , if it can make itself universal and strong enough to embody the common interest and to choke party strife.... Monroe did not think it legitimate to prohibit opposition by law. 17 ”Faction,” however, had a more clearly offensive connotation: as Bolingbroke could say, ”Faction is to party what the superlative is to the positive: party is a political evil, and faction is the worst of all parties.” (cited in Hofstadter 1969: 10). Sala de Visitas 181 Rather he hoped that the single party would eliminate partyism through its ecumenical and absorptive quality.” However unity was to be attained, unity had to prevail. With regard to no other aspect did democratic ideology experience turnabouts as sharp as with regard to political parties. Consider Madison himself. As soon as he found himself in opposition to Hamilton’s policies, by the spring of 1791, he undertook with Jefferson a trip through New York and Vermont the purpose of which was none other but to create a party18. While he still believed that ideally, if economic differences could be reduced, parties would not be necessary, he came to recognize that ”the great art of politicians lies in making one party a check on another” (quoted in S. Dunn 2004: 53). Soon he used a label, ”Republican,” to identify its programmatic orientation. And toward the end of his life, at some time between 1821 and 1829, Madison would arrive at the conclusion that ”No free Country has ever been without parties, which are a natural offspring of Freedom.” (In Ketcham 1986: 153). First partisan divisions emerged in England in 1679-80.19 Polarization over the policy toward France led to the rise of parties in the United States in 1794,20 even if the Federalist Party dissipated after the defeat of 1800 and a two-party system crystallized only a quarter of century later. In France parties became recognizablein1828. In some Latin American countries, notably Colombia and Uruguay, parties emerged from the wars of independence before the formation of the state (López-Alves 2000). Yet the hostility to parties was so profound that they were banned in German principalities in 1842; in some countries it was illegal to refer to parties in the parliament until 1914; and mass parties became fully legal in France only in 1901. While Burke defended parties in 1770, he reverted to what everyone else would have considered as a wishful view: ”Party is a body of men united for promoting by their joint endeavours the national interest upon some principle in which they are all agreed” (2002: 40; italics supplied).21 Henry Peter, Lord Brougham, referred in 1839 to party government as ”this most anomalous state of things – this arrangement of political affairs which systematically excludes at least one half of the great men of each age from their country’s service, and devo18 The following account is based on S. Dunn (2004: 47-61). 19 Laslett(1998: 31) considers the 1681”Instructions to the Knights of the Country of — for their Conduct in Parliament,” perhaps written by Locke, as the first party document in history. 20 According to S. Dunn (2004: 70),”Historians who have analyzed voting patterns in the Congress confirm the existence of clear partisan voting blocs at least as early as 1794.” 21 Moreover, Hofstadter (1969: 34) observes, this view found only a faint echo in the United States. 182 Cadernos ASLEGIS | 50 • Setembro/Dezembro • 2014 tes both classes infinitely more to maintaining a conflict with one another than to furthering the general good” (2002: 52)22 Although they advanced democracy by tying the representatives to the represented and by offering explicit platforms from which to choose, parties were seen as destroying discussion and as undermining the separation of powers. ”Party government” was a negative term, connoting conflicts motivated by personal ambitions of politicians, ”obsession with winning power by winning elections,”23 pursuit of particularistic interests, altogether a rather unsavory spectacle. It required a remedy in the form of some neutral, moderating power, such as the Emperor in the1825 Brazilian Constitution or the President in the Weimar Constitution.24 As Schmitt (1998) observed, even this solution was devoured by partisan politics; in the end, presidents were elected by agreements among parties. And when this solution failed, constitutional review by independent courts emerged to constrain party government (Pasquino 1998: 153). While representative government certainly meant that the people have the right to organize in order to remove the incumbent government through elections, the proper role of the people in between elections remained, and continues to remain, ambiguous. Madison (Federalist #63) observed that what distinguished the American from the ancient republics “lies in the total exclusion of the people, in their collective capacity from any share” in the government. He seems to have meant it literally, that the people should leave governing to their representatives, “as a defense against their own temporary errors and delusions.” According to Hofstadter (1969: 9), ”When they [The Founders] began their work, they spoke a great deal – indeed they spoke almost incessantly – about freedom, and they understood that freedom requires some latitude for opposition. But they were far from clear how opposition should make itself felt, for they also valued social unity or harmony, and they had not arrived at the view that opposition, manifested in organized popular parties, could sustain freedom without fatally shattering such harmony.” Lavaux(1998: 140), in turn, observes that ”Les conceptions de la démocraties issues de la tradition du Contrat social ne font pas la part de la minorité, a fortiori celle de l’opposition. La démocratie conçue comme 22 A mathematician the great Lord was not: majority rule may exclude at most one half. 23 This quote is from the German President Richard von Weizsäker, in Scarrow (2002: 1). 24 The connection between the emergence of parties and the need for a moderating power was the theme of Henry Saint-John, Viscount Bolingbroke, in 1738: ”To espouse no party but to govern like the common father of his people, is so essential to the character of a Patriot King that he who does otherwise forfeits the title.” (2002: 29) Washington, in the Farewell Address, thought that parties have virtues under monarchy, where the king can arbitrate between them, but not under democracy. Sala de Visitas 183 identité des gouvernants et de gouvernés ne laisse pas de place à la reconnaissance d’un droit d’opposition....” The notion that people can freely oppose the government elected by a majority emerged only gradually and painfully everywhere, the United States included. After all, Hofstadter (1969: 7) is right, “The normal view of governments about organized opposition is that it is intrinsically subversive and illegitimate.” And the insistence on delegating governance to the illustrious few, on excluding the people from governing, remained at the core of liberal thought, from Montesquieu (1995: 332) to Mill. Freedom will be secured, J.S. Mill (1859, ch5) would maintain, only ”by disjoining the office of control and criticism from the actual conduct of affairs, and devolving the former on the representatives of the Many, while securing for the latter, under strict responsibility to the nation, the acquired knowledge and practiced intelligence of a specially trained and experienced Few.” Here, then, is an alternative spin on the consensualist ideology. The ideologues of representative government knew that social divisions and the conflicts they would generate were inevitable. Yet they feared that conflicts, at least some conflicts, would spill beyond institutional boundaries and would lead to civil strife, perhaps even civil wars. One way to prevent violence was by properly designing the representative institutions themselves, perhaps most importantly by restricting suffrage to the propertied, but also by a number of other devices, such as bicameralism, indirect or open voting, lists of official candidates, etc. (On these devices, see Przeworski 2006). But another way was to persuade everyone that what they share in common is more profound than all that divides them. Hence, the ideology of the harmony of interests was an instrument of rule. Such an interpretation raises complex methodological issues that cannot get proper attention here. I certainly do not want to suggest that the propertied elites somehow conspired to use the consensualist ideology as an instrument with which to persuade the poor that they are better off being ruled by the rich. Neither do I believe that any ideology can be imposed arbitrarily.25 An ideology is plausible only if it corresponds to real life experience, only if it is an effective guide in everyday life. The power of the consensualist ideology was perhaps due to the fact that it did speak to the fears and the prospects of broad masses, and to a large extent it still does. This is an ideology that satisfies Gramsci’s (1971: 161, 182) criteria for hegemony: 25 An instrumentalist interpretation of Gramsci (1971), put forth by Anderson (1977), is unpersuasive, for reasons discussed in Przeworski (1998). 184 Cadernos ASLEGIS | 50 • Setembro/Dezembro • 2014 The development and expansion of the particular group are conceived of, and presented, as being the motor force of a universal expansion, of a development of all the ”national” energies; in other words, the dominant group is coordinated concretely with the general interests of the subordinate groups, and the life of the State is conceived of as a continuous process of formation and superseding of unstable equilibria (on the juridical plane) between the interests of the fundamental group and those of the subordinate groups – equilibria in which the interests of the dominant social group prevail, but only up to a certain point, i.e., stopping short of narrowly corporate economic interests. 4. Representative Government in the Face of Conflicts By 1929 Kelsen (1988: 29) could write that “Modern democracy rests entirely on political parties.... [T]he hostility of the old monarchy against political parties, ..., the opposition between them and the State, are but a manifestation of poorly veiled hostility against democracy.... It is an illusion or hypocrisy to maintain that democracy is possible without political parties.... Democracy is thus necessarily and inevitably a State of parties (Parteienstaat).” Several post-1945 constitutions recognized parties as institutions essential to democracy (Lavaux 1998: 67-68).26 Moreover, parties developed the capacity to discipline the behavior of their members in legislatures, so that individual representatives can no longer exercise their own reasons. Indeed, in some countries representatives are legally compelled to resign their mandate if they change parties: the law recognizes that they serve only as party members. Beginning with Kelsen (1988: 27), theorists of representative government take it as the point of departure that all citizens cannot rule at the same time: ”[I]t is not possible for all individuals who are compelled and ruled by the norms of the state to participate in their creation, which is the necessary form of exercise of power; this seems so evident that the democratic ideologists most often do not suspect what abyss they conceal when the make the two ’people’ [in singular and in plural] one.” People must be represented and 26 The Italian Constitution of 1947 was the first to mention the role of parties in ”the determination of national policy”(Article2). The Bonn Constitution of 1949 (Article21) and the Spanish one of 1978 render to parties a constitutional status. The Swedish Constitution of 1974 mentions the preeminent role of parties in the formation of the democratic will. Sala de Visitas 185 they can be represented only through political parties,27 which ”group men of the same opinion to assure them real influence over the management of public affairs” (Kelsen 1988: 28) or which are groups ”whose members propose to act in concert in the competitive struggle for political power” (Schumpeter 1942: 283) or ”a team of men seeking to control the governing apparatus by gaining office in a duly constituted election” (Downs 1957: 25). Isolated individuals cannot have any influence over the government; they exist politically only through parties (Kelsen 1988: 29). While governments may not be able to express the will of all the people, supporters of particular parties may be sufficiently homogeneous to render meaning to a notion of partisan interest. True, even the will of supporters of particular parties is still likely to be multidimensional, so partisan interest will need not be uniquely determined. But given the platform of other parties – by which I mean both the issues on which to take a position and the positions taken – the platforms to which supporters of a particular party would agree are circumscribed. In elections, people sort themselves out by their distinct wills in response to proposals of parties which, in turn, must anticipate how people will sort themselves out. In the end, “the electoral equilibrium,” people vote for particular parties because they think that they will represent them better than others. Hence, partisan interests are distinct.28 Parties have followers and leaders, who become representatives through elections. Representatives will for the people. “Parliamentarism,” Kelsen (1988: 38) says, ”is the formation of the directive will of the State by a collegial organ elected by the people.... the will of the State generated by the Parliament is not the will of the people ...” Schumpeter (1942: 269) echoes: ”Suppose we reverse the roles of these two elements and make the deciding of issues by the electorate secondary to the election of the men who are to do the deciding.” While in the classical theory “the democratic 27 Both Kelsen and Bobbio (1987) consider and reject the alternative of functional representation, by corporatist bodies. 28 To understand this process, it is useful to consider electoral competition between two parties (or coalitions) which choose policies from a single dimension of policy, say the extent of redistribution. As long as parties propose or implement different platforms, almost all voters, except for those whose ideal preferences are equidistant from the proposals of the two parties, strictly prefer one party over another. But even if the two parties offer the same platform (as in the median voter model), parties still represent different constituencies. The electoral constraint pushes the parties to the center (the position of the median voter). But the parties are still distinguishable as ”left” and ”right,” which can be seen as follows. If the electoral constraint were relaxed by a notch, so that both parties would have had the same chance to win the election (which in this story is 50/50) if they proposed to implement the ideal preference of the voter removed from the median by one to the left, the left party would move to this voter while the right party would not. Hence, even when parties converge, they converge “from the left” and ”from the right.” And voters know it. 186 Cadernos ASLEGIS | 50 • Setembro/Dezembro • 2014 method is that institutional arrangement for arriving at political decisions ... by making the people decide issues through the election of individuals who are to assemble in order to carry out its will” (1942: 250), Schumpeter maintains that in fact the democratic method is one in which the individuals who are to assemble to will for the people are selected through elections. Thus far these views do not diverge as far from the classical conception as Schumpeter would have it. Although they would be uncomfortable with the emphasis on interests and parties, Madison or Sieyes would have agreed that the role of representatives is to determine for the people, and sometimes against the people, what is good for them. But here comes the crucial break with the classical tradition: Kelsen (1988), Schumpeter (1942), Downs (1957), Dahl (1971), and Bobbio (1987) all agree that nobody and no body can represent the will of all the people. Societies are inevitably divided by interests and values and the particular groups can be at most represented by political parties. The theory of representative government based on the assumption of the common good is just incoherent. As Shklar (1979: 14) put it, in an article entitled “Let Us Not Be Hypocritical,” ”A people is not just a political entity, as was once hoped. Parties, organized campaigns, and leaders make up the reality, if not the promise, of electoral regimes....” The classical assumption of the basic harmony of interests was first questioned by Marx, who thought that the most important interests divide societies deeply and irrevocably, so that no common interest is to be found.: “Even the most favorable situation for the working class, the most rapid possible growth of capital, however much it may improve the material existence of the worker, does not remove the antagonism between his interest and the interests of the bourgeoisie. Profit and wages remain as before in inverse proportions” (Marx 1952 [1867]: 37). Equipped with modern analytical apparatus, we know that this claim is not quite correct: class conflict has a cooperative, as well as a conflictive, aspect (Przeworski 1986). But even if adopting inefficient solutions is obviously irrational, each group wants to be on a different place along the possibility frontier, so that some conflict is inevitable. Kelsen (1988: 25-26) was perhaps the first to systematically challenge the theory of representative government based on the assumption of harmony of interests: ”Divided by national, religious and economic differences, the people presents itself to the view of a sociologist more as a multiplicity of distinct groups than as a coherent mass of one piece.” He rejected what Schumpeter would later dub “the classical conception” with an equal vigor: Moreover, the ideal of a general interest superior and transcending interests of groups, thus parties, the ideal of solidarity of interests of all Sala de Visitas 187 members of the collectivity without distinction of religion, of nationality, of class, etc. is a metaphysical, more exactly, a metapolitical illusion, habitually expressed by speaking, in an extremely obscure terminology, of an ’organic’ collective or ’organic’ structure.... (Kelsen 1988: 32-33). Schumpeter (1942: 250) offered a systematic critique of the concept of the common good or general will by making four points: (1)“There is no such thing as a uniquely determined common good that all people could agree on or be made to agree on by the force of rational argument.” (2)The individual preferences which the utilitarians adopted to justify their conception of common good are not autonomous but shaped by persuasion, “not a genuine but a manufactured will.” (3)Even if a common will would emerge from the democratic process,29 it need not have the rational sanction of necessarily identifying the common good. Given the pathologies of mass psychology, nothing guarantees that people would recognize what is good for them. (4)Even if we would know the common good, there would still be controversies about how to implement it. The political process, therefore, is not a search for the true common good – it cannot have an epistemic quality – for the simple reason that there is no such truth be found. The classical conception of representation was logically incoherent. What is good for different groups is not the same and no process of rational deliberation and no process of aggregation can overcome this sociological fact. Schumpeter wanted us to believe that his view is ”much truer to life and at the same time salvages much of what sponsors of the democratic method really mean by this term.” Yet even if his conception is more realistic, this is not what the classical theory meant by “democracy.” The association between the decisions made by the representatives and the will of the people was the justification for representative government in the first place. If democracy is only a method, what is it a method for? The classical theory had an answer to this question: representative government was a system through which people would identify and implement their common good. Schumpeter thought this answer to be unrealistic 29 The difficulty of identifying the common will was recognized only nine years after Schumpeter published his text, by Arrow (1951). 188 Cadernos ASLEGIS | 50 • Setembro/Dezembro • 2014 but did not offer another in its place. Hence, he ended with a method for no purpose. 5. Conflicts and Representation If interests or values are in conflict and if no single government can represent everyone, what prevents the conflicting parties from reverting to physical force in order to impose them? As we have seen, the classical theory thought that representative government is not possible unless interests are harmonious: political divisions portended violence, civil war. The assertion that some interests are harmonious is not sufficient to warrant the claim that societies will find a way to peacefully resolve issues that divide them. All Argentines want Argentina to win the World Soccer Cup but a Boca-River game can and did provoke riots. Even if some laws are accepted unanimously, laws that divide need not be accepted by a minority. As a French political theorist wrote in the middle of the eighteenth century,30 if elections were to be contested, ”Given men as they are, there would be no agreement on merit; each would think himself or his leader more meritorious than others; conflict and even civil war would follow.” Still for Marx, class conflict would necessarily lead to revolution, while for J. S. Mill (1991: 230) ethnic and linguistic divisions made representative government ”next to impossible.”31 Yet it is obvious that in spite of the dire warning about the effects of partisan divisions and independent unions, in many countries representative institutions succeeded in confining conflicts to institutional channels. Hence, the central question posed by the revisionist view is how can conflicts be limited to peaceful solutions, how can institutions of representative government structure, absorb, and regulate them so that they would be routinely processed, without erupting in violence. Representative institutions peacefully process conflicts only if they continually generate outcomes that are preferred to the use of force by each and every group that could impose itself by violating the institutional order.32 An institutional system that peacefully processes conflicts may not be possible under all conditions, particularly when a country is poor and unequal. Moreover, if any such system is feasible given the historical conditions, to evoke compliance political institutions must be 30 Réal de Curban, work published posthumously between 1751 and 1764, cited in Palmer (1959: 64). 31 “Free institutions are next to impossible in a country made up of different nationalities. Among a people without fellow-feeling, especially if they read and speak different languages, the united public opinion necessary to the working of representative government cannot exist.“ 32 32 For a general logic of self-sustaining institutions, see Przeworski (2006). Sala de Visitas 189 organized in such a way that the outcomes they generate, whether the distribution of incomes or division of rents or realization of some non-material values, must reflect the distribution of the “brute,” pre-institutional power, including the military force of different groups. Finally, such institutions must counteract increasing returns to incumbency, since otherwise forward-looking outsiders would prefer to fight immediately rather than wait for their power to be eroded. The question, then, concerns the mechanisms that can generate outcomes that would be tolerated by all the relevant conflicting political forces. One such mechanism are compromises among political parties, most importantly the majority and minority. Another is partisan alternation in office. These mechanisms are discussed in turn. 5.1 Compromise If no government can represent everyone, how can everyone be represented? If no body, parliament or government, can will for all the people, is democracy just a method for imposing the will of some, who happen to constitute a numerical majority, on others? Schumpeter (1942: 272-3) does pose the question but quickly dismisses the only solution that occurs to him, which is proportional representation. ”Evidently,” he observes, “the will of the majority is the will of the majority and not the will of ‘the people’.” Then he mentions that some authors – he must have had in mind Kelsen (1988: 60-63) – tried to solve the problem by various plans for proportional representation. He finds this system unworkable, since ”it may prevent democracy from producing efficient governments and thus prove a danger in times of stress.” ”The principle of democracy,” Schumpeter insists, ”merely means the reins of government should be handed to those who command more support than do any of the competing individuals or teams.” But why would a minority obey the dictates of the majority? Kelsen (1988: 34) does offer a solution: a compromise among parties. He argues that “the general will, if it should not express the interest of a single and unique group, can be only a result of such oppositions, a compromise between opposing interests. The formation of the people in political parties is in fact an organization necessary to realize such compromises, so that the general will could move in the middle (dans une ligne moyenne).” ”The application of the majority principle,” Kelsen(1988: 65) maintains, ”contains quasi-natural limits. Majority and minority must understand each other if they are to agree.” But here he encounters a problem so thorny that it requires Freudian psychology, the ”unconscious,” to solve: why would ”compromise,” in fact concessions made by the majority to the minority, be specific to democracy? He claims – in the light of recent research 190 Cadernos ASLEGIS | 50 • Setembro/Dezembro • 2014 (Gandhi 2004) erroneously so – that autocracies do not make compromises.33 The only reason he can adduce is psychological: “Democracy and autocracy thus distinguish themselves by a psychological difference in their political state” (1988: 64). But if this solution – preserving political rule by making concessions – is not exclusive to democracy, a central value Kelsen claims for democracy vanishes. A mechanism that supports partisan compromises, moderation on the part of majorities, has been elucidated by Alesina (1988). Even if party leaders do not represent anyone else – if the system were a true “polyarchy” rather than an electoral one – as long as party leaders prefer smaller oscillations of policies to larger ones (because their preferences are concave), Kelsen’s ligne moyenne would be supported by the threat of taking an extreme position (one’s own ideal point) if control over office were to change (Alesina1988). Note, however, that such compromises are induced only by the prospects that majorities would change as the result of elections, of alternation in office, rather than by any psychological predisposition to compromise. And the question is why would majorities ever change if governments of all partisan stripes pursue the same, compromise, policies. Indeed, Bobbio (1989: 116), attributing this view to Max Weber, claims that the normal procedure for making decisions under democracy is one in which ”collective decisions are the fruit of negotiation and agreements between groups which represent social forces (unions) and political forces (parties) rather than an assembly where majority voting operates.” Clearly, opposition parties in the parliament can try to persuade the majority to modify its views; they can exercise their institutional prerogatives to block some legislation ((in Germany presidencies of parliamentary committees are distributed proportionately to party strength; in the United Kingdom the Committee of Public Accounts is always controlled by the opposition); they can threaten with obstructive tactics (a government proposal to privatize an electric utility company was recently met with thousands of amendments in France, filibuster in the United States Senate); they can threaten with non-cooperation at lower levels of governments they control. Hence, the minority is not impotent. But when party leaders negotiate, the role of voters is reduced to a minimum. All that voters can do is to ratify agreements “reached in other places by the process of negotiation” (Bobbio 1989: 116). Compromise among party leaders, subject to periodic ratification by voters, is as much as Kelsen 33 The difference between these two types of regimes is not that compromises occur only under democracy but that autocracies can be, and many are, ruled by a minority. But dictators also combine repression with cooptation to maintain their rule. Sala de Visitas 191 or Bobbio can salvage from the classical conception of representative government. Representative government now means the government of parties in the parliament. Parties do not pursue the common good but negotiate compromises among partisan interests. Bargaining replaces deliberation. The outcomes are to a large extent independent of results of elections. The specificity of democracy is reduced to the requirement that these bargains must be from time to time approved by voters. Yet all voters can do is either to approve the deals negotiated by party leaders or rise in sporadic outbursts to throw the rascals out: in the language of recent Argentine outburst against the political class, “fuera todos!”, “everyone out.” And then? 5.2 Alternation in Office To be fair to Kelsen, at the end of his essay, having summarized the reasons that democracy should and will generate compromise, most importantly proportionality, he ends with the sentence ”And it is necessary that this coercive order [democracy] be organized in such a way that the minority as well ... could at any time become majority” (1988: 93). The emergence of partisan alternation in o¢ce is the most surprising aspect of history of representative government.34 As Dahl (1966: xvii) observed, ”The system of allowing one or more opposition parties to compete with the governing party for votes in elections and in parliament is, then, not only modern; it is also one of the greatest and most unexpected social discoveries that man has ever stumbled onto.” The idea of a government losing office as a result of an election could not have been even conceived within the perspective of the eighteenth-century. The very language would have been incomprehensible, since all its ingredients were missing. Elections were to select individuals, not parties. As representatives, those elected were to serve the interest of all, not of those who had voted for them. Since actions of representatives were not to depend on results of elections, the notion of alternation through elections could not be envisaged, and since there were no parties, alternation could not have been partisan. What happened in the United States in 1801 – “when, without use of a coup d’état, and without armed rebellion against him, a man denounced hysterically in some quarters as a Jacobin calmly 34 First partisan alternation in history occurred in GreatBritain, but dating it is not obvious. In 1700 the Tories won the parliamentary election and the king incorporated them into his cabinet but still in 1741 Walpole refused to resign having lost an election. Schmitt (1988: 468) dates the first partisan change of the entire cabinet to 1782 and the recognition of the principle of parliamentary responsibility to 1803. 192 Cadernos ASLEGIS | 50 • Setembro/Dezembro • 2014 assumed the highest executive office,” as Palmer (1964: 511) describes the event – is mind-boggling.35 The magic of alternation in office lies in the possibility that its mere prospect can induce the current minority to wait for its turn while obeying the current majority. If one party is certain to stay in power for ever, the supporters of other parties know that they will never live under laws they prefer: In turn, suppose that a party won the current election but other parties have some positive probability of entering the government as the result of the next one: Now the supporters of these parties expect that they may win in the future. Assume that members of these parties can either obey the verdict of the current election or rebel against it. If the value of rebellion for them is greater than the prospect of life under a social order they dislike but smaller than the prospect associated with the possibility that they may win in the future, then these parties would rebel if they were certain to lose all elections but would accept the result if they had a sufficient chance to win the next election. Alternation in office enables the political forces to think in intertemporal terms, to say ”All is not lost; we were defeated this time, but we will win at some time in the future, and we should wait for our turn.” And if everyone makes the same calculation, then everyone obeys the current rulers while waiting for their turn to rule. As Bobbio (1984: 116) put it, “democracy is a set of rules ... for the solution of conflicts without bloodshed” (See also Popper 1962: 124 and Przeworski 1999). The genius of representative government is that it enables conflicting groups to think in intertemporal terms, to wait for their chance to be represented respecting the verdict of the polls while they wait. Yet this magic may not work under all conditions. Poor people may be unwilling to wait (Benhabib and Przeworski 2005, Przeworski 2005). Moreover, while the Greeks assured that everyone would have an equal chance to rule by using lot and that the chance would materialize by keeping the terms in office short (Finley 1983, Hansen 1991), representative government offers no such assurances. Some people may have to wait forever. Indeed, in an unchanging electorate, in which children inherit the preferences of their grandparents, an accountable party would stay in office indefinitely. Hence, if parties did not slip up in representing their constituencies, some people, perhaps as many as a half, would be never represented. This possibility haunts democracy in ethnically divided societies (Chandra 2004). For alternation to be possible, that is, for 35 Calm it was not. Partisan divisions were perhaps more intense than at any other time. Indeed, probably at no other time in its history did the United States come as close to a coup d’etat as in 1800. For detailed accounts of these events, see Dunn (2004) and Weisberger (2004). Sala de Visitas 193 the chances of victory of particular alternatives to be uncertain, either individual preferences must be changing or the incumbents must err in representing them. 6. Representation and Self-Government Majority rule does satisfy Kelsen’s criterion of maximizing the number of people who live under the laws they like. Kelsen (1988: 19) posits the following theorem: There is only one idea which leads in a reasonable way to the majoritarian principle: the idea that, if not all individuals, at least the largest possible number of them should be free, said differently that the social order should be in contradiction with the will of the smallest number of people possible.... Absolute majority represents here really the superior limit. If it were not required, it could happen that the number of adversaries of a social rule would be, at the moment when it was proclaimed, larger than the number of its partisans; if one required more, then a minority could, obstructing the modification of a rule, determine social order against the will of a majority. This theorem was proved formally by Rae (1969) and generalized by Taylor (1969). Rae seems to have been unaware of Kelsen’s argument and used a different language: what for Kelsen was “autonomy,” for Rae became the criterion of “political individualism.” But the intuition is the same: the virtue Rae (1969: 42) claims for majority rule is that it “will optimize the correspondence between individual values and collective policies.” Yet representation is not the same as self-government. Following Rousseau, Kelsen (1949: 284) claimed that ”Politically free is he who is subject to a legal order in the creation of which he participates.” But as long as I live under a social order which I would choose, why does it matter that I did choose it, that is, that I did something that caused it to prevail? One could argue, à la Sen (1988), that being an active agent, a chooser, has an autonomous value for us, that a result obtained by my actions is more valuable to me than the same result generated independently of them.36 But why would it matter that I had voted for it rather than just observed that a coin landed on the side I prefer? It cannot be a causal difference: the probability that my vote matters is miniscule 36 Sen’s classical example is “starving vs. fasting.” Whether I starve or fast, I consume the same number of calories. But starving is not a matter of choice, while fasting is, and Sen sees choosing as valuable in itself. On the value of choosing under democracy, see Przeworski (2003). 194 Cadernos ASLEGIS | 50 • Setembro/Dezembro • 2014 in any large electorate. From an individual point of view, the outcome of an election is a flip of a coin; it is independent of one’s action. A government is representative not when each voter has causal influence on the final result, but when the choice of government is a result of aggregating individual wills.37 The value of voting rests in the ex post correspondence between the laws everyone must obey and the will of a majority: selecting governments by elections does maximize the number of people who live under laws to their liking even if no individual can treat these laws as a consequence of his or her choosing. Thus people may value voting as a procedure for making collective choices while at the same time seeing their own vote as ineffective. But can people effectively influence government decisions between elections? Can they, in Dahl’s (1966: xix) words, embark on “a deliberate course of action intended to modify the conduct of the government.”? It is easy to believe that to the extent to which expressions of public opinion portend electoral reactions to the particular policies, anticipating retrospective judgments at the time of elections, incumbents may modify them so as to maximize their chances to be re-elected. To this extent, therefore, sporadic reactions of public opinion, whatever forms they assume, influence government policies (particularly if the polls show majority opposition to these measures). But, other than referendums, our representative systems have no institutional mechanisms to guarantee that the opposition be heard, lest prevail, however intense it might be. Moreover, governments are not passive listeners: they have and they use an extensive repertoire of instruments to influence opinions, promoting some and stifling others. When a president accuses opponents of the war he initiated of undermining the troops in the field, when he questions the ”patriotism” of people who merely oppose his policy, he is claiming that this opposition is not legitimate. The issue is not about rights: at least during the second half of the twentieth century, the rights to speak and associate became axiomatically attached to democracy. But rights are not enough: the right to speak is not sufficient for the effective possibility to speak in public. Public speech is costly; it is not free but always sponsored speech, sponsored either commercially or by the government. And even if the people speak, perhaps by just spilling on to the streets, what compels the government to listen? Normative issues are also opaque. Does the government elected by a majority have a general obligation to be responsive to a minority? Does the government have an obligation not to pursue particular policies that 37 I owe this formulation to Ignacio Sánchez-Cuenca. Sala de Visitas 195 are opposed by a majority of public opinion? (as proponents of abrogative referendums would want it). Should governments accommodate objections that are particularly intense even if minoritarian? After all, parties propose policies in electoral campaigns and voters choose platforms. Should the parties renege on them whenever some minority, even an intense one, opposes them? Does not a defeat in an election impose an obligation on the minority to accept the policies of the elected government? Should one not think, as did J. McGurk, the Chairman of the Labour Party in 1919, that We are either constitutionalists or we are not constitutionalists. If we are constitutionalists, if we believe in the e¢cacy of the political weapon (and we do, or why do we have a Labour Party?) then it is both unwise and undemocratic because we fail to get a majority at the polls to turn around and demand that we should substitute industrial action? (cited in Miliband 1975: 69) All I can say is that without effective participation in between elections, representation is not the same as self-government. And in modern democracies, Kelsen (1988: 35) was forced to concede, “political rights – which is to say liberty – are reduced in the essential to a simple right to vote.” References Alesina, Alberto. 1988. ”Credibility and Convergence in a Two-Party System with Rational Voters.” American Economic Review 78: 796805. Anderson, Perry. 1977. ”The Antinomies of Antonio Gramsci.” New Left Review 100 : 5-78. Arrow, Kenneth A. 1951. Social Choice and Individual Values. New Haven: Yale University Press. Ball, Terence. 1989. ”Party.” In Terence Ball, James Farr, and Russel L. Hanson (eds.), Political innovation and conceptual change. Cambridge: Cam¬bridge University Press. Pages 155-176. Beitz, Charles R. 1989. Political Equality. Princeton: Princeton University Press. Benhabib, Jess, and Adam Przeworski. 2005. “The political economy of redistribution under democracy.” Economic Theory. 196 Cadernos ASLEGIS | 50 • Setembro/Dezembro • 2014 Berlin Isaiah. 2002. Liberty. Edited by Henry Hardy. Oxford University Press. Bolingbroke, Henry Saint-John Viscount. 2002 [1738]. ”The Patriot King and Parties.” In Susan E. Scarrow (ed.), Perspectives in Political Parties. New York: Palgrave Macmillan. Pages 29-32. Buchanan, James M. and Gordon Tullock. 1962. The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy. Ann Arbor: University of Michigan Press. Burke, Edmund. [1774]. ”Speech to the Electors of Bristol.” Berlin, Isaiah. 2002. Liberty. Edited by Henry Hardy. Oxford: Oxford University Press. Bobbio, Norberto. 1987. Democracy and Dictatorship. Minneapolis: Uni¬versity of Minnesota Press. Bobbio, Norberto. 1989. The Future of Democracy. Minneapolis: University of Minnesota Press. Chandra, Kanchan. 2004. Why ethnic parties succeed : patronage and ethnic head counts in India. Cambridge, MA: Cambridge University Press. Cohen, Joshua. 1989. ”The Economic Basis of Deliberative Democracy.” Social Philosophy & Policy 6: 25-50. Coleman, Jules. 1989. “Rationality and the justification of democracy.“ In Geoffrey Brennan and Loren E. Lomasky, eds. Politics and Process: 194-220. New York: Cambridge University Press. Condorcet. 1986 [1785]. ”Essai sur l’application de l’analyse a la probabilité des décisions rendues a la pluralité des voix.” In Sur les élections et autres textes. Textes choisis et revus par Olivier de Bernon. Paris: Fayard. Pages 9-176. Dahl, Robert A. 1966, Introduction. In: Regimes and Oppositions. New Haven: Yale University Press. Dahl, Robert A. 1971. Polyarchy: Participation and Opposition. New Haven: Yale University Press. Dahl, Robert A. 1989. Democracy and Its Critics. New Haven: Yale University Press. Artigos & Ensaios 197 Descombes, Vincent. 2004. Le Complément De Sujet: Enquête sur le fait d’agir de soi-même. Paris: Gallimard. Downs, Anthony. 1957. An Economic Theory of Democracy. New York: Harper and Row. Dunn, Susan. 2004. Jefferson’s Second Revolution: The Election Crisis of 1800 and the Triumph of Republicanism. Boston: Houton Mifflin. Finley, M.I. 1983. Politics in the Ancient World. Cambridge: Cambridge University Press. Gandhi, Jennifer. 2004. Dictatorial Institutions. Ph.D. Dissertation. De¬partment of Politics, New York University. Garrido, Aurora. 1998. “Electors and Electoral Districts in Spain, 1874¬1936.” In Raffaele Romanelli (ed.), How Did They Become Voters? The History of Franchise in Modern European Representation. The Hague: Kluwer. Pages 207-226. Gramsci, Antonio. 1971. Prison Notebooks. Edited by Quintin Hoare and Geoffrey Nowell Smith. New York: International Publishers. Hansen, Mogens Herman. 1991. The Athenian Democracy in the Age of Demosthenes. Oxford: Blackwell. Heinberg, John Gilbert. 1926. ”History of the Majority Principle.” American Political Science Review 20: 52-68. Heinberg, John Gilbert. 1932. ”Theories of Majority Rule.” American Political Science Review 26: 452-69. Hofstadter, Richard. 1969. The Idea of the Party System: The Rise of Legitimate Opposition in the United States, 1780-1840. Berkeley: University of California Press. Holmes, Stephen. 1995. Passions and Constraints: On the Liberal Theory of Democracy. Chicago: University of Chicago Press. Hume, David. 2002 [1742]. ”Of Parties in General.” In Susan E. Scarrow (ed.), Perspectives in Political Parties. New York: Palgrave Macmillan. Pages 33-36. Hume, David [1793]. “Of the Independency of Parliament”. In: Hume. Essays and Treatises on Several Subjects, containing Essays, Moral, Political, and Literary. Edinburgh: Vol.I.. Pages 49-53. 198 Cadernos ASLEGIS | 50 • Setembro/Dezembro • 2014 Kant, Immanuel. 1891 [1793]. ”The Principles of Political Right,” In Kant’s Principles of Politics. Edited and translated by W. Hardie, B.D. Edinburgh: T&T. Clark. Kelsen, Hans. 1988 [1929]. La Démocratie. Sa Nature-Sa Valeur. Paris: Economica. Kelsen, Hans. 1949. General Theory of Law and State. Cambridge, MA: Harvard University Press. Ketcham, Ralph (ed.) 1986. The Anti-Federalist Papers and the Constitutional Convention Debates. New York: Mentor Books. Laslett, Peter. 1988. ”Introduction” to Locke. Two Treaties of Government. Cambridge: Cambridge University Press. Lavaux, Philippe. 1998. Les grands démocraties contemporaines. 2nd edi¬tion. Paris: PUF. López-Alves, Fernando. 2000. State Formation and Democracy in Latin America, 1810-1900. Durham: Duke University Press. Madison, James. 1982 [1788]. The Federalist Papers by Alexander Hamilton, James Madison and John Jay. Edited by Gary Wills. New York: Bantam Books. Manin, Bernard. 1997. The Principles of Representative Government. Cam-bridge: Cambridge University Press. MazaValenzuela,Erika.1995. ”Catolicismo, Anticlericalismo y la Extensión del Sufragio a la Mujer en Chile.” Estudios Politicos 58: 137197. Miliband, Ralph. 1975. Parliamentary Socialism: A Study in the Politics of Labour. 2nd edn. London: Merlin Press. Mill, John Stuart. 1991 [1857]. Considerations on Representative Government. Cambridge: Cambridge University Press. Montesquieu. 1995 [1748]. De l’esprit des lois. Paris: Gallimard. Neves, Lúcia Maria Bastos P. 1995. ”Las elecciones en al construcción del imperio brasileño: los límites de una nueva práctica de la cultura politica lu-sobrasileña 1820-1823.” In Antonio Annino (ed.). Historia de la elecciones en Iberoamérica, siglo XIX. México: Fondo de Cultura Económica. Pages381-408. Sala de Visitas 199 Paine, Thomas. 1989 [1776-1794]. Political Writings. Edited by Bruce Kuklick. Cambridge: Cambridge University Press. Pasquino, Pasquale. 1998. Sieyes et L’Invention de la Constitution en France. Paris: Editions Odile Jacob.. Popper, Karl. 1962. The Open Society and Its Enemies. London: Routledge and Kegan Paul. Przeworski, Adam. 1991. Democracy and the Market. New York: Cambridge University Press. Przeworski, Adam. 1998. ”Deliberation and Ideological Domination.” In Jon Elster (ed.), Deliberative Democracy. New York: Cambridge University Press. Pages 140-160. Przeworski, Adam. 1999. ”Minimalist Theory of Democracy: A Defense.” In Ian Shapiro and Casiano Hacker-Cordon (eds.), Democracy’s Value. Cambridge: Cambridge University Press. Przeworski, Adam. 2003. ”Freedom to choose and democracy.” Economics and Philosophy 19: 265-79. Przeworski, Adam. 2005. “Democracy as an Equilibrium.” Public Choice 123: 253-273. Przeworski, Adam. 2006. ”Self-Sustaining Democracy.” In Donald Wittman and Barry Weingast (eds.), Oxford Handbook of Political Economy. New York: Oxford University Press. Rakove, Jack N. 2002. James Madison and the Creation of the American Republic. Second Edition. New York: Longman. Rae, Douglas W. 1969. ”Decision Rules and Individual Values in Constitu¬tional Choice.” American Political Science Review 63: 4056. Rosanvallon, Pierre. 2004. Le Modèle Politique Français: La société civile contre le jacobinisme de 1789 á nos jours. Paris: Seuil. Rousseau, Jean-Jacques. 1964 [1762]. Du contrat social. Edited by Robert Derathé. Paris: Gallimard. Sabato, Hilda. 2003. ”Introducción,” in Sabato (ed.), Ciudadanía política y formación de las naciones: Perspectivas históricas de América Latina. Mexico: El Colegio de Mexico. Pages 11-29. 200 Cadernos ASLEGIS | 50 • Setembro/Dezembro • 2014 Scarrow, Susan E. Ed. 2002. Perspectives in Political Parties. New York: Palgrave Macmillan. Schmitt, Carl. 1988 [1923]. The Crisis of Parliamentary Democracy. Cambridge, MA: MIT Press. Schumpeter, Joseph A. 1942. Capitalism, Socialism, and Democracy. New York: Harper&Brothers. Sen, Amartya. 1988. ”Freedom of Choice: Concept and Content.” European Economic Review 32: 269-94. Shklar, Judith. 1979. ”Let us not be hypocritical”. Daedalus, Vol. 108, No. 3, Hypocrisy, Illusion, and Evasion (Summer, 1979), pp. 1-25. Sieyes, Emmanuel. 1970 [1789]. Qu’est-ce que le tiers état? Edited by Roberto Zapperi. Genève: Droz. Simmel, Georg. 1950 [1908]. The Sociology of Georg Simmel. Translated, edited, and with an introduction by Kurt H. Wolff. New York: Free Press. Stone, Geoffrey R. 2004. Perilous Times. New York: W.W. Norton. Taylor, Michael. 1969. ”Proof of a Theorem on Majority Rule.” Behavioral Science 14: 228-31. Urfalino, Philippe. 2005. ”La decision par le consensus apparent: descrip¬tion et propriétés.” Unpublished paper. Paris: CESTA/ EHESS-CNRS. Washington, George. 2002 [1796]. ”Farewell Address to Congress.” In Susan E. Scarrow (ed.), Perspectives in Political Parties. New York: Palgrave Macmillan. Pages 45-50. Weisberger, Bernard A. 2000. America Afire: Jefferson, Adams, and the First Contested Election. New York: HarperCollins Publishers. Sala de Visitas 201 Resenha Tu carregas meu nome – A herança dos filhos de nazistas notórios Norbert Lebert, Stephan Lebert Record, 2004, Rio de Janeiro Por: Luiz Mário Ribeiro Silva Resenha 203 Tu carregas meu nome – A herança dos filhos de nazistas notórios Norbert Lebert, Stephan Lebert Record, 2004, Rio de Janeiro Por: Luiz Mário Ribeiro Silva Nomes como Rudolf Hess, Heinrich Himmler e Hermann Göering são bastante conhecidos por aqueles que têm interesse pela história da Segunda Guerra Mundial, e frequentemente são associados às atrocidades e aos crimes de guerra cometidos pelo regime nazista. Mas um aspecto pouco sabido da vida desses homens é que eles foram também maridos, pais, e que, frequentemente, em seu círculo de relacionamentos privados, passavam a imagem de “um chefe de família bom e amoroso”. Ao final da guerra, alguns desses homens são presos e julgados em Nuremberg, outros se suicidam, mas para suas famílias a vida continua. Em 1959, quatorze anos depois, Norbert Lebert, jornalista alemão, sai em busca dos filhos de seis desses notórios nazistas, e os entrevista: qual a imagem que esses jovens têm de seus pais? Como conviviam com o fantasma dos crimes cometidos à época da guerra? Quais as consequências de carregarem um sobrenome tão conhecido, ou mesmo infame? A matéria produzida por Norbert foi publicada na revista alemã Weltbild, e por si só já despertaria grande interesse. Mas a história não terminou por aí. Em 1999, quarenta anos depois, o jornalista Stephan Lebert, filho de Norbert nascido em 1961, lê pela primeira vez o texto de seu pai, aquele sobre o qual “em família falava-se bastante (...) mas as referências ao seu conteúdo eram muito vagas”. Seu pai havia falecido em 1993, e lhe deixara as 148 páginas do original da reportagem. Coincidentemente, na mesma época um colega de profissão comenta-lhe que está investigando uma organização secreta chamada “Stille Hilfe”, que ajuda antigos nazistas. Dentre os colaboradores da organização estava Gudrun Burwitz, nome de casada de Gudrun Himmler, uma das entrevistadas por seu pai. Assim, movido por uma série de coincidências, Stephan decide refazer os mesmos passos de seu pai, e entrevista aquelas mesmas pessoas que seu pai entrevistara. Mas não são apenas as coincidências que o movem: percebe-se que o tema afeta também a família Lebert. Sobre seu próprio pai, Stephan escreve: “Meu pai foi um fervoroso adepto da Juventude Hitlerista, chegando a líder de uma pequena seção da JH em Munique (...). Ele contava que sentiu a derrocada, em 1945, não como uma libertação, mas como uma derrota. E jamais usou a justificativa de ter sido demasiado jovem. Não, dizia ele, não há a menor dúvida de que se o fim da guerra fosse outro eu teria feito carreira junto aos nazistas. ‘Meu Deus, o que teria sido de mim?’ “. Resenha 205 O resultado é um livro único, tanto pelas pessoas entrevistadas quanto pelas comparações e conclusões a que permite chegar. Para os aficionados a temas relacionados ao maior conflito da história da humanidade, é uma obra incomparável. 206 “Em qualquer terapia é muito importante saber quando o paciente teve um pai que negou ao filho uma escolha profissional. E quais as consequências se o papai ou o vovô foram criminosos?” Cadernos ASLEGIS | 50 • Setembro/Dezembro • 2014 Vária Palavra • JK, Muito além da política Edmilson Caminha • Esquerda, direita, esquerda, direita: sentido? Alessandro Gagnor Galvão 207 JK, MUITO ALÉM DA POLÍTICA Edmílson Caminha Houve uma época em que homens de cultura honravam a política brasileira. Não evoco José Bonifácio de Andrada e Silva, o Imperador Pedro II, José de Alencar, Joaquim Nabuco e Rui Barbosa, mas os que nos são mais próximos, como José Américo de Almeida, Gilberto Amado, Afonso Arinos de Melo Franco, Artur da Távola e Juscelino Kubitschek, que deixo para o fim apenas porque é dele que vou falar. Nascido na mineira Diamantina, em 1902, aos 25 anos é concludente da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. Vai para Paris especializar-se em urologia e saber mais das letras, das artes e da história com que ocupa o tempo livre. A melhor expressão dessa riqueza cultural é a esplêndida biblioteca particular que formou ao longo da vida, aberta aos visitantes do Memorial JK, em Brasília. Prefeito de Belo Horizonte, governador de Minas, presidente da República, em 1964 o general Castello Branco lhe cassa o mandato de senador pelo estado de Goiás e os direitos políticos por dez anos. Em 1967, torna-se diretor presidente do conselho administrativo do Banco Denasa de Investimentos, do qual é um dos fundadores. Em junho de 1974, elege-se para a Academia Mineira de Letras, e dois meses depois, no dia 12 de setembro, anota no diário íntimo, que continua inédito: “Faço hoje, incrivelmente, 72 anos. Sinto-me espiritualmente com a idade de 30. Nenhuma ferrugem na alma nem na vontade. As declarações e os sofrimentos da revolução não conseguiram quebrar a fibra íntima. Sinto-me ainda capaz de grandes aventuras, tais como Brasília. Esta graça Deus conferiu-me. Se não me permite ver o mundo num halo de esperança, também não o fechou nas trevas da desilusão. Compreendo os homens. São seres que não atingiram ainda o status profetizado por Teilhard de Chardin – a igualdade com Deus. Estão numa escala que exigirá ainda milênios ou bilênios para chegarem ao aperfeiçoamento. Sei, portanto, perdoar as falhas. De vez em quando uma ingratidão mais forte desequilibra a nossa crença. Com o tempo a refazemos.” No dia seguinte, JK responde à carta em que o jovem Amadeu Guimarães, presidente da comissão de formatura da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora, dá-lhe ciência de que a turma o elegera paraninfo. O homenageado agradece, comovido: “Creia-me, e falo sinceramente, que a emoção foi das maiores que jamais até então experimentei”. Não poderá, no entanto, aceitar o convite, pois Vária Palavra 209 estará fora do Brasil em dezembro. Escolheu-se, então, um novo paraninfo, o professor Hilton Rocha, referência da oftalmologia brasileira. Em 30 de setembro, Juscelino volta a escrever, agora a todos os formandos, para reiterar-lhes o pedido de desculpas e dizer: “Uma festa de estudantes sempre me cala ao coração, e em se tratando de doutorandos de Medicina, o meu interesse se redobra, porque equivaleria a debruçar-me numa janela e rever o passado: viver com meus amigos os momentos imorredores de emoção que também eu, há tanto tempo, experimentei.” Confiante em que a carta será lida para os presentes à colação de grau, agradece aos que não o esqueceram: “Gostaria, mais, de manifestar de público e de viva voz, na calorosa atmosfera juiz-de-forana, a minha gratidão àqueles que vieram buscar[-me] no refúgio de minhas atividades para participar dessa gala coletiva, que é o momento culminante em que sonhos e visões de tantos anos se concretizam, numa cerimônia permanente e inolvidável. Nesse momento, porém, defiram-me um conselho: sejam bons, e que suas atitudes se inspirem na grandeza dos corações e na pureza dos gestos.” Formado há 47 anos, como que revive o momento que não se apagou da lembrança: “Imagino a majestade do espetáculo – além da pompa a alegria, jorrando de semblantes que se extasiam na significação desse ato: a colação do grau de médico. E assume um compromisso: “Tão logo, no entanto, regresse do exterior, vou visitar a Escola de Medicina de Juiz de Fora, rever a cidade – e estou certo de que, na faculdade que ora deixam, encontrarei a marca dos que a cursaram com amor e proveito, e tão alto a souberam elevar.” Saúda os novos colegas com o pedido de que “Deus os cubra a todos de bênção”, para depois assinar-se, “do amigo e padrinho, Juscelino Kubitschek.” Meses depois, em 1975, candidata-se à Academia Brasileira de Letras, e no terceiro escrutínio perde, por apenas dois votos, para o romancista e contista goiano Bernardo Élis. A derrota faz doer, mas não o vence. Preparada a tradicional recepção para confraternizar com acadêmicos e amigos, ouve ao telefone que perdera a disputa. Recompõe-se imediatamente, abre o sorriso famoso e diz: “Vamos virar essa página”, enquanto abraça a filha Maria Estela e sai dançando, como se fosse ele o ganhador. E era. Esse, o Juscelino Kubitschek que enobreceu o Brasil e dignificou a política brasileira, pela generosidade humana, pela grandeza da cultura, pelo refinamento intelectual e pela alegria de viver, capaz, como escreveu Fernando Sabino, de fazer da queda um passo de dança... 210 Cadernos ASLEGIS | 50 • Setembro/Dezembro • 2014 Esquerda, direita, esquerda, direita: sentido? Alessandro Gagnor Galvão* “Dê seta para a esquerda, mas vire para a direita!” (Juan Domingo Perón) Roubar bancos ou a Petrobras para financiar a revolução justifica-se, para alguns, pela suposta superioridade moral da “esquerda”. O debate é empobrecido ao utilizar como categoria principal a distinção imprecisa direita / esquerda, que no Brasil opôs direitistas e esquerdistas similarmente militaristas, estatistas, nacionalistas e antidemocráticos. No Ocidente, as ditaduras, até a década de 1950, foram exclusivamente de “direita”. Assim, o esquerdismo associava-se ao novo, ao progresso, à destruição da ordem antiga. A afiliação à esquerda poderia ser assim justificada: 1. O homem é naturalmente bom, a sociedade o torna mau (Rousseau); 2. O capitalismo é inerentemente mau (Marx); 3. O socialismo é a superação da maldade capitalista (marxistas). Conclusão: a esquerda é boa. O encadeamento de livres-associações levaria a pensar, na pior das hipóteses, no estalinismo, menos estigmatizado como negativo do que o nazismo, apesar de objetivamente ter matado muito mais gente, e em tempos de paz. Embora Rousseau, Marx e os marxistas tenham uma reflexão muito mais aprofundada e matizada, para efeitos de reforço da afiliação ideológica a regra acaba sendo a simplificação: 1+2+3 = esquerda é o bem. Ou A+B+C = o Botafogo é melhor do que o Flamengo. Ou X+Y+Z = meu país, bairro, Estado, religião ou cidade é incomparavelmente melhor do que qualquer rival. “Lógico”. Ou seja: o conteúdo concreto da realidade subordina-se ao esquema que a explica. Grande parte dos esquerdistas defende um controle maior do Estado sobre o mercado, indivíduos e moral; portanto, classificar a esquerda como “libertária” pode ser um vício equivocado. Ainda assim, mesmo estalinistas proclamam-se libertários. O socialista Mussolini adotou como símbolo o fascio, feixe de gravetos amarrados em torno de um machado: a união faz a força. Símbolo de poder dos magistrados da Roma Antiga: união do povo em torno da justiça estatal. “Tudo no Estado, Vária Palavra 211 nada fora do Estado, nada contra o Estado” – lema fascista, seguidor do comunismo ao rejeitar o individualismo – associado, por ambos os totalitarismos, aos valores e liberdades burguesas, antagonistas da igualdade e da fraternidade. Louis Dumont, no livro “Homo Hierarchicus”, aponta o individualismo como ideologia das sociedades modernas, em oposição às sociedades tradicionais, holistas, onde o indivíduo considera primeiro seu lugar na sociedade, e só depois sua individualidade. Nas sociedades tradicionais o destino individual vê-se como subordinado, e não superior, à classe, sexo, “raça” ou faixa etária a que pertence. No comunismo, assim como no nazifascismo ou nas teocracias, a fraternidade de classe, raça, corporação, religião ou pátria é mais importante, ideologicamente, do que o julgamento ou aspirações individuais. Segundo Dumont, numa sociedade individualista, uma proposta holista (como o comunismo, o nazifacismo ou as teocracias) só pode ser imposta por vias autoritárias. O comunismo “utópico” continua a ter uma força de novidade e positividade que é negada, porém, ao nazifascismo “utópico”. Embora a utopia sindical-corporativa peronista ou getulista não difira muito, na origem e na prática, das utopias nazifascistas, esses trabalhistas geralmente se classificam como “esquerdistas”. O comunismo é mais aceito do que o nazifascismo. Provavelmente, o quadro se inverte em países vindos de ditaduras “esquerdistas”. Os EUA, que nunca tiveram uma ditadura caracterizada como de esquerda ou direita, permitem marginalmente tanto os partidos comunistas quanto os nazifascistas. O antagonismo simplista e pré-consciente entre direita e esquerda não resiste a um pouco de raciocínio. O antissemitismo nazista apresentou-se como combate aos financistas parasitários, apoiado pelo conceito marxista de luta de classes. “Esquerdistas” apoiaram a teocracia iraniana. O respeito à ecologia, ou aos direitos civis, revelou-se muito menor nos países socialistas. O General “direitista” que tomou o poder no Peru no contexto da Guerra Fria instaurou o voto feminino, e reformas educacionais e sociais “progressistas”. Similarmente, o fascismo nasceu pregando o voto feminino e a redução da jornada laboral, e o programa nazista previa a reforma agrária, a educação dos mais pobres e a proteção aos mais idosos. Em nome dos ideais de esquerda / direita, ou da proteção contra esses ideais, países trocaram a democracia e o liberalismo de mercado pelo autoritarismo. Os argumentos, à esquerda e à direita, são a proteção da democracia e da economia, mas levam ao sentido oposto – ao qual já se ia, se acreditarmos no determinismo de forças superiores às marolas ideológicas: a geopolítica e a macroeconomia global. Exemplo: quando há baixa demanda por commodities, pioram os termos de troca e o poder aquisitivo da população brasileira, independentemente de se o Governo é autoritário ou democrata, esquerdista ou direitista. Da mesma forma, fenômenos 212 Cadernos ASLEGIS | 50 • Setembro/Dezembro • 2014 demográficos (como a redução da natalidade ou a migração em massa do interior para as cidades) causam bônus ou déficits nas contas de um país. Governos frequentemente trocam a racionalidade impopular pela irracionalidade populista: distribuir, para ricos e pobres, em forma de corrupção ou benesses insustentáveis, parte da liquidez, crédito ou potencialidade pública. Esses favores resultam em fuga ou entesouramento de capital. Ou no “rentismo”: financiar Governos deficitários, cobrando juros altíssimos. Resultado: queda dos investimentos produtivos, gerando escassez, inflação e aumento da pobreza em médio prazo. A solução, sem os bons ventos macroeconômicos, tende a ser o economicismo (“neoliberalismo”), ou o rompimento da ordem institucional, pela esquerda ou pela direita. Segundo Norberto Bobbio, a esquerda tenderia a valorizar a igualdade, e a direita, a liberdade. Bobbio crê que o autoritarismo independa dessas variáveis, mas teóricos liberais apontam a falta de liberdade econômica como indicador da falta de outras liberdades burguesas: imprensa, reunião e opinião, reguladas pelo Estado em nome de uma utópica trajetória em direção à igualdade. Esse, o modelo comunista. Fato: as liberdades burguesas confundem-se com as liberdades civis. A democracia e a justiça burguesas são mais democráticas do que suas congêneres “proletárias”, “nacionalistas” ou “revolucionárias”. Dizer que a ditadura do proletariado é um tipo mais avançado de democracia é “novilíngua”, denunciada por Huxley. Lênin propôs um partido único como vanguarda do proletariado, fórmula adotada pelo ex-socialista Mussolini e pelo Partido dos Trabalhadores alemão, que ganhou de Hitler os adjetivos “socialista” e “nacionalista”. Comunistas e nazifascistas denunciam as liberdades burguesas, e cultuam “líderes populares”. A diferença fundamental entre essas ideologias, se existe, deveria ser buscada, em termos marxistas, nos meios de produção, que no nazifascismo permaneceriam particulares, como no capitalismo. Ocorre que nos regimes autoritários dificilmente há empreendimento independente da interferência do Estado. Ou seja, a diferença essencial entre comunismo e nazismo, do ponto de vista do modo de produção, não é relevante. As democracias liberais diferem mais do fascismo do que o fascismo difere do comunismo, inclusive no quesito supostamente essencial à esquerda, a maior igualdade na distribuição de renda ou poder. A diferença no acesso aos bens e serviços entre a elite e a base da sociedade é maior em Cuba, ou na Venezuela, do que na Suécia, ou no Chile. Em Cuba, o oligarca tem poderes judiciários, inclusive de condenação à morte, que o rei sueco não tem. Na Venezuela, as filhas do fundador do Estado Bolivariano continuaram a morar no palacete oficial após a morte dele, algo inimaginável no Chile. Vária Palavra 213 Vargas e Perón: de admiradores do fascismo a ícones da esquerda, e seus sucessores, neoliberais de esquerda e neotrabalhistas de direita O peronismo, nacionalista, é “bolchevique”, do ponto de vista de sua democracia centralizada e desconfiada das liberdades burguesas. Getúlio e Perón apoiaram e copiaram estados nazifascistas. Mas Guevara nomeava “oásis” a Argentina peronista, assim como o México do PRI, basicamente por causa do antiamericanismo compartilhado. Marianne Le Pen, da extrema direita francesa, admira Perón e a extrema esquerda grega, unidos pelo antiliberalismo. Le Pen descreve-se como porta voz dos “esquecidos”. A defesa dos “descamisados”, inclusive usando essa mesma palavra do vocabulário mobilizador peronista, foi feita pelo “direitista” Fernando Collor, suposto inimigo das elites, tal como seu aliado, Lula. Le Pen pretende reunir o povo contra a “oligarquia” de Bruxelas e da “Europa dos Bancos”. Fundadores dos Montoneros, milícia peronista, dividiram-se em extremistas de esquerda e direita, nos anos 1960. D. Helder Câmara, depois chamado de “bispo vermelho”, havia sido membro do movimento integralista, de inspiração fascista. O patrimonialismo e cartorialismo brasileiros flertaram com o liberalismo antes de Getúlio, e se tornaram francamente antiliberais sob sua ditadura Liberalizaram-se novamente na democracia seguinte, voltando ao antiliberalismo em 1964. O estatismo atingiu seu ápice com Geisel, levando à crise da dívida dos anos 1980, e à redemocratização. Movimento semelhante ocorreu em vários países vindos de ditaduras direitistas, e de ditaduras esquerdistas ainda mais antiliberais. O Chile tornou-se neoliberal na década de 1970, com Pinochet. Nos anos 1990, quase toda América Latina passou a seguir essa tendência, simplesmente por não ter mais a opção de adiar as reformas. Nem a posterior eleição dos socialistas chilenos mudou isso: eles privatizaram o sistema previdenciário. Mesmo o peronismo dos anos 1990 surpreendeu ao abrir e privatizar ferozmente a economia. O peronismo, sempre categorizado por seu nacionalismo, vinculou o peso ao dólar, e ofereceu enviar tropas argentinas para o Iraque, para ajudar, ao lado da Inglaterra, um tradicional inimigo das esquerdas: os Estados Unidos. Sob a direção de Bush. Argentina e Brasil mantiveram suas moedas ancoradas ao dólar por tempo demais. O controle inflacionário degenerou em inviabilização das exportações. A insustentabilidade desse modelo evidenciou-se bruscamente com maxidesvalorizações cambiais, abrindo caminho para a... “esquerda”. Néstor Kirchner propôs, messianicamente, numa terminologia similar ao evolucionismo marxista, “uma etapa superior do peronismo”. Continuou favorecendo empresários amigos e perseguindo opositores, apoiando-se no sindicalismo. Sua herdeira “controlou” ainda mais a economia, definindo metas de produção e inves- 214 Cadernos ASLEGIS | 50 • Setembro/Dezembro • 2014 timento, bem como países de onde as matérias primas serão importadas, e os preços a serem cobrados. Tenta dirigir a estratégia das empresas, e troca cargos públicos e subsídios por apoio político. A igualdade é antiliberal? Antes da Revolução, os indicadores de saúde e educação em Cuba já eram melhores do que no resto da América Latina. A taxa de mortalidade infantil era a terceira menor do mundo, o que indica acesso dos mais pobres ao sistema de saúde. Embora o liberalismo pré-Castro tenha contribuído para o progresso, ao estimular investimentos espanhóis e americanos, ele por si só não garantiu a igualdade econômica. Perfil demográfico, sistema tributário e investimentos em educação são mais importantes para diminuir as diferenças de renda entre os cidadãos. No Brasil do vintênio 1960-1980, o estatismo cresceu paralelamente ao aumento de desigualdade. Havia a proibição das reivindicações populares, mas o que explica o fenômeno, segundo Carlos Langoni, foram fatores demográficos e educacionais. A urbanização promovera um desenvolvimento acelerado, mas o Brasil, ao contrário da Ásia de vinte anos depois, não investiu na educação, causando demanda por mão de obra qualificada sem contrapartida de oferta. Resultado: aumento desproporcional dos salários dos escolarizados. Em 1960, a média de filhos por brasileira era 6, causando excesso de trabalhadores, remuneráveis com salários baixíssimos. A desigualdade atingiu seu ponto máximo no final da década de 80. A pobreza, até então decrescente apesar da desigualdade, passou a aumentar com a crise do modelo antiliberal. Programas de combate à pobreza começaram a ser concebidos, e implantados nos anos seguintes, paralelamente à continuidade do processo de diminuição do Estado, concluído em 1999, com a adoção do câmbio flutuante. A partir daí, sob FHC, as curvas de aumento do PIB e de melhora do índice da desigualdade têm seu ritmo estabelecido. O esquerdismo ainda é entendido como distribuidor de renda por meio de restrições à livre iniciativa e ao livre mercado. O bolivarianismo é antiliberal. Chávez considerava-se marxista e peronista, elegendo, como Perón fez inicialmente, o imperialismo estadunidense como inimigo externo. Mas o filofascista Perón criticava a Revolução Cubana, e com o tempo afastou-se da retórica antiliberal, atraindo nacionalistas, conservadores e “direitistas”. Ignorou, como Chávez, reformas tributárias ou educacionais. Na Argentina, Chile e Uruguai, a universalização do ensino público foi feita no início do século XX, sob governos “direitistas”, de forma consciente, como no caso argentino. Essa foi uma conquista estrutural para o enriquecimento e diminuição das desigualdades nesses países. O peronismo coincide com o início da decadência argentina. Vária Palavra 215 O conservadoríssimo Bismark implantou a aposentadoria no século XIX, a China comunista ainda não a tinha no século XXI. Kirchnerismo e lulismo apostaram, como Perón, basicamente em políticas equívocas dirigidas ao clientelismo sindical e empresarial. Desprezaram reformas tributárias distributivas, ou educacionais, consumindo irresponsável e criminalmente os capitais gerados pelo boom das commodities. Enquanto Lula criticava o oligopólio das empresas de mídia, patrocinava uma lei favorecendo o oligopólio no setor telefônico, ao mesmo tempo em que a imprensa denunciava que seu filho estaria ganhando milhões do principal beneficiado por esse oligopólio. Outros oligopólios foram favorecidos por empréstimos do BNDES (os “campeões nacionais”). De 1990 a 2002, a década “neoliberal”, a pobreza brasileira diminuiu de 48,4 para 43,9%, e a indigência, de 22,6 para 19,3%. Na década seguinte, a abertura do mercado chinês e indiano criou renda e a distribuiu nos países subdesenvolvidos, independentemente de seus governos serem de direita ou de esquerda. No Brasil, a pobreza e a indigência diminuíram ainda mais expressivamente do que antes: de 43,9 para 28,1%, e de 19,3 para 11,3%, respectivamente . As matérias primas que exportávamos foram sobrevalorizadas: entre 2000 e 2011 a China aumentou em 400% suas compras do Brasil. Simultaneamente, houve deflação no preço dos manufaturados que importávamos. As reformas liberais que na década anterior desorganizaram temporariamente a economia maturaram positivamente no primeiro mandato do Lula (embora sua retórica populista apontasse uma “herança maldita”). O fluxo de dólares derivado do boom de commodities e da abertura de mercados financiou programas sociais. O Chile neoliberal reduziu sua pobreza de maneira mais expressiva do que o Brasil, entre 1990 e 2008. Chilenos foram os primeiros a lograr os objetivos do milênio, da ONU. Sua primeira presidente socialista promoveu reformas “neoliberais”, como a previdenciária. No fim da década de 1990, frente à escassez de recursos, debatia-se, contra a “universalização” dos benefícios, a “focalização” nos mais necessitados, economizando-se 75% dos gastos sociais. A “esquerda” via essa ênfase na eficiência e na restrição como neoliberalismo. Em 2001, o PMDB, vice na chapa do PSDB à Presidência, encomendou propostas econômicas para estudiosos considerados “direitistas” por Serra. Outros economistas juntaram-se aos anteriores numa proposta apartidária chamada “Agenda Perdida”, buscando a eficiência das políticas sociais por meio do cadastro, monitoração e unificação dos programas de combate à pobreza. A “Carta ao Povo Brasileiro”, compromisso petista de não romper contratos, apelidada de “Carta aos Banqueiros”, não conteve a crise de liquidez causada pela perspectiva de eleição de Lula. O causador da crise foi eleito, e o Bolsa Família idea- 216 Cadernos ASLEGIS | 50 • Setembro/Dezembro • 2014 lizado pelos economistas liberais foi implantado, em lugar do mercadológico “Fome Zero”. Nos primeiros anos de PT, não se altera o modelo macroeconômico herdado, e garantido, no Banco Central, por um ex-banqueiro internacional peessedebista: Henrique Meirelles. Simultaneamente, intensificava-se o boom das commodities, e o excesso de crédito internacional facilitava as políticas assistencialistas antes vistas como direitistas, agora como esquerdistas. O PT pôde aumentar ou consolidar políticas originadas no Governo Sarney, e aliar-se “direitistas” como o próprio Sarney, Collor e Maluf. Vária Palavra 217 Notas Tomaram posse em 15 de janeiro de 2015 os consultores legislativos aprovados no concurso público realizado em 2014. A ASLEGIS parabeniza os novos colegas e deseja, a todos, sucesso no desempenho de suas funções. O consultor legislativo aposentado George Zarur lançou em maio de 2015 o livro “A Guerra da Identidade: Ensaios Latino-Americanos”. Em cinco ensaios, examina aspectos das identidades latino-americanas e da questão cubana. A ASLEGIS registra com grande pesar o falecimento do consultor legislativo Scipião Salustiano Botelho, ocorrido em 13 de julho de 2015, e solidariza-se com a dor dos familiares, amigos e colegas. Scipião atuou na área de direito do trabalho. A Consultoria Legislativa realizou no dia 10 de agosto de 2015, com o apoio da ASLEGIS, o evento “Proteção de dados pessoais: a experiência internacional e o caso brasileiro”, com a participação dos conferencistas Martin Abrahams, Jennifer Stoddart, Paula Bruening, José Alejandro Durana e Gustavo Artese. Acontecimentos As consultorias da Câmara dos Deputados, em parceria com a Consultoria Legislativa do Senado Federal, produziram um conjunto de artigos que foram reunidos no livro “Plano Nacional de Educação: construção e perspectivas”. A obra trata de algumas das 20 metas do PNE, com diferentes abordagens. Trata-se de uma tentativa de contribuir para a memória e para o debate atual. A publicação inclui também a íntegra da Lei nº 13.005/2014, que aprova o plano, e quadros com metas intermediárias para monitorar seu cumprimento. Os artigos são assinados por Ana Valeska Amaral Gomes, Tatiana Britto, Paulo de Sena Martins, Ricardo Martins, Cláudio Tanno, José Edmar Queiroz, João Monlevade, Marcelo Ottoni e Issana Rocha. Participações em eventos Em reunião do Conselho Nacional de Comandantes-Gerais das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares – CNCG-PM/CBM, realizada em São Paulo no dia 12 de março de 2015, o consultor legislativo Fernando Carlos Wanderley Rocha realizou a palestra “Desmilitarização das Polícias Militares e unificação de polícias – desconstruindo mitos”. O consultor legislativo Bernardo Estellita Lins teve o artigo “Veiculando mensagens benéficas e representações favoráveis de minorias: o jogo de espelhos no debate do controle social da mídia” aprovado para apresentação no XVII Congresso de Ciências da Comunicação na Região Centro-Oeste 2015, em Campo Grande – MS. Notas 221 Expediente A ASLEGIS – Associação dos Consultores Legislativos e de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados – é uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos, que congrega e representa os consultores legislativos e os consultores de orçamento e fiscalização financeira da Câmara dos Deputados. Promove seminários técnicos e organiza eventos de natureza cultural, social e desportiva para seus associados. Publica os Cadernos ASLEGIS com periodicidade quadrimestral, com o objetivo de veicular a produção intelectual de seus associados e de acadêmicos ou pessoas de destaque nas diversas áreas de especialização correlatas às atividades de consultoria legislativa e de orçamento e fiscalização financeira. A distribuição da publicação é gratuita e destina-se prioritariamente a bibliotecas, instituições de ensino e pesquisa, organizações não governamentais e instituições dos poderes legislativos federal, estaduais e municipais. A versão eletrônica integral dos Cadernos ASLEGIS encontra-se disponível na página da entidade na Internet (www.aslegis.org.br). Diretoria da ASLEGIS (biênio 2014/2015) PRESIDENTE: Paulo César Ribeiro Lima VICE-PRESIDENTE: Hélio Martins Tolini SECRETÁRIO-GERAL: Magno Antônio Correia de Mello TESOUREIRO: Cassiano Luiz Crespo Alves Negrão DIRETOR CULTURAL: Marcelo Barroso Lacombe DIRETOR SOCIAL: Fernando Carlos Wanderley Rocha DIRETOR JURÍDICO: Alexandre Sankievicz DIRETOR DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA: Fábio Luis Mendes CONSELHO FISCAL: Claudionor Rocha Roberto de Medeiros Guimarães Filho José Theodoro Mascarenhas Menck Conselho Editorial dos Cadernos ASLEGIS Ângelo Azevedo Queiroz Bernardo Felipe Estellita Lins Catarina Guerra Gonzalez Cursino dos Santos José Fernando Cosentino Tavares José Theodoro Mascarenhas Menck 225 Marcelo Barroso Lacombe Marcelo de França Moreira Márcia Rodrigues Moura Márcio Nuno Rabat Maria Aparecida Andrés Ribeiro Murilo Rodrigues da Cunha Soares Maurício Mercadante Alves Coutinho Paulo de Sena Martins Editor Marcelo Barroso Lacombe Coeditores convidados José Theodoro Mascarenhas Menck Bernardo Felipe Estellita Lins Ficha Técnica Projeto Gráfico e editoração: Racsow e Pablo Braz Capa e Ilustrações: Racsow Contato: [email protected] Site: www.aslegis.org.br Endereço: Caixa Postal nº 10.574 CEP: 71620-980 - Brasília(DF) Linha editorial Publicação quadrimestral, em versão impressa e eletrônica, da ASLEGIS – Associação dos Consultores Legislativos e de Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados, destinada à divulgação de artigos, ensaios, estudos analíticos e textos literários, preferencialmente inéditos. Os textos devem ser redigidos em português ou, se produzidos originalmente em outro idioma aceito (inglês, francês e espanhol), serão recebidos para publicação no original e na tradução para o português. A revista aceita a submissão de trabalhos gráficos e fotográficos para publicação, dentro das suas limitações gráficas e de formato. As opiniões expressadas são da exclusiva responsabilidade dos autores e não configuram posições da publicação ou da ASLEGIS. A distribuição é gratuita. Incentiva-se a permuta de publicações e o intercâmbio com outras instituições legislativas, do Brasil e do exterior. Estrutura da publicação A publicação constitui-se das seguintes seções: 1 - EM DISCUSSÃO 1.1 - APRESENTAÇÃO Breve exposição do editor. 1.2 – ESTUDOS E PESQUISAS 1.3 – ARTIGOS E ENSAIOS Colaborações de autoria de consultores legislativos e de orçamento e fiscalização financeira. 226 Cadernos ASLEGIS | 50 • Setembro/Dezembro • 2014 2 - SALA DE VISITAS Textos, entrevistas ou diálogos com colaboradores externos, convidados pelo Conselho Editorial. 3 - E MAIS... 3.1 – RESENHA 3.2 – VÁRIA PALAVRA Poesia, prosa e produção visual. Normas gerais para recebimento de contribuições Os artigos e ensaios devem ser redigidos em português e devem ser submetidos em formato .doc. Serão admitidos textos de até onze mil palavras, incluídas as referências bibliográficas. O texto deve ser precedido de resumo e palavras-chave em português e inglês. Textos da área de economia poderão ter indicação da classificação temática do Journal of Economic Literature (JEL). Pede-se que as referências bibliográficas respeitem o padrão ABNT. A publicação privilegia textos acadêmicos de orientação multidisciplinar, mas aceita ensaios de caráter especulativo em formato livre. As seções EM DISCUSSÃO e VÁRIA PALAVRA são fechadas, destinando-se a veicular contribuições de consultores legislativos e de orçamento e fiscalização financeira. O material recebido será previamente apreciado pelo editor e submetido à avaliação cega de dois revisores anônimos, que recomendarão acerca de sua aceitação. Os textos e imagens devem ser preferencialmente inéditos e o autor deve deter os direitos sobre sua cessão. A publicação implica na cessão não exclusiva à ASLEGIS do direito de divulgar o material nos Cadernos e no portal da entidade na Internet. A ASLEGIS não remunera contribuições recebidas para avaliação. 227 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. A reforna política A reforma administrativa A globalização A educação no Brasil A seca Ajuste fiscal e reforma tributária Instituições democráticas Políticas sociais Tema livre Telecomunicações/Violência Finanças públicas Condições de vida no Brasil As funções de controle do Poder Legislativo Dilemas dos estado brasileiro A montagem do discurso da paz Área de livre comércio das Américas – ALCA Tema livre De FHC a Lula: pontos para reflexão Tema livre Políticas setoriais Um olhar sobre o orçamento público Microeconomia Federalismo Utopias e outras visões Reformas: a pauta dp Congresso 26. 27. 28. 29. 30. Tema livre Tema livre Tema livre Tema livre II Seminário Internacional – Assessoramento institucional no Poder Legislativo 31. Tema livre 32. Tema livre 33. Reforma tributária 34. A cidade 35. A exploração do pré-sal 36. A crise 37. 120 anos de República e Federação 38. Mulher 39. Perspectivas e Debates para 2011 40. Desafios do Poder Legislativo (Artigos) 41. Desafios do Poder Legislativo (Seminário) 42. Tema livre 43. Funpresp 44. Tema livre 45. Rio+20: Relatos e impressões 46. Tema Livre 47. Tema Livre 48. 20 anos da Internet no Brasil (Parte I) 49. 20 anos da Internet no Brasil (Parte II) Cadernos ASLEGIS Números anteriores 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Setembro/Dezembro 2013 www.aslegis.org.br https://www.facebook.com/Aslegis https://twitter.com/aslegis [email protected] [email protected] 50 ASSOCIAÇÃO DOS CONSULTORES LEGISLATIVOS E DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Cadernos ASLEGIS ISSN 1677-9010 Set/Dez 2013 Democracia e Políticas Públicas 50
Download