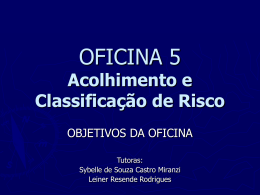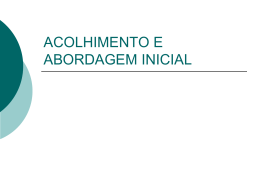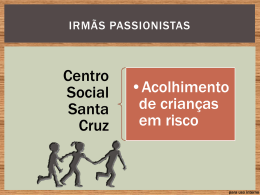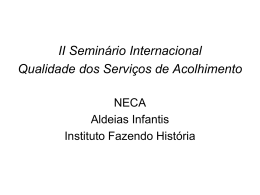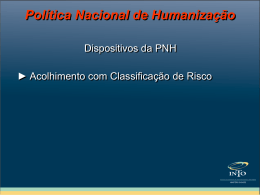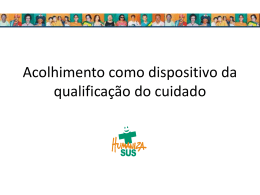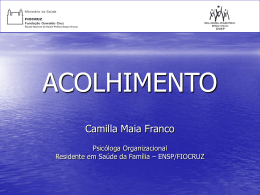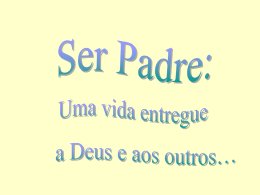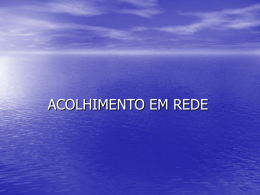UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ AMANDA BESEN DE ABREU MILENE DAIANA MARTINS O Acolhimento na Saúde da Família: percepções dos enfermeiros à luz da Política Nacional de Humanização Biguaçu 2008 AMANDA BESEN DE ABREU MILENE DAIANA MARTINS O Acolhimento na Saúde da Família: percepções dos enfermeiros à luz da Política Nacional de Humanização Monografia apresentada como requisito parcial para a obtenção do título de Bacharel em Enfermagem pela Universidade do Vale do Itajaí – Centro de Educação Superior Ciências da Saúde de Biguaçu – Curso de Graduação em Enfermagem. Orientadora: Msc. Felipa Rafaela Amadigi Biguaçu 2008 AMANDA BESEN DE ABREU MILENE DAIANA MARTINS O Acolhimento na Saúde da Família: percepções dos enfermeiros à luz da Política Nacional de Humanização Este Trabalho de Conclusão de Curso foi julgado adequado para a obtenção do título de Enfermeiro e aprovada pelo Curso de Enfermagem – Biguaçu, da Universidade do Vale do Itajaí, Centro de Ciências da Saúde. Área de Concentração – Ciências da Saúde Biguaçu, 08 de dezembro de 2008 Profa. Msc Felipa Rafaela Amadigi UNIVALI – Biguaçu Orientadora Profa. Dra. Selma Regina de Andrade UNIVALI – Biguaçu Membro Profa. Msc. Ana Cristina Silva Hoffmann UNIVALI – Biguaçu Membro SUMÁRIO RESUMO ABSTRACT LISTA DE SIGLAS 1 INTRODUÇÃO .........................................................................................................1 2 OBJETIVOS.............................................................................................................4 2.1 Objetivo Geral....................................................................................................4 2.2 Objetivos Específicos.........................................................................................4 3 REVISÃO DE LITERATURA ...................................................................................5 3.1 O Sistema Único de Saúde e a Estratégia Saúde da Família............................5 4 A POLÍTICA NACIONAL DE HUMANIZAÇÃO COMO MARCO CONCEITUAL E CONTEXTUAL..........................................................................................................11 5 METODOLOGIA ....................................................................................................15 5.1 Caracterização da pesquisa ............................................................................15 5.2 Espaço e sujeitos de pesquisa ........................................................................16 5.3 Coleta de dados...............................................................................................16 5.4 Análise e interpretação dos dados...................................................................18 5.5 Considerações éticas.......................................................................................19 6 O ACOLHIMENTO NA ÓTICA DAS ENFERMEIRAS – RESULTADOS E DISCUSSÃO .............................................................................................................21 6.1 O perfil dos sujeitos de pesquisa .....................................................................21 6.2.1 O acolhimento na voz dos enfermeiros.........................................................27 6.2.2 As práticas do acolhimento no cotidiano das ESF ........................................29 6.2.3 O acolhimento como agente de mudanças...................................................31 6.2.4 Elementos necessários e dificuldades encontradas para a prática do acolhimento ...........................................................................................................34 6.2.6 Benefícios do acolhimento............................................................................37 6.2.7 Acolhimento e a humanização da assistência ..............................................39 7 Considerações Finais ..........................................................................................42 8 REFERÊNCIAS......................................................................................................46 APÊNDICE 1 .............................................................................................................50 APÊNDICE 2 .............................................................................................................51 ANEXO 1...................................................................................................................52 RESUMO ABREU, Amanda Besen de; MARTINS, Milene Daiana. O Acolhimento na Saúde da Família: percepções dos enfermeiros à luz da Política Nacional de Humanização. 2008. 61f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Curso de Graduação em Enfermagem, Universidade do Vale do Itajaí, Centro de Educação Biguaçu, Biguaçu / SC, 2008. Este trabalho aborda o tema Acolhimento na Saúde da Família a partir das percepções dos enfermeiros sobre as práticas do acolhimento à luz da Política Nacional de Humanização (PNH). A metodologia adotada caracterizou-se por uma pesquisa qualitativa descritiva exploratória na qual as informações foram coletadas através de entrevistas semi-estruturadas. Como sujeitos de pesquisa participaram 17 enfermeiros da Estratégia de Saúde da Família, das Unidades Básicas de Saúde de um município da Grande Florianópolis. Os dados foram tratados segundo a técnica do Discurso do Sujeito Coletivo e posteriormente analisados. Foram construídos 6 categorias de análise: 1- O acolhimento na voz dos enfermeiros; 2- As práticas do acolhimento no cotidianos da ESF; 3- O acolhimento como agente de mudanças; 4- Elementos necessários e dificuldades encontradas para a prática do acolhimento; 5- Benefícios do acolhimento; 6- Acolhimento e a humanização da assistência. A partir das reflexões sobre as questões, foi possível identificar que a definição de acolhimento dos sujeitos de pesquisa, não condiz com a prática realizada, uma vez que na prática o mesmo é dito como a “triagem” dos usuários que procuram atendimento de urgência para o posterior atendimento médico, divergindo dos propostos da PNH. Para que o acolhimento seja institucionalizado é necessário que os trabalhadores adotem uma nova postura referente às práticas assistenciais, onde a humanização deve ser vista e aplicada em todas as relações existentes dentro do processo de trabalho, para assim garantir a saúde como um direito do cidadão. Palavras-chave: Acolhimento, Humanização, Saúde da Família. Política Nacional de Humanização, ABSTRACT ABREU, Amanda Besen de; MARTINS, Milene Daiana. Family Health Sheltering: nurses’ perceptions in light of National Policy of Humanization. 2008. 61f. Course Completion Thesis (Undergraduation) – Nursing Undergraduate Course, University of Vale do Itajaí, Education Center of Biguaçu, Biguaçu / SC, 2008. This paper approaches Family Health Sheltering from nurses’ perceptions about the practice of sheltering in light of the National Policy of Humanization (NPH). The adopted methodology was characterized by a qualitative descriptive exploratory research in which information was collected through semi-structured interviews. As interview subject, participated 17 nurses from Strategy for Family Health (SFH), from Basic Health Units of a city from Florianópolis Region. The data was treated according to the Collective Subject Speech technique and analyzed later. 6 categories of analysis were built: 1- Sheltering from nurses’ point of view; 2Sheltering practices on SFH’s everyday; 3- Sheltering as an agent of change; 4Necessary elements and encountered difficulties for sheltering practice; 5- Benefits of sheltering; 6- Sheltering and humanization of care. From the reflections about the issues, it was possible to identify that the definition of sheltering of the research subjects does not match with the held practice, since in practice it is considered as the “sorting” of users that look for emergency for later medical care, departing from the proposed by NPH. For the sheltering to be institutionalized, it is necessary that workers adopt a new posture concerning the care practices, in which humanization must be seen and applied in all existent relations inside the working process, thus guaranteeing health as a citizen’s right. Keywords: Sheltering, National Policy of Humanization, Humanization, Family Health. LISTA DE SIGLAS ACD – Auxiliar de Consultório Dentário ACS – Agente Comunitário de Saúde DSC – Discurso do Sujeito Coletivo ESF – Estratégia de Saúde da Família eSF – Equipe de Saúde da Família PNH – Política Nacional de Humanização PSF – Programa de Saúde da Família SF – Saúde da Família SUS – Sistema Único de Saúde THD – Técnico em Higiene Dentária UBS – Unidade Básica de Saúde USF – Unidade de Saúde da Família 1 1 INTRODUÇÃO Nos últimos anos, o Brasil vem percorrendo inúmeros caminhos, para a melhoria da saúde pública no país. Antes da Constituição de 1988, tinha direito à saúde quem possuía carteira de trabalho assinada (emprego formal) e pagava a Previdência Social. Os demais só tinham acesso à saúde se pagassem pelo atendimento ou se fossem buscar atendimento em instituições filantrópicas ou de caridade, pois, a saúde não era considerada um direito do cidadão. O modelo oficial da saúde do século passado centrava-se na assistência médica o que proporcionou um crescimento dos serviços médicos privados, concentrados em hospitais de grandes centros, desfavorecendo as periferias e interiores. (FINKELMAN, 2002). Em 1979, surge o movimento sanitário que discute pela primeira vez uma proposta de reorientação do Sistema de Saúde, que já se chamava, Sistema Único de Saúde – SUS. Com a crise econômica que o país enfrentou no início dos anos 80, a população exigiu que o governo reconhecesse a necessidade urgente de mudanças no Sistema de Saúde vigente. Assim, começaram a se desenvolver várias experiências de reorganização dos serviços de saúde com a implantação de programas que nem sempre foram bem sucedidos. (FINKELMAN, 2002). Em 1986, realizou-se a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que discutiu a situação da saúde no país e aprovou em seu relatório, recomendações que passaram a constituir o projeto da Reforma Sanitária Brasileira, consagrado pela Constituição de 1988. Nela a saúde passa a ser um produto social, com bases legais estabelecidas que tem os municípios como responsáveis pela elaboração da Política de Saúde. Para organizar o funcionamento do SUS, foram elaboradas e aprovadas as Leis Orgânicas da Saúde: Lei 8.080/90 e Lei 8.142/90. Segundo a legislação do SUS (BRASIL, 2002), as Leis Orgânicas da Saúde são formadas pelas Lei 8.080/90 e Lei 8.142/90, editadas para cumprir ao mandamento constitucional de disciplinar legalmente a proteção e a defesa da saúde. Essas leis contêm limites e diretrizes que devem ser respeitados pelas três esferas do governo (União, estados e municípios). 2 O SUS é um sistema que engloba as três esferas do governo, e o setor privado contratado e conveniado para suprir as necessidades/dificuldades do serviço público. O modelo de atenção proposto pelo Sistema Único de Saúde configura-se nos princípios constitucionais da universalidade, eqüidade e integralidade da assistência. Esses elementos de natureza doutrinária propõem a reversão do sistema de ações e serviços orientado pela assistência médico-hospitalar, para um modelo de atenção para a vigilância à saúde. Aprimorando ainda mais este novo modelo de atenção cria-se em 1994, o PSF – Programa de Saúde da Família, coloca-se como uma estratégia importante para organização da atenção básica do SUS, tendo o aspecto marcante de agilizar, de forma efetiva, a descentralização de serviços baseados nas reais necessidades da população, que se manifestam como prioridades e refletem problemas concretos, fundamentando-se no vínculo e na co-responsabilidade entre os profissionais de saúde e a população, visando à família e seu meio. (FINKELMAN, 2002). Para aperfeiçoar este vínculo entre o profissional da Saúde da Família e os usuários do serviço, foi criado em 2004 a Política Nacional de Humanização – PNH, que traz como elemento em sua proposta de humanização o acolhimento do usuário da saúde. Com a crescente valorização das relações interpessoais, a proposta do Ministério da Saúde, vem enfatizando a importância do vínculo estabelecido no processo de acolhimento o qual deixa de ser realizado de forma mecanizada e desvalorizada e transforma-se em uma ação cada vez mais humanizada. Apesar das várias tentativas do Ministério da Saúde de humanizar as práticas de saúde, como o Programa de Humanização do Parto, o Programa Nacional de Humanização de Assistência Hospitalar, percebemos que, muitas vezes, há um desinteresse na forma como esse usuário é recebido/ouvido/compreendido. Notamos ainda, que há uma preocupação maior, por parte dos trabalhadores, na realização de procedimentos técnicos, deixando muitas vezes de lado o acolhimento, que proporciona o vínculo e a interação usuário/trabalhador, premissa da política de saúde vigente. A partir das vivências nos estágios curriculares durante o curso de graduação observamos inúmeras questões nos serviços de saúde com relação ao acolhimento, sendo este um elemento essencial no atendimento, é fundamental reconhecer a 3 possibilidade de mudanças a fim de repensar a prática profissional pautada nos princípios da humanização e do SUS. A partir deste contexto destacamos como fundamental reconhecer como as enfermeiras da atenção básica percebem o atendimento/acolhimento aos usuários. Pois, a coordenação da Equipe de Saúde da Família e a organização do serviço na maioria das vezes é realizada por esta profissional. Desta forma, a partir da nossa visão sobre acolhimento e relacionando-a com a PNH, pretendemos responder a seguinte pergunta de pesquisa: Como as enfermeiras da ESF percebem as práticas do acolhimento no cotidiano da ESF? 4 2 OBJETIVOS 2.1 Objetivo Geral Analisar as percepções das enfermeiras da Estratégia Saúde da Família sobre as práticas do acolhimento à luz da Política Nacional de Humanização. 2.2 Objetivos Específicos Identificar as percepções das enfermeiras sobre as práticas do acolhimento no cotidiano; Descrever as relações existentes entre a percepção de acolhimento das enfermeiras e a PNH; Analisar o discurso das enfermeiras sobre o acolhimento à luz da PNH. 5 3 REVISÃO DE LITERATURA 3.1 O Sistema Único de Saúde e a Estratégia Saúde da Família No último século, a evolução das políticas de saúde no país, tiveram diferentes períodos, que constituíam a história da vida social e política do mesmo. Sendo estas, a reforma higienista no período pré 30, a era Vargas de 30 a 50, o desenvolvimentismo dos anos 50 e 60, os vinte anos de Ditadura Militar e por fim a Reforma Sanitária. (FINKELMAN, 2002). O início do período da reforma higienista pré 30, teve como marco a precária situação de saúde no país, cujas endemias e epidemias eram comuns, além de doenças como a cólera, febre amarela, varíola, e doenças infecto-parasitárias como a tuberculose, hanseníase e a febre tifóide. Para mudar este cenário, o governo lançou mão de um plano, cuja estratégia pautava-se na reforma do Porto do Rio de Janeiro, considerado de frágil estrutura mercantil. A reforma urbana, tinha como proposta revitalizar e embelezar a “vitrine” do país, e a reforma sanitária, combater e eliminar os problemas de saúde. (BRASIL, 2002). Um dos atuantes nesse processo de reforma foi Oswaldo Cruz, que atuou para a erradicação das principais doenças da época (febre amarela, varíola, e peste bubônica). As medidas usadas foram a intervenção domiciliar, o combate aos vetores, e vacinação da população. (BRASIL, 2002). É neste período que foram criadas as Caixas de Aposentadorias e Pensões, garantindo assistência médica curativa, fornecimento de medicamentos, aposentadoria por tempo de serviço/velhice/invalidez, pensões para dependentes e auxílio funeral, apenas para as classes assalariadas mais organizadas. O começo da era Vargas, foi marcada pela revolução de 30, com a manifestação das classes oprimidas em movimentos reivindicatórios de protestos. A industrialização também passou por um período de transição surgindo então, problemas com as precárias condições de saúde da população. (FINKELMAN, 2002). No início dos anos 40, com o aumento da industrialização e urbanização, ocorreu um crescimento da rede previdenciária, acarretando aumento nos gastos 6 com a assistência médica neste setor. Com a Segunda Guerra Mundial, foi criado o serviço especial de saúde pública, sendo este um convênio entre Brasil e Estados Unidos para desenvolver na região Amazônica ações médico-sanitárias para garantir a produção de borracha para fins econômicos. (BRASIL, 2002). O Período Desenvolvimentista (de 50 a 60), foi marcado pela aceleração do desenvolvimento urbano, no entanto, a saúde pública não fazia parte dessa estratégia, que visava apenas à expansão econômica. Em 1953, ocorreu a criação do Ministério da Saúde, que teve uma importância à saúde pública, mas, com a partilha do setor Educação e Saúde, acabou ficando com a menor parte dos impostos. (BRASIL, 2002). Em 1963, aconteceu a III Conferência Nacional de Saúde, e a criação do Instituto Nacional de Previdência Social, que passou por uma intensa crise econômica levando ao Golpe Militar de 1964. Durante o Golpe Militar, a situação financeira precária do país levou à unificação dos Institutos de Aposentadorias e Pensões ao Instituto Nacional de Previdência Social, que atribuiu ao Ministério da Saúde a Função de formular a Política Nacional de Saúde, que acabou privilegiando à prática médica curativa, individual, assistencialista e especializada, de caráter preventivo e de interesse coletivo. (BRASIL, 2002). Durante o ano de 1975, foi criado o Sistema Nacional de Saúde (Lei nº 6.229), na tentativa de organizar as atividades no setor da saúde, abrangendo os serviços públicos e privados. Foi neste período, do autoritarismo da ditadura que constitui-se a base teórica e ideológica de um pensamento médico-social que abordava os problemas de saúde vividos. A luta pela Reforma Sanitária foi fortemente influenciada pelo setor acadêmico e nasceu como uma proposta de reestruturação do setor saúde vigente, enfatizando a temática do direito à saúde. É neste contexto que foi realizada entre 17 a 20 de março de 1986, a VIII Conferência Nacional de Saúde, tendo como sede a cidade de Brasília. Essa conferência ficou conhecida como parte da “Reforma Sanitária”, pois buscou tornar o setor da saúde um órgão democrático, acessível, universal e socialmente eqüitativo, ressaltando questões como moradia, saneamento, alimentação, condições de trabalho, educação, e lazer. (BRASIL, 2002). 7 Já em 1988, a Constituição Federal estabeleceu os direitos e deveres dos cidadãos, os quais passaram pelo processo de regulamentação através das Leis Orgânicas da Saúde nº 8.080 de 19 de setembro de 1990 e nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990. Consagrando-se então os princípios fundamentais da Constituição: a saúde como direito do cidadão e dever do Estado; o conceito de saúde; a construção do Sistema Único de Saúde (SUS), assegurando os princípios de universalidade, igualdade, integralidade, o direito a informação sobre sua saúde, a participação popular, a descentralização político-administrativo, com direção única em cada esfera do governo e com ênfase na descentralização dos serviços para os municípios. (FINKELMAN, 2002). O Sistema Único de Saúde vem evoluindo ao longo dos anos, tendo passado por etapas importantes, desde então o sistema vem se solidificando e buscando meios para atender as necessidades específicas de cada região. Para isso vem criando novas políticas e programas. A criação do Pacto pela Saúde em 2006, veio para redefinir as obrigações de cada uma das três esferas de gestão (União, Estados e Municípios). O Pacto representou um conjunto de reformas institucionais do SUS pactuado entre as três esferas do governo, com o objetivo de promover inovações nos processos e instrumentos de gestão, visando alcançar maior eficiência e qualidade das respostas do Sistema Único de Saúde. Ao mesmo tempo, o Pacto pela Saúde redefine as responsabilidades de cada gestor em função das necessidades de saúde da população e na busca da equidade social. (BRASIL, 2006). A Estratégia Saúde da Família A estruturação do PSF começou a tomar forma em dezembro de 1993 com a criação de um grupo de trabalho integrado por secretários estaduais e municipais de saúde, universidades, Serviço de Saúde Comunitária do Grupo Hospitalar Conceição, Coordenação do Programa Médico de Família, da Secretaria de Saúde de São Paulo, UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a Infância) e OPAS (Organização Pan-Americana da Saúde), além de colaboradores do próprio ministério. Com o objetivo de discutir uma proposta de um modelo de saúde mais adequado às necessidades do país. (BRASIL, 1994). O Programa de Saúde da Família foi lançado oficialmente pelo Ministério da Saúde em março de 1994 tendo como objetivo, redirecionar as práticas, fortalecendo 8 atividades como a atenção domiciliar, trabalhos com grupos, palestras, orientações educativas e não somente consultas de urgência ou programadas. (BRASIL, 1994). De acordo com a proposta do Ministério da Saúde, o PSF “é um modelo de assistência à saúde que vai desenvolver ações de promoção e proteção à saúde do indivíduo, da família e da comunidade, no nível de atenção primária”. (BRASIL, 1994 p. 71). O programa proposto estimulava a municipalização e descentralização dos serviços, propiciando que o gerenciamento municipal dos recursos fosse realizado de forma mais adequada e resolutiva. (BRASIL, 1994). Para Santos et al., (2000 p. 52), O Programa de Saúde da Família veio da necessidade de agilizar a reforma do sistema de saúde, o Ministério da Saúde concebeu, no final de 1993, o PSF, elegendo o núcleo familiar como foco de suas ações. O Programa de Saúde da Família, colocado como uma estratégia importante para reorganização da atenção básica do SUS, tem o aspecto marcante de agilizar, de forma efetiva, a descentralização de serviços baseados nas reais necessidades da população, que se manifestam como prioridades e refletem problemas concretos. “O PSF fundamentou-se no vínculo e na co-responsabilidade entre os profissionais de saúde e a população, tendo como ponto de partida à família e seu entorno visando a transformação gradativa da atual realidade sanitária”. (IWAMOTO et al., 2000 p. 81). Para Nunes e Barbosa (2000, p. 103), A Saúde da Família propõe uma prática assistencial com novas bases estruturais, as quais substituem o modelo tradicional de assistência, direcionado à cura de doenças. Deste modo, torna-se uma estratégia que prioriza ações de promoção, proteção e recuperação da saúde familiar de forma integral. O princípio da integralidade, a que se propõe a Saúde da Família, exige a superação da atenção primária por meio de programas verticais impostos às Unidades de Saúde. Saúde da Família é a capacidade de buscar e normalizar seu bem viver fundamentada na prática do cuidado, a partir dos recursos de cada membro da família como unidade, com suas crenças, valores e modos de cuidar, envolvendo a utilização de cuidados do sistema profissional de saúde, incluindo o de enfermagem. A saúde da Família é a capacidade de buscar e normalizar seu bem viver fundamentada na prática do cuidado, a partir dos recursos de cada membro da família como unidade, com suas crenças, valores e modos de cuidar, envolvendo a utilização de cuidados do sistema profissional de saúde, incluindo o de enfermagem. (NUNES; BARBOSA, 2000). 9 Um dos pressupostos da ESF é considerar a família em seu espaço social como foco da atenção à saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1996). Assim, o domicílio é considerado o cenário onde ocorrem as relações sociais geradoras de conflitos e de outros fatores de risco de adoecer, sendo também, o local privilegiado para o desenvolvimento de ações de promoção e manutenção da saúde. O Ministério da Saúde incluiu dentre as atividades inerentes à atuação das equipes de saúde da família, a visita domiciliar. Ao se referir a mesma, agregou o componente internação domiciliar não como um substituto da internação hospitalar tradicional, e sim, como recurso empregado com o “intuito de humanizar e garantir maior qualidade e conforto ao paciente”. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1996, p.14). Para Araújo et al. (2000), o cuidado dispensado à saúde no domicílio propicia à equipe de saúde da família, a inserção no cotidiano do cliente; identificando demandas e potencialidades da família, em um clima de parceria terapêutica. Para isso concorrem fatores como a humanização do cuidado, a ausência de riscos iatrogênicos de origem hospitalar, o resgate das formas de cuidar calcadas nas práticas tradicionalmente usadas pela população, embasadas na sua bagagem cultural. Assim, nesta estratégia, a família é entendida como uma unidade dinâmica construída por pessoas que se percebem convivem como família em um espaço de tempo, unidos por laços consangüíneos, e de afetividade, interesse e ou doação, estruturada e organizada, com direitos e responsabilidades, vivem em um determinado ambiente, influenciada sócio-econômico-cultural-mente. Constrói uma historia de vida, tem identidade própria, possuindo, criando e transmitindo crenças, valores e conhecimento. (ARAÚJO et al. Apud GAPEFAM, 2000). Para Brasil (2007a), a Política Nacional de Atenção Básica tem como principais atribuições dos profissionais das ESF: participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, realizando o cuidado em saúde da população adscrita; realizar ações de atenção integral conforme a necessidade de saúde da população local; garantir a integralidade da atenção; realizar busca ativa e notificação de doenças e agravos de notificação compulsória; realizar a escuta qualificada das necessidades dos usuários em todas as ações, proporcionando atendimento humanizado e viabilizando o estabelecimento do vínculo; responsabilizar-se pela população adscrita, mantendo a coordenação do cuidado mesmo quando esta necessita de atenção em outros serviços do sistema de 10 saúde; participar das atividades de planejamento e avaliação das ações da equipe; promover a mobilização e a participação da comunidade, buscando efetivar o controle social; garantir a qualidade do registro das atividades nos sistemas nacionais de informação na Atenção Básica; e participar das atividades de educação permanente. Sendo a enfermeira peça indispensável para a implementação e coordenação das eSF, e sujeito dessa pesquisa, descrevemos as atribuições definidas pela Política Nacional de Atenção Básica, em Brasil (2007a): Realizar assistência integral às pessoas e famílias na USF e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários. Realizar consultas de enfermagem, solicitar exames complementares e prescrever medicações, observadas as disposições legais da profissão e conforme os protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, os gestores estaduais, os municipais ou os do Distrito Federal.” (NR); Planejar, gerenciar, coordenar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS; Supervisionar, coordenar e realizar atividades de educação permanente dos ACS e da equipe de enfermagem; Contribuir e participar das atividades de Educação Permanente do Auxiliar de Enfermagem, ACD e THD; Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da USF. 11 4 A POLÍTICA NACIONAL DE HUMANIZAÇÃO COMO MARCO CONCEITUAL E CONTEXTUAL O marco teórico consiste em um conjunto de conceitos definidos e interrelacionados, formando uma estrutura abstrata que tem como característica principal a coerência intra e entre suas partes, caracterizando uma totalidade. (DIAS; TRENTINI, 1994). Neste caso optamos por adotar a PNH como marco conceitual e contextual, pois a política nacional de humanização/PNH parte de conceitos e dispositivos que visam à reorganização dos processos de trabalho em saúde, propondo transformações em duas vertentes interligadas: nas formas de produzir e prestar serviços à população (eixo da atenção) e nas relações sociais, que envolvem trabalhadores e gestores em sua experiência cotidiana de organização e condução de serviços (eixo da gestão). (SANTOS-FILHO, 2007). A atenção à saúde e a gestão dos serviços são vistos de maneira indissociável, o que aponta à valorização e crescimento dos trabalhadores no momento mesmo em que interagem com seus pares e sua clientela (população) resultando em um aprendizado mútuo e contínuo. (SANTOS-FILHO, 2007). Pelo lado da gestão busca-se a implementação de instâncias participativas de decisão (colegiados) e de horizontalização das "linhas de mando", valorizando o trabalho em equipe, a "comunicação lateral" e democratizando os processos decisórios, com co-responsabilização de gestores, trabalhadores e usuários. No campo da atenção a PNH reforça princípios centrais do SUS, de acessibilidade e integralidade, avançando para o que se tem definido como "clínica ampliada," capaz de melhor acolher e lidar com as necessidades dos sujeitos. (SANTOS-FILHO, 2007). Dentre os princípios e conceitos centrais com os quais o humaniza SUS trabalha, ressaltam-se as noções de “transversalidade”, “rede” e “grupalidade”. Como política transversal entende-se as “ações construídas intersticial e coletivamente nas diversas práticas e instâncias”, aumentando o coeficiente de comunicação entre as instâncias/pessoas. A concepção de rede na qual se baseia é caracterizada pela “participação ativa e criativa de uma série de atores, saberes e 12 instituições voltados para o enfretamento de problemas que nascem as se expressam numa dimensão humana de fronteira, articulando a representação subjetiva com a prática objetiva dos indivíduos”. Grupalidade é dita como “uma experiência que não se reduz a um conjunto de indivíduos nem tampouco pode ser tomada como uma unidade ou identidade imutável. É um conjunto ou uma multiplicidade de termos (usuários, trabalhadores, gestores, familiares etc.) em agenciamento e transformação, compondo uma rede de conexão para a realização do processo de produção de saúde”. (SANTOS-FILHO, 2007, p. 79). Os valores que norteiam a PNH são a autonomia e o protagonismo dos sujeitos, a co-responsabilidade em ter eles o estabelecimento de vínculos solidários, a construção de redes de cooperação e participação coletiva no processo de gestão. (BRASIL, 2004). Assim, para conduzirmos nossa pesquisa, destacamos os seguintes conceitos concebidos pela Política Nacional de Humanização, em Brasil (2004, p. 43-57): Acolhimento: recepção do usuário, desde sua chegada, responsabilizando-se integralmente por ele, ouvindo sua queixa, deixandoo expor suas preocupações, angústias, e medos, garantindo uma atenção resolutiva e quando necessário uma articulação com os outros serviços de saúde para a continuidade da assistência. Humanização: humanização diz respeito a uma aposta ético-estéticopolítica, ética porque implica atitude de usuários, gestores e trabalhadores de saúde comprometidos e co-responsáveis; estética porque relativa ao processo de produção da saúde e de subjetividades autônomas e protagonistas; política porque se refere à organização sócio e institucional das práticas da atenção e gestão na rede do SUS. O compromisso éticoestético-político da Humanização do SUS se assenta nos valores de autonomia e protagonismo dos sujeitos, de co-responsabilidade entre eles, de solidariedade dos vínculos estabelecidos, dos direitos dos usuários e da participação coletiva no processo de gestão. Igualdade: o acesso às ações e serviços, para promoção, proteção e recuperação da saúde, além de universal, deve basear-se na igualdade de resultados finais, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos. 13 Integralidade: um dos princípios constitucionais do SUS garante ao cidadão o direito de ser atendido desde a prevenção de doenças até o mais difícil tratamento de uma patologia, não excluindo nenhuma doença. Intersetorialidade: integração dos serviços de saúde e outros órgãos públicos com a finalidade de articular políticas e programas de interesse para a saúde, cuja execução envolva áreas não compreendidas no âmbito do SUS, potencializando, assim, os recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos disponíveis e evitando duplicidade de meios para fins idênticos. Se os determinantes do processo saúde/doença, nos planos individual e coletivo, encontram-se localizados na maneira como as condições de vida são produzidas, então é impossível conceber o planejamento e a gestão da saúde sem a integração das políticas sociais (educação, transporte, ação social), num primeiro momento, e das políticas econômicas (trabalho, emprego e renda), num segundo. A escolha do prefixo inter e não do trans é efetuada em respeito à autonomia administrativa e política dos setores públicos em articulação. Protagonismo: pessoa que desempenha ou ocupa o primeiro lugar ou lugar central, num acontecimento, numa ação. No processo de produção da saúde, diz respeito ao papel de sujeitos autônomos, protagonistas e implicados no processo de produção de sua própria saúde. Sistema de Referência e Contra-referência: encaminhamento resolutivo de um equipamento de saúde para outro que procura atender às necessidades dos usuários, na sua atenção integral. Este procedimento visa contemplar o princípio da hierarquização por nível de complexidade, sendo a contra-referência estabelecida para o núcleo de vínculo do usuário. Sujeito/subjetividade: identidade pessoal resultante de um processo de produção de subjetividade sempre coletivo, histórico e determinado por múltiplos vetores: familiares, políticos, econômicos, ambientais, midiáticos, etc. Transversalidade: em um serviço de saúde, pode se dar pelo aumento de comunicação entre os diferentes membros de cada grupo e entre os diferentes grupos. A idéia de comunicação transversal em um grupo deve ser entendida não a partir do esquema bilateral emissor-receptor, mas 14 como uma dinâmica multi-vetorializada, em rede e na qual se expressam os processos de produção de saúde e de subjetividade. Universalidade: a universalidade constitucional compreende, portanto, a cobertura, o atendimento e o acesso ao sistema único de saúde, expressando que o Estado tem o dever de prestar atendimento nos grandes e pequenos centros urbanos e também às populações isoladas geopoliticamente. Os programas, as ações e os serviços de saúde devem ser concebidos para propiciar cobertura e atendimento universais, de modo eqüitativo e integral. Usuário, Cliente, Paciente: cliente é palavra usada para designar qualquer comprador de um bem ou serviço, incluindo quem confia sua saúde a um trabalhador da saúde. O termo incorpora a idéia de poder contratual e de contrato terapêutico efetuado. Se, nos serviços de saúde, paciente é aquele que sofre conceito reformulado historicamente para aquele que se submete, passivamente, sem criticar o tratamento recomendado, prefere-se usar o termo cliente, pois implica em capacidade contratual, poder de decisão e equilíbrio de direitos. Usuário, isto é, aquele que usa, indica significado mais abrangente, capaz de envolver tanto o cliente como o acompanhante do cliente, o familiar do cliente, o trabalhador da instituição, o gerente da instituição e o gestor do sistema. Vínculo: na instituição de saúde, a aproximação entre usuário e trabalhador de saúde promove um encontro, de seres que possuem intenções, interpretações, necessidades, razões e sentimentos, mas em situação de desequilíbrio, de habilidades e expectativas diferentes, onde o usuário busca assistência, em estado físico e emocional fragilizado, junto ao profissional supostamente capacitado para atender e cuidar da causa de sua fragilidade. Deste modo cria-se um vínculo, isto é, processo que ata ou liga, gerando uma ligação afetiva e moral entre ambos, numa convivência de ajuda e respeito mútuos. 15 5 METODOLOGIA Esta pesquisa foi aplicada após ser submetida à apreciação do Comitê de Ética da Universidade do Vale do Itajaí e sua respectiva aprovação (Anexo 1). O referencial teórico utilizado para a orientação desta pesquisa é o da Política Nacional de Humanização. Para Leopardi (2002, p. 163), “metodologia é a arte de dirigir o espírito na investigação da verdade, por meio do estudo dos métodos, técnicas e procedimentos capazes de possibilitar o alcance dos objetivos”. 5.1 Caracterização da pesquisa A presente pesquisa é de caráter qualitativo descritivo exploratório. Conforme Leopardi (2002), na pesquisa qualitativa o conhecimento é originário de informações diretamente vinculadas com a experiência estudada, por tanto não podem ser controladas e generalizadas, nem ao menos suspeitas e tidas como não verdades por serem experiências verdadeiras de pessoas. Segundo Gil (1996), a pesquisa qualitativa há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e subjetividade do sujeito que não pode ser traduzida em números. Para Tobar (2001, p. 69), pesquisa descritiva, É aquela em que se expõe características de determinada população ou determinado fenômeno. Pode também estabelecer correlações entre variáveis. Não tem o compromisso de explicar os fenômenos que descreve. Conforme Leopardi (2002) as pesquisas descritivas caracterizam-se pela necessidade de se explorar uma situação desconhecida, da qual necessita-se de maiores informações. Explorar uma realidade consiste em identificar suas características, sua regularidade ou sua mudança. Quando se quer conhecer o pensamento de um determinado grupo, é preciso realizar uma pesquisa qualitativa, pois, os pensamentos precisam passar pela consciência humana. Por esta razão, foi criado o conceito de Discurso do Sujeito Coletivo, que é uma proposta de organização e tabulação de dados qualitativos de natureza verbal, obtidos de depoimentos de várias naturezas. 16 5.2 Espaço e sujeitos de pesquisa O espaço desta pesquisa foram as Unidades Básicas de Saúde (USB), da rede municipal, vinculadas a um município da Grande Florianópolis/SC, que possuem a Equipe de Saúde da Família (ESF). Atualmente estão cadastradas 19 Unidades Básicas, todas com a Equipe de Saúde da Família implantada. Os participantes deste estudo foram um enfermeiro de um equipe da Estratégia de Saúde da Família de cada unidade de saúde, que aceitaram participar voluntariamente da pesquisa e concordaram com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), Apêndice II. Foram selecionados os enfermeiros por serem os coordenadores da ESF, e desempenharem um papel fundamental no processo de trabalho, estando diretamente vinculados com a prática do acolhimento. Entrevistamos no total dezessete enfermeiros, de suas respectivas UBS. Tivemos um sujeito de pesquisa que exerceu seu direito de não participação na pesquisa. Uma impossibilidade de coleta, pela falta do profissional enfermeiro durante o período de coleta de dados. 5.3 Coleta de dados A coleta de dados foi realizada no período de 10 de junho a 18 de julho de 2008, por meio da técnica de entrevistas semi-estruturadas com os 17 enfermeiros da rede municipal de saúde. Segundo Leopardi (2002, p. 175): “A entrevista é a técnica em que o investigador está presente junto ao informante e formula questões relativas ao seu problema”. Para Tobar (2001, p. 101), entrevistas semi-estruturadas: São baseadas no uso de guia de entrevistas, que consta de uma lista de perguntas ou temas que necessitam ser abordados durante as mesmas. A ordem exata e a redação das perguntas podem variar para cada entrevistado.O pesquisador pode encontrar e seguir pistas e novos temas, que surgem no curso da entrevista, mas o guia é um conjunto de instruções clara relativas às principais perguntas a serem feitas ou aos temas a serem explorados. [...] o propósito de uma entrevista foi focalizada ou em profundidade é adquirir um entendimento mais completo e detalhado possível do tema abordado. [...] o guia de entrevistas ajuda a mostrar que o pesquisador tem clareza sobre seus objetivos, mas é também 17 suficientemente flexível para permitir liberdade ao pesquisador e ao informante para encontrar e/ou seguir novas pistas. Conforme Leopardi (2002, p. 178): A entrevista requer cuidados adicionais, tais como autorização para uso de gravador, por exemplo. Também deve ser assegurado ao informante, em qualquer técnica, que suas informações não serão usadas indevidamente, sendo, por tanto, sigilosas. É aconselhável solicitar autorização por escrito, para se evitar futuros problemas legais. Antes da realização efetiva da entrevista com as enfermeiras, o instrumento foi testado como forma de aperfeiçoamento e validação do mesmo. A entrevista com as enfermeiras foi realizada a partir de um roteiro semiestruturado (apêndice I1), transcrita e enviada à validação para posterior tratamento, a devolutiva para os sujeitos de pesquisa foi feita através de correio eletrônico, onde foi estipulado um período limite de 07 dias para a resposta, com a aprovação/recusa da transcrição, ou com suas alterações, caso esta resposta não ocorresse dentro do tempo estipulado, consideramos como válida a transcrição para iniciarmos a análise e interpretação dos dados. As fitas contendo a entrevista ficaram sob a guarda das pesquisadoras em arquivo pessoal, sem acesso público. Efetuamos o encontro para as entrevistas, com agendamento prévio por telefone. As entrevistas foram realizadas nas unidades básica de saúde, durante o período de trabalho dos sujeitos de pesquisa. Em geral, fomos bem recebidas pelos profissionais, que se dispuseram a nos atender mesmo em horário de serviço. Percebemos a rejeição de alguns profissionais, porém apenas um recusou fazer parte da nossa pesquisa. Durante o tempo das entrevistas, ocorreram várias interrupções, por parte da equipe, que geralmente queria esclarecer algum assunto relativo ao trabalho. Sob nosso ponto de vista, estas interrupções foram negativas, pois levaram a dispersão do assunto tratado. Apesar deste tema ser discutido em toda a rede nacional de saúde, e nas secretarias municipais de saúde, sentimos dificuldade de abordar o tema, pois os trabalhadores apresentaram pouca credibilidade em relação à temática e alguns não aderiram à proposta de acolhimento em suas UBS. 1 O roteiro de pesquisa foi previamente testado, por 02 enfermeiras da Saúde Coletiva, que não possuem contato com os sujeitos de pesquisa. 18 5.4 Análise e interpretação dos dados O tratamento para posterior análise de dados foi feito através do Discurso do Sujeito Coletivo – DSC. O DSC parte de um pressuposto socioantropológico, que entende que o pensamento de uma coletividade sobre um dado tema pode ser visto como o conjunto dos discursos, ou formações discursivas. (LEFÈVRE; LEFÈVRE, 2005). Segundo Lefèvre e Lefèvre (2005), para confeccionar o Discurso do Sujeito Coletivo, é necessário usar algumas figuras metodológicas: Expressão-chave: são pedaços, trechos ou transcrições literais do discurso, contendo a essência do depoimento; Idéia central: é uma expressão lingüística que revela e descreve o sentido de cada um dos discursos analisados; Ancoragem: é a manifestação lingüística explícita de uma teoria, idéia ou crença do autor do discurso. Os depoimentos enquadrados na mesma categoria são considerados equivalentes, podendo, consequentemente, as respostas serem somadas. Os discursos dos depoimentos não se anulam ou se reduzem a uma categoria comum unificadora já que o que se busca fazer é reconstruir, com pedaços dos discursos individuais, como em um quebra-cabeça, tantos discurso-síntese quantos se julgue necessário para expressar uma dada “figura”. O Discurso do Sujeito Coletivo, através de procedimentos transparentes e padronizados, constrói a fala do social a partir do material coletado de falas individuais, buscando nas idéias centrais e nas expressões-chave, a elaboração de um discurso compartilhado. Assim, após a aprovação da transcrição dos dados pelos sujeitos de pesquisa, iniciamos a construção do DSC. Iniciamos pela tabulação dos dados, onde cada tabela era uma pergunta (obtivemos 10 tabelas), e cada linha da tabela representava uma resposta na integra de cada sujeito (17 linhas). Após a separação das respostas dos sujeitos em cada tabela com a respectiva pergunta, realizamos a leitura de cada resposta, destacando as expressões chaves da mesma. 19 A partir da leitura das expressões chaves, começamos a formar a idéia central de cada discurso. Ao realizarmos a leitura detalhada das idéias centrais, percebemos que estas eram muito diferentes umas das outras, o que dificultou o desenvolvimento da próxima etapa da concepção do DSC, que exige a identificação das ancoragens dentro das idéias centrais. As ancoragens são idéias concretas que estão explicitamente presentes em todos os discursos, mas nem sempre acontecem. O nosso próximo passo foi agrupar as idéias centrais e formar um discurso, que em sua produção final é como se uma única pessoa falasse, sintetizando o pensamento de todo o grupo. De modo que o resultado final passou a representar o Discurso do Sujeito Coletivo das percepções das enfermeiras sobre as questões perguntadas. Após a construção do DSC, os dados foram analisados à luz do marco conceitual. 5.5 Considerações éticas A ética é o ramo do conhecimento que estuda a conduta humana, estabelecendo os conceitos do bem e do mal, numa determinada sociedade, em determinada época. (FONTINELE JUNIOR, 2002). Assim, para manter-se a ética da sociedade acredita-se que homens e mulheres necessitam ter um comportamento que esteja ligado à ética, pois para viver em uma sociedade existe necessidade de ser ético. (FONTINELE JUNIOR, 2002). Esta pesquisa seguiu os aspectos que norteiam à ética, obedecendo aos quatro referenciais básicos da bioética (autonomia, não maleficência, beneficência e justiça), sob a ótica do indivíduo e das coletividades, e adotou como guia de ação a Resolução CNS 196/96 contendo as Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisas envolvendo Seres Humanos (Conselho Nacional de Saúde, 2004). Esta resolução fundamenta-se nos principais documentos internacionais que emanaram declarações e diretrizes sobre pesquisas que envolvem seres humanos e incorpora os princípios da bioética, tendo como objetivo proteger os sujeitos da pesquisa, o pesquisador e o estado. 20 Conforme a Resolução CNS 196/96: O respeito devido à dignidade humana exige que toda pesquisa se processe após consentimento livre e esclarecido dos sujeitos, indivíduos ou grupos que por si e/ou por seus representantes legais manifestem a sua anuência à participação na pesquisa. Com base nesta resolução, essa pesquisa teve por princípio os seguintes cuidados: Esclarecer os sujeitos sobre a temática do estudo, metodologia adotada e demais dúvidas presentes; Cabe ao sujeito de pesquisa decidir sobre sua participação na pesquisa, de modo que possa desistir em qualquer uma das etapas, sem ônus para a sua pessoa; Obtenção do consentimento voluntário, informado, livre e esclarecido; Não expor os participantes a situações que possam causar qualquer tipo de dano; Garantir confidencialidade e privacidade aos participantes; Manter o anonimato, garantir a fidedignidade das informações; A pesquisa foi inscrita no SISNEP sob a folha de rosto nº 180952 e submetida à aprovação da Comissão de Ética e Pesquisa da UNIVALI com cadastro nº 90/08. 21 6 O ACOLHIMENTO NA ÓTICA DAS ENFERMEIRAS – RESULTADOS E DISCUSSÃO O levantamento do perfil dos sujeitos de pesquisa foi o primeiro passo para compreender a realidade do tema pesquisado. Para isso, partimos inicialmente de uma análise dos dados coletados através dos questionamentos que nos levaram a definição geral do perfil dos sujeitos participantes. 6.1 O perfil dos sujeitos de pesquisa O levantamento do perfil dos enfermeiros entrevistados foi feito no início da entrevista, onde buscamos saber, o sexo, faixa etária em anos, tempo de formação profissional, instituição formadora, formação complementar em capacitação e especialização. 6% 94% feminino masculino Figura 1. Distribuição dos enfermeiros segundo o sexo A partir do gráfico acima, podemos perceber que de dezessete (17), enfermeiros participantes da pesquisa, um (1) participante era do sexo masculino, correspondendo a 6%, do total de participantes, enquanto que dezesseis (16) participantes, correspondente a 94% eram do sexo feminino. Esse dado pode refletir 22 o aumento da participação da mulher no mercado de trabalho, seguindo a feminilização da mão de obra da saúde. (ALVES, 2004; MACHADO, 2000). 9 8 7 6 5 4 3 2 1 7 0 9 1 20 a 29 anos 30 a 39 anos 40 a 49 anos Figura 2. Distribuição dos enfermeiros segundo faixa etária (anos) Ao analisarmos a amostra, identificamos que o maior número de participantes são adultos jovens que se encontram na faixa etária de 30 a 39 anos de idade, correspondendo a um total de nove (09) participantes, 52,94% do total, seguido pelos indivíduos entre 20 e 29 anos, correspondendo a 41,18% e indivíduos acima de 40 anos de idade representando 5,88% do total. 23 8 7 6 10 a 13 anos 5 4 8 3 2 2 4 1 07 a 09 anos 3 01 a 03 anos 04 a 06 anos 04 a 06 anos 01 a 03 anos 07 a 09 anos 10 a 13 anos 0 1 Figura 3. Distribuição dos enfermeiros segundo o tempo de formação (anos) Na figura acima, podemos perceber que a maioria dos profissionais enfermeiros, tem sua formação no período de 04 a 06 anos, o que nos remete, a uma formação recente, todos formados ou participantes do processo de institucionalização da SF, mais humanizadas e centralizadas no usuário. Assim, as propostas de humanização em saúde também envolvem repensar o processo de formação dos profissionais, que apesar de 20 anos de regulamentação do SUS ainda estão centrados, predominantemente, no aprendizado técnico, racional e individualizado, com tentativas muitas vezes isoladas de exercício da crítica, criatividade e sensibilidade. (CASATE; CORRÊA, 2005). 24 1 1 6% 6% UFSC UNIVALI 4 24% UNISUL 10 58% UNISINOS/RS IELUSC 1 6% Figura 4. Distribuição dos enfermeiros segundo a instituição formadora Analisando os dados acima, podemos perceber que 58% da amostra, teve como instituição formadora, a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), correspondendo a dez (10) indivíduos, seguido por quatro (4) participantes, que se formaram pela Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL), correspondendo a 24% do total, e que os três (3) outros participantes, cada um corresponde a 6% do total, formaram-se um em cada instituição, sendo estas, Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI), Instituto Superior e Centro Educacional Luterano (IELUSC), e Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS/RS). 25 0 1 2 Acupuntura Oncologia Enf. do Trabalho Licenciatura plena Saúde da Família Gestão em Saúde Pública Emergência pré-hosp. Saúde da Mulher Gestão dos Serviços de Enf. Não possui 3 Figura 5. Distribuição dos enfermeiros de acordo com o curso de especialização De acordo com a amostra, percebemos que a maior parte dos sujeitos de pesquisa, possuem curso de especialização, sendo estes quatorze (14) dos participantes, e apenas três (3) não possuem. Dos nove (9) diferentes cursos, ressalta-se a formação em Emergência pré-hospitalar, com três (3) sujeitos, e os cursos Saúde da Família e Enfermagem do Trabalho, que cada um dos cursos citados anteriormente possuem dois (2) sujeitos. A PNH propõe que para a humanização do SUS, é necessário a troca e a construção dos saberes. Analisamos que é de ordem geral a preocupação dos sujeitos com a educação permanente, visto que há uma exigência do atual mercado de trabalho em relação à formação profissional, levando em consideração a grande demanda de profissionais disputando o mesmo cargo. (BRASIL, 2004). 26 18% 82% Sim Não Figura 6. Distribuição dos enfermeiros segundo cursos de capacitação Avaliamos que 82% dos sujeitos possuem algum curso de capacitação, somando quatorze (14) participantes. Apenas três (3) sujeitos, que representam 18% do total, não têm curso de capacitação. A importância da capacitação profissional para a vida das pessoas, encontrase na possibilidade de acesso às oportunidades de trabalho, que por sua vez, têm suas características modificadas a cada dia. A educação continuada, através de capacitação é de grande valia para o serviço, visto que o sistema está em constante modificação, atualizando e qualificando os profissionais para o aprimoramento da assistência prestada ao usuário. Compete aos gestores apontar e definir demandas que sejam coerentes com as reais necessidades dos serviços de saúde e que expressem os interesses da sociedade, rompendo com práticas onde o mercado e os interesses coorporativos dirigem o processo de formação e de especialização dos profissionais de saúde. (BRASIL, 2007b). 27 A gestão municipal tem o papel de estimular e viabilizar a capacitação e a educação permanente dos profissionais. (BRASIL, 2007b). 6.2 O acolhimento na perspectiva das enfermeiras 6.2.1 O acolhimento na voz dos enfermeiros Esta categoria descreverá o conceito de acolhimento para as enfermeiras participantes da Estratégia Saúde da Família, rompe com conceitos ultrapassados e incorpora novo pensar e agir na perspectiva de mudanças no modelo assistencial. Um novo modo de pensar nos remete à PNH, que propõem a adoção da prática do acolhimento, onde acolher em saúde exige mudança de postura de todo o sistema de saúde, que visa receber o usuário e responsabilizar-se integralmente por ele. Assim, quando questionamos os sujeitos de pesquisa, sobre qual seria a sua definição de acolhimento, obtivemos como discurso coletivo: O acolhimento é definido como a escuta/atenção ao paciente, orientando-o, esclarecendo dúvidas, valorizando a queixa do paciente, e encaminhando. É a porta de entrada, o primeiro atendimento do usuário, é através do acolhimento que se estabelece uma rede de confiança e solidariedade entre as pessoas, principalmente, pela resolução da sua necessidade de saúde. (DSC). Analisamos que o acolhimento é definido como o atendimento de primeiro contato, ele se restringe à recepção e não acontece a todo o momento, como define o Ministério da Saúde. Segundo Franco, et al. (1999), o acolhimento propõe a inversão da lógica de organização e funcionamento do serviço de saúde, partindo dos seguintes princípios: Atendimento a todas as pessoas que procuram os serviços de saúde, garantindo a acessibilidade universal. Sendo assim, o serviço de saúde 28 assume sua função precípua, a de acolher, escutar e dar uma resposta positiva, capaz de resolver os problemas de saúde da população. Qualificar a relação trabalhador-usuário, que deve ocorrer por parâmetros humanitários, de solidariedade e cidadania. Para Brasil (2007c, p. 1), o acolhimento é: Recepção do usuário, desde sua chegada, responsabilizando-se integralmente por ele, ouvindo sua queixa, permitindo que ele expresse suas preocupações, angústias, e ao mesmo tempo, colocando os limites necessários, garantindo atenção resolutiva e a articulação com os outros serviços de saúde para a continuidade da assistência quando necessário. Segundo Brasil (2008a, p. 6) apud PNH, o acolhimento é uma das diretrizes de maior relevância ética/estética/política, onde: Ética no que se refere ao compromisso com o reconhecimento do outro, na atitude de acolhê-lo em suas diferenças, suas dores, suas alegrias, seus modos de viver, sentir e estar na vida; Estética porque traz para as relações e os encontros do dia-a-dia a invenção de estratégias que contribuem para a dignificação da vida e do viver e, assim, para a construção de nossa própria humanidade; Política porque implica o compromisso coletivo de envolver-se neste “estar com”, potencializando protagonismos e vida nos diferentes encontros. Diante do que os sujeitos entendem por acolhimento, e da discussão estabelecida pelos autores acima, consideramos que o acolhimento é traduzido na recepção dos usuários, e no encaminhamento para a resolução da sua necessidade de saúde. Entendemos que as duas noções são de grande importância, mas, quando tomadas isoladamente no processo de trabalho, tornam-se descomprometidas com o processo de responsabilização e criação de vinculo com o usuário. Ao adotar o acolhimento descrito pelos sujeitos de pesquisa, o serviço de saúde se depara com uma série de problemas, tais como filas por “fichas” para atendimento médico, exaustão dos trabalhadores, falta de vínculo com o usuário que procura o serviço, entre outros. Tais práticas reforçam o que a ESF veio modificar, pois pauta-se na atenção médica voltada para a doença sem um efetivo envolvimento da equipe com a saúde do usuário. Justificando nossa percepção, Brasil (2008a, p. 16), dispõem que: É preciso não restringir o conceito de acolhimento ao problema da recepção da “demanda espontânea”, tratando-o como próprio a um regime de afetabilidade (aberto a alterações), como algo que qualifica uma relação e é, portanto, passível de ser apreendido e trabalhado em todo e qualquer encontro e não apenas numa condição particular de encontro, que é aquele 29 que se dá na recepção. O acolhimento na porta de entrada só ganha sentido se o entendemos como uma passagem para o acolhimento nos processos de produção de saúde. Outra questão que merece destaque refere-se à nomenclatura paciente, apesar do forte peso cultural da expressão paciente deve-se destacar que ao referirse ao sujeito como paciente, anula-se o protagonismo, o empoderamento e a atuação do usuário como co-participante do seu processo de saúde/doença. Para a PNH, paciente é dito como aquele que sofre conceito reformulado historicamente para aquele que se submete, passivamente, sem criticar o tratamento recomendado. Prefere-se usar o termo usuário, pois é aquele que usa, indica significado mais abrangente, capaz de envolver tanto o cliente como o acompanhante do cliente, o familiar do cliente, o trabalhador da instituição, o gerente da instituição e o gestor do sistema. Ao usarmos o termo usuário, estamos garantindo os seus direitos como figura participante dentro do processo de produção de saúde. (BRASIL, 2004). 6.2.2 As práticas do acolhimento no cotidiano das ESF Dentro do contexto do que é acolhimento para os sujeitos, questionamos a existência da prática do acolhimento, como ocorre e quem o faz. Neste sentido foi possível identificar duas linhas de pensamento, uma apontando para a inexistência de tal prática no cotidiano da ESF e outra que descreve as práticas de acolhimento da seguinte forma: O acolhimento é feito geralmente pela enfermeira e pela equipe de enfermagem, mas todos deveriam fazê-lo. O paciente é recebido pela recepção, é ouvido e encaminhado para a equipe. De acordo com sua necessidade é encaminhado para o atendimento médico ou de enfermagem. (DSC). Na prática, o acolhimento, como espaço do usuário, tem-se desenvolvido com caráter predominantemente clínico (centrado nas queixas) e a intervenção/resultado que essa tecnologia tem gerado se caracteriza por ser pontual, pouco resolutiva e 30 não constituidora de vínculo, contribuindo pouco para a automização do usuário e para a construção de práticas de saúde que extrapolem a abordagem clínicoindividual. (FRACOLLI; ZOBOLI, 2007). No acolhimento, o acesso deve ser facilitado, e todo o usuário tem direito a no mínimo uma escuta qualificada e uma resposta positiva ao seu problema de saúde, seja através do atendimento na própria unidade, ou de um encaminhamento seguro para outro serviço, e a decisão sobre a entrada do usuário na assistência, cabe a equipe de acolhimento (recepção e equipe de enfermagem, e às vezes, o próprio médico). (PANIZZI; FRANCO, 2004). Percebemos que a definição de acolhimento não condiz com a prática realizada pelos profissionais, entendemos que apesar do acolhimento ser realizado sob o ponto de vista dos enfermeiros, este não ocorre efetivamente, pois há uma dificuldade em relacionar a teoria com a prática, onde esta ocorre de forma errônea. O acolhimento ocorre como mais um serviço disponibilizado pela Unidade de Saúde, em uma sala, com instrumentos próprios e saberes próprios, desta forma o enfermeiro diz estar realizando o acolhimento, mas na realidade é uma triagem da demanda espontânea, assim as enfermeiras consideram-se ‘para-choque’ da demanda espontânea. (LEITE et al., 1999). O acolhimento deve ser realizado por todos os trabalhadores de saúde e em todos os setores do atendimento, não se limitando ao ato de receber. Ao contrário, incorpora uma seqüência de atos e atitudes que constituem o processo de trabalho. Ele propõe uma inversão na lógica da organização e no funcionamento do serviço de saúde, guiada por algumas diretrizes, sendo estas: atender a todas as pessoas que procuram os serviços de saúde, garantindo o acesso universal, ou seja, o serviço de saúde assume sua função precípua de acolher, escutar e dar uma resposta positiva para resolver os problemas de saúde da população. Reorganizar o processo de trabalho, a fim de deslocar seu eixo central do médico para a equipe multiprofissional (equipe de acolhimento), que se encarrega da escuta do usuário, comprometendo-se a resolver seu problema de saúde. A consulta médica é requisitada apenas para os casos em que se justifica. (FRANCO et al., 1999). Assim, todos os profissionais de saúde de nível superior e ainda, os auxiliares e técnicos de enfermagem participam da assistência direta ao usuário, potencializando a capacidade de resposta e intervenção dos serviços de saúde. Qualificar a relação trabalhador-usuário a fim de pautá-la em parâmetros 31 humanitários, de solidariedade e cidadania. Essa é a argamassa capaz de unir solidamente os trabalhadores e usuários em torno do interesse comum de constituir um serviço de saúde de qualidade, com atenção integral, que atenda a todos e esteja sob o controle da comunidade. (FRACOLLI; ZOBOLI, 2007). Conforme Teixeira apud Pinheiro (2003), o acolhimento não é necessariamente uma atividade em si, mas conteúdo de toda atividade assistencial, que consiste na busca constante de um reconhecimento cada vez maior das necessidades de saúde dos usuários e das formas possíveis de satisfazê-las, resultando em encaminhamentos, deslocamentos e trânsitos pela rede assistencial. A prática do acolhimento propõe que o serviço de saúde seja organizado de forma usuário-centrada, atendendo a todas as pessoas que procuram a Unidade de Saúde, garantindo a acessibilidade universal, integral e equânime. Brasil (2008b, p. 41), dispõe que a PNH tem como diretriz o acolhimento, que é um dos parâmetros para a implementação de ações humanizadoras na atenção básica. Este deve organiza-se da seguinte maneira: Organização do acolhimento de modo a promover a ampliação efetiva do acesso à atenção básica e aos demais níveis do sistema, eliminando as filas, organizando o atendimento com base em riscos/vulnerabilidade priorizados e buscando adequação da capacidade resolutiva. 6.2.3 O acolhimento como agente de mudanças Quando questionados sobre as mudanças que ocorrem com a adoção do acolhimento na UBS, foi possível identificar duas linhas de pensamento, uma apontando para a inexistência de mudanças, por não terem o acolhimento propriamente dito e outra que descreve as mudanças que ocorrerem com a adoção do acolhimento da seguinte forma: Acolhimento mudou para a unidade, para a organização do serviço que consegue fazer a “seleção” e diminuir o tempo de espera. O paciente sai mais satisfeito, dando mais valor para os profissionais enfermeiros. As pessoas aprendem como funciona o sistema de saúde, e conhecem qual é a função de cada profissional e a rotina da unidade. A equipe de saúde passa a ter um vínculo maior com a população que fica 32 satisfeita com a equipe de enfermagem, principalmente, e esta passa a ser uma referência dentro da unidade, e não apenas o médico e o dentista. As pessoas passam a conhecer a rotina da unidade e valorizar a unidade de saúde. Com o comprometimento maior das pessoas, melhora o atendimento. (DSC). Analisando estes discursos, percebemos que a falta de mudanças, se dá por não haver no âmbito municipal um “protocolo de acolhimento”, onde os profissionais se sintam respaldados dentro do seu exercício profissional, pois estes não se sentem seguros para a realização de mudanças. Apesar de ter havido várias tentativas de implantação de um “protocolo de acolhimento”, mas estas não se efetivaram, pois não teve uma motivação dos profissionais, e a disponibilidade dos mesmos para mudanças no seu processo de trabalho. Segundo Brasil (2004), a humanização no atendimento básico é hoje uma política pública e deve estar presente nos diversos níveis de atenção à saúde. É necessário que todas as especialidades do contexto da atenção à saúde envolvamse de maneira ampla nesse processo de humanização. Sendo assim, segundo o disposto pela Política Nacional de saúde, a humanização não é um conceito, e sim um entendimento. Consiste na valorização dos diferentes sujeitos implicados no processo de produção de saúde: usuários, trabalhadores e gestores; promoção da autonomia e do protagonismo desses sujeitos; aumento do grau de co-responsabilidade na produção de saúde e de sujeitos; estabelecimento de vínculos solidários e da participação coletiva no processo de gestão; identificação das necessidades sociais de saúde; mudança nos modelos de atenção e gestão dos processos de trabalho tendo como foco as necessidades dos cidadãos e a produção de saúde; compromisso com ambiência, melhoria das condições de trabalho e entendimento. (BRASIL, 2004). O acolhimento visa à responsabilização pelos usuários dos serviços de saúde por meio do estabelecimento de vínculos entre os profissionais e a população, mediante a reorganização do processo de trabalho em saúde, tendo em vista possibilitar a intervenção de toda a equipe, que se empenha na escuta e resolução do problema do usuário. (FRACOLLI; ZOBOLI, 2007). 33 Consideramos que o vínculo é capaz de garantir o processo de trabalho e a responsabilização da equipe multiprofissional. Não existe vínculo se o usuário não for reconhecido como sujeito, que fala, julga e deseja. Campos relata que o vínculo entre serviços de saúde e usuários amplia a eficácia das ações de saúde e favorece a participação do usuário na prestação de serviço, promovendo sua autonomia e cidadania. (CAMPOS, 1997). O acolhimento modifica radicalmente o processo de trabalho, onde o impacto da reorganização do trabalho na UBS se dá principalmente sobre os profissionais que fazem a assistência. (FRANCO et al., 1999). Podemos perceber que através do acolhimento a equipe de enfermagem torna-se referência dentro da unidade, nos remetendo aos valores que norteiam a PNH que são a autonomia e o protagonismo dos sujeitos, a co-responsabilidade em ter eles o estabelecimento de vínculos solidários, a construção de redes de cooperação e participação coletiva no processo de gestão. (BRASIL, 2004). Segundo a PNH, autonomia é o pensar nos indivíduos como sujeitos autônomos é considerá-los como protagonistas nos coletivos de que participam, coresponsáveis pela produção de si e do mundo em que vivem. A equipe multidisciplinar assume o papel de protagonismo, definido como a pessoa que desempenha ou ocupa o primeiro lugar ou lugar central, num acontecimento, numa ação. No processo de produção da saúde, diz respeito ao papel de sujeitos autônomos, protagonistas e implicados no processo de produção de sua própria saúde. (BRASIL, 2004). Na PNH, vínculo é definido, como a aproximação entre usuário e trabalhador de saúde promove um encontro, de seres que possuem intenções, interpretações, necessidades, razões e sentimentos, mas em situação de desequilíbrio, de habilidades e expectativas diferentes, onde o usuário busca assistência, em estado físico e emocional fragilizado, junto ao profissional supostamente capacitado para atender e cuidar da causa de sua fragilidade. (BRASIL, 2004). Para haver uma modificação expressiva do modelo assistencial e a garantia da humanização das relações entre os componentes da Equipe de Saúde da Família, é preciso que esta esteja imbuída quanto ao respeito à autonomia dos usuários, que devem ser estimulados a compartilhar das decisões que digam respeito à sua pessoa, à sua família, à sua comunidade. (FORTES; MARTINS, 2000). 34 6.2.4 Elementos necessários e dificuldades encontradas para a prática do acolhimento A prática do acolhimento pressupõe que haja alguns elementos colaborativos para a implementação, assim, indagamos quais elementos são necessários para a prática ideal do acolhimento, e tivemos como resposta: É preciso que haja antes de tudo um espaço físico adequado, recursos humanos disponíveis, capacitação e interesse de profissionais que ainda têm resistência para a mudança, que seja capaz de ouvir o usuário, ter paciência, saber orientar, ser empático, ter um comprometimento para com o outro e ética em tudo que faz. Além de mais investimento na atenção primária, que é a porta de entrada para o sistema. E é importante ter como ferramenta, o carinho e o afeto, pois o acolhimento é cuidar, é dar um encaminhamento. Não têm como ensinar o acolhimento, essa sensibilidade está em cada pessoa. (DSC). Antes de mais nada é imprescindível que haja o interesse pessoal de cada indivíduo pertencente ao sistema, e o desenvolvimento da sua habilidade interpessoal, mas é necessário também considerarmos que a instituição passa por problemas operacionais, tendo uma gestão complicada, com mudanças constantes, levando a falta de motivação do profissional, que deve sentir acolhido pelo sistema. Além do interesse de gestores do poder público, buscando a formação dos profissionais com a educação continuada para incentivar a busca da sensibilização individual e a efetiva adoção da prática do acolhimento, é necessário que haja o compromisso do trabalhador com suas responsabilidades profissionais e para com o próximo. Neste sentido concordamos com a Rizzotto (2002), quando afirma que a humanização é pouco abordada no processo de formação. Além disso, admite-se a dificuldade em ensinar “humanização” nas relações interpessoais, considerando as 35 questões subjetivas que se fazem presentes como, por exemplo, a sensibilidade. Apesar dessas dificuldades, a academia tem avançado neste sentido, em especial depois da reformulação curricular movida pela lei de diretrizes e bases para a formação dos profissionais da saúde - Lei nº 48/90. (CRESPO, 1990). Para Ferreira (2005), humanizar pode ser entendido como uma escuta atentiva, uma boa relação médico-paciente, a reorganização dos processos de trabalho (que facilite o acesso aos serviços), a criação de ouvidorias e “balcões de acolhimento”, até a melhoria das estruturas do espaço físico. A viabilização dessas práticas pelos gestores também difere, indo de uma ênfase na formação e sensibilização dos profissionais com o auxílio de assessorias especializadas (educação continuada) fazendo com que ocorra uma melhor satisfação dos usuários. Como forma de minimizar as lacunas da formação e consolidar o trabalho, a PNH adota a educação permanente dos profissionais, e a implementação de um sistema de comunicação e informação que promova o auto desenvolvimento e amplie o compromisso social dos trabalhadores de saúde. (BRASIL, 2004). Para Brasil (2008a, p. 19-21), os elementos necessários para a operacionalização do acolhimento são: Protagonismo dos sujeitos envolvidos no processo de produção de saúde; A valorização e a abertura para o encontro entre o profissional de saúde, o usuário e sua rede social, como liga fundamental no processo de produção de saúde; Uma reorganização do serviço de saúde a partir da problematização dos processos de trabalho, de modo a possibilitar a intervenção de toda a equipe multiprofissional encarregada da escuta e da resolução do problema do usuário; Elaboração de projetos terapêuticos individuais e coletivos com equipes de referência em atenção diária que sejam responsáveis e gestoras desses projetos (horizontalização por linhas de cuidado); Mudanças estruturais na forma de gestão do serviço de saúde, ampliando os espaços democráticos de discussão e decisão, de escuta, trocas e decisões coletivas. A equipe neste processo pode também garantir acolhimento para seus profissionais e às dificuldades de seus componentes na acolhida à demanda da população; Uma postura de escuta e compromisso em dar respostas às necessidades de saúde trazidas pelo usuário, de maneira que inclua sua cultura, seus saberes e sua capacidade de avaliar riscos; Uma construção coletiva de propostas com a equipe local e com a rede de serviços e gerências centrais e distritais. Ao analisarmos o discurso dos sujeitos, identificamos que eles descrevem parcialmente o que é necessário para a prática do acolhimento, onde o discurso é focado em resoluções para o espaço físico e na prática profissional, esquecendo de 36 destacar elementos importantes como o protagonismo dos sujeitos, valorização dos usuários, discussão entre a equipe multiprofissional, e de acolher um ao outro dentro da equipe. Apesar das dificuldades geradas pela falta de espaço físico, o acolhimento e a humanização são possíveis quando adota-se tais práticas como reorganizadoras e norteadoras das ações em saúde. As principais dificuldades encontradas no dia-a-dia no acolhimento são a falta de recursos humanos, falta de um espaço físico adequado, a grande demanda, o rodízio de pessoas, o tempo disponível e a falta de empatia dos profissionais, sendo que muitos deles estão no balcão, que é a porta de entrada da unidade. A população não vê a enfermagem como referência para o acolhimento, porque a cultura em que está inserida é da responsabilidade médica, por isso, o usuário quer sempre ser atendido pelo médico. (DSC). Considerando a organização e estrutura física das instituições de saúde da rede pública, a formação biomédica, as relações de trabalho e sua lógica de produção, deveria haver mais espaço para mudanças estruturais e para a implementação de novos conceitos e práticas, voltados para a humanização da assistência. (DESLANDES, 2004). Percebemos que as Unidades de Saúde visitadas não estão preparadas estruturalmente, pois foram construídas sob a ótica médico centrada, com consultórios separados e sem um ambiente que possibilite um acolhimento adequado ao usuário. Ao falarmos em humanização, não podemos deixar de destacar a ambiência, que Brasil (2008c, p. 5), descreve como: Ambiência na Saúde refere-se ao tratamento dado ao espaço físico entendido como espaço social, profissional e de relações interpessoais que deve proporcionar atenção acolhedora, resolutiva e humana. As Unidades Básicas devem ser pensadas de maneira a promover os encontros entre trabalhadores e entre estes e a comunidade usuária. 37 A ambiência discutida isoladamente não muda o processo de trabalho, mas pode ser usada como uma das ferramentas facilitadoras que propiciam esse processo de mudança. A falta de recursos humanos é um fator que dificulta o processo de adoção da humanização do acolhimento, sobrecarregando os profissionais que atuam no serviço. Além do freqüente rodízio de profissionais, que se dá devido às condições de trabalho, tornando pouco possível a criação de um vínculo. A PNH traz como eixo de gestão do trabalho a promoção de ações que assegurem a participação dos trabalhadores nos processos de discussão e decisão, fortalecendo e valorizando os trabalhadores, sua motivação, seu desenvolvimento e seu crescimento profissional. (BRASIL, 2004). Assim, concluímos que a valorização dos profissionais atuantes nos serviços saúde, é peça chave para a consolidação das práticas humanizadoras do acolhimento. 6.2.6 Benefícios do acolhimento Quando questionamos aos enfermeiros participantes da pesquisa, sobre quais os benefícios do acolhimento, tivemos como resposta o seguinte discurso: Os benefícios do acolhimento podem voltar-se para a população, para os profissionais da enfermagem (principalmente os enfermeiros), e para a organização do serviço. A população consegue ser ouvida, melhor atendida, ter resolutividade para a sua necessidade de saúde, tem os seus direitos atendidos e ficam mais satisfeitos com o serviço prestado. Os profissionais da enfermagem são valorizados, facilitando o trabalho em equipe, e tendo o enfermeiro como referência dentro da unidade. A organização do serviço é beneficiada, pois o acolhimento leva a diminuição das filas, agilidade do atendimento da demanda livre, e ao aumento da produtividade. E, o principal benefício que é comum a todos é 38 o estabelecimento de um vínculo entre os profissionais e a população. (DSC). O discurso dos sujeitos contempla aos principais objetivos da PNH, exceto em relação aos benefícios para a organização do serviço, descritos como a produtividade e a agilidade no atendimento da demanda livre. A PNH estabelece como principais valores, a valorização da autonomia e o protagonismo dos sujeitos, de co-responsabilidade entre eles, de solidariedade dos vínculos estabelecidos, dos direitos dos usuários e da participação coletiva no processo de gestão. Destacamos ainda que o principal benefício do acolhimento, descrito no discurso é o estabelecimento de vínculos, nos remetendo aos conceitos de autores que defendem o vínculo como principal ferramenta para a prática humanizadora do acolhimento. Para Franco et al (1999), o vínculo como a diretriz que, acoplada ao acolhimento, é capaz de garantir o real reordenamento do processo de trabalho na Unidade de Saúde, resolvendo definitivamente a divisão de trabalho compartimentada e saindo da lógica agenda/consulta, para uma outra lógica da responsabilização de uma equipe multiprofissional. O acolhimento enquanto diretriz operacional propõe mudar a lógica da organização e do funcionamento do serviço de saúde, e que este seja organizado de forma usuário centrado, partindo dos seguintes princípios: atender a todas as pessoas que procuram os serviços de saúde garantindo a acessibilidade universal. Assim, o serviço de saúde assume sua função precípua, a de acolher, escutar e dar uma resposta positiva, capaz de resolver os problemas de saúde da população; reorganizar o processo de trabalho, a fim de que este desloque seu eixo central, do médico para uma equipe multiprofissional – equipe de acolhimento -, que se encarrega da escuta do usuário, comprometendo-se a resolver seu problema de saúde; e qualificar a relação trabalhador-usuário, que deve dar-se por parâmetros humanitários, de solidariedade e cidadania. (PINHEIRO, 2001). O acolhimento surge como uma possibilidade viável para a promoção de mudanças nos serviços de saúde, com o objetivo de promover um novo modelo de organização da assistência. Assim, é dito como uma diretriz operacional do modelo, que apresenta uma nova definição da relação com o usuário, entendendo-o como sujeito, que apresenta um problema de saúde, e, além disso, tem uma história de 39 vida, um modo cultural, e relações, tornando-o um ser único. Do mesmo modo é portador de direitos de cidadania, e direito à assistência que atenda a sua necessidade de saúde. Sendo assim, o acolhimento é uma diretriz que só opera em um modelo que está centrado no usuário e no seu problema de saúde. (PANNIZI; FRANCO, 2004). Assim como o acolhimento valoriza a relação com o usuário, ele dá também novo significado às relações da própria equipe que tem a necessidade de interagir durante seu processo de trabalho construindo uma verdadeira “rede de conversas”, no momento em que realiza a assistência. Isto potencializa muito sua capacidade resolutiva, uma vez que, durante o trabalho assistencial, devem ocorrer troca de saberes e práticas entre os profissionais. Esse trabalho em rede que constitui de compromissos mútuos, aumentando o potencial para a resolução dos problemas de saúde. (PANNIZI; FRANCO, 2004). Dentro desta proposta de acolhimento, como diretriz operacional, não podemos deixar de observar que com a adoção do mesmo, ocorre a valorização da equipe de enfermagem, uma vez que esta adota uma posição de destaque dentro da UBS. Assim, relembramos um dos dispositivos disposto na PNH, que ao entendimento de humanização do SUS, sendo este: “Mudança nos modelos de atenção e gestão em sua indissociabilidade, tendo como foco as necessidades dos cidadãos, a produção de saúde e o próprio processo de trabalho em saúde, valorizando os trabalhadores e as relações sociais no trabalho”. (BRASIL, 2004). Entendemos que os benefícios do acolhimento são muitos, o que nos faz defendê-lo como um novo modelo assistencial que deve ser adotado por toda a rede assistencial de saúde. 6.2.7 Acolhimento e a humanização da assistência Não temos como discutir acolhimento sem nos remeter à humanização, por tanto ao questionarmos qual a relação do acolhimento com a humanização da assistência, o discurso apresentado foi: O acolhimento e a humanização da assistência estão interligados, um depende do outro. A adoção do acolhimento 40 torna o serviço mais humanizado, ocorre essa relação na escuta do paciente, dando-lhe atenção, tratando-lhe bem, com respeito e educação, dando uma resolutividade ao seu problema, dando um atendimento digno e criando um vínculo. (DSC). A partir do discurso do sujeito coletivo, conseguimos identificar os valores que norteiam a PNH, porém na realidade do serviço prestado sabemos que o acolhimento se restringe a prática de triagem2 aos usuários que procuram o atendimento de “urgência” e encaminhá-los para o atendimento médico. Ao falarmos em cuidado de enfermagem ao ser humano (seja voltado para a assistência ou para as relações de trabalho) implica, essencialmente, em cuidado humanizado. Contudo, é importante ressaltar que, muitas vezes, devido à sobrecarga imposta pelo cotidiano do trabalho, a enfermagem presta uma assistência mecanizada e tecnicista, não-reflexiva, esquece de humanizar o cuidado justamente por entender que em si o cuidado deve ser humanizado. (COLLET; ROZENDO, 2003). A humanização da assistência de enfermagem e a humanização das relações de trabalho de enfermagem surgem de uma necessidade social e historicamente construída, não como mais um modismo da profissão que tenta colocar essa temática em voga de si mesma, mas como um dos aspectos do trabalho da enfermagem que contribui, significativamente, para a construção de uma assistência de qualidade. (COLLET; ROZENDO, 2003). Humanizar é ofertar atendimento de qualidade, é articular os avanços tecnológicos com acolhimento, com melhoria dos ambientes de cuidado e das condições de trabalho dos profissionais de saúde. Para o Sistema Único de Saúde (SUS), a humanização deve ser vista como uma das dimensões fundamentais, devendo ser enfocada como uma política que opere transversalmente em todas as redes deste sistema de saúde. (BRASIL, 2008c). Percebemos no discurso que os trabalhadores da saúde, ainda não refletem sobre a PNH, sobre humanização, apenas cumprem suas atribuições, seguindo um modelo tecnicista. 2 Triagem é dita como a seleção/escolha dos usuários que receberão atendimento, no caso atendimento médico (FERREIRA, 1998). 41 Segundo o Ministério da Saúde humanizar é adotar uma prática em que profissionais e usuários considerem o conjunto dos aspectos físicos, subjetivos e sociais que compõem o atendimento à saúde. Humanizar refere-se, portanto, à possibilidade de assumir uma postura ética de respeito ao outro, de acolhimento do desconhecido e de reconhecimento dos limites. Trata-se de um agir inspirado em uma disposição de acolher e de respeitar o outro como um ser autônomo e digno. Para tanto, é necessário repensar as práticas das instituições de saúde, buscando opções de diferentes formas de atendimento e de trabalho que preservem este posicionamento ético no contato pessoal e no desenvolvimento de competências relacionais. (BRASIL, 2001). Assim, ao pensarmos na humanização como uma política de mudanças, devemos despertar o interesse dos trabalhadores, para a reflexão e conscientização sobre os propósitos da PNH, com o intuito de ocorrer a adoção de mudanças de comportamento, que levem a reorganização das práticas assistenciais de saúde. 42 7 Considerações Finais No momento de finalizar a discussão dessa temática tão complexa como as percepções das enfermeiras sobre a prática do acolhimento, é importante considerar que não se trata de um momento conclusivo. Ao contrário, o sentido deste trabalho é trazer questões para serem refletidas, debatidas e questionadas, no campo da humanização da assistência. As reflexões aqui apresentadas não se configuram como conclusões, constituem-se sim em considerações transitórias para impulsionar o debate acerca da prática do acolhimento á luz da Política Nacional de Humanização nas Unidades Básicas de Saúde. A utilização do conceito de humanização como proposto pela PNH no campo da saúde, pode ser considerado recente, o que nos incentivou a utilizar a PNH como marco conceitual de nossa pesquisa. Devido o seu caráter humanístico, esperamos que esta pesquisa contribua para a reflexão e organização das práticas do acolhimento das Unidades de Saúde de modo geral, conforme os valores que norteiam a PNH. Nosso cenário de pesquisa foi a Saúde da Família, destacando a Estratégia de Saúde da Família, que propõe uma nova dinâmica para a estruturação dos serviços de saúde, que assume o compromisso de prestar assistência universal, integral, equânime, contínua e, acima de tudo, resolutiva à população, na unidade de saúde e no domicílio, sempre de acordo com as suas reais necessidades. (RIBEIRO, 2004). Ao destacarmos os objetivos do PSF temos: a definição de responsabilidades entre serviços e população, a Humanização das práticas da saúde, o estabelecimento de um vínculo entre profissionais de saúde e a população, o estímulo à organização da comunidade para o exercício do controle social e o reconhecimento da saúde como direito de cidadania. (BRASIL, 1997). Percebemos que não temos como exercer a Estratégia de Saúde da Família, sem pensarmos em humanização e estabelecimento de vínculo. Entendendo que o vínculo é um processo que liga o trabalhador e o usuário do serviço de saúde, gerando uma ligação afetiva e moral entre ambos, numa convivência de ajuda e respeito mútuos. (BRASIL, 2008b). 43 Segundo o Ministério da Saúde humanizar é adotar uma prática em que profissionais e usuários considerem o conjunto dos aspectos físicos, subjetivos e sociais que compõem o atendimento à saúde. Humanizar refere-se, portanto, à possibilidade de assumir uma postura ética de respeito ao outro, de acolhimento do desconhecido e de reconhecimento dos limites. Trata-se de um agir inspirado em uma disposição de acolher e de respeitar o outro como um ser autônomo e digno. Para tanto, é necessário repensar as práticas das instituições de saúde, buscando opções de diferentes formas de atendimento e de trabalho que preservem este posicionamento ético no contato pessoal e no desenvolvimento de competências relacionais. (BRASIL, 2001). A partir das reflexões sobre as questões identificadas ao longo da análise, podemos ressaltar que a definição de acolhimento dos sujeitos de pesquisa, não condiz com a prática realizada, uma vez que na prática é dito ainda como a “triagem” dos usuários que procuram atendimento de urgência para o posterior atendimento médico. Assim, o 'acolhimento' é mais do que uma triagem qualificada ou uma 'escuta interessada', pressupõe um conjunto formado por atividades de escuta, identificação de problemas e intervenções resolutivas para seu enfrentamento, ampliando a capacidade da equipe de saúde em responder as demandas dos usuários, reduzindo a centralidade das consultas médicas e melhor utilizando o potencial dos demais profissionais. (TEIXEIRA, 2003). Avaliamos que o maior desafio dos profissionais da estratégia da saúde da família é concretizar, na prática cotidiana, a integração com o que o outro diz, que é mais que a construção de um vínculo/responsabilização. Traduzindo-se em realizar uma efetiva mudança na relação com o usuário, evidenciando o que ele é um ser social, com vida plena e digna como expressão de seu direito. A integralidade da atenção à saúde, em suas ações de promoção, prevenção e assistência poderá, assim, representar um novo modo de “fazer saúde”, numa perspectiva que coloca o usuário como sujeito de sua própria história. A Humanização implica também investir no trabalhador para que ele tenha condições de prestar atendimento humanizado. É priorizada a importância do trabalhador como elemento fundamental para a humanização do atendimento, devendo ser implementadas ações de investimento em termos de número suficiente de pessoal, salários e condições de trabalho adequados, bem como atividades 44 educativas que permitam o desenvolvimento de competência para o cuidar. (RIZZOTTO, 2002). Ao ser dada ênfase no trabalhador, como elemento fundamental para a humanização, são também apontados alguns “meios” mais subjetivos relacionados à atitude profissional, para humanizar o atendimento em saúde. Nesse contexto, é apontado como necessário o desenvolvimento da afetividade, sensibilidade e abertura para a escuta e o diálogo, com vistas a acolher o usuário dos serviços de saúde: “Outro aspecto que envolve reflexão e mudança por parte da equipe de saúde para a humanização da assistência diz respeito ao vínculo (...). Criar vínculos implica em estabelecer relações tão próximas e tão claras que todo o sofrimento do outro nos sensibiliza”. A humanização é pouco abordada no processo de formação. Além disso, admite-se a dificuldade em ensinar “humanização” nas relações interpessoais, considerando as questões subjetivas que se fazem presentes como, por exemplo, a sensibilidade. (RIZZOTTO, 2002). Trabalhar com humanização, não é uma tarefa fácil, por ser um tema pouco discutido entre os profissionais de saúde, tivemos algumas dificuldades em abordálo. Ao iniciarmos a coleta de dados, percebemos que os profissionais tinham um pouco de receio em responder nossa pesquisa. Tanto que um participante, negou-se em responder aos nossos questionamentos. Ao iniciarmos a transcrição dos dados, percebemos que este receio por parte dos profissionais, ocorreu por falta de domínio sobre o que seria realmente o acolhimento, suas implicações dentro da equipe, e principalmente a falta de domínio sobre a humanização como uma proposta da Política Nacional de Humanização. Os princípios do acolhimento não são claros para os sujeitos de pesquisa, e requer deles uma nova postura referente às práticas assistenciais, onde a humanização deve ser vista e aplicada em todas as relações existentes dentro do processo de trabalho. Entendemos que o tema acolhimento e humanização, começou a ser discutido recentemente, mas, ao analisarmos o tempo de formação dos profissionais participantes da pesquisa, constatamos que a maioria deles formou-se após o “aparecimento” do acolhimento e da humanização. Apesar dos DSC serem formados a partir do discurso de cada sujeito não são muito condizentes com o que é proposto pela PNH, destacamos que há possibilidade de mudanças, tanto no processo de trabalho e gestão dos serviços 45 (co-gestão, ambiência, clínica ampliada, programa de formação em saúde do trabalhador, capacitação dos profissionais, direitos dos usuários e ações coletivas) que levem a concretização de práticas humanizadas. O desenvolvimento deste Trabalho de Conclusão de Curso nos proporcionou momentos valiosos de aprendizagem enriquecendo e aprimorando nossos conhecimentos acerca da temática proposta. Como acadêmicas de enfermagem em vésperas de iniciarmos nossa carreira profissional como enfermeiras, e terminando nosso Trabalho de Conclusão de Curso, acreditamos que o acolhimento e a humanização propostos pela PNH, vieram para auxiliar, inovar e reformular a assistência prestada nos serviços de saúde do SUS. Sendo o SUS uma rede de serviços de saúde, complexa, com diversos focos de atenção, que tem por objetivo a garantia do direito à saúde de todos. Sabemos que ele possui muitos problemas, mas quando lidamos com a defesa da vida, aceitamos a superação desses desafios, para aprimorar e consolidar esse sistema e produzir saúde a toda a população. Assim, devemos lutar para tornar a humanização um movimento capaz de fortalecer o SUS como política pública de saúde, e de garantia dos direitos de cidadania. 46 8 REFERÊNCIAS ALVES, M. et.al. Perfil dos gerentes de unidades de unidades básicas de saúde. Rev. Brasileira de Enfermagem, Brasília, v. 57, n. 4, jul/ago, 2004. ARAÚJO, M. R. N. de et al. Saúde da Família: cuidado no domicílio. Revista Brasileira de Enfermagem, Brasília, v.53, p. 117-122, dez. 2000. Edição Especial. BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Atenção Primária da Saúde. Brasília: CONASS, 2007b. BRASIL. Ministério da Saúde. Fundação Nacional de Saúde. Departamento de Operações. Coordenação de Saúde da Comunidade. PSF. Brasília: Ministério da Saúde, 1994. BRASIL. Ministério da Saúde. HumanizaSUS. HumanizaSUS de A a Z. Brasília, 2007c. BRASIL. Ministério da Saúde. Pacto pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão. 2. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2006. BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Atenção Básica. 4. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2007a. BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Humanização. Brasília: SE, 2004. BRASIL. Ministério da Saúde. Programa Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar. Brasília: Ministério da Saúde, 2001. BRASIL. Ministério da Saúde. Saúde da Família: uma estratégia para a reorientação do modelo assistencial. Brasília, 1997. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Núcleo Técnico da Política Nacional de Humanização. Acolhimento nas Práticas de Produção de Saúde. 2. ed. Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2008a. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Núcleo Técnico da Política Nacional de Humanização. HumanizaSUS: Documento base para gestores e trabalhadores do SUS. 4. ed. Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2008b. 47 BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria-Executiva. Núcleo Técnico da Política Nacional de Humanização. HumanizaSUS: ambiência. 2. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2008c. BRASIL. Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. Brasília,1996. BRASIL. Sistema Único de Saúde. Sistema Único de Saúde: Legislação Básica. 2. ed. Florianópolis: Secretaria de Estado da Saúde, 2002. CAMPOS, G. W. S. Considerações sobre a arte e a ciência da mudança: revolução das coisas e reforma das pessoas: o caso da saúde, In: CECÍLIO, L. C. O. (Org.). Inventando a mudança na saúde. 2. ed. São Paulo: Hucitec, 1997. CASATE, J. C; CORRÊA, A. K. Humanização do atendimento em saúde: conhecimento veiculado na literatura brasileira de enfermagem. Rev Latino-am Enfermagem, v.13, n.1, p.105-111, jan/fev, 2005. COLLET, Neusa; ROZENDO, Célia Alves. Humanização e trabalho na enfermagem. Revista Brasileira de Enfermagem, v.56, n.2, p.189-192, mar./abr. 2003. CRESPO, V. P. Lei de Bases da Saúde nº 48/90 de 24 de agosto. Brasília, 1990. DESLANDES, S. F. Análise do discurso oficial sobre a humanização da assistência hospitalar. Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v.9, n.1, p.8-14, 2004. DIAS, L.P.M e TRENTINI, M. Meu primeiro Projeto Assistencial. Florianópolis. UFSC, 1994. FERREIRA, A. A. de H. Dicionário Aurélio Básico da língua portuguesa. 3.ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1997. FERREIRA, J. O Programa de Humanização da Saúde: dilemas entre p relacional e o técnico. Rev. Saúde e Sociedade, Rio Janeiro, v.14, n.3, p.111-118, set-dez. 2005. FINKELMAN, Jacobo (Org.). Caminhos da Saúde Pública no Brasil. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2002. FONTINELE JUNIOR, Klinger. Etica e bioetica em enfermagem. 2. ed. Goiânia: AB, 2002. 48 FORTES, P. A. de C.; MARTINS, C. de L. A Ética, a humanização e a saúde da família. Revista Brasileira de Enfermagem, Brasília, v.53, p. 31–33, dez. 2000. Edição Especial. FRACOLLI, L. A.; ZOBOLI, E. L. P. Acolhimento: uma tecnologia para a assistência. In: SANTOS, Álvaro da Silva; MIRANDA, Sônia Maria Rezende C. de. A enfermagem na gestão em atenção primária à saúde. Barueri: Manole, 2007. cap. 17, p. 376-392. FRANCO, T. B.; BUENO, W. S.; MERHY, E. E. O acolhimento e os processos de trabalho em saúde: o caso Betim-MG. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 15, n. 2, abr./jun., 1999. GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 3 ed. São Paulo: Atlas, 1996. IWAMOTO, H. H. et al. Curso introdutório para as equipes básicas do Programa de Saúde da Família. Revista Brasileira de Enfermagem, Brasília, v.53, p. 81-85, dez. 2000. Edição Especial. LEFÈVRE, Fernando; LEFÈVRE, Ana Maria Cavalcanti. O discurso do sujeito coletivo: Um novo enfoque em pesquisa qualitativa (Desdobramentos). 2. ed. Caxias do Sul: Educs, 2005. LEITE, J. C. A., et al. Acolhimento: perspectiva de reorganização da assistência de enfermagem. Revista Brasileira de Enfermagem, Brasília, v.52, n.2, p. 161-168, abr./jun., 1999. LEOPARDI, Maria Tereza. Metodologia da Pesquisa na Saúde. 2. ed. Florianópolis: Pallotti, 2002. MACHADO, M. H. Gestão do trabalho em saúde no contexto de mudanças. Rev. Adm. Public. v. 3, n. 4, p. 136-146, jul/ago, 2000. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Assistência à Saúde. Departamento de Assistência e Promoção à Saúde. Coordenação de Saúde da Comunidade. Saúde da Família: uma estratégia de organização dos serviços de saúde. Brasília, 1996. NUNES, C. B.; BARBOSA, M. A. M. Nossa história rumo à Saúde da Família. Revista Brasileira de Enfermagem, Brasília, v. 53, p. 103–106, dez. 2000. Edição Especial. PANIZZI, M.; FRANCO, T. B. A implantação do Acolher Chapecó – Reorganizando o processo de trabalho. In: FRANCO, T. B. et al. Acolher Chapecó: uma experiência 49 de mudança do modelo assistencial, com base no processo de trabalho. São Paulo: Hucitec; Chapecó: Prefeitura Municipal, 2004. PINHEIRO, R. As práticas do cotidiano na relação oferta e demanda dos serviços de saúde: um campo de estudo e construção da integralidade. In: PINHEIRO, R.; MATTOS, R. A. (Orgs.) Os sentidos da integralidade na atenção e no cuidado à saúde. Rio de Janeiro: IMS-UERJ, 2001. RIBEIRO, E. M. As várias abordagens da família no cenário do Programa Estratégia de Saúde da Família (PSF). Rev Latino-am Enfermagem, Ribeirão Preto, v.12, p. 658-64, jul-ago 2004. RIZZOTTO M. L. F. As políticas de saúde e a humanização da assistência. Rev. Bras. Enfermagem, v. 55, n. 2, p. 196-9,. mar/abr, 2002. SANTOS, B. R. LARA dos et al. Formando o enfermeiro para o cuidado à saúde da família: um olhar sobre o ensino de graduação. Revista Brasileira de Enfermagem, Brasília, v.53, p. 49-59, dez. 2000. Edição Especial. SANTOS-FILHO, S. B.; BARROS, M. E. B. de. Trabalhador da saúde: Muito prazer!. Ijuí: Unijuí, 2007. TEIXEIRA, R. R. O acolhimento num serviço de saúde entendido como uma rede de conversações. In: Pinheiro R, Mattos RA. Construção da integralidade: cotidiano, saberes e práticas em saúde. Rio de Janeiro: Instituto de Medicina Social, Universidade do Estado do Rio de Janeiro/ABRASCO; 2003. p. 49-61. TOBAR, Federico; YALOUR, Margot Romano. Como fazer teses em saúde pública: conselhos e idéias para formular projetos e redigir teses e informes de pesquisas. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2001. 50 APÊNDICE 1 ROTEIRO ENTREVISTA Caracterização do Sujeito Sexo Idade Tempo de formação Instituição formadora Cursos de especialização Cursos de capacitação Questões 1. Descreva como é o caminho percorrido pelo usuário até a resolução da sua necessidade de saúde. 2. Na unidade existe acolhimento? Quem faz e como é feito? 3. Como você definiria acolhimento? 4. No seu ponto de vista o que muda com a adoção do acolhimento na UBS? 5. Em que sentido o acolhimento mudou a organização do serviço? 6. Que elementos são necessários à prática do acolhimento? 7. Se existe, quais são as dificuldades/obstáculos encontrados no dia-a-dia no acolhimento? 8. No seu ponto de vista quais os benefícios do acolhimento? 9. O que seria necessário em sua opinião para transformar o acolhimento realizado em um acolhimento ideal? 10. Para você qual a relação do acolhimento com a humanização da assistência? 51 APÊNDICE 2 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO Prezado Enfermeiro (a), você está sendo convidado(a) para participar, como voluntário, em uma pesquisa. Após ser esclarecido(a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador responsável. Em caso de recusa você não será penalizado(a) de forma alguma. INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA: Título do Projeto: O Acolhimento na Saúde da Família: percepções dos enfermeiros à luz da Política Nacional de Humanização. Pesquisador Responsável: Msc. Felipa Rafaela Amadigi (orientador) Telefone para contato: 9128-9002. Pesquisador Participante: Amanda Besen de Abreu e Milene Daiana Martins (acadêmicas de enfermagem) Telefones para contato: 9942-4220 e 9953-0979. - Será realizada uma pesquisa qualitativa, descritiva. Onde serão analisadas as percepções das enfermeiras da Equipe de Saúde da Família sobre as práticas do acolhimento à luz da Política Nacional de Humanização. - Para a coleta e análise de dados será utilizada a técnica de entrevista a qual será gravada, transcrita e devolvida a você para que valide as informações prestadas. Você terá liberdade para acrescentar ou retirar informações que julgar pertinente. - Essa pesquisa não trará prejuízos para nenhuma das partes interessadas. - Esta pesquisa objetiva promover a humanização em saúde tomando como foco o processo de trabalho da enfermeira da equipe de saúde da família. - É de grande importância a realização desta pesquisa, pelo seu valor como mecanismo de aquisição de novos conhecimentos para a sociedade. - Será garantido sigilo das informações, anonimato dos sujeitos participantes, bem como o direito de liberdade de retirar o consentimento a qualquer momento, sem qualquer prejuízo aos mesmos. - A participação efetiva dos sujeitos de pesquisa ocorrerá no momento da coleta de dados através da entrevista. Felipa Rafaela Amadigi Profª Orientadora Amanda Besen de Abreu Acadêmica de Enfermagem Milene Daiana Martins Acadêmica de Enfermagem CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DO SUJEITO Eu, ______________________________________________, RG_____________, CPF _____________ abaixo assinado, concordo em participar do presente estudo como sujeito. Fui devidamente informado e esclarecido sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade ou interrupção de meu acompanhamento/assistência/tratamento. Local e data: _____________________________________________________________ Nome: __________________________________________________________________ Assinatura do Sujeito: ______________________________________________________ Telefone para contato: _____________________________________________________ 52 ANEXO 1 53 54 This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com. The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only. This page will not be added after purchasing Win2PDF.
Download