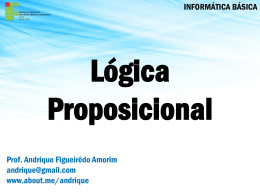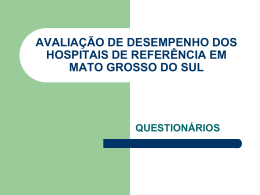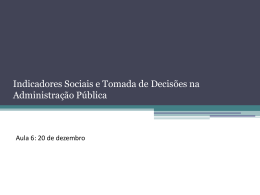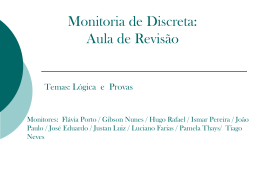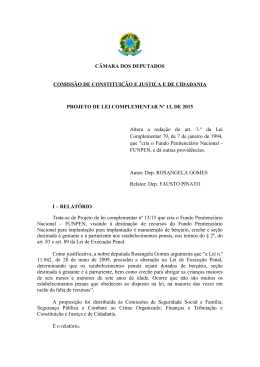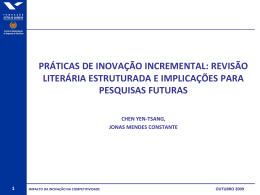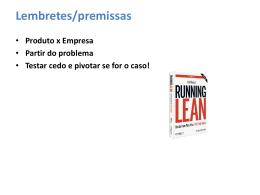Sentido e Verificação*
Moritz Schlick
As questões filosóficas, se comparadas aos problemas científicos comuns, são sempre
estranhamente paradoxais.
Entretanto, parece ser um paradoxo especialmente estranho o fato de que o problema concernente
ao sentido de uma proposição constitua uma dificuldade filosófica séria. Com efeito, porventura não
consiste a própria natureza de toda e qualquer proposição em expressar ela mesma o seu sentido?
De fato, quando deparamos com uma proposição - em uma língua que nos seja familiar -,
habitualmente conhecemos de imediato o seu significado. Se não o conhecermos, alguém pode nolo explicar, porém a explicação constará de uma nova proposição; e se esta nova proposição for
capaz de exprimir o sentido, por que razão a original não o terá conseguido fazer? De tal maneira
que uma pessoa comum, ao se lhe perguntar o que quis dizer com um certo enunciado, poderia com
plena razão responder o seguinte: "Quis dizer exatamente o que disse".
É logicamente legítimo - constituindo o caminho normal na vida ordinária e mesmo na ciência responder a uma questão atinente ao sentido de uma proposição, simplesmente repetindo-a de
maneira mais distinta ou em palavras ligeiramente diferentes.
Em que circunstâncias, portanto, pode ter sentido inquirir pela significação de um enunciado que
temos bem presente aos olhos ou aos ouvidos? Evidentemente, a única possibilidade é que não o
tenhamos compreendido. Neste caso, o que na realidade temos diante dos olhos ou aos nossos
ouvidos
não passa de uma seqüência de palavras que somos incapazes de manejar; não sabemos como
utilizá-las, como "aplicá-las à realidade".
Tal série de palavras é para nós simplesmente um conjunto de sinais "destituído de significação",
uma mera seqüência de sons ou uma pura seqüência de sinais gráficos no papel, não tendo nós
direito algum de denominá-la "uma proposição"; talvez possamos falar, no caso, de uma "frase" ou
"sentença".
Se adotarmos esta terminologia, podemos agora facilmente livrar-nos do paradoxo, dizendo que não
podemos perguntar pelo sentido de uma proposição, contudo podemos inquirir pelo sentido de uma
"frase" ou "sentença", e que isto eqüivale a perguntar "em lugar de que proposição está a frase ou
sentença?"
Esta última questão, respondemo-la ou por uma proposição em uma língua com a qual estamos
perfeitamente familiarizados, ou indicando as regras lógicas que permitem transformar uma
sentença em uma proposição, isto é, indicando em que circunstâncias a sentença deve ser
empregada.
Na realidade, esses dois métodos não diferem em princípio; ambos dão sentido à sentença ou frase
(em outros termos, ambos transformam-na em proposição). localizando-a, por assim dizer, dentro
do sistema de uma determinada língua ou linguagem. O primeiro método fa-lo-á empregando uma
linguagem que já possuímos; o segundo, construindo-a para nós.
O primeiro método representa a espécie mais simples da "tradução" comum; o segundo proporciona
uma compreensão mais profunda da natureza da significação, e deverá ser utilizado no intuito de
superar dificuldades filosóficas relacionadas à compreensão das sentenças.
A fonte dessas dificuldades encontra-se no fato de muitas vezes não sabermos como empregar as
nossas próprias palavras; falamos ou escrevemos sem antes termos concordado em uma gramática
lógica definida, que deve estabelecer o significado dos nossos termos.
Cometemos o erro de pensar que conhecemos o sentido de uma frase ou sentença, ou seja, que a
compreendemos como uma proposição, quando estamos familiarizados com todos os termos que
nela ocorrem. Todavia, isto não é suficiente. Não conduzirá isto à confusão ou erro enquanto
permanecermos no âmbito da vida de cada dia que formou as nossas palavras e para o qual estas são
adequadas; entretanto, tornar-se-á fatal no momento em que tentarmos refletir sobre problemas
abstratos com os mesmos termos, sem fixar diligentemente o seu significado para a nova finalidade.
Com efeito, cada palavra tem um determinado sentido ou significação somente dentro de outro
contexto definido no qual foi inserida e ao qual foi adaptada; em qualquer outro contexto carecerá
inteiramente de significação, a não ser que formulemos novas regras para o emprego da palavra no
mesmo caso; ora, isto pode ser feito, ao menos em princípio, de maneira muito arbitrária.
Consideremos um exemplo. Se um amigo me dissesse: "Leva-me a um país , onde o céu é três
vezes mais azul do que na Inglaterra", não saberia eu como satisfazer a tal desejo. A sua frase se me
antolharia carente de sentido, pois o termo "azul" é empregado de uma forma não prevista pelas
normas da nossa linguagem. A combinação de um número com a designação de uma cor não ocorre
nesta (linguagem; por este motivo, a frase de meu amigo não tem sentido, ainda que a sua forma
lingüística externa seja a de uma ordem ou a de um desejo.
Todavia, meu amigo pode naturalmente dar um sentido à sua frase. Se lhe perguntar: "O que
entendes por 'três vezes mais azul' poderá ele indicar arbitrariamente certas circunstâncias físicas
definidas com respeito à serenidade do céu, circunstâncias essas que deseja ver expressas na
descrição contida na sua frase. Então serei talvez capaz de atender à sua ordem; o seu desejo
adquirirá sentido para mim.
Desta forma, toda vez que fazemos, com respeito a uma frase, a pergunta, "Que significa ela", o que
esperamos é uma indicação das circunstâncias nas quais a frase deve ser- empregada; desejamos
uma descrição das condições em que a frase ou sentença formará uma proposição verdadeira, e das
condições em que a proposição é falsa.
Assim sendo, o significado de uma palavra ou de uma combinação de palavras será determinado por
uma série de normas que regulam o seu uso e que, segundo Wittgenstein, podemos denominar
normas da sua gramática, tomando este termo no seu sentido mais amplo.1
Enunciar o sentido de uma frase eqüivale a estabelecer as normas segundo as quais a frase deve ser
empregada, o que significa enunciar a maneira pela qual se pode constatar a sua verdade (ou a sua
falsidade). O significado de uma proposição constitui o método da sua verificação.
As regras "gramaticais" consistirão em parte em definições comuns, ou seja, em explanações de
palavras através de outros termos, e em parte no que se denomina definições "indicativas", isto é,
explicações através de um método que utiliza as palavras segundo o uso efetivo.
A forma mais simples de uma definição indicativa consiste em um gesto indicativo combinado com
a pronúncia de uma palavra, assim como quando ensinamos a uma criança o sentido do termo
"azul'' mostrando-lhe um objeto azul.
Contudo, na maioria dos casos a definição indicativa reveste uma modalidade mais complexa; não
podemos apontar um objeto que corresponda a palavras como "porque", "imediato", "acaso", "de
novo", etc. Nestes casos exigimos a existência de certas situações complexas, sendo o significado
das palavras definido pela maneira em que as empregamos nessas diversas situações.
É manifesto que, para compreendermos uma definição verbal, devemos antecipadamente conhecer
o sentido das palavras explicativas, assim como é óbvio que a única explicação que pode funcionar
sem qualquer conhecimento prévio é a definição indicativa.
Daqui concluímos que não existe nenhuma possibilidade de entender um sentido sem referir-nos em
última análise a definições indicativas, o que implica, em um sentido óbvio, referência à
"experiência" ou à "possibilidade de verificação".
Esta é a situação, parecendo-me nada haver mais simples ou menos sujeito a dúvida. Esta - e nada
mais - é a situação que descrevemos ao afirmar que o sentido de uma proposição somente pode ser
encontrado indicando-se as normas da sua verificação na experiência.2
Esta tese tem sido designada com a expressão "teoria experimental do sentido" (teoria hermenêutica
experimental). Ora, é certo que não se trata absolutamente de uma teoria, porquanto o termo
"teoria" é empregado para designar uma série de hipóteses acerca de uma determinada matéria, e a
nossa tese não envolve hipótese alguma, uma vez que não pretende ser outra coisa senão uma
simples afirmação do modo como na realidade se apura o sentido das proposições, tanto na vida
cotidiana como na ciência.
Jamais existiu alguma outra maneira para isto, e seria erro grave supor que descobrimos um novo
conceito de sentido, o qual seria contrário à concepção comum, conceito este que pretenderíamos
introduzir na filosofia.
Pelo contrário, o nosso conceito não somente concorda inteiramente com o senso comum e com o
método científico, senão que deles deriva. Embora o critério por nós adotado sempre tenha sido
empregado na prática, muito raramente foi formulado no passado, constituindo esta circunstância
possivelmente a única razão das tentativas feitas por tantos filósofos para negar a sua plausibilidade.
O caso mais conhecido de uma formulação explícita do critério por nós defendido é a resposta de
Einstein à seguinte questão: "Que queremos dizer ao falar de dois eventos que acontecem
simultaneamente em lugares distantes?"
A resposta de Einstein consistiu na descrição de um método experimental, através do qual se
constatou com certeza a simultaneidade de tais eventos. Os filósofos opositores de Einstein
mantinham - sendo que alguns deles continuam a manter - que sabiam o sentido da referida questão
independentemente de qualquer método de verificação.
Quanto a mim, não faço outra coisa senão aderir decididamente à posição de Einstein e não admitir
nenhuma exceção dela divergente.3 Não estou escrevendo para aqueles que acreditam estarem com
a razão os filósofos adversários de Einstein.
II
O Professor C. I. Lewis, num notável estudo sobre "A experiência e o sentido" 4 afirmou
recentemente que a tese acima exposta - refere-se a ela com a expressão "exigência empírica do
sentido'' (empirical meaning requirement) constitui o fundamento de toda a filosofia do que se tem
denominado "o positivismo lógico do Círculo de Viena".
Critica ele este fundamento como inadequado, sobretudo pelo motivo que a aceitação do mesmo
acarretaria necessariamente certas restrições à "importante discussão filosófica", restrições essas
que, em alguns pontos, tornariam tal discussão totalmente impossível, ao passo que, em outros
pontos, haveriam de restringir a discussão em medida intolerável.
Uma vez que me considero responsável por certas posições da filosofia vienense - que preferiria
chamar de empirismo consistente - e visto que, em meu entender, o supramencionado critério não
acarreta na realidade quaisquer restrições ao pensar filosófico, procurarei analisar os principais
argumentos do Prof. Lewis, expondo igualmente as razões em virtude das quais não acredito que
tais argumentos possam derrubar a nossa posição - ao menos na medida em que por ela assumo
responsabilidade.
Todos os meus argumentos derivarão das asserções feitas no ponto I acima.
Segundo a descrição do Professor Lewis, o método empirical meaning requirement exige que "todo
e qualquer conceito avançado ou qualquer proposição afirmada tenha uma denotação ou indicação
definida; que sejam inteligíveis não só verbal e logicamente, mas também no sentido de que se
possa especificar aqueles itens empíricos que determinariam a aplicabilidade do conceito ou
constituir a verificação da proposição". 5
Aqui parece-me não haver justificativa alguma para as palavras "mas também no sentido de que . . .
", acrescentadas no intuito de distinguir dois (ou três?) sentidos inteligíveis.
As observações tecidas na primeira parte demonstram que, em nosso entender, a compreensão
"verbal e lógica" consiste em saber como poderia ser verificada a proposição em pauta.
Com efeito, a menos que por "compreensão verbal" entendamos o fato de se saber como as palavras
são na realidade empregadas, dificilmente o termo poderia significar outra coisa a não ser um
nebuloso sentimento de estar familiarizado com as palavras.
Ora, em uma discussão filosófica não parece aconselhável denominar tal sentimento ou impressão
de "compreensão".
Similarmente, tampouco aconselharia qualificar de "logicamente inteligível" uma sentença,
simplesmente pelo fato de estarmos convencidos que a sua estrutura externa é a de uma proposição
autêntica.6
Efetivamente, acredito que com tal frase queremos expressar muito mais, isto é, que estamos
perfeitamente conscientes da gramática completa da sentença, ou seja, que conhecemos exatamente
as circunstâncias para as quais é adequada.
Assim sendo, conhecer a maneira de verificar uma proposição não constitui algo adicional ou
suplementar ao seu sentido ou compreensão verbal e lógica, senão que com ela se identifica. Em
conseqüência, parece-me que, ao exigirmos que uma proposição seja verificável, não estamos
acrescentando uma nova exigência, mas formulando simplesmente as condições que na realidade
sempre foram consideradas necessárias para averiguar o sentido e a inteligibilidade.
O mero enunciado de que nenhuma sentença tem sentido a não ser que sejamos capazes de indicar
um meio de comprovar a sua verdade ou falsidade, não apresenta muita utilidade se não
explicarmos com muito cuidado a significação das expressões "método de comprovar" e
"verificabilidade".
Tem o Prof. Lewis muita razão ao solicitar tal explicação.
Ele mesmo sugere algumas maneiras de dar tal explicação, e sinto prazer em declarar que as suas
sugestões me parecem concordar inteiramente com os meus próprios pontos de vista e os dos
filósofos meus amigos.
Será fácil demonstrar que não existe nenhuma discordância séria entre o ponto de vista do
pragmatista qual o entende o Prof. Lewis, e o dos empiristas vienenses. Se em alguns itens especiais
chegam a alguns pontos diferentes, é de se esperar que uma análise levada a efeito com mais
diligência elimine esta aparente divergência.
De que maneira definimos a verificabilidade?
Antes de tudo, gostaria de assinalar que, ao afirmar que "uma proposição só tem sentido se for
verificável", não estamos dizendo " . . . se for verificada".
Esta simples observação preliminar invalida uma das principais objeções; o here and now
predicament (predicado hic et nunc) já não existe mais.
Só caímos nas malhas desse predicado se considerarmos a própria verificação como critério do
sentido, ao invés de "possibilidade de verificação" (verificabilidade); isto conduziria a uma reductio
ad absurdum do sentido.
Obviamente o referido predicado se origina de alguma falácia pela qual essas duas noções são
confundidas. Não sei se a afirmação de Russell de que "o conhecimento empírico se restringe àquilo
que realmente observamos7 deve ser interpretada como contendo esta falácia, porém certamente
valeria a pena descobrir a sua gênese.
Consideremos o seguinte argumento, que o Prof. Lewis discute, 8 mas que não deseja atribuir a
ninguém:
"Suponhamos que nada tem sentido, a não ser que possa ser submetido a prova de uma verificação
decisiva. Ora, nenhuma verificação pode ser feita, a não ser na experiência do sujeito, experiência
esta direta e imediatamente presente. Conseqüentemente, nada pode ser significado, exceto o que
está atual e realmente presente na experiência dentro da qual esse sentido ou significado é
predicado".
O mencionado argumento apresenta a forma de uma conclusão tirada de duas premissas.
Suponhamos no momento que a segunda premissa tenha sentido e seja verdadeira. Mesmo neste
caso, observar-se-á que a conclusão não segue. Pois a primeira premissa nos afirma que uma coisa
tem sentido se puder ser verificada; a verificação não necessita ter lugar, sendo por conseguinte de
pouca importância se pode ser feita no futuro ou somente no presente.
Mesmo abstraindo disto, a segunda premissa é obviamente sem sentido. Com efeito, que fato
poderia ser possivelmente descrito pela sentença "a verificação só pode ter lugar na experiência
presente"? Não constitui, porventura, o verificar um ato ou processo semelhante ao ouvir ou ao
sentir-se aborrecido? Não poderíamos porventura com a mesma razão dizer que só posso ouvir ou
sentir-me aborrecido no momento presente? E que poderia eu querer dizer com isto?
A falta de sentido envolvida em tais frases tornar-se-á mais clara quando mais adiante falarmos do
"predicado egocêntrico". No momento, contentamo-nos com saber que o nosso postulado do sentido
empírico nada tem a ver em absoluto com o predicado-agora (now predicament). O termo
"verificável" nem sequer significa "verificável aqui e agora"; muito menos significa "ser verificado
agora".
Possivelmente se acredite que a única maneira de ter certeza da verificabilidade de uma proposição
consistiria na sua verificação real. Brevemente veremos que tal não é o caso.
Parece haver uma forte tendência a estabelecer entre o sentido e "o dado imediato" uma conexão
que não corresponde à verdadeira realidade. Devo dizer que alguns dos positivistas de Viena podem
ter cedido a esta tentação, aproximando-se assim perigosamente da falácia que acabamos de
descrever. Por exemplo, algumas partes da obra Der Logische Aufbau der Welt (A Construção
Lógica do Mundo) poderiam ser interpretadas no sentido de que uma proposição acerca de eventos
futuros na realidade não se referiria ao futuro, mas afirmaria apenas a existência presente de certas
expectativas ou esperanças.9
É certo, porém, que o autor desse livro atualmente não defende tal ponto de vista, e que este não
pode ser considerado uma tese do novo positivismo. Pelo contrário, já desde o início salientamos
que a nossa definição de sentido ou significação não implica tais conseqüências absurdas. E se
alguém perguntasse: "De que maneira se pode verificar uma proposição acerca de um evento
futuro?", responderíamos, como já respondemos: "Por exemplo, esperando que o evento aconteça!"
Com efeito, o "aguardar" constitui um método de verificação perfeitamente legítimo.
*
Desta forma, acredito que todos, inclusive o adepto do empirismo consistente, concordam em que
seria um absurdo afirmar que "nada podemos significar a não ser o que é imediatamente dado".
Se na sentença acima substituirmos o termo "significar" pela palavra "saber" ou "conhecer",
chegamos a uma asserção semelhante à afirmação de Bertrand Russell que acabamos de mencionar.
Acredito que a tentação de formular frases deste tipo se origina de uma certa ambigüidade do verbo
to know (saber, conhecer), termo este que constitui a fonte de muitas dificuldades metafísicas, para
as quais muitas vezes já tive ocasião de chamar a atenção.10
Em primeiro lugar, a palavra pode significar simplesmente "estar consciente de um dado", ou seja, a
mera presença de um sentimento, de uma cor, de um som, etc.
Se o termo knowledge (conhecimento) for tomado nesta acepção, o asserto "o conhecimento
empírico restringe-se ao que realmente observamos" não diz nada em absoluto, mas constitui mera
tautologia.11
Em segundo lugar, a palavra knowledge pode ser empregada numa das importantes significações
que possui na ciência e na vida ordinária; nesta acepção, obviamente a asserção de Russell seria
falsa, conforme observou o Prof. Lewis. Como se sabe muito bem, o próprio Russell distingue entre
knowledge by acquaintance e knowledge by description (conhecimento por familiaridade e
conhecimento por descrição). Contudo, dever-se-ia talvez observar que esta distinção não coincide
inteiramente com aquela sobre a qual acabamos de insistir.
*
III
A verificabilidade significa a possibilidade de verificação.
Com acerto observa o Prof. Lewis que "omitir a análise completa da vasta gama de significação que
poderia ter a expressão 'verificação possível', eqüivaleria a deixar todo o conceito na
obscuridade".12
Para o nosso objeto é suficiente distinguir entre duas das muitas maneiras de empregar o termo
"possibilidade". Denominá-las-emos "possibilidade empírica" e "possibilidade lógica".
O Prof. Lewis descreve duas acepções da palavra "verificabilidade" que correspondem exatamente
à nossa distinção. Estando ele perfeitamente consciente deste fato, não me resta outra coisa senão
desenvolver cuidadosamente a distinção e mostrar a sua importância para o nosso tema.
Proponha que se qualifique como "empiricamente possível', tudo aquilo que não contradiz as leis da
natureza. Acredito seja este o sentido mais amplo em que possamos falar de possibilidade empírica.
Não restringimos o termo a acontecimentos que, além de estarem em conformidade com as leis da
natureza, concordam também com o estado real e atual do universo - sendo que "real" ou "atual" se
poderia referir ao momento presente das nossas próprias vidas, ou à condição dos seres humanos
que vivem neste planeta, e assim por diante.
Se escolhermos a última definição,13 não teremos aquela precisão de delimitação de conceitos que
necessitamos para o nosso objetivo. Assim sendo, "possibilidade empírica" significará
"compatibilidade com as leis naturais".
Ora, uma vez que não dispomos de um conhecimento completo e certo acerca das leis da natureza, é
evidente que jamais podemos afirmar com certeza a possibilidade empírica de qualquer fato, sendonos aqui facultado falar de graus de possibilidade. É possível, para mim, levantar este livro?
Certamente!
É possível, para mim, levantar esta mesa? Acredito que sim!
É possível, para mim, levantar esta mesa de bilhar? Acredito que não! É possível, para mim,
levantar este automóvel? Certamente não!
É óbvio que nesses casos a resposta é dada pela experiência, como resultado de experiências
levadas a efeito no passado. Todo e qualquer juízo acerca da possibilidade empírica baseia-se na
experiência e muitas vezes se caracterizará por uma certa incerteza; conseqüentemente, não haverá
uma delimitação precisa entre a possibilidade empírica e a impossibilidade empírica.
Seria deste tipo empírico a possibilidade de verificação na qual vimos insistindo?
Nesta eventualidade, haveria diferentes graus de verificabilidade; a questão do sentido seria um
problema de mais ou menos, não um problema de sim ou não. Em muitas das discussões a respeito
do nosso tema, a discussão versa sobre a possibilidade empírica da verificação. Por exemplo, os
vários exemplos de verificabilidade indicados pelo Prof. Lewis constituem exemplos de diferentes
circunstâncias empíricas, nas quais a verificação é feita ou é impedida de ser feita.
Muitos daqueles que se recusam a aceitar o nosso critério no tocante ao sentido parecem imaginar
que o método de aplicá-lo em um caso especial é mais ou menos o seguinte: uma proposição nos é
apresentada pronta; no intuito de descobrir o seu sentido, temos que tentar vários métodos de
verificar a sua verdade ou a sua falsidade; se um desses métodos funcionar, encontramos o sentido
da proposição; caso contrário, afirmamos que a proposição carece de sentido.
Se realmente devêssemos proceder dessa forma, é manifesto que a determinação do sentido
constituiria inteiramente uma questão de experiência, e, conseqüentemente, em muitos casos não se
poderia obter uma decisão precisa e definitiva. Como poderíamos ter certeza que esgotamos todas
as tentativas, no caso de nenhum dos métodos usados haver logrado êxito? Não poderiam
eventualmente os nossos esforços futuros revelar a existência de um sentido que anteriormente
fomos incapazes de descobrir?
É óbvio que toda esta concepção é inteiramente errônea. Fala do sentido como se este fosse uma
espécie de entidade ou ser inerente a uma sentença e nela escondido como um caroço dentro da
casca que o envolve, sendo que ao filósofo caberia quebrar a casca ou a sentença para descobrir o
caroço, o sentido.
Partindo das considerações que tecemos na primeira parte do presente estudo, que não existe
proposição que nos seja dada "pronta" (ready made); sabemos também que o sentido não inere a
uma sentença - sentença esta na qual o sentido poderia ser descoberto -, mas, antes, constitui algo
que deve ser dado ou conferido à sentença. Isto é feito, aplicando-se à sentença as regras da
gramática lógica da nossa linguagem, segundo explicamos na primeira parte.
Ora, tais regras ou normas não constituem fatos da natureza que poderiam ser "descobertos", senão
que constituem prescrições estipuladas por atos de definição. Essas definições devem ser
conhecidas daqueles que pronunciam a sentença em pauta, bem como daqueles que a ouvem ou a
lêem. Se assim não for, os referidos ouvintes ou leitores não são confrontados com uma proposição,
não havendo no caso nada que possam tentar verificar, uma vez que não se pode verificar a verdade
ou a falsidade de uma mera série de palavras. Nem sequer se pode começar a verificar antes de
conhecer o sentido, isto é, antes de se ter estabelecido a possibilidade da verificação.
Em outros termos, a possibilidade de verificação que importa para o sentido não pode ser do tipo
empírico; não pode ela ser estabelecida post festum. Temos que estar certos da mesma antes de
podermos considerar as circunstâncias empíricas e investigar se estas permitirão ou não verificação,
e em que condições o permitirão.
As circunstâncias empíricas revestem muita importância se quisermos saber se uma proposição é
verdadeira - o que compete ao cientista - porém não têm nenhuma relevância para o sentido da
proposição (o que compete ao filósofo).
O Prof. Lewis discerniu e expressou isto com muita clareza,14 sendo que o nosso positivismo de
Viena - na medida em que eu mesmo possa responder por ele - concorda inteiramente com ele neste
ponto.
Cumpre enfatizar que, quando falamos de verificabilidade, entendemos a possibilidade lógica de
verificação, e somente isto.
*
Denomino "logicamente possível" um fato ou processo se este puder ser descrito, ou seja, se a
sentença que o descreve obedece às normas da gramática que estipulamos para a nossa língua.15
Vejamos alguns exemplos. As sentenças "Meu amigo faleceu depois de amanhã", "A dama usava
um vestido vermelho-escuro que era verde-claro", "A torre tem uma altura de 100 pés e de 150 pés",
"A criança estava nua, porém usava um roupão noturno longo e branco", obviamente violam as leis
que, no uso normal, governam o emprego dos termos que ocorrem em tais frases. Tais frases não
descrevem fatos reais, ou seja, são destituídas de sentido, uma vez que representam
impossibilidades lógicas.
É de importância máxima - não somente para o tema que nos ocupa no momento, senão para os
problemas filosóficos em geral - ver que, toda vez que falamos de impossibilidade lógica, referimonos a uma discrepância entre as definições dos nossos termos e o modo em que os empregamos.
Cumpre evitar o grave equívoco no qual incorrem alguns dos antigos empiristas - como Mill e
Spencer - que consideravam os princípios lógicos - por exemplo a lei da contradição - como leis da
natureza que regem o processo psicológico do pensamento.
As asserções carentes de sentido a que acima fizemos alusão, não correspondem a pensamentos ou
idéias que, por uma espécie de experimento psicológico, nos consideramos capazes de pensar; o que
acontece é que não correspondem a pensamento algum.
Ao ouvirmos as palavras "Uma torre que tem a altura de 100 pés e a altura de 150 pés", é possível
que em nossa mente surja a imagem de duas torres, de alturas diferentes, e podemos considerar
psicologicamente (empiricamente) impossível combinar as duas imagens em uma única, porém não
é este o fato designado pelos termos "impossibilidade lógica". A altura de uma torre não pode ser ao
mesmo tempo de 100 pés e de 150 pés; uma criança não pode ao mesmo tempo estar nua e estar
vestida - não porque sejamos incapazes de imaginar isto, mas pelo fato de que as nossas definições
de "altura',. dos números, dos termos "nu" e "vestido" não são compatíveis com as combinações
específicas desses termos nos nossos exemplos.
A expressão "não são compatíveis com tais combinações" significa que as regras da nossa língua
não previram um emprego para tais combinações; não descrevem nenhum fato.
Naturalmente, poderíamos modificar tais normas e desta forma encontrar um sentido para os termos
"tanto vermelho como verde'', "tanto nu como vestido". Todavia, se decidirmos aderir às definições
comuns - as quais se revelam na maneira como na realidade usamos as nossas palavras - decidimos
também considerar a referida combinação de termos como carentes de sentido, ou seja, decidimos
não usar tais combinações para descrever nenhum fato.
Qualquer que seja o fato que imaginemos ou não imaginemos, se o termo "nu" (ou "vermelho")
ocorrer na sua descrição, decidimos que a palavra "vestido" (ou "verde") não pode ser colocada no
lugar dele, na mesma descrição.
Se não seguirmos esta norma, isto significa que queremos introduzir uma nova definição das
palavras, ou que não nos importa empregar palavras destituídas de sentido, e apreciamos dizer
coisas sem sentido.16
O resultado das nossas considerações é o seguinte: a verificabilidade - que constitui a condição
suficiente e necessária do sentido ou significação - é uma possibilidade de ordem lógica; a
verificabilidade deriva do fato de construirmos a frase em conformidade com as regras pelas quais
são definidos os seus termos.
O único caso em que a verificação é (logicamente) impossível ocorre quando
nós mesmos a tivermos tornado impossível, não estabelecendo norma alguma para a sua
verificação. As regras gramaticais não se encontram na natureza, senão que constituem obra do
homem, sendo por princípio arbitrárias. Assim sendo, não podemos dar sentido a uma frase,
descobrindo um método para verificar a sua verdade, mas somente estipulando como isto deve ser
feito. Conseqüentemente, a possibilidade ou a impossibilidade lógica de verificação é sempre uma
auto-imposição. Se pronunciarmos uma frase destituída de sentido, será sempre por nossa própria
culpa.
A importância extraordinária desta última observação será percebida se considerarmos que aquilo
que dissemos acerca do sentido das asserções, vale também quanto ao sentido das questões.
Evidentemente, existem muitas questões que jamais podem ser respondidas pelo ser humano.
Cumpre notar, todavia, que a impossibilidade de encontrar resposta pode ser de duas espécies
diferentes.
Se a impossibilidade for simplesmente empírica, no sentido definido, se for devida às circunstâncias
do acaso resultantes dos condicionamentos da nossa existência humana, pode haver motivo para
lamentar a nossa sorte e a debilidade das nossas capacidades físicas e mentais; entretanto, jamais
poderíamos afirmar que o problema é absolutamente insolúvel, podendo haver sempre alguma
esperança, ao menos para gerações futuras. Com efeito, as circunstâncias empíricas podem vir a
sofrer modificação, é possível que os recursos humanos sejam desenvolvidos, e até mesmo as leis
da natureza podem sofrer alterações - talvez até repentinamente, e de tal maneira que o universo
permita investigações muito mais vastas.
Um problema deste tipo poderia ser qualificado de praticamente ou tecnicamente insolúvel,
podendo constituir-se em sério incômodo ou handicap para o cientista, porém, para o filósofo, que
somente se interessa diretamente pelos princípios de ordem geral, isto não representaria nenhum
motivo de grave preocupação.
Todavia, que dizer daquelas questões para as quais é logicamente impossível encontrar uma
resposta?
Tais problemas permaneceriam insolúveis em quaisquer circunstâncias imagináveis; tais questões se
nos apresentariam sempre com uma única resposta, definitiva e sem possibilidade de revisão:
ignorabimus.
Para o filósofo é extremamente importante saber se existem tais questões. Ora, a partir do que
dissemos é fácil depreender que tal calamidade somente poderia acontecer no caso de a própria
questão ser destituída de sentido. Neste caso estaríamos não diante de uma verdadeira questão, mas
apenas face a uma simples sucessão de palavras com um ponto de interrogação no fim.
Devemos dizer que uma questão tem sentido, se formos capazes de entendê-la, ou seja, se formos
capazes de, para qualquer proposição dada, decidir se, em caso de ser verdadeira, constituiria uma
resposta para a questão em pauta.
Assim sendo, a decisão somente poderia ser impedida pelas circunstâncias de ordem empírica, o
que significa que não seria logicamente impossível. Conseqüentemente, nenhum problema que
tenha realmente sentido pode ser insolúvel por princípio. Se, por conseguinte, acharmos ser
logicamente impossível uma resposta, sabemos que na realidade não estamos face a uma questão
verdadeira, mas diante de uma pseudo-questão, uma combinação de palavras destituída de sentido.
Uma autêntica questão é aquela para a qual existe possibilidade lógica de resposta. Este é um dos
resultados mais marcantes do nosso empirismo. Significa que por princípio não existe limite algum
para o nosso conhecimento. As fronteiras que devemos reconhecer são de natureza empírica e, por
conseguinte, jamais serão definitivas. Tais fronteiras podem ser progressivamente eliminadas. Não
existe nenhum mistério insondável no universo.
A linha divisória entre a possibilidade e a impossibilidade lógica de verificação é absolutamente
clara e nítida. Não existe nenhuma transição gradual entre "ter sentido', e "carecer de sentido".
Tanto para um como para o outro vale o princípio: ou ditamos ou não ditamos as normas
gramaticais de verificação; tertium non datur, não existe outra alternativa.
A possibilidade empírica é determinada pelas leis da natureza, porém o sentido e a verificabilidade
independem totalmente delas. Tudo aquilo que posso descrever ou definir, é logicamente possível e as definições de maneira alguma estão vinculadas às leis naturais.
A proposição "os rios correm para cima" tem sentido, mas é falsa porque o fato que descreve é
fisicamente impossível. Uma proposição não perderá o sentido pelo fato de as condições que
estipulo para a sua verificação serem incompatíveis com as leis da natureza; posso, por exemplo,
prescrever condições que só poderiam cumprir-se caso a velocidade da luz fosse superior à que na
realidade é, ou se não fosse válida a lei da conservação da energia, e assim por diante.
Um opositor do nosso ponto de vista poderia discernir um perigoso paradoxo ou mesmo um
contradição nas explicações que vimos dando, uma vez que, por uma parte, insistimos tanto no que
denominamos a "exigência empírica do sentido", e por outro lado afirmamos com tanta ênfase que o
sentido e a verificabilidade não dependem de quaisquer condições empíricas, senão que são
determinados por possibilidades puramente lógicas. O oponente objetará: se o sentido é uma
questão de experiência, como pode ser uma questão de definição e de lógica?
Na realidade, não existe contradição nem qualquer dificuldade. O termo "experiência" é ambíguo.
Em primeiro lugar, pode ele designar quaisquer assim chamados "dados imediatos" - o que
representa uma acepção relativamente moderna da palavra. Em segundo lugar, podemos empregar o
termo "experiência" no sentido em que, por exemplo, falamos de um "viajante experiente",
querendo referir-nos a uma pessoa que não somente viu muita coisa, mas também sabe como tirar
proveito delas para as suas ações. É nesta segunda acepção17 que se deve afirmar que a
verificabilidade é independente da experiência.
A possibilidade de verificação não repousa em qualquer "verdade da experiência", em alguma lei da
natureza ou em qualquer outra proposição verdadeira de ordem geral, senão que é determinada
exclusivamente pelas nossas definições, pelas normas que foram fixadas para a nossa língua, ou que
podemos estabelecer arbitrariamente a qualquer momento.
Todas essas normas em última análise apontam para definições indicativas segundo já explicamos, e
através delas a verificabilidade está vinculada à experiência no primeiro sentido da palavra.
Nenhuma regra de expressão pressupõe qualquer lei ou regularidade no mundo,18 porém,
pressupõe, sim, dados e situações aos quais se podem dar nomes.
As regras da linguagem constituem regras da aplicação da língua; assim sendo, deve haver alguma
coisa na qual esta pode ser aplicada. A expressabilidade e a verificabilidade constituem uma e
mesma coisa. Não existe antagonismo algum entre a lógica e a experiência. Não somente o lógico
pode ser ao mesmo tempo um empirista, mas deve sê-lo, se quiser compreender o que ele mesmo
está fazendo.
IV
Vejamos agora alguns exemplos, no intuito de ilustrar as conseqüências da nossa atitude no que
respeita a certos pontos da filosofia tradicional.
Tomemos o célebre caso da realidade do outro lado da lua - aliás, um dos exemplos mencionados
pelo Prof. Lewis.
Ninguém de nós - assim creio - estará disposto a aceitar uma opinião segundo a qual não teria
sentido falar da face oposta do nosso satélite. Pode porventura pairar a mínima dúvida quanto ao
fato de que, segundo as nossas explanações, neste caso se cumprem perfeitamente as condições para
que haja sentido?
Acredito que não possa haver dúvida alguma.
Com efeito, a pergunta "a que se assemelha o outro lado da lua?" poderia ser respondida, por
exemplo, por uma descrição daquilo que seria visto ou tocado por uma pessoa localizada em algum
ponto atrás da lua.
A questão de se é fisicamente possível para um ser humano - ou para qualquer ser vivente - viajar
em torno da lua nem sequer precisa ser levantada aqui, sendo completamente irrelevante.
Mesmo na hipótese de se poder demonstrar que uma viagem em volta de um corpo celeste fosse
absolutamente incompatível com as leis da natureza conhecidas, teria sentido uma proposição
acerca do outro lado da lua. Uma vez que a nossa frase fala de certos pontes no espaço como sendo
cheios de matéria,19 tem sentido indicar sob que circunstâncias deve ser qualificada como
verdadeira ou como falsa uma proposição do tipo "este lugar está cheio de matéria".
O conceito "substância física em um determinado lugar" é definido pela nossa linguagem na física e
na geometria. A própria geometria é a gramática das nossas proposições acerca das relações
"espaciais", e não é muito difícil ver como as asserções sobre as propriedades físicas e as relações
espaciais estão vinculadas com os "dados sensíveis" por definições indicativas.
Aliás, esta vinculação ou conexão, não é tal que nos autorize a afirmar que a substância física
constitui "uma simples construção baseada nos dados sensíveis", ou que um corpo físico constitui
"um conjunto de dados sensíveis" - a menos que interpretemos tais frases mais como abreviações
inadequadas da afirmação de que todas as proposições que encerram o termo "corpo físico"
requerem, para a sua verificação, a existência de dados sensíveis. Ora, isto constitui certamente uma
afirmação excessivamente trivial.
No caso da lua poderíamos talvez afirmar que a exigência para que haja sentido se cumpre se
formos capazes de "imaginar'' - representar mentalmente situações que verificariam a nossa
proposição.
Todavia, se disséssemos em geral que a verificabilidade de um asserto implica a possibilidade de
"imaginar" o fato afirmado, isto seria verdadeiro apenas em um sentido restrito. Não seria
verdadeiro na medida em que a possibilidade for de tipo empírico, isto é, que envolve capacidades
humanas específicas.
Não acredito, por exemplo, que possamos ser acusados de dizer coisas sem sentido se falarmos de
um universo em dez dimensões, ou de seres que possuem órgãos sensoriais e percepções
inteiramente diferentes das nossas; ora, não parece correto afirmar que somos capazes de
"imaginar" tais seres e tais percepções, ou um universo de dez dimensões. Todavia, devemos ser
capazes de dizer em que circunstâncias observáveis afirmaríamos a existência dos referidos seres.
É manifesto que posso falar com sentido sobre o som da voz de um amigo sem ser atualmente capaz
de recordá-lo na minha imaginação. Não cabe aqui discutir a gramática lógica do termo "imaginar".
Essas poucas observações são suficientes para precaver-nos contra uma aceitação precipitada de
uma explicação psicológica da verificabilidade.
Não devemos identificar o sentido ou significação com qualquer um dos dados psicológicos que
constituem a matéria de uma sentença mental (ou "pensamento") no mesmo sentido em que os sons
articulados constituem a matéria de uma sentença falada, ou os sinais pretos no papel constituem a
matéria de uma sentença escrita.
Ao fazermos um cálculo de aritmética, é de todo irrelevante se temos diante da mente as imagens de
números pretos ou de números vermelhos, ou nenhuma imagem visual. E mesmo que fosse
empiricamente impossível para alguém efetuar qualquer cálculo sem, ao mesmo tempo, imaginar
números pretos, de maneira alguma as imagens mentais desses sinais pretos poderiam
evidentemente ser consideradas como elementos constitutivos do sentido ou de parte do sentido do
cálculo.
Tem razão Carnap ao enfatizar com muita força o fato - sempre salientado pelos críticos do
"psicologismo" - de que a questão do sentido nada tem a ver com a questão psicológica dos
processos mentais que podem constituir um ato de pensamento.
Todavia, não estou plenamente certo de que Carnap tenha enxergado com igual clareza que a
referência a definições indicativas - que nós postulamos para que haja sentido - não envolve o erro
de uma confusão das duas questões. A fim de compreender uma sentença que contém, por exemplo,
as palavras "bandeira vermelha", é indispensável que eu seja capaz de indicar uma situação em que
poderia apontar um objeto que denominaria "bandeira", e cuja cor poderia reconhecer como
"vermelha", distinta de outras cores.
Entretanto, para fazer isto não é necessário que eu apele para a imagem de uma bandeira vermelha.
É extremamente importante ver que essas duas coisas nada têm em comum. Neste momento estou
tentando em vão imaginar a forma de um G maiúsculo em tipografia alemã; não obstante isto, posso
falar dele com sentido, e sei que haveria de reconhecê-lo se visse a letra. Imaginar um remendo
vermelho é inteiramente diferente de referir-se a uma definição indicativa de "vermelho". A
verificabilidade nada tem a ver com quaisquer imagens que possam ser associadas com as palavras
da sentença em questão.
*
Não mais difícil do que o caso do outro lado da lua será discutir - para tomarmos outro exemplo
significativo - a questão da "imortalidade'', questão esta que o Prof. Lewis denomina, como se
costuma fazer em geral, um problema metafísico.
Considero ponto pacífico a suposição de que "imortalidade" não significa vida sem fim - uma vez
que isto poderia possivelmente carecer de sentido pelo fato de estar envolvendo o conceito de
infinitude -, mas que a questão a discutir é a da sobrevivência após a "morte".
Acredito podermos concordar com o Prof. Lewis, quando este afirma o seguinte no tocante a esta
hipótese: "A nossa compreensão sobre o que haveria de comprovar tal hipótese não é destituída de
clareza".
Efetivamente, posso imaginar com facilidade, por exemplo, que assisto ao enterro do meu próprio
corpo e continuo a existir sem corpo, pois nada me é mais fácil do que descrever um mundo que
difere do nosso mundo ordinário exclusivamente pela ausência completa de todos os dados que
consideraria partes do meu próprio corpo.
Devemos concluir que a imortalidade, no sentido definido, não deve ser considerada como
"problema metafísico", senão que constitui uma hipótese empírica, pelo fato de ser logicamente
verificável. Poderia ser verificada seguindo-se a prescrição : "Aguarda até que morras".
O Prof. Lewis parece sustentar que tal método não é satisfatório do ponto de vista da ciência.
Afirma ele o seguinte:20
"A hipótese da imortalidade é inverificável num sentido óbvio . . . se mantivermos que somente o
que é cientificamente verificável tem sentido, pois esta concepção é um desses casos. Dificilmente
poderia ser verificada pela ciência; e não há nenhuma observação ou experimento que a ciência
pudesse efetuar, cujo resultado negativo pudesse refutá-la".
Presumo que nessas sentenças o método privado de verificação é rejeitado como não científico pelo
fato de que se aplicaria apenas ao caso individual da própria pessoa que tem experiência, ao passo
que uma afirmação científica deve ser suscetível de uma demonstração geral, aberta a qualquer
observador cuidadoso.
Todavia, não vejo razão por que mesmo isto deva ser considerado impossível. Pelo contrário, é fácil
descrever experiências tais que a hipótese de uma existência invisível de seres humanos depois da
sua morte corporal seria a explicação mais aceitável dos fenômenos observados.
Esses fenômenos, é verdade, deveriam ser de natureza muito mais convincente do que os ridículos
eventos que se diz terem ocorrido em reuniões dos ocultistas - porém acredito que não possa haver a
mínima dúvida quanto à possibilidade (no sentido lógico) de fenômenos que representariam uma
justificação científica da hipótese da sobrevivência após a morte, e permitiriam uma investigação
dessa forma de vida por métodos científicos.
Indiscutivelmente, a hipótese jamais poderia ser estabelecida com absoluta certeza, porém esta
característica é comum a todas as hipóteses.
Se alguém retrucasse que as almas dos falecidos poderiam morar em algum espaço supraceleste
onde não seriam acessíveis à nossa percepção, e que, por conseguinte, jamais se poderia constatar a
verdade ou a falsidade da asserção, a resposta seria que, se as palavras "espaço supraceleste"
possuem algum sentido este espaço deve ser definido de tal maneira que a impossibilidade de
alcançá-lo ou de perceber alguma coisa nele seria meramente empírica, de sorte que no mínimo se
poderia descrever algum meio de superar as dificuldades, ainda que tal meio ultrapassasse as forças
humanas.
Face a essas considerações, fica de pé a nossa conclusão.
A hipótese da imortalidade constitui uma afirmação empírica que deve o seu sentido à sua
verificabilidade, não tendo nenhum sentido além da possibilidade de verificação.
Se for preciso admitir que a ciência não poderia efetuar nenhum experimento cujo resultado
negativo refutaria esta hipótese, isto é verdade apenas no mesmo sentido em que o é para muitas
outras hipóteses de estrutura similar - especialmente para aquelas que derivaram a sua origem de
motivos outros que o conhecimento de uma grande quantidade de fatos da experiência que devem
ser considerados como emprestando uma alta probabilidade à hipótese.
O problema concernente à "existência do mundo externo" será abordado na próxima parte.
V
Voltemos agora a atenção para um ponto de fundamental importância e de extremo interesse para a
filosofia.
O Prof. Lewis refere-se a ele com a expressão "predicado egocêntrico", apresentando a tentativa de
tomá-lo a sério como uma das características mais salientes do positivismo lógico.
O Prof. Lewis parece formular o "predicado egocêntrico" na seguinte sentença:21 "A experiência
real e atual se dá na primeira pessoa". A sua importância para a doutrina do positivismo lógico
parece evidenciar-se pelo fato de Carnap, em sua obra Der Logische Aufbau der Welt (A Construção
Lógica do Mundo), declarar que o método deste livro pode ser chamado de "solipsismo
metodológico".
O Prof. Lewis acredita com acerto que o princípio egocêntrico ou solipsístico não é implicado pelo
nosso princípio geral da verificabilidade, considerando-o como um segundo princípio que,
juntamente com o de verificabilidade, em seu entender, conduz aos principais resultados da
Filosofia de Viena.
Se me for permitido tecer aqui algumas reflexões de ordem geral, gostaria de dizer que uma das
maiores vantagens e atrativos do verdadeiro positivismo parece-me ser a atitude anti-solipsística
que o caracteriza desde o início.
Existe, sim, um pequeno risco de solipsismo no positivismo, como em qualquer "realismo",
parecendo a mim que o ponto essencial que diferencia o idealismo do positivismo reside no fato de
que este último se conserva totalmente imune do predicado egocêntrico.
Em minha opinião, o maior equívoco reinante em torno do positivismo equívoco - este cometido
muitas vezes pelos próprios pensadores que se denominam positivistas - reside no fato de ver nele
uma tendência para o solipsismo ou uma semelhança com o idealismo subjetivo. Podemos
considerar a obra de Vaihinger A Filosofia do Como Se como um exemplo característico deste
equívoco,22 ao passo que a filosofia de Mach e Avenarius constituiria uma das tentativas mais
sérias para evitá-lo.
É um fato infeliz que Carnap advogou o que denomina "solipsismo metodológico", e que, na sua
construção de todos os conceitos a partir dos dados elementares, vêm em primeiro lugar os
eigenpsychische Gegenstaende (for-me entities, elementos egocêntricos) e constituem a base para a
construção dos objetos físicos, os quais ao final conduzem ao conceito de outros eus.
Todavia, se existe aqui algum equívoco, reside este, antes de tudo, na terminologia, não no próprio
pensamento. O "solipsismo metodológico" não é uma espécie de solipsismo, mas um método para
construir conceitos. Deve-se outrossim levar em conta que a ordem de construção recomendada por
Carnap começando pelas for-me entities - não é considerada como a única possível. Teria sido
melhor escolher uma ordem diferente, porém, em princípio, Carnap estava perfeitamente consciente
de que a experiência original é "sem um sujeito''.23
Importa enfatizar ao máximo o fato de que a experiência primitiva é absolutamente neutral ou,
como disse ocasionalmente Wittgenstein, que os dados imediatos "não têm proprietário''. Uma vez
que o verdadeiro positivista nega - com Mach, etc. - que a experiência original "tenha aquela
qualidade ou estrutura que caracteriza todas as experiências dadas, indicada pelo qualificativo
'primeira pessoa"',24 não pode tomar a sério o "predicado egocêntrico"; para ele tal predicado não
existe. Convencer-se de que a experiência primitiva não é experiência de primeira pessoa parece-me
constituir um dos passos mais importantes que a filosofia deve fazer se quisermos solucionar os
seus problemas mais profundos.
A posição única do self (ego) não representa uma propriedade básica de toda experiência, mas
constitui ela mesma um fato - entre outros - da experiência. O idealismo - na concepção do esse =
percipi (ser = ser percebido) de Berkeley ou da formulação Die Welt ist meine Vorstellung (o
mundo é a minha representação) de Schopenhauer ,- e outras doutrinas com tendências egocêntricas
incidem no grande erro de confundir a posição única do ego - que constitui um fato empírico - com
uma verdade lógica, a priori, ou, melhor, no equívoco de colocar um em lugar do outro.
Conseqüentemente, vale a pena investigar esta matéria e analisar a sentença que parece expressar o
predicado egocêntrico. Isto não será uma digressão, pois sem esclarecer este item será impossível
compreender a posição fundamental do empirismo que defendemos.
De que maneira o idealista e o solipsista chegam à afirmação de que o mundo, na medida em que o
conheço, é "a minha própria idéia", que em última análise nada conheço a não ser o "conteúdo da
minha própria consciência"?
A experiência ensina que todos os dados imediatos dependem, de uma forma ou de outra, daqueles
dados que constituem o que denomino "meu corpo". Todos os dados visuais desaparecem quando os
olhos deste corpo estão fechados; todos os sons cessam quando os ouvidos estão fechados; e assim
por diante.
Este corpo se distingue dos "corpos dos outros seres" pelo fato de que sempre aparece em uma
perspectiva peculiar - por exemplo, o seu dorso ou os seus olhos nunca aparecem, a não ser em um
espelho; todavia, isto não é tão significativo ou importante como o outro fato, ou seja, que a
qualidade de todos os dados é condicionada pelo estado dos órgãos deste corpo específico. É
patente que esses dois fatos - talvez, originalmente, o primeiro - constituem a única razão pela qual
este corpo é denominado "meu" corpo. O pronome possessivo o individualiza e o distingue de
outros corpos; é um qualificativo que assinala a unicidade descrita.
O fato de que todos os dados dependem do "meu" corpo - em especial as partes dele que se chamam
"órgãos dos sentidos" - nos leva a formar o conceito de "percepção". Não nos deparamos com este
conceito na linguagem dos povos primitivos e não sofisticados. Estes não dizem "percebo uma
árvore", mas, simplesmente, "existe uma árvore".
A "percepção" implica uma distinção entre o sujeito que percebe e um objeto que é percebido.
Originalmente, o sujeito que percebe é o órgão dos sentidos, ou o corpo ao qual este pertence,
porém, uma vez que o próprio corpo - incluindo o sistema nervoso -- também é uma das coisas
percebidas, a perspectiva original é logo "corrigida" colocando em lugar do percipiente um novo
sujeito, denominado "ego" ou "mente" ou "consciência".
Habitualmente concebe-se o "ego" ou a "consciência" como residindo no corpo, pois os órgãos dos
sentidos se encontram na superfície do corpo. O equívoco de localizar a consciência ou a mente
dentro do corpo - "na cabeça" -, equívoco este que é denominado por R. Avenarius "introjeção",
representa a fonte primordial das dificuldades do assim chamado "problema mente-corpo".
Ao evitarmos o erro da introjeção, evitamos, ao mesmo tempo, a falácia idealística que conduz ao
solipsismo.
É fácil demonstrar que a introjeção constitui um erro. Ao vermos um prado verde, dizemos que o
"verde" é um conteúdo da minha consciência, porém, na verdade, não está ele dentro da minha
cabeça. Dentro do meu crânio só existe o meu cérebro; e se acontecesse haver um ponto verde em
meu cérebro, obviamente não seria o verde do prado, mas o verde do cérebro.
Entretanto, para o propósito que perseguimos não é necessário continuar a analisar a seqüência do
pensamento, sendo suficiente recolocar os fatos com clareza.
É um fato da experiência que todos os dados dependem de alguma forma do estado de um certo
corpo que apresenta a peculiaridade de que os seus olhos e o seu dorso nunca são vistos a não ser
mediante um espelho. Este se denomina habitualmente "meu" corpo.
Aqui, porém, no intuito de evitar equívocos, tomarei a liberdade de chamá-lo de corpo " M''. Um
caso peculiar da dependência de que acabo de falar é expresso pela frase: "Não percebo nada, a não
ser que os órgãos dos sentidos do corpo M sejam afetados".
Em outros termos, considerando um caso ainda mais peculiar, posso fazer a seguinte afirmação:
"Eu sinto dor somente quando o corpo M for ferido". (P)
Denominarei esta afirmação "proposição P".
Consideremos agora uma outra proposição (Q):
"Eu só posso sentir a minha dor". (Q)
A frase Q pode ser interpretada de várias maneiras.
Primeiramente, pode ser considerada como equivalente a P, de sorte que P e Q seriam apenas duas
formas diferentes de exprimir um e mesmo fato empírico. A palavra "posso", ocorrente em Q,
designaria o que denominamos "possibilidade empírica", e os termos "eu" e "minha" ("meu") se
refeririam ao corpo M. É da máxima importância observar que nesta primeira interpretação Q é a
descrição de um fato da experiência, isto é, um fato que muito bem poderíamos imaginar como
sendo diferente.
Facilmente poderíamos imaginar25 que sinto uma dor toda vez que o corpo de meu amigo for
ferido; que estou contente quando o seu rosto apresenta uma expressão alegre; que me sinto cansado
depois de ele ter feito um longo passeio, ou até que nada enxergo quando os seus olhos estão
fechados, e assim por diante.
A proposição Q - se for interpretada como equivalente a P - nega que tais coisas jamais acontecem;
todavia, se na realidade acontecessem, demonstrar-se-ia a falsidade da proposição Q.
Assim sendo, indicamos o sentido de Q (ou de P) descrevendo fatos que tornam Q verdadeira, e
descrevendo outros fatos que tornariam Q falsa. Se ocorressem fatos desta última espécie, o nosso
mundo seria bastante diferente daquele em que na realidade vivemos; as propriedades dos "dados''
dependeriam de outros corpos humanos (ou talvez apenas de um deles) bem como do corpo M.
Este mundo fictício pode ser empiricamente impossível, por ser incompatível com as atuais leis da
natureza - embora não possamos em absoluto ter certeza disto -, porém seria logicamente possível,
uma vez que fomos capazes de descrevê-lo.
Suponhamos agora por um momento que este mundo fictício seja real. Como haveria a nossa
linguagem de adaptar-se a ele? Isto poderia ocorrer de duas maneiras diferentes, que são de
interesse para o nosso problema.
A proposição P seria falsa.
No que concerne a Q, haveria duas possibilidades. A primeira consiste em manter que o seu sentido
deve ainda ser o mesmo que o de P. Neste caso, Q seria falsa e poderia ser substituída pela
proposição verdadeira:
"Eu posso sentir a dor de uma outra pessoa tão bem como a minha própria". (R)
R haveria de afirmar o fato empírico - que no momento supomos verdadeiro - que o dado "dor"
ocorre não somente quando M é ferido, mas também quando é ferido algum outro corpo, digamos
por exemplo o corpo "O''.
Se exprimirmos o suposto estado de coisas pela proposição R, evidentemente não haverá nenhuma
tentação e nenhum pretexto para fazer qualquer afirmação "solipsística". Meu corpo - que neste
caso não poderia significar outra coisa senão o "corpo M" - continuaria a ser único pelo fato de que
sempre apareceria em uma perspectiva peculiar (com o dorso invisível, etc.), porém não seria mais
único no sentido de ser o único corpo de cujo estado dependeriam as propriedades de todos os
outros dados.
Ora, foi exclusivamente esta última característica que deu origem ao ponto de vista egocêntrico. A
dúvida filosófica em relação à "realidade do mundo externo" originou-se da consideração de que
não tenho nenhum conhecimento desse mundo a não ser através da percepção, ou seja, através dos
órgãos sensoriais do meu corpo.
Se isto não mais for verdade, se os dados dependerem também de outros corpos O - os quais
diferem de M quanto a certos aspectos empíricos, mas não em princípio - neste caso não haverá
mais justificativa para qualificar os dados de "meus próprios"; outros indivíduos O terão o mesmo
direito de serem considerados como sujeitos ou proprietários dos dados.
O cético tinha receio de que outros corpos O pudessem não ser outra coisa senão imagens possuídas
pela "mente" pertencente ao corpo M, pois tudo parecia depender do estado deste último; todavia,
nas circunstâncias descritas, existe perfeita simetria entre O e M; o predicado egocêntrico
desapareceu.
Chamar-me-ão talvez a atenção para o fato de que as circunstâncias que descrevemos são fictícias,
que não ocorrem em nosso mundo real, de maneira que neste mundo infelizmente o predicado
egocêntrico mantém o seu domínio.
A isto respondo que desejo basear o meu argumento exclusivamente no fato de a diferença entre as
duas palavras ser meramente empírica, ou seja, acontece que a proposição P é verdadeira no mundo
atual no que tange à nossa experiência.
A sua negação nem sequer parece ser incompatível com as leis da natureza conhecidas; a
probabilidade que tais leis dão à falsidade de P não é zero.
Ora, se ainda concordarmos em que a proposição Q deve ser considerada idêntica a P - o que
significa que "meu" deve ser definido como referindo-se a M - a palavra "posso" em Q ainda
indicará possibilidade empírica. Conseqüentemente, se um filósofo tentasse empregar Q como
fundamento para uma espécie de solipsismo, deveria preparar-se para ver toda a sua construção
demonstrada como falsa por alguma experiência futura. Ora, é exatamente isto que o verdadeiro
solipsista se recusa a fazer. Sustenta ele que nenhuma experiência poderia possivelmente
contradizê-lo, uma vez que teria sempre necessariamente o caráter peculiar de para mim, que pode
ser descrito pelo "predicado egocêntrico".
Em outras palavras, está ele perfeitamente consciente de que o solipsismo não pode basear-se em Q
enquanto Q, por definição, não for outra coisa senão uma outra maneira de exprimir P.
Com efeito, o solipsista que faz a afirmação Q dá um sentido diferente às mesmas palavras; não
quer ele simplesmente afirmar P, senão que entende dizer algo inteiramente diverso. A diferença
reside no termo "meu". Não quer ele definir o pronome pessoal através da referência ao corpo M,
porém o uso de uma forma muito mais geral.
Isto nos leva a perguntar: que sentido dá ele à sentença Q?
Examinemos agora esta segunda interpretação que pode ser dada a Q.
O idealista ou solipsista que afirma "Eu posso sentir somente a minha própria dor", ou, de maneira
mais geral, "Eu posso estar consciente somente dos dados de minha própria consciência", acredita
estar enunciando uma verdade necessária e evidente que nenhuma experiência possível é capaz de
fazê-lo abandonar.
Terá ele que admitir a possibilidade de circunstâncias como as que acima descrevemos para o nosso
mundo fictício. Contudo, dirá ele, mesmo que eu sinta dor toda vez que um outro corpo O for
ferido, nunca direi "Eu sinto a dor de O", mas sempre "A minha dor está no corpo de O".
Não podemos afirmar que esta asserção do idealista seja falsa; é apenas um modo diferente de
adaptar a nossa linguagem às novas circunstâncias imaginadas, e as normas da linguagem são, em
princípio, arbitrárias.
Entretanto, é natural que alguns empregos de nossas palavras podem recomendar-se como práticos e
bem adaptados ao passo que outros podem ser condenados como maus condutores. Examinemos a
atitude do idealista deste ponto de vista.
Rejeita o idealista a nossa proposição R e a substitui por esta outra:
"Eu posso sentir dor tanto em outros corpos como no meu próprio". (S)
Quer ele insistir que qualquer dor que eu sinta deve ser qualificada como minha dor, não
importando onde a dor é sentida. No intuito de afirmar isto, diz ele:
"Eu só posso sentir a minha dor''. (T)
A frase T é, no que diz respeito às palavras, a mesma que Q. Empreguei sinais ligeiramente
diferentes grifando os termos "posso" e "minha", no intuito de assinalar que, ao serem usados pelo
solipsista, essas duas palavras se revestem de uma significação diferente da que tinha em Q quando
interpretamos Q como significando a mesma coisa que P.
Em T, "minha dor" não mais significa "dor no corpo M", uma vez que, de acordo com a explicação
do solipsista, "minha dor" pode também estar em um outro corpo O. Assim sendo, devemos
perguntar: que significa aqui o pronome "minha"?
É fácil ver que o pronome não significa nada; é uma palavra supérflua, que pode perfeitamente ser
omitida.
"Eu sinto dor" e "Eu sinto a minha dor" devem ter a mesma significação, segundo a definição do
solipsista. Por conseguinte, o termo "minha" não tem função alguma na frase. Se o solipsista disser
"A dor que sinto é minha dor", está ele enunciando uma mera tautologia, uma vez que declarou que,
quaisquer que sejam as circunstâncias empíricas, nunca permitirá que se empreguem os pronomes
"tua" ou "sua" em conexão com "Eu sinto dor", mas sempre o pronome "minha".
Esta determinação, por ser independente de fatos empíricos, constitui uma regra lógica, e, se for
seguida, T se torna uma tautologia. O termo "posso" em T - juntamente com "exclusivamente" - não
denota impossibilidade empírica, mas impossibilidade lógica.
Em outras palavras, não seria falso, mas não teria sentido - ou seja, seria gramaticalmente proibido dizer "Eu posso sentir a dor de alguma outra pessoa". Uma tautologia, sendo a negação do semsentido, é ela mesma destituída de sentido, pelo fato de não afirmar nada, mas apenas indicar uma
regra no tocante ao emprego de palavras.
Concluímos que T, a qual constitui a segunda interpretação de Q, adotada pelo solipsista e formando
a base do seu argumento, é rigorosamente sem sentido. Não diz absolutamente nada, não exprime
nenhuma interpretação do mundo nem perspectiva alguma a respeito do mundo; apenas introduz um
modo estranho de falar, uma linguagem desajeitada, a qual atribui o termo "minha" (ou então
"conteúdo da minha consciência") a tudo, sem exceção.
O solipsismo carece de sentido, uma vez que o seu ponto de partida, o predicado egocêntrico, é
destituído de sentido.
As palavras "Eu" e "minha", se as usarmos de acordo com a prescrição do solipsista são
absolutamente vazias, meros adornos de linguagem.
Não haveria diferença alguma de sentido entre as três expressões: "Eu sinto a minha dor", "Eu sinto
dor", e "Existe dor".
Lichtenberg, o admirável físico e filósofo do século XVIII, afirmou que Descartes não tinha direito
algum de iniciar a sua filosofia com a proposição "Eu penso" (Cogito), ao invés de dizer "Pensa-se".
Da mesma forma como não teria sentido algum falar de um cavalo branco, a menos que fosse
logicamente possível a existência de um cavalo que não fosse branco, assim, não teria sentido
nenhuma frase que contenha as palavras "Eu" ou "meu',, a não ser que possamos substituí-las por
"Ele" ou "seu" sem dizermos algo carente de sentido.
Entretanto, tal substituição é impossível em uma frase que pareceria exprimir o predicado
egocêntrico ou a filosofia solipsística.
As proposições não são explicações ou interpretações diferentes de um certo estado de coisas que
descrevemos, mas simplesmente formulações verbalmente diferentes desta descrição.
É de fundamental importância ver que R e S não constituem duas proposições, mas uma e mesma
proposição em duas linguagens diversas. O solipsista, rejeitando a linguagem de R e insistindo na
linguagem de S, adotou uma terminologia que torna a proposição Q tautológica, transforma-a em T.
Desta forma, fez com que seja impossível verificar a verdade ou a falsidade das suas próprias
afirmações; ele mesmo as privou de sentido.
Recusando valer-se das oportunidades - que lhe mostramos - de dar um sentido à afirmação "Eu
posso sentir a dor de alguma outra pessoa", ao mesmo tempo malbaratou a oportunidade de dar
sentido à frase "Eu posso sentir somente a minha dor".
O pronome "minha" designa possessão. Não podemos falar do "proprietário" de uma dor - ou de
qualquer outro dado - a não ser em casos em que a palavra "minha" possa ser empregada com
sentido, ou seja, onde, substituindo tais termos por "sua" ou "tua", teríamos a descrição de um
estado de coisas possível.
Esta condição é cumprida se "minha" for definido como referindo-se ao corpo M, sendo também
cumprida se eu concordar em chamar de "meu corpo" qualquer corpo no qual eu possa sentir dor.
Em nosso mundo atual, essas duas definições aplicam-se a um e mesmo corpo, porém estamos aqui
face a um fato empírico que poderia ser diferente.
Se as duas definições não coincidissem, e se adotássemos a segunda, necessitaríamos de uma nova
palavra para distinguir o corpo M de outros corpos nos quais eu poderia ter sensações; o termo
"minha" teria sentido em uma frase do tipo "A é um dos meus corpos, mas B não o é", porém
careceria de sentido na afirmação "Eu posso sentir dor somente nos meus corpos", pois isto
representaria uma pura tautologia.
A categoria gramatical da palavra "proprietário" é semelhante à do termo "meu"; em outras
palavras: somente tem sentido onde for logicamente possível a uma coisa mudar de proprietário,
isto é, onde a relação entre o proprietário e o objeto possuído for empírica, não lógica ("externa",
não "interna").
Assim sendo, poderíamos dizer "O corpo M é o proprietário desta dor", ou então "Esta dor é
possuída pelos corpos M e O".
A segunda proposição talvez nunca possa ser afirmada com verdade em nosso mundo atual embora não consiga ver que a mesma possa ser incompatível com as leis da natureza - porém tanto
uma como a outra teriam sentido. O seu sentido consistiria em expressar certas relações de
dependência entre a dor e o estado de certos corpos, sendo que a existência de tal relação poderia
facilmente ser testada.
O solipsista recusa empregar a palavra "proprietário" desta maneira sensata. Sabe ele que muitas
propriedades dos dados não dependem absolutamente de quaisquer estados dos corpos humanos,
isto é, todas as regularidades do seu comportamento que podem ser expressas por "leis físicas"; sabe
ele, por conseguinte, que seria errôneo dizer "meu corpo é o detentor de tudo"; fala ele de um "ego",
ou "consciência", afirmando que este ego ou consciência é o detentor de tudo.
Isto não tem sentido, uma vez que a palavra "proprietário" ou "detentor" , quando empregada desta
maneira, perde o seu sentido.
A afirmação solipsística não pode ser verificada como verdadeira ou como falsa, senão que será
verdadeira por definição, quaisquer que sejam os fatos; consiste ela simplesmente na prescrição
verbal de acrescentar os termos "possuídos por mim" aos nomes de todos os objetos, etc.
Aliás, o idealista comete o mesmo erro ao afirmar que nada conhecemos a não ser "aparências".
Vemos, desta forma, que a não ser que optemos por designar o nosso corpo como proprietário,
detentor ou portador dos dados - o que pareceria constituir uma expressão bastante equívoca -,
temos que afirmar que os dados não têm proprietário nem portador.
Esta neutralidade da experiência - contra a subjetividade que o idealista para ela reclama - constitui
um dos aspectos mais fundamentais do verdadeiro positivismo.
A frase "Toda experiência é uma experiência da primeira pessoa" ou significará o simples fato
empírico de que todos os dados dependem, sob certos aspectos, do estado do sistema nervoso do
meu corpo M, ou será carente de sentido.
Antes que este fato fisiológico seja descoberto, a experiência de forma alguma é "minha"
experiência, mas é auto-suficiente e não "pertence" a ninguém.
A proposição "O ego constitui o centro do mundo" pode ser considerada como uma expressão do
mesmo fato, tendo sentido somente se se referir ao corpo. O conceito de "ego" é uma construção
que repousa sobre o mesmo fato, e poderíamos facilmente imaginar um mundo no qual este
conceito não teria sido elaborado, mundo no qual não haveria nenhuma idéia de uma barreira
intransponível entre o que está dentro do ego e o que está fora dele.
Teríamos neste caso um mundo no qual ocorrências como as correspondentes à proposição R e
similares constituiriam a regra, e no qual os fatos da "memória" não seriam tão pronunciados como
em nosso mundo atual.
Em tais circunstâncias não seríamos tentados a cair no "predicado egocêntrico", senão que a frase
que tenta expressar tal predicado seria carente de sentido em qualquer hipótese.
*
Após nossas últimas observações será fácil abordar o assim chamado problema relativo à existência
do mundo externo.
Se, com o Prof. Lewis, formularmos a hipótese "realista" afirmando: "Se todas as mentes
desaparecessem do universo, as estrelas continuariam nas suas trajetórias", devemos admitir a
impossibilidade de verificá-la, porém a impossibilidade no caso é meramente empírica. Aliás, as
circunstâncias empíricas são tais que temos todas as razões para crer que a hipótese é verdadeira.
Estamos tão certos disto quanto estamos certos do fundamento das leis físicas que a ciência
descobriu.
Com efeito, já assinalamos que existem certas regularidades no mundo, as quais a experiência
demonstra serem totalmente independentes daquilo que acontece aos seres humanos existentes na
terra.
Assim, as leis do movimento dos corpos celestes são formuladas inteiramente sem referência a
quaisquer corpos humanos, sendo esta a razão que nos autoriza a sustentar que tais corpos
continuarão na sua trajetória depois que o gênero humano desaparecer da terra.
A experiência não demonstra nenhuma conexão entre as duas espécies de eventos. Observamos que
o curso das estrelas não é mais alterado pela morte de seres humanos do que, por exemplo, pela
erupção de um vulcão, ou por uma mudança de governo na China. Por que motivo haveríamos de
supor que haveria alguma diferença se fossem extintos todos os seres viventes do nosso planeta, ou
mesmo em todo o universo? Não pode pairar dúvida alguma acerca do fato de que, em virtude de
evidência empírica, a existência de seres viventes não constitui condição necessária para a
existência do resto do mundo.
A questão "Continuará o mundo a existir após a minha morte?" não tem sentido algum, a não ser
que seja interpretada como significando "A existência das estrelas, etc. depende da vida ou da morte
de um ser humano?", questão esta para a qual a experiência fornece resposta negativa.
O erro do solipsista ou do idealista consiste em rejeitar esta interpretação empírica e procurar
alguma solução metafísica para ela. Todavia, todos os esforços do solipsista ou do idealista para
arquitetar um novo sentido para a questão acabam por privá-lo do seu sentido antigo.
Notar-se-á que tomei a liberdade de substituir a frase "se todas as mentes desaparecessem do
mundo" por "se todos os seres viventes desaparecessem do universo".
Espero que não se pense haver eu alterado o sentido do problema com esta substituição. Evitei o
termo "mente" porque o emprego para significar a mesma coisa que as palavras "ego'' ou
"consciência", que constatamos serem tão obscuras e perigosas. Por seres viventes entendo seres
capazes de percepção, e o conceito de percepção foi definido somente por referência a corpos
viventes, a órgãos vivos.
Desta forma, tive eu justificativa para substituir "desaparecimento das mentes" por "morte dos seres
viventes".
Todavia, os argumentos são válidos para qualquer definição empírica que se queira escolher ou dar
para "mente''. Preciso apenas assinalar que, de acordo com a experiência, o movimento das estrelas,
etc. é totalmente independente de todos os fenômenos "mentais" como sentir alegria ou tristeza,
meditar, sonhar, etc.; e podemos concluir que o curso das estrelas não seria afetado se tais
fenômenos cessassem de existir.
Entretanto, será verdade que tal conclusão pode ser verificada? Empiricamente isto parece
impossível, porém sabemos que se exige apenas a possibilidade lógica de verificação. Ora,
verificação sem uma "mente" é logicamente possível, em razão do caráter "neutro" e impessoal da
experiência, conforme acima insistimos.
A experiência primitiva, a mera existência de dados ordenados, não pressupõe um "sujeito", um
"ego", um "eu", uma "mente'', podendo efetuar-se sem qualquer um dos fatos que levaram à
formação de tais conceitos; não são o fruto da experiência de ninguém.
Não é difícil imaginar um universo sem plantas, animais e corpos humanos - inclusive sem o corpo
M - bem como sem os fenômenos que acabamos de mencionar; seria certamente um "mundo sem
mentes" - pois, que outra coisa poderia merecer este nome? - porém as leis da natureza bem
poderiam ser as mesmas que as existentes em nosso mundo atual. Poderíamos descrever este
universo em termos de nossa experiência atual -- com a única diferença de que teríamos que omitir
todos os termos referentes aos corpos humanos e às emoções. Ora, isto é suficiente para podermos
falar de tal mundo como sendo um universo de experiência possível.
As últimas considerações podem servir como exemplo de uma das principais teses do verdadeiro
positivismo, ou seja: que a representação singela do mundo, qual a vê o homem da rua, é
perfeitamente correta; que a solução dos grandes problemas filosóficos consiste em retornar a esta
mundivisão original, após termos demonstrado que os problemas penosos se originaram
exclusivamente de uma descrição inadequada do mundo mediante uma linguagem defeituosa.
Notas
* Do original inglês: 'Meaning and Verification', publicado pela primeira vez em The Philosophical
Review, vol. XLV, 1936.
1 Se as considerações acima são tão corretas como acredito que sejam, devo isto, em grande parte,
aos contatos que mantive com Wittgenstein, que exerceram notável influência sobre os meus pontos
de vista nesta matéria. Dificilmente posso exagerar a minha dívida para com este filósofo. Não
tenciono atribuir-lhe qualquer responsabilidade pelo conteúdo do presente artigo, porém tenho
razões para crer que ele concordará com os seus pontos essenciais.
2 Na realidade, o acréscimo "na experiência" é supérfluo, porquanto não se definiu nenhuma outra
espécie de verificação.
3 A obra do prof. Bridgman A Lógica da Física Moderna (The Logic of Modern Physics) representa
uma tentativa admirável de realizar este programa para todos os conceitos da física.
4 'Experience and Meaning', em The Philosophical Review, Março 1934.
5 Loc. Cit., p. 125.
6 Se, por exemplo, a sentença apresenta esta estrutura: sujeito - predicado - objeto, parecendo
portanto predicar uma propriedade de uma coisa.
7 Citado pelo prof. Lewis, loc. Cit., p. 130.
8 Loc. Cit., p. 131.
9 Como poderiam ser interpretadas no sentido de que falar acerca do passado, na realidade,
equivaleria a falar de memórias presentes.
10 Ver, por exemplo, Allgemeine Erkenntnislehre (Teoria Geral do Conhecimento), Segunda edição,
1925, # 12.
11 Acredito que este caso corresponderia ao que o prof. Lewis denomina 'teorias da identidade' da
'relação-conhecimento' (identity-theories of the knowledge-relation). Tais teorias, por se basearem
em uma tautologia deste tipo, representariam simples palavreado distituído de significação.
12 Loc. Cit., 137.
13 Ao que parece, é nela que Lewis pensou ao falar de "experiência possível enquanto condicionada
pela experiência real" loc. Cit., p. 141.
14 Loc. Cit., 142, nas seis primeiras linhas.
15 Talvez não me tenha expressado corretamente. Um fato que não pudesse ser descrito,
naturalmente não constituiria fato algum; qualquer fato é logicamente possível. Todavia, acredito
que o leitor tenha entendido o que quis dizer.
16 Longe de mim condenar esta atitude em qualquer circunstância. Em certas ocasiões - como em
Alice no País das Maravilhas - pode ser a atitude mais sensata e muito mais deliciosa do que
qualquer tratado de lógica. Todavia, num tal tratado temos o direito de esperar uma atitude
diferente.
17 Aliás, é este o sentido que o termo tem na filosofia de Hume e de Kant.
18 Estas representam a condição da 'experiência', na acepção em que Hume e Kant empregam esta
palavra.
19 Pois é isto que significam as palavras 'lado da lua'.
20 Loc. Cit., pg. 143.
21 Loc. Cit., pg. 128.
22 O autor intitula o seu livro um Sistema de Positivismo Idealístico.
23 Ver Lewis Loc. Cit., pg. 145.
24 Loc. Cit., pg. 145.
In Os Pensadores Schlick e Carnap, pgs. 83-110, São Paulo: Ed. Abril, 1980.
Download