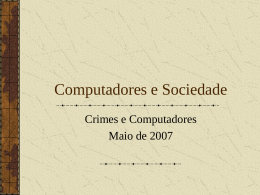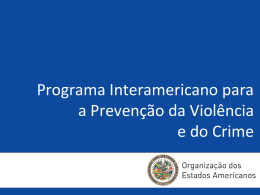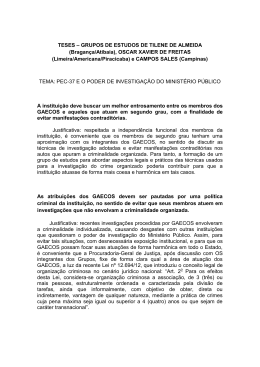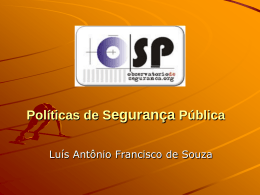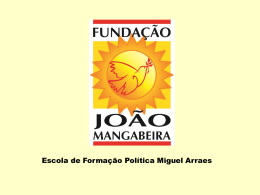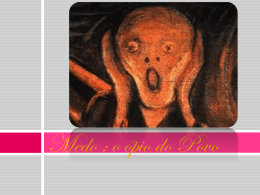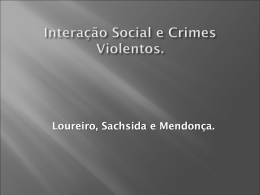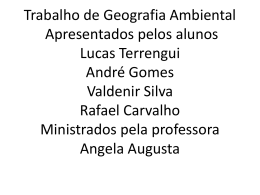Estudos Econômicos das Causas da Criminalidade no Brasil: Evidências e Controvérsias Marcelo Justus dos Santos Professor do Departamento de Economia, Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), Paraná, Brasil Ana Lúcia Kassouf Professora do Departamento de Economia, Administração e Sociologia da Escola Superior de Agricultura Luis de Queiroz, Universidade de São Paulo (USP), Brasil Resumo O objetivo deste estudo é reunir e discutir os estudos econômicos da criminalidade realizados no Brasil. Apresentam-se as principais dificuldades, evidências e controvérsias encontradas nas pesquisas empı́ricas, além de algumas das principais bases de dados criminais disponı́veis. A geral indisponibilidade de dados, a alta taxa de sub-registro nos dados oficiais e a causalidade inversa entre as variáveis de deterrence e as taxas de crimes são algumas das principais dificuldades inerentes à investigação econômica do crime. A maior controvérsia entre os estudos é o efeito da segurança pública sobre as taxas de crimes. As principais evidências são que a desigualdade de renda e os retornos do crime parecem ser fatores de incremento da criminalidade. Além disso, há efeitos espaciais afetando a criminalidade. Por fim, é um “fato estilizado” na literatura que a criminalidade está sujeita aos efeitos de inércia. Palavras-chave: Economia do Crime, Criminalidade, Violência Classificação JEL: K42, O10 Abstract This study aims to gather and to discuss the literature on the economics of the criminality in Brazil. The main difficulties, evidences and controversies found in empirical research are presented, besides some of the main criminal data bases available in Brazil. Unavailability of data, crime underreporting, and the inverse causality between the deterrence variables and the criminality are some of the main inherent difficulties of the economic investigation of crime. The main controversy among the studies is the effect of law enforcement on crime rates. The main results are that income inequality and returns on crime lead to increases in criminality. Also, there are spatial effects affecting Revista EconomiA Maio/Agosto 2008 Marcelo Justus dos Santos e Ana Lúcia Kassouf the criminality. Finally, it is a “stylized fact” in the literature that the criminality is subject to inertial effects. 1. Introdução A criminalidade tem se agravado dia após dia no Brasil, afetando drasticamente a vida de seus cidadãos pela imposição de fortes restrições econômicas e sociais, além de causar uma generalizada sensação de medo e insegurança. Dados do Ministério da Saúde revelam que a taxa de homicı́dios intencionais evoluiu significativamente entre os anos 1980 e 2002, na maioria dos estados brasileiros. Apesar de alguns estados apresentarem um decréscimo em suas taxas anuais, a grande maioria registrou um incremento. O fato de sete estados terem mais que dobrado a sua taxa é, no mı́nimo, preocupante. Se por um lado o estado de Roraima conseguiu uma redução de 45,2%, por outro lado o estado do Acre registrou um incremento de 187,3% 1 na taxa de homicı́dios. Taxas de crescimento como essa certamente farão com que a violência esteja cada vez mais presente no cotidiano da população brasileira, que, amedrontada, alterará gradativamente seus hábitos cotidianos para reduzir o risco de vitimização, em geral despendendo cada vez mais recursos próprios para a promoção de sua segurança. Vale lembrar que, pelo menos teoricamente, a segurança constitui seu direito e dever do Estado. Os custos do crime para a sociedade são significativamente altos. Estimativas conservadoras indicam que eles chegaram a 5% do PIB do Estado do Rio de Janeiro em 1995 (BID), 2 3% do PIB do Estado de São Paulo em 1997 (Kahn 2000) e 4,1% do PIB do municı́pio de Belo Horizonte em 1999 (Rondon e Andrade 2003). Prejuı́zos materiais, gastos públicos e privados na sua prevenção e combate são apenas alguns dos elementos que compõem os custos do crime para a sociedade. Há outros (não menos importantes), como a redução do estoque de capital humano, a redução na qualidade de vida, a redução na atividade turı́stica e a perda de atratividade de novos investimentos produtivos e/ou a expulsão dos existentes. No tocante ao efeito negativo sobre o estoque de capital humano, Carvalho et alii (2007) estimam que só em 2001 o prejuı́zo derivado das mortes por homicı́dios custaram ao paı́s mais de nove bilhões de reais. ? Recebido em maio de 2006, aprovado em outubro de 2007. Este artigo é uma versão modificada do artigo que compõe a dissertação defendida no Departamento de Economia, Administração e Sociologia da ESALQ, Universidade de São Paulo, pelo primeiro autor sob a orientação do segundo. Os autores agradecem ao Professor Leandro Piquet Carneiro e a um parecerista anônimo pelas sugestões feitas nas versões preliminares deste estudo. Obviamente, erros e omissões remanescentes são de inteira responsabilidade dos autores. Por fim, agradecem ao CNPq pelo fomento da pesquisa. E-mail addresses: [email protected] e [email protected]. 1 Informações obtidas pelos autores através da tabulação de dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) do Datasus. 2 Informação extraı́da de Rondon e Andrade (2003). 344 EconomiA, Brası́lia(DF), v.9, n.2, p.343–372, mai/ago 2008 Estudos Econômicos das Causas da Criminalidade no Brasil: Evidências e Controvérsias Além disso, pesquisas de vitimização 3 indicam que a criminalidade implica diminuição nas relações pessoais e alteração nos hábitos cotidianos da população, fatos que certamente reduzem o bem-estar social. A justificativa para um levantamento bibliográfico dos estudos econômicos da criminalidade feitos no Brasil é a de agregar em um único texto as principais evidências e controvérsias encontradas nessa literatura. Busca-se, dessa forma, trazer à luz o que realmente se conhece com relação aos efeitos das condições socioeconômicas sobre o comportamento criminoso no Brasil. Ademais, visando favorecer novos estudos, citamos as principais bases de dados criminais existentes no paı́s, investigamos e reportamos as principais dificuldades empı́ricas encontradas nos estudos econômicos da criminalidade, bem como sugerimos lacunas a serem preenchidas na literatura nacional. Em sı́ntese, o intuito deste estudo é incentivar e apoiar novos estudos econômicos que busquem avançar no conhecimento das causas da criminalidade no paı́s. Para tal, este estudo está organizado como se segue: na próxima seção, destacamos o papel da economia e do economista no estudo da criminalidade e apresentamos brevemente o princı́pio da racionalidade do potencial criminoso; as Seções 3 e 4 tratam de apresentar, respectivamente, algumas das principais bases de dados criminais existentes no Brasil e as principais barreiras empı́ricas encontradas na investigação econômica da criminalidade; na Seção 5, expomos os principais resultados encontrados pelos estudos econômicos da criminalidade feitos no Brasil; na Seção 6, sugerimos estudos considerados prioritários na investigação das causas do crime; enfim, a Seção 7 sumariza as questões apresentadas. 2. Importância do Economista e da Economia na Investigação das Causas da Criminalidade A Ciência Econômica não se restringe apenas ao estudo de questões de ordem macroeconômica, como juros, câmbio e inflação, mas é, por natureza, a ciência que se preocupa com a alocação ótima dos recursos que, normalmente, são limitados, de fins alternativos e competitivos. Entretanto, por décadas, no Brasil, a principal preocupação dos economistas foi o controle da inflação, enquanto outras questões sobre desenvolvimento do paı́s foram negligenciadas (a inflação foi controlada, mas as condições de vida da população brasileira, em geral, ainda podem ser consideradas precárias). Mas a abrangência da Ciência Econômica se firmou significativamente nas últimas décadas. Temas como trabalho infantil, educação, desigualdade de renda, pobreza, saúde, previdência social e criminalidade estão cada vez mais presentes em revistas econômicas, em congressos cientı́ficos e no discurso dos economistas. Essa Economia, com interesses mais abrangentes – conhecida como Economia Social, tem crescido rapidamente em todo o mundo. 3 Trata-se de pesquisas por amostra de domicı́lios com perguntas especı́ficas sobre as ocorrências de crimes. Para mais detalhes sobre vantagens e limitações desse tipo de pesquisa ver Fajnzylber e Araujo Junior (2001), Kahn (2000) e Soares et alii (2003). EconomiA, Brası́lia(DF), v.9, n.2, p.343–372, mai/ago 2008 345 Marcelo Justus dos Santos e Ana Lúcia Kassouf No Brasil, seu crescimento se justifica principalmente pela existência de fortes problemas sociais e pela disponibilidade de grandes bancos de dados, como os da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicı́lios (PNAD), Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) e dos Censos. No tocante à criminalidade, atualmente, pesquisas de opinião publica têm revelado que a crescente criminalidade é uma das maiores preocupações da sociedade brasileira. Sua investigação econômica surgiu no final da década de 60 nos Estados Unidos com Fleisher (1963, 1966), Smigel-Leibowistz (1965) e Ehrlich (1967). 4 Entretanto, foi com Becker (1968) e Ehrlich (1973) que a investigação econômica do crime ganhou um arcabouço teórico. A partir de então, o envolvimento de economistas na investigação econômica do crime (entre os quais se destaca Steven Levitt, Medalha Jonh Bates Clark) 5 a fim de melhor entendê-lo para delinear e propor polı́ticas públicas que possam contribuir para a prevenção e combate da criminalidade é cada vez mais comum. Inegavelmente, a hipótese de que as condições econômicas afetam a criminalidade é bastante plausı́vel, o que conduz aos economistas a serem afetos a mais esta questão. Defendemos que cabe também aos economistas a investigação das causas da criminalidade, a fim de se proporem soluções para problemas que afetam o bem-estar social. Ademais, o economista tem habilidades para a coleta e manipulação de dados, bem como detém consistentes fundamentos teóricos que lhe permitem dar um tratamento diferenciado em relação às demais áreas do conhecimento na investigação das causas do crime. Cerqueira e Lobão (2004) apresentam e discutem com muita propriedade as inúmeras teorias do crime, entre elas a teoria econômica da escolha racional proposta por Gary S. Becker em 1968, a qual propõe que o crime seja visto como uma atividade econômica, apesar de ilegal. Toda a estrutura do modelo é baseada na hipótese da racionalidade do potencial ofensor, em que se pressupõe que, agindo racionalmente, um indivı́duo cometerá um crime se e somente se a utilidade esperada por ele exceder a utilidade que ele teria na alocação de seu tempo e demais recursos em atividades que sejam lı́citas. Assim, alguns indivı́duos tornam-se criminosos não porque suas motivações básicas são diferentes das de outros indivı́duos, mas porque seus custos e benefı́cios diferem. Em sı́ntese, os economistas têm sido bem sucedidos na investigação e desenvolvimento de novas estratégias para a prevenção e redução da criminalidade (Myers Junior 1983) , em especial no mercado de trabalho. Eles têm desenvolvido modelos dedutivos simples, mas rigorosos, que podem ajudar na investigação das causas do crime, bem como demonstram ter maiores habilidades no tratamento dos dados e nas técnicas estatı́sticas utilizadas do que pesquisadores de outras áreas do conhecimento (Witte 1983). Apesar de o comportamento criminoso se revelar muito mais complexo do que os modelos formulados pelos economistas podem prever, 4 Os dois últimos estudos são citados por Becker (1968) e Ehrlich (1973). As referências completas no final deste estudo são as fornecidas pelo segundo autor. 5 Prêmio concedido, a cada dois anos, ao melhor economista americano de menos de quarenta anos. 346 EconomiA, Brası́lia(DF), v.9, n.2, p.343–372, mai/ago 2008 Estudos Econômicos das Causas da Criminalidade no Brasil: Evidências e Controvérsias são inegáveis as importantes contribuições que a Ciência Econômica tem dado ao entendimento da criminalidade. Assim, pela teoria econômica os cientistas têm investigado as causas da criminalidade enfatizando a racionalidade do agente criminoso, bem como o efeito de incentivos e de interações de mercado sobre as decisões individuais de participar em atividades ilegais (Fajnzylber e Araujo Junior 2001), o que confere à Economia um espaço especı́fico importante na investigação da criminalidade. 3. Bases de Dados Criminais As principais fontes de dados sobre crime e violência no Brasil são apresentadas e discutidas com muita propriedade em Fajnzylber e Araujo Junior (2001), Soares et alii (2003) e Kahn (2000). Entre elas, podem-se citar o Sistema de Informações sobre Mortalidade, elaborado e divulgado pelo Ministério da Saúde, os registros da polı́cia civil e militar, as pesquisas de vitimização, o Anuário Estatı́stico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatı́stica (IBGE) e os registros do Sistema de Justiça. No Brasil, a quase totalidade dos estudos empı́ricos sobre os determinantes da criminalidade tem utilizado as taxas de homicı́dios intencionais divulgadas pelo Sistema de Informações sobre Mortalidade, do Ministério da Saúde (SIM), e outras fontes como proxy para a criminalidade. Isso decorre do fato de que até recentemente não havia dados disponı́veis sobre as diversas categorias de ilicitudes, os quais possibilitassem utilizar outras mensurações da criminalidade além da taxa de homicı́dios intencionais. É conveniente ressaltar que, ao fazer isso, pressupõe-se que as tendências da criminalidade sejam bem representadas pelas tendências dos homicı́dios. Além disso, pressupõe-se implicitamente que os efeitos dos determinantes da criminalidade são os mesmos para crimes contra a pessoa e crimes contra o patrimônio, embora as motivações se revelem distintas, posto que a segunda categoria é motivada, na essência, por questões econômicas. Diversos estudos realizados em outros paı́ses mostram que realmente essas categorias de crimes respondem de forma diferente às mudanças nas condições socioeconômicas. Em geral, crimes contra a propriedade podem ser bem explicados pela teoria econômica do crime, enquanto crimes contra a pessoa são melhor explicados por teorias de tensão e desorganização social (Kelly 2000). Entretanto, na maior parte dos paı́ses, a taxa de homicı́dios intencionais ainda é a melhor medida que há para se ter uma mensuração mais acurada da ocorrência de crimes, devido à alta taxa de sub-registro à qual estão sujeitas as demais categorias de crimes. Dados oficiais recentemente publicados pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP) mostraram que há grande diferença entre as taxas de crescimento das diversas categorias de crimes. Enquanto algumas apresentam tendências decrescentes, outras tendem a crescer ao longo dos anos. Contudo, isso não indica que a taxa de homicı́dios não é uma boa proxy para as tendências da criminalidade, pois é inegável que um dos maiores problemas que surgem ao EconomiA, Brası́lia(DF), v.9, n.2, p.343–372, mai/ago 2008 347 Marcelo Justus dos Santos e Ana Lúcia Kassouf se utilizarem dados de registros policiais é que eles estão, geralmente, sujeitos a elevadas taxas de sub-registro, principalmente no caso de roubo, furtos, agressões fı́sicas, seqüestros e estupros. O registro de um crime à polı́cia envolve avaliações e decisões de diversos indivı́duos envolvidos em um evento que foi interpretado como um “caso de polı́cia” (SENASP). É fato estilizado que grande parte dos eventos criminais não é efetivamente registrada às autoridades competentes. Dessa forma, apesar de haver teoricamente um melhor ajuste das variáveis econômicas em modelos especificados para explicar a variabilidade na taxa de crimes contra a propriedade, na prática, há um melhor ajuste para modelos que utilizam crimes letais contra a pessoa como variável dependente. Isso se deve ao fato de que a taxa de sub-registro nesse tipo de crime é significativamente pequena por implicar perda de vida humana e, conseqüentemente, registro no Instituto Médico Legal. Assim, ao utilizar estatı́sticas oficiais sobre criminalidade, o analista deve estar atento ao fato de que há uma subestimação na criminalidade reportada por esses dados. Para investigar questões inerentes ao sub-registro de crimes, surgiram com destaque as pesquisas de vitimização realizadas com uma amostra da população de interesse selecionada aleatoriamente, em que se pergunta aos entrevistados sobre ocorrências de determinados tipos de crimes de que ele ou alguém de sua famı́lia foi vı́tima, em determinado perı́odo de tempo. Além de ser empregada na estimativa da taxa real de crimes por meio do conhecimento de crimes não informados e registrados às autoridades competentes, permite saber quantas vezes o indivı́duo foi vı́tima de crimes, seu grau de confiança na polı́cia e na justiça, sua sensação de segurança, seu grau de satisfação com a atuação da polı́cia nos casos em que o crime foi comunicado, detalhes sobre o crime e as caracterı́sticas dos agressores e das vı́timas envolvidas, entre outras informações relevantes. 6 As vantagens e limitações desse tipo de pesquisa são sumarizadas em Fajnzylber e Araujo Junior (2001), Kahn (2000) e Soares et alii (2003). A base de dados disponibilizada recentemente pela SENASP constitui parte do processo de elaboração de um Sistema Nacional de Estatı́stica de Segurança Pública e Justiça Criminal. Essas estatı́sticas são elaboradas a partir do número de ocorrências registradas pelas Polı́cias Civis de todo o Brasil, cujas informações estão disponı́veis para os seguintes nı́veis de agregação: Brasil, regiões geográficas, unidades da federação, capitais e para os cem maiores municı́pios. Ao utilizar esses dados é preciso considerar a sua sujeição a altas taxas de sub-registro, com exceção, possivelmente, das taxas de crimes letais contra a pessoa, as quais são menos afetadas por esse problema. Deve-se notar, também, que há uma diferenciação no nı́vel de qualidade, cobertura e consistência do processo de coleta e registro de informações, bem como no de procedimentos diferenciados por parte das organizações em relação ao registro dos boletins de ocorrência. Apesar de na 6 No Brasil, a primeira pesquisa de vitimização foi realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatı́stica (IBGE), em 1988, como parte integrante do suplemento especial sobre Participação Polı́tico-Social da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicı́lios (PNAD). Desde então, diversas outras pesquisas foram feitas no paı́s, porém, limitadas a apenas algumas cidades. 348 EconomiA, Brası́lia(DF), v.9, n.2, p.343–372, mai/ago 2008 Estudos Econômicos das Causas da Criminalidade no Brasil: Evidências e Controvérsias maioria das unidades federativas um crime resultar em uma ocorrência registrada quando denunciado, há alguns casos, como no Distrito Federal, onde essa regra não se cumpre. Por exemplo, um roubo de automóvel pode implicar registro de mais de uma ocorrência dependendo do que havia no interior do automóvel e foi roubado conjuntamente. Portanto, é possı́vel que uma parte das diferenças na criminalidade registrada pelas diferentes regiões se deva à diferenciação nas taxas de sub-registro e aos procedimentos adotados em relação ao registro e computação das ocorrências criminais pelas organizações policiais (SENASP). 7 Apesar das limitações dessa base de dados, ela apresenta muitas vantagens. Entre elas, uma deve ser destacada: a possibilidade de distinção de crimes com motivação econômica (crimes contra a propriedade) e sem motivação econômica (crimes contra a pessoa). É possı́vel obter indicadores criminais para: o total de ocorrências (inclui 29 tipos de crimes), 8 crimes letais intencionais, crimes violentos não-letais contra a pessoa, crimes violentos contra o patrimônio, delitos de trânsito e delitos envolvendo drogas. Também é possı́vel obter dados sobre as seguintes categorias especı́ficas de crimes: homicı́dio doloso, tentativa de homicı́dio, lesão corporal, estupro, atentado violento ao pudor, extorsão mediante seqüestro, roubos e furtos. Levando-se em consideração os problemas supracitados, essas informações criminais são úteis para comparações regionais de criminalidade e também para um acompanhamento da evolução das taxas das diversas categorias e tipos de crimes ao longo dos anos, além de possibilitar novos estudos empı́ricos das causas da criminalidade. Outra base de dados que pode ser útil para análises econômicas da criminalidade é a do Sistema Integrado de Informações Criminais do Estado de São Paulo (SIIC) divulgada pela Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE). 9 Nesse sistema encontram-se informações sobre o funcionamento do sistema judicial do Estado de São Paulo, as quais permitem, por exemplo, conhecer algumas das caracterı́sticas demográficas e sociais dos indivı́duos indiciados, pronunciados, impronunciados, sentenciados, absolvidos, condenados e condenados com execução de pena. Essas informações podem contribuir para a escolha de variáveis de controle nos modelos econométricos utilizados para modelar o comportamento criminoso dos indivı́duos. Questões de raça (como usualmente considerado nos Estados Unidos), gênero, estado civil e escolaridade podem se tornar dados de análise relevantes. Assim, poder-se-ia verificar se o nı́vel de escolaridade dos ofensores e demais caracterı́sticas caracterizam ou não determinados tipos de crimes, oportunizando a fundamentação de argumentos e o estabelecimento de parâmetros para cada um. 7 http://www.mj.gov.br/senasp. Homicı́dio doloso, homicı́dio culposo no trânsito, outros homicı́dios culposos, tentativa de homicı́dio, lesão corporal seguida de morte, lesão corporal – acidente de trânsito, lesão corporal – outros, outros crimes contra a pessoa, estupro, atentado violento ao pudor, furto de veı́culos, outros furtos, roubo seguido de morte, roubo de veı́culos, roubo de carga, roubo de estabelecimento bancário, outros roubos, extorsão mediante seqüestro, estelionato, outros crimes contra o patrimônio, uso e porte de drogas, tráfico de drogas, tortura, racismo, morte suspeita, resistência, resistência seguida de morte, recuperação de veı́culos e outras ocorrências. 9 http:/www.seade.gov.br. 8 EconomiA, Brası́lia(DF), v.9, n.2, p.343–372, mai/ago 2008 349 Marcelo Justus dos Santos e Ana Lúcia Kassouf Nesse quesito são relevantes as informações geradas pelo Censo Penitenciário de 1995 e pelo levantamento feito no mês de dezembro de 2004 do número de presos por estado no Brasil, o qual é disponibilizado pelo Departamento Penitenciário Nacional e é de responsabilidade das Secretarias Estaduais de Justiça. É válido ressaltar que existem outras fontes de dados que podem contribuir para a investigação econômica do crime, mas buscamos aqui apresentar apenas algumas das mais importantes com o intuito de fornecer ao leitor uma introdução às bases de dados criminais disponı́veis no paı́s. 4. Principais Dificuldades dos Estudos Empı́ricos Com o objetivo de favorecer novos estudos econômicos sobre a criminalidade, investigamos e registramos as principais dificuldades empı́ricas que, em geral, surgem na investigação econômica do crime. Desde os trabalhos de Fleisher (1963), de Becker (1968) e Ehrlich (1973), entre outros, diversas variáveis socioeconômicas têm sido testadas na investigação empı́rica do crime, entre elas: renda, taxa de desemprego, nı́vel de escolaridade, pobreza, desigualdade de renda e urbanização. Não obstante, segundo Gutierrez et alii (2004), não tem sido fácil evidenciar o verdadeiro canal pelo qual algumas dessas variáveis promovem o crime, uma vez que ainda não há um consenso para o efeito da maioria delas. Por exemplo, embora seja plausı́vel supor que regiões providas de maior renda per capita, maior nı́vel de escolaridade, maiores salários e menores taxas de desemprego tenham menores taxas de crime, também é possı́vel, de acordo com o modelo econômico do crime, que o efeito dessas variáveis seja ambı́guo, ao menos para crimes contra a propriedade. Isso porque, além de estarem associadas ao custo de oportunidade do crime, também estão associadas a um maior número de vı́timas potenciais e economicamente atrativas e, portanto, a um maior retorno para a atividade criminal (Fajnzylber e Araujo Junior 2001). Nesse sentido, o efeito dominante é uma questão a ser respondida empiricamente. Esses resultados distintos recorrentes podem ser parcialmente explicados pelas várias dificuldades empı́ricas encontradas na investigação econômica do crime. Segundo Andrade e Lisboa (2000), entre as dificuldades mais comuns estão: a falta de uma medida adequada dos retornos da criminalidade, o erro de medição nas taxas de crimes em função do elevado número de sub-registros, e a difı́cil mensuração da probabilidade de punição (as variáveis comumente usadas estão potencialmente sujeitas a uma forte correlação com o aumento da criminalidade ou ainda sofrem de erro de mensuração). Corman e Mocan (2000) afirmam que alguns estudos evidenciam que aumentos nas atividades de sanções reduzem o crime, enquanto alguns outros encontram uma fraca relação ou nenhuma entre crime e as variáveis de deterrence. 10 10 É usual na literatura econômica do crime chamar de efeitos de deterrence os efeitos daqueles fatores de intimidação sobre o comportamento dos indivı́duos na decisão de delinqüir ou não (probabilidade de apreensão, probabilidade de condenação, severidade das penas, entre outros). 350 EconomiA, Brası́lia(DF), v.9, n.2, p.343–372, mai/ago 2008 Estudos Econômicos das Causas da Criminalidade no Brasil: Evidências e Controvérsias Os autores ainda alertam para o fato de que dados em cross-section estão sujeitos a problemas de mensuração da taxa de crimes devido aos diferentes processos metodológicos de geração dos dados, bem como à definição das categorias de crimes. Uma alternativa para contornar esse problema seria o uso de séries de tempo de uma única unidade espacial que cobrisse um perı́odo com homogeneidade nos procedimentos de coleta dos dados e definição das variáveis utilizadas. Contudo, para análises econômicas e empı́ricas da criminalidade, uma melhor alternativa é o emprego de dados em painel, por permitir explorar tanto a dimensão temporal quanto a espacial dos dados, além de oferecer diversas outras vantagens, como, por exemplo, o controle da heterogeneidade não-observável entre as unidades de estudo. O problema de investigar a criminalidade ocorre em primeiro lugar pela pouca (ou quase nula) disponibilidade de informações fidedignas. Os dados oficiais existentes, especialmente os registros policiais, são apenas estimativas subestimadas dos crimes ocorridos, devido às altas taxas de sub-registro de crimes, principalmente no caso de alguns tipos de crimes como, por exemplo, roubos, furtos, seqüestros e estupros. Comprovadamente, a menor taxa de sub-registro é encontrada em dados de homicı́dios intencionais. Nesse tipo de crime, o sub-registro é relativamente pequeno por implicar perda de vida humana. Um homicı́dio não registrado é fruto, dentre outros motivos, do fato de que nem todas as mortes consideradas homicı́dios intencionais são corretamente classificadas e algumas mortes são simplesmente não reportadas (Gutierrez et alii (2004); Fajnzylber e Araujo Junior (2001)). Em função do erro de medida nas taxas de crimes, estudos que não buscam maneiras alternativas de contornar esse problema podem obter resultados viesados. Na tentativa de reduzir a possibilidade de viés de erro de mensuração nas estimativas, tornou-se usual na literatura empı́rica pressupor que a taxa de sub-registro é estável no tempo e, então, utilizar técnicas que exploram as caracterı́sticas de painel de dados, sob a hipótese de que o erro de medição se encontra correlacionado com as variáveis exógenas do modelo. Assim, trata-se o erro de mensuração derivado das taxas de sub-registro como um efeito especı́fico de estado não-observável que pode ser controlado utilizando, por exemplo, um modelo de Efeitos Fixos. Vale destacar, porém, que há evidências empı́ricas de que a taxa de sub-registro de crimes é influenciada por diversos fatores, muitos deles presentes, também, na especificação de modelos empı́ricos para explicar a criminalidade. Como observado por Myers Junior (1980), Goldberg e Nold (1980), Craig (1987), MacDonald (1998), Duce et alii (2000) e Santos (2006), as condições socioeconômicas das vı́timas e sua visão da eficiência das autoridades de polı́cia e justiça podem determinar parcialmente o seu comportamento de registrar ou não uma vitimização. Baseados nisso, deduzimos que, se houver, por exemplo, variações no nı́vel de escolaridade de determinada região, no nı́vel de renda ou nos gastos com segurança pública com reflexos na eficiência das instituições de prevenção e combate à criminalidade, poderão ocorrer variações na taxa de sub-registro de crimes. Portanto, a hipótese de que a taxa de sub-registro é estável ao longo do tempo é, no mı́nimo, forte. EconomiA, Brası́lia(DF), v.9, n.2, p.343–372, mai/ago 2008 351 Marcelo Justus dos Santos e Ana Lúcia Kassouf Em relação à variável dependente dos modelos, em geral os estudos fazem normalização do número de crimes ocorridos em determinado perı́odo de tempo por cem mil habitantes. Andrade e Lisboa (2000), porém, defendem que essa mensuração, ao menos no caso dos homicı́dios intencionais, não é conveniente, entre outros motivos, por sua grande variabilidade entre sexos e faixas etárias, fato que pode implicar variações significativas entre regiões, em função da diferença na composição etária e/ou sexo. Segundo eles, uma alternativa seria a construção de freqüências de crimes por idade, sexo, ano e região de residência. Isso é perfeitamente possı́vel no caso de homicı́dios por se ter acesso ao perfil da vı́tima, mas praticamente impossı́vel no caso de outros tipos de crimes, devido à limitação dos dados. Outra questão recorrente é o potencial problema de endogeneidade em função da causalidade inversa entre algumas variáveis explicativas e o crime. Isso surge, geralmente, entre as variáveis que mensuram as condições do mercado de trabalho – taxa de desemprego ou salários – ou então entre as variáveis de deterrence – gastos com segurança pública, probabilidades de apreensão, condenação e prisão, entre outras. Segundo Gould et alii (2002), é possı́vel que alguns indivı́duos de alta renda e/ou alguns empregadores deixem determinadas regiões que apresentam grande incidência ou tendência crescente de crimes. Por outro lado, as taxas mais altas de crimes podem forçar os empregadores a pagarem maiores salários como uma compensação para o risco dos trabalhadores. Uma alternativa, segundo os autores, seria utilizar uma média salarial do estado, pois um deslocamento para regiões próximas para evitar o risco de vitimização é mais provável do que uma mudança para outro estado, devido aos custos de migração. O modelo econômico do crime teorizado por Becker prevê que o sinal esperado para a relação entre variáveis de deterrence e taxas de crimes é negativo. Entretanto é possı́vel que os gastos públicos com segurança acompanhem a incidência das taxas de crimes da região (Araujo Junior e Fajnzylber (2001); Gutierrez et alii (2004), entre outros). Nesse sentido, não é impossı́vel obter correlações positivas entre o crime e as variáveis de deterrence do modelo. Corman e Mocan (2000) afirmam que essa simultaneidade é o problema empı́rico mais significativo na investigação do crime. Várias tentativas de controlá-lo aparecem na literatura. Levitt (1997) utilizou os ciclos eleitorais sobre a contratação de policiais como instrumento para as variáveis de deterrence. Os resultados sugerem que aumentos na força policial têm o efeito de reduzir crimes violentos, mas causam menor impacto sobre os crimes contra a propriedade. Contrariamente, Kelly (2000) usando variáveis instrumentais 11 para a atividade policial não observa que os efeitos da atividade de polı́cia são significantes para crimes contra a propriedade, mas têm pouco efeito sobre crimes violentos. 11 Renda per capita, gasto do governo local em atividades não policiais e o percentual de eleitores que votaram contra o candidato democrata na eleição presidencial de 1988. 352 EconomiA, Brası́lia(DF), v.9, n.2, p.343–372, mai/ago 2008 Estudos Econômicos das Causas da Criminalidade no Brasil: Evidências e Controvérsias Ainda no tocante às variáveis de sanções, é importante dizer que um viés significativo de omissão de variável pode ser introduzido nas estimativas dos parâmetros para as variáveis de deterrence, caso não seja controlado o efeito da severidade das penas (Mustard 2003). Todavia, em geral essas variáveis são de difı́cil mensuração. Indiscutivelmente, o ambiente pode favorecer ou desfavorecer atividades ilı́citas. Tem sido recorrente a utilização de medidas de desigualdade para controlar o efeito do ambiente sobre o comportamento criminoso. Fundamentando-se no modelo econômico do crime de Becker (1968), a desigualdade exerce um efeito positivo sobre a criminalidade (Fajnzylber e Araujo Junior (2001); Andrade e Lisboa (2000)). No entanto, Gutierrez et alii (2004) propõem razões pelas quais o crime pode, também, causar desigualdade, entre eles, o de que áreas não violentas tendem a receber mais investimentos e, então, tornam-se gradativamente mais ricas, em detrimento das regiões mais violentas, o que aprofunda a desigualdade entre regiões. Portanto, no que concerne às relações entre a desigualdade de renda e crime, o pesquisador deve estar atento. 12 Uma das variáveis relevantes na decisão de participar de atividades ilegais, ou não, dentro do arcabouço teórico do crime de Becker (1968), é o “custo moral” do crime, que, infelizmente, é de difı́cil mensuração. Mas, há algumas sugestões apresentadas na literatura empı́rica (ver Araujo Junior e Fajnzylber (2001); Fajnzylber e Araujo Junior (2001); Santos e Kassouf (2007)). Outro fator que deve ser levado em consideração nos estudos empı́ricos que investigam a influência de fatores socioeconômicos sobre criminalidade diz respeito aos aspectos espaciais dos dados. É possı́vel que regiões próximas apresentem heterogeneidade espacial e/ou autocorrelação espacial e que existam aglomerações de atividade criminosa. No Brasil, Peixoto (2003) e Almeida et alii (2005) encontram evidências de que a criminalidade está sujeita aos efeitos do espaço. Assim, o estudo de suas causas utilizando dados regionais requer testes para dependência espacial e, caso seja encontrada, exige um método que a considere nas estimações, isto é, que permita que as peculiaridades causadas pelo espaço sejam controladas no modelo estocástico. Relevante também é o fato de que, em geral, crimes contra a propriedade podem ser bem explicados pela teoria econômica do crime, enquanto crimes contra a pessoa são melhores explicados por teorias de tensão e desorganização social (Kelly 2000). Uma vez que crimes contra a propriedade envolvem ganhos materiais, eles podem ser extensamente motivados pelo desejo de auto-enriquecimento dos ofensores, enquanto crimes contra a pessoa podem ser primariamente motivados pelo ódio ou paixão. Nesses casos, as funções utilidades dos indivı́duos são interdependentes, de modo que a utilidade de um é sistematicamente afetada pelas caracterı́sticas do outro (Ehrlich 1973). No caso de crimes contra a propriedade, a utilidade associada aos ganhos do crime é derivada diretamente do seu retorno monetário; já os crimes 12 No caso especı́fico do Brasil, pelo teste de causalidade de Granger aplicado ao painel de dados dos estados brasileiros, os autores concluı́ram que o crime não causa desigualdade. EconomiA, Brası́lia(DF), v.9, n.2, p.343–372, mai/ago 2008 353 Marcelo Justus dos Santos e Ana Lúcia Kassouf contra a pessoa podem ter sua utilidade derivada expressa em unidades equivalentes da aquisição de bens materiais. A única diferença em relação aos crimes contra a propriedade é que, apesar de os custos serem também de ordem monetária, os benefı́cios não têm a mesma caracterı́stica (Fajnzylber e Araujo Junior 2001). Indiscutivelmente, há uma forte correlação entre crimes contra a propriedade e crimes contra a pessoa, em especial no contexto da economia do crime organizado. Albuquerque (2007), utilizando dados de cidades mexicanas que fazem fronteira com os Estados Unidos, constata que há uma forte relação entre o crime organizado e a taxa de homicı́dios. Santos e Kassouf (2007), analisando o contexto dos estados brasileiros, também encontram evidências de que o crime organizado (mercado de drogas) é um dos responsáveis pelas taxas de homicı́dios registradas. Essas evidências sustentam as idéias de Fajnzylber et alii (1998) de que o mercado de drogas não se limita à produção e comércio de drogas ilı́citas, mas também envolvem violência fı́sica e corrupção para a sua manutenção. Além disso, é possı́vel que um indivı́duo sob o efeito de drogas se torne mais violento e, portanto, mais predisposto a delinqüir, principalmente no caso dos viciados que precisam obter meio de sustentar o vı́cio (Santos e Kassouf 2007). Carneiro et alii (2005), utilizando dados de uma população especı́fica de detentos, concluem que a probabilidade de um indivı́duo usuário de drogas cometer um homicı́dio ou roubo aumenta em 10,22% e 7,26%, respectivamente. Tanto a relação do uso de drogas com a ocorrência de crimes contra a pessoa como a sua relação com os crimes contra a propriedade são defendidas por Fernandes e Chofard (1995). Cabe destacar que esse posicionamento pode ser sustentado pelas evidências empı́ricas da relação positiva entre o mercado de drogas e a criminalidade não-droga 13 observadas por Donohue III e Levitt (1998), Blumstein (1995), Grogger e Willis (2000) e Corman e Mocan (2000). Mesmo com todos os problemas supracitados, a literatura empı́rica que trata o crime dentro de uma abordagem econômica tem avançado muito nos últimos anos, sendo que, atualmente, o seu maior entrave não são problemas teóricos ou econométricos, mas a geral indisponibilidade de dados sobre as tendências do crime e das sanções impostas à atividade criminosa. Além disso, a taxa de sub-registro presente nos dados criminais é um problema relevante por potencializar o risco de resultados viesados e conclusões equivocadas. 5. Estudos Econômicos do Crime no Brasil Desde os estudos pioneiros de Becker (1968), Stigler (1970), Sjoquist (1973) e Ehrlich (1973), é crescente o envolvimento de economistas com a temática da criminalidade. Entretanto, a maior parte dessa literatura encontra-se direcionada a análises da criminalidade nos Estados Unidos, basicamente por ser uma linha de pesquisa plenamente aceita e difundida entre os economistas e pela grande disponibilidade de dados – matéria prima básica para análises empı́ricas. 13 Termo utilizado por Kopp (1998) para distinguir crimes de tráfico, uso e porte de drogas das demais categorias de crimes. 354 EconomiA, Brası́lia(DF), v.9, n.2, p.343–372, mai/ago 2008 Estudos Econômicos das Causas da Criminalidade no Brasil: Evidências e Controvérsias A seguir, reportarmos os estudos econômicos do crime realizados no Brasil. Entretanto, é importante afirmar que os estudos não abordados não são menos relevantes do que os discutidos nessa seção. Por fim, fazemos referência às lacunas que existem nessa literatura, as quais devem ser preenchidas por novos estudos empı́ricos que visem ao entendimento do fenômeno da criminalidade. 5.1. Determinantes econômicos da criminalidade brasileira A economia é apenas uma das diversas áreas do conhecimento que se dedicam ao entendimento do crime. Algumas outras ciências têm fortes relações com a Economia nesse entendimento, entre as quais a Sociologia e a Ciência Polı́tica. Nesse sentido, destacamos as investigações dos determinantes da vitimização realizadas por Carneiro (2000) e Beato Filho et alii (2004). Apesar de haver estudos econômicos nessa temática, a exemplo do realizado por Gomes e Paz (2004), com dados de sete regiões do Estado de São Paulo, no Brasil, é na investigação dos determinantes do comportamento criminoso que a maior parte da literatura econômica do crime está concentrada. À exceção de alguns estudos realizados com dados de indivı́duos (microdados) de populações carcerárias e com dados municipais, no Brasil a maior parte da literatura econômica do crime tem lançado mão de dados estaduais (não por opção, mas por falta de opção) devido à quase total indisponibilidade de dados criminais, cabe destacar mais uma vez. Na linha de trabalhos que usam microdados, encontramos os empreendidos por Mendonça (2002), Carneiro et alii (2005) e Shikida et alii (2006). Nos dois primeiros estudos utilizam-se dados coletados de detentos no Presı́dio Estadual da Papuda (Brası́lia). Já no terceiro estudo, utilizam-se dados de detentos das Penitenciárias Central, Estadual e Feminina de Piraquara (Paraná). Vale destacar que, ao utilizar dados de indivı́duos que já optaram pelo crime, há viés de seletividade, resultante da regra de decisão, uma vez que não há na amostra o resultado de uma decisão não tomada, isto é, de indivı́duos que não optaram pelo crime (Pezzin 1994). Nos estudos que apresentamos, contorna-se tal problema ao modelar o comportamento de agentes que agiram violentamente tomando como base aqueles que não utilizaram violência no ato criminoso que lhes rendeu a prisão, isto é, a escolha não é delinqüir ou não, mas, sim, usar violência ou não. Mendonça (2002) investigam a existência de padrões comportamentais diferenciados entre os indivı́duos que praticaram crimes violentos, usando como base aqueles que cometeram apenas crimes não violentos. Nesse estudo, os resultados indicaram que a idade dos indivı́duos e o nı́vel de educação do chefe da famı́lia são negativamente relacionados à probabilidade de agir violentamente, enquanto a renda do indivı́duo em atividades legais apresentou-se positivamente relacionada a essa categoria de crime, o que é de difı́cil explicação. Neste estudo, entretanto, não se observou significância estatı́stica para as variáveis que mensuravam o consumo de drogas e bebidas alcoólicas, a raça, o fato de os pais EconomiA, Brası́lia(DF), v.9, n.2, p.343–372, mai/ago 2008 355 Marcelo Justus dos Santos e Ana Lúcia Kassouf serem casados, de o indivı́duo freqüentar alguma igreja ou templo e o nı́vel de escolaridade do ofensor. Suspeitando que a variável de escolha (agir ou não violentamente) não é exógena, mas, sim, predeterminada por alguma regra inerente à própria formação do indivı́duo, os autores estimam um modelo de seletividade de amostra utilizando o procedimento de Heckman com o intuito de testar a hipótese de que indivı́duos que pertencem a um núcleo familiar relativamente estável tendem a praticar menos crimes violentos. 14 Os resultados das estimativas sustentam essa hipótese e levam à conclusão de que a regra da decisão de delinqüir dos detentos que cometeram crimes violentos é distinta da regra daqueles que delinqüiram de forma não violenta, resultado observado também por Shikida et alii (2006). Entretanto, há controvérsia entre os dois estudos, pois enquanto Mendonça (2002) concluem que a presença de mais um agente na ação criminosa implica menor probabilidade de o crime ocorrer de forma violenta, Shikida et alii (2006) observam que a parceria no crime aumenta a probabilidade de o crime se realizar de forma de violenta. Portanto, há uma divergência de resultados que merece novos esforços de pesquisa para identificar o verdadeiro sentido da causalidade. Cabe ressaltar que o argumento fornecido pelo primeiro estudo é bastante razoável. Além de possı́vel viés nos resultados do segundo estudo devido à definição de violência utilizada para fins de construção da variável binária. Neste estudo, a utilização ou não de arma de fogo no ato criminoso é o que diferencia, respectivamente, comportamento violento de comportamento não violento. Isso não seria um problema se não fosse utilizada como controle uma variável exógena definida como “possuı́a arma de fogo”. Segundo os resultados, a probabilidade de agir violentamente (usar arma de fogo no crime) aumenta em 76% caso o criminoso possua uma arma de fogo. Ora, para usar uma arma de fogo é necessário antes de tudo possuı́-la e tê-la em mãos, o que justifica o grande impacto de ’possuir arma’ sobre o comportamento violento observado neste estudo. Se não gerou viés de erro de especificação, no mı́nimo a inclusão desta variável é redundante no modelo proposto. Outro fato que merece atenção maior em estudos futuros é que a amostra selecionada para o estudo é composta por indivı́duos que já incorreram no insucesso da atividade criminosa, o que pode afetar o seu julgamento da eficiência do sistema de justiça ao qual foram submetidos. Isso é mais grave no caso de criminosos reincidentes. A conclusão de Shikida et alii (2006) de que criminosos que acreditam na capacidade do sistema judiciário têm menor probabilidade de agir violentamente só faria sentido se fosse derivada da resposta de indivı́duos que nunca tiveram atos criminosos punidos pela justiça. Ainda considerando os estudos que utilizaram microdados de populações carcerárias, destacamos os principais resultados observados por Carneiro et alii (2005), os quais observam que a interação social é um importante determinante do comportamento criminoso e que o sentido do efeito de algumas variáveis depende 14 Neste estudo, crimes violentos são aqueles que causaram prejuı́zo à vida humana, enquanto não violentos são aqueles que causaram apenas prejuı́zos materiais. 356 EconomiA, Brası́lia(DF), v.9, n.2, p.343–372, mai/ago 2008 Estudos Econômicos das Causas da Criminalidade no Brasil: Evidências e Controvérsias do tipo de crime considerado. Por exemplo, a educação se mostrou um fator de redução na probabilidade de cometer um homicı́dio intencional, mas um fator de incremento na probabilidade de atuar como traficante de drogas. Eis aqui indı́cios que sustentam a hipótese da racionalidade econômica do agente criminoso postulada por Becker (1968), em primeiro lugar pelo fato de que quanto maior a escolaridade de um indivı́duo maior é o seu custo de oportunidade de delinqüir; em segundo, pelo fato de que o tráfico de drogas traz enormes lucros, o que justifica o fato de pessoas mais escolarizadas terem maior probabilidade de atuar nessa atividade ilı́cita, como sugerem os resultados observados pelos autores. Mesmo que o ideal na estimação de modelos empı́ricos propostos a modelar o comportamento criminoso seja utilizar dados individuais, a dificuldade em obtê-los faz com que seja mais comum a utilização de dados com algum nı́vel de agregação geográfica, sejam dados municipais ou estaduais. Pereira e Fernandez-Carrera (2000), Lobo e Fernandez-Carrera (2003) e Oliveira (2005) utilizam dados municipais nas estimativas de modelos especificados para estudar os determinantes da criminalidade. Lemos et alii (2005) fizeram uso de dados de bairros de um mesmo municı́pio, enquanto Araujo Junior e Fajnzylber (2000) fizeram uso de dados de municı́pios de uma mesma microrregião geográfica. No primeiro estudo são investigadas as causas da criminalidade (taxas agregadas de crimes, crimes de furto e roubo de veı́culos) com dados da região policial da grande São Paulo com o uso de técnicas de séries temporais. O uso de modelos de co-integração e do mecanismo de correção nas estimativas das curvas de oferta das modalidades de crimes consideradas confere certo grau de ineditismo à pesquisa. Os resultados indicam que tanto a taxa de desemprego quanto a desigualdade de renda são fatores que se relacionam positivamente com as taxas de crimes, enquanto a redução no rendimento médio do trabalho e a deterioração das performances da polı́cia e da justiça são fatores que explicam o crescimento da criminalidade da Grande São Paulo. Lobo e Fernandez-Carrera (2003) utilizam dados longitudinais que cobrem os dez municı́pios da Região Metropolitana de Salvador para estudar os determinantes da criminalidade (total de crimes, total de crimes contra o patrimônio, roubo e furto). Esse estudo se diferencia dos demais realizados no Brasil pelo fato de considerar o crescimento da criminalidade ao invés dos seus nı́veis, como é usual. O estudo encontrou evidências de que a probabilidade de detenção (número de detidos no total de ocorrências policiais registradas) exerce o efeito deterrence previsto pela teoria econômica do crime proposta por Becker (1968). Nesse sentido, o desempenho policial é de fato uma das formas de combate ao crime, como destacado pelos autores. Além dessa evidência, os resultados sustentam a hipótese de que maiores nı́veis educacionais, expansão das rendas do municı́pio e do governo municipal, assim como reduções na concentração de renda e um menor grau de urbanização podem contribuir significativamente para a redução nas taxas de crimes nos municı́pios analisados. Um esforço que merece destaque é o realizado por Lemos et alii (2005), que investigaram as razões socioeconômicas da criminalidade utilizando os dados de EconomiA, Brası́lia(DF), v.9, n.2, p.343–372, mai/ago 2008 357 Marcelo Justus dos Santos e Ana Lúcia Kassouf 36 bairros do municı́pio de Aracaju. Os determinantes da criminalidade contra o patrimônio (roubos, furtos, danos, estelionato, apropriação indébita e latrocı́nio) e contra a pessoa (homicı́dios culposos, dolosos e tentados) são estudados através do emprego de uma regressão do tipo stepwise para selecionar as variáveis explicativas da criminalidade, seleção testada por meio da Análise de Componentes Principais. Outro ponto que merece destaque é o emprego de variáveis que mensuram o vı́nculo dos moradores com o bairro, a infra-estrutura do bairro, a confiança nas instituições e a estrutura etária, como controles nas regressões. Segundo o estudo, a concentração de renda, a infra-estrutura dos bairros, a densidade demográfica e a participação dos jovens no total da população são determinantes da criminalidade contra a propriedade no municı́pio de Aracaju. Um resultado interessante é o de que crimes dessa natureza ocorrem predominantemente em bairros em que a faixa etária é mais alta. Esse resultado talvez se justifique pelo tipo de dado usado nas regressões que implica forte sujeição aos efeitos do espaço. Devido à proximidade dos bairros, certamente haverá dependência espacial nas taxas de crimes, o que deveria ter sido controlado nas regressões realizadas. Como corretamente destacam os autores, é plausı́vel que haja um deslocamento de criminosos jovens para bairros mais ricos como o intuito de delinqüir. Araujo Junior e Fajnzylber (2000), ao estudar a criminalidade nas microrregiões mineiras, encontram evidências de que quanto maior o percentual de jovens na população (15 a 19 anos), maiores serão as taxas de roubo e roubo a mão armada, e também dos crimes contra a pessoa (homicı́dio, estupro e tentativa de homicı́dio). Portanto, há uma controvérsia de resultados, justificáveis pelo nı́vel de agregação do dado utilizado, uma vez que a mobilidade dos agentes criminosos é significativamente maior entre bairros do que entre municı́pios. Entretanto a criminalidade em nı́vel municipal pode estar sujeita a dependência espacial (Peixoto (2003) e Almeida et alii (2005), o que pode ter afetado os resultados apresentados por Araujo Junior e Fajnzylber (2000). Ademais, segundo os próprios autores, o uso de técnicas mais adequadas seria o ideal. Realmente, além da possibilidade de viés devido à não consideração da dependência espacial, os resultados podem ter sido afetados pela falta de controle da possı́vel presença dos efeitos especı́ficos não-observáveis das microrregiões consideradas. Na maioria dos estudos a que tivemos acesso, o uso de técnicas de painel de dados que permitam esse controle tem sido preferı́vel devido às evidências de que, por diversos motivos, existem fatores não observáveis afetando as taxas de crimes. Um dos fatores que pode potencializar a criminalidade é o tamanho da população residente. Com o intuito de testar essa hipótese, Oliveira (2005) utilizou dados longitudinais de todas as cidades brasileiras. Os resultados sustentam a hipótese de que o tamanho das cidades é um dos determinantes das taxas de crimes, que exerce especificadamente um efeito positivo, no sentido de que quanto maior a população, maiores serão as taxas de crimes. Apesar de isso não ser destacado no estudo, também é válido ressaltar que, uma vez que se considerou a taxa de homicı́dio por cem mil habitantes como variável dependente, já se fez um tipo de controle baseado no tamanho da população das 358 EconomiA, Brası́lia(DF), v.9, n.2, p.343–372, mai/ago 2008 Estudos Econômicos das Causas da Criminalidade no Brasil: Evidências e Controvérsias cidades. Nesse estudo, ainda se destacam os papéis da desigualdade de renda, da pobreza, da ineficiência do ensino básico e das deficiências na estrutura familiar como fatores que potencializam as taxas de homicı́dios, hipóteses não refutadas pelo fato de tais variáveis se mostrarem significativa e positivamente relacionadas à criminalidade dos municı́pios brasileiros. De acordo com os autores, o crescimento econômico não implica diretamente aumento das taxas de homicı́dios, desde que haja aumento na renda dos mais pobres, isto é, que haja redução na desigualdade de renda. Só foi possı́vel chegar a essa conclusão por meio da decomposição da renda em duas partes: a renda dos dez por cento mais pobres para mensurar os retornos monetários do crime (benefı́cios) e a renda dos vinte por cento mais pobres para mensurar o custo de oportunidade da atividade criminosa. Os resultados mostram que um aumento na renda dos mais ricos aumenta a criminalidade, enquanto um aumento na renda dos mais pobres tem efeito contrário. A teoria econômica do crime de Becker (1968) prevê uma relação inequivocamente positiva entre o retorno esperado da atividade ilegal e o crime. Entretanto, ao se utilizar a renda per capita como proxy para os retornos esperados do crime, não é possı́vel afirmar a priori a relação esperada, uma vez que essa variável está associada tanto aos ganhos do crime, caso em que a relação seria positiva, quanto aos seus custos de oportunidade, caso em que seria negativa. Essa variável ainda integra os custos referentes a um indivı́duo que cumpre pena de prisão, pois é plausı́vel que quanto maior a renda, maior será o custo do insucesso da atividade criminosa, o que implica menores incentivos à delinqüência e, conseqüentemente, menores taxas de crimes (Santos e Kassouf 2007). Portanto, considera-se que, além da inclusão da população como variável explicativa, a decomposição feita na variável renda com o intuito de separar os efeitos positivos e negativos sobre as taxas de crimes é o principal diferencial desse estudo com relação aos demais realizados no Brasil. Embora haja alguns estudos no Brasil que tenham utilizado dados de indivı́duos e de municı́pios, como apresentado, a maior parte das pesquisas tem sido realizada com o emprego de painel de dados dos estados. Andrade e Lisboa (2000) analisam a relação entre a evolução das taxas de homicı́dios nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo entre 1981 e 1997 e algumas variáveis econômicas. Esse estudo mensura a violência pela construção de freqüências de morte por homicı́dio para idade, sexo, ano e região de residência. Foi calculada a probabilidade de morte para os homens dos quinze aos quarenta anos de idade, permitindo a construção da base de dados segundo coortes, em que cada uma foi definida pelo ano em que os homens tinham cinco anos de idade. Importantes resultados são encontrados, entre os quais o de que existe um “efeito inercial” sobre as taxas de homicı́dios, de modo que parte da violência vivida por uma geração tende a se perpetuar para as gerações seguintes. Observou-se também que os parâmetros estimados para as variáveis econômicas, como salário real e desemprego, são bastante diferenciados dependendo da coorte considerada, EconomiA, Brası́lia(DF), v.9, n.2, p.343–372, mai/ago 2008 359 Marcelo Justus dos Santos e Ana Lúcia Kassouf sugerindo que o tratamento por coortes dos dados seja adequado para a investigação econômica do crime. O grande mérito desse estudo foi o tratamento diferenciado que se deu em relação à construção da variável dependente – violência – mensurada por freqüências de morte considerando-se algumas das caracterı́sticas demográficas das vı́timas, como, por exemplo, a probabilidade de morte para homens entre quinze a quarenta anos de idade, uma vez que dados mostram que a violência atinge principalmente homens em idade ativa. Como ponto frágil, ressalta-se a ausência do controle para efeitos de deterrence, o que possivelmente afetou os resultados das estimativas, devido à omissão de variável importante. Fajnzylber e Araujo Junior (2001) investigaram as causas da criminalidade utilizando a taxa de homicı́dios intencionais como proxy, como fez a maioria dos estudos realizado no Brasil. Cabe destacar o uso do critério utilizado por Carneiro 15 com o objetivo de diminuir o “erro de medição” nas taxas de homicı́dios. Os dados são agregados por estados e cobrem o perı́odo de 1981 a 1996, os quais, à exceção de 1996, são transformados em médias trianuais, com o objetivo de diminuir o efeito de problemas conjunturais nas taxas de crimes. Diversas variáveis explicativas foram empregadas nos modelos econométricos, e adicionalmente são realizados três exercı́cios: emprego de outras variáveis de deterrence alternadamente; inclusão de medidas alternativas de desigualdade de renda, assim como a percentagem da população com renda abaixo de duas linhas diferentes de pobreza; e uma investigação da relação existente entre a taxa de homicı́dios e diferentes medidas de mobilidade social. Os autores também testam a robustez dos resultados à presença de endogeneidade nas variáveis explicativas pela aplicação do Método Generalizado de Momentos (GMM), tal como sugerido por Arellano e Bond (1991), por meio do qual também foi possı́vel investigar a existência de inércia nas taxas de crimes, utilizando a taxa de homicı́dios defasada em um perı́odo como variável explicativa do modelo. Os principais resultados indicam que os parâmetros estimados para a renda per capita, desemprego, desigualdade de renda (negativo da fração da renda detida pelos 20% mais pobres) e percentagem de domicı́lios chefiados por mulheres foram estatisticamente significativos e positivos, enquanto o número de policiais militares por cem mil habitantes se mostrou negativamente relacionado às taxas de crimes. Realizou-se também a substituição da variável de polı́cia militar pela variável de polı́cia civil para testar a robustez da primeira, implicando mesma relação com o crime. Neste ponto, ressaltamos que a estimativa do tamanho do efetivo policial com base nos dados da PNAD, conforme feito pelos autores, não é representativa e, portanto, não é uma boa saı́da para a ausência de informações sobre o tamanho do contingente policial. Ademais, na polı́cia militar incluem-se todas as categorias, isto é, bombeiros militares, policiais rodoviários e florestais. 15 Por este critério, 50% de todos os códigos de intencionalidade desconhecida são considerados como intencionais e 96% dos intencionais são considerados como homicı́dios e 4% como suicı́dios (Carneiro 2000). 360 EconomiA, Brası́lia(DF), v.9, n.2, p.343–372, mai/ago 2008 Estudos Econômicos das Causas da Criminalidade no Brasil: Evidências e Controvérsias É de nosso conhecimento que a SENASP divulgou apenas recentemente os dados que reportam os efetivos policiais dos estados brasileiros, permitindo o controle da força policial nas estimativas. Também se observou que há presença significativa de “efeito inercial” sobre as taxas de homicı́dios intencionais. Para as medidas alternativas de desigualdade de renda e pobreza, os resultados sugerem que é plausı́vel supor que a desigualdade relevante não ocorra entre indivı́duos pobres e ricos, mas, sim, entre pobres e classe média. A importância da renda dos mais pobres parece se confirmar pelos resultados, pois a relação positiva se mantém mesmo quando são utilizadas medidas de pobreza em substituição às medidas de desigualdade. Pelos exercı́cios realizados com a medida de mobilidade social, foi possı́vel observar que uma parcela significativa do componente fixo das taxas de homicı́dios está associada às possibilidades de ascensão (ou declı́nio) social, tanto ao longo da vida dos indivı́duos quanto entre gerações. Disso se conclui que parte da diferença entre as taxas de homicı́dios entre os estados, mesmo após o controle por diversos fatores, pode ser explicada pelos diferentes graus de mobilidade social, sugerindo que talvez o relevante não seja o nı́vel ou a estrutura da desigualdade, mas sim o padrão de mobilidade existente, sendo esse o grande mérito desse estudo. Com exceção do emprego de variáveis de deterrence adicionais, todos os demais procedimentos e resultados são semelhantes aos encontrados no trabalho de Araujo Junior e Fajnzylber (2001), o qual ainda investiga a existência de ciclos de vida nas taxas de homicı́dios dos estados brasileiros, bem como o papel das variáveis econômicas para explicá-los, por uma metodologia de decomposição das taxas de crimes em efeitos idade (ciclo de vida), perı́odo (choques temporários) e coorte, conforme proposto na literatura por Deaton (1997). Também, diferentemente daquele estudo, são apresentadas as estimativas utilizando a taxa de homicı́dios sem a correção para reduzir o erro de mensuração, nas quais nenhuma diferença significativa é encontrada. Nos estados em que houve tendência crescente da taxa bruta de homicı́dios, o efeito coorte é ascendente, ou seja, as coortes mais jovens apresentam taxas superiores às das mais velhas, sendo o inverso verdadeiro. Em geral, os resultados de Araujo Junior e Fajnzylber (2001) sugerem que o ambiente econômico é parcialmente “culpado” pela criminalidade observada no Brasil no perı́odo entre 1981 e 1996 e que, em alguma medida, o efeito das variáveis econômicas é diferenciado dependendo da faixa etária considerada. Em particular, para as pessoas mais jovens algumas relações são mais fortes, o que sugere que uma atenção diferenciada seja dada aos jovens em programas desenhados para a redução da criminalidade, polı́tica já proposta por Andrade e Lisboa (2000). Gutierrez et alii (2004) utilizam dados agregados dos estados brasileiros cobrindo o perı́odo de 1981 a 1995 para investigar os determinantes econômicos do crime, utilizando como proxy a taxa de homicı́dios intencionais por 100 mil habitantes. Os resultados sugerem que a taxa de desemprego, a urbanização e a desigualdade de renda exercem inequivocamente efeitos positivos sobre a taxa de homicı́dios. Além disso, a desigualdade de renda parece estar estreitamente e positivamente EconomiA, Brası́lia(DF), v.9, n.2, p.343–372, mai/ago 2008 361 Marcelo Justus dos Santos e Ana Lúcia Kassouf relacionada à taxa de homicı́dios no Brasil, como já observado por Mendonça (2002) ao propor e testar uma extensão do modelo econômico do crime de Becker num contexto de otimização intertemporal. Contudo, contrariamente a Fajnzylber e Araujo Junior (2001), os autores não encontraram evidências que sustentassem a hipótese de que a pobreza exerce efeito sobre a taxa de homicı́dios, o que também renega a visão convencional e a teoria da desorganização. Utilizando, porém, o estimador system GMM, conforme proposto por Blundell e Bond (1998), confirmam-se os resultados de Andrade e Lisboa (2000), Araujo Junior e Fajnzylber (2001) e Fajnzylber e Araujo Junior (2001) e Kume (2004) no que diz respeito à presença de inércia nas taxas de homicı́dios. Por esse método também foi possı́vel contornar os problemas decorrentes da endogeneidade entre as taxas de crimes e a variável de deterrence do modelo – gastos com segurança pública, de modo a evidenciar que ela é negativamente associada à taxa de homicı́dios. Mas, utilizando a mesma técnica e base de dados semelhante, Kume (2004) não observa nenhum efeito significativo dessa variável sobre a criminalidade medida pela taxa de homicı́dios intencionais. O que é um fato preocupante, pois mensurações alternativas como proxies das variáveis teóricas não deveriam causar alterações significativas nos parâmetros estimados, desde que essas sejam logicamente apropriadas. Cabe destacar que Oliveira (2005) e Santos e Kassouf (2007) também não rejeitam a hipótese de que, pelo menos no Brasil, não há efeitos dos gastos com segurança pública sobre a criminalidade. Os resultados do último estudo indicaram que o mercado de drogas, a desigualdade de renda e a taxa de urbanização afetam positivamente a criminalidade. Observou-se também que a rotatividade do mercado de trabalho é inversamente relacionada à criminalidade. Nesse sentido o tempo médio de desemprego é um dos determinantes das taxas de crimes. Contudo, os resultados obtidos não são suficientemente fortes para afirmar que não há efeitos de intimidação sobre os agentes criminosos no Brasil, porque talvez estejam apenas mostrando que os gastos com segurança não são alocados de forma eficiente. Os autores concordam com Kume (2004) que sugere que a má utilização dos recursos destinados à segurança pública e a ausência de um órgão nacional de coordenação das atividades das secretarias estaduais de segurança é uma explicação plausı́vel para este resultado. Mesmo com as limitações empı́ricas impostas pelos dados, os resultados desse estudo sustentam a hipótese de que o mercado de drogas implica criminalidade, o que é bastante plausı́vel. Contudo, são imprescindı́veis novos estudos para se avançar no conhecimento dessa relação. A apresentação dos principais estudos realizados no Brasil demonstra que não há um consenso na literatura nacional sobre o efeito da maioria das variáveis que compõem os modelos especificados para estudar os determinantes da criminalidade numa abordagem econômica como a sugerida pela teoria econômica do crime proposta por Becker (1968). À exceção da desigualdade de renda, que tem se mostrado recorrentemente como fator de incremento para a criminalidade. O efeito 362 EconomiA, Brası́lia(DF), v.9, n.2, p.343–372, mai/ago 2008 Estudos Econômicos das Causas da Criminalidade no Brasil: Evidências e Controvérsias das variáveis de deterrence ainda não é consensual na literatura nacional. Alguns estudos encontram evidências que sustentam a hipótese de que há efeitos negativos dessas variáveis sobre o comportamento criminoso (Araujo Junior e Fajnzylber (2001); Fajnzylber e Araujo Junior (2001); Mendonça (2002); Gutierrez et alii (2004)). Não obstante, outros estudos falham em rejeitar a hipótese da inexistência desses efeitos, isto é, de que exercem efeitos sobre o comportamento criminoso (Kume (2004); Oliveira (2005); Santos e Kassouf (2007)). Ressalta-se, entretanto, que a proxy usada em geral – gastos com segurança pública – não é uma medida ideal. Entretanto, é a melhor que os pesquisadores dispõem no Brasil. Além disso, todos os estudos que se esforçaram em investigar os efeitos das taxas de crimes defasadas sobre a criminalidade atual encontraram evidências a favor da hipótese de que as taxas de crimes estão sujeitas aos efeitos de inércia (Araujo Junior e Fajnzylber (2001); Fajnzylber e Araujo Junior (2001); Andrade e Lisboa (2000); Gutierrez et alii (2004); Kume (2004); Almeida et alii (2005)). Uma justificativa para a ocorrência de inércia é que, por hipótese, semelhantemente ao caso de atividades legais, há uma especialização da atividade criminosa implicando aumentos de produtividade também em atividades ilegais. Existe ainda o fato de que há maiores incentivos à entrada no crime devido à falta de solução dos crimes e conseqüente impunidade dos culpados. Nesse sentido, parte da criminalidade atual é transferida para o futuro, o que torna mais difı́cil o seu combate, ocasionando a necessidade de se constituı́rem polı́ticas de segurança pública de longo prazo para a prevenção e combate à criminalidade. Nos estudos que utilizam dados em painel, as técnicas que exploram as suas caracterı́sticas mostram-se mais apropriadas no caso dos estudos econômicos da criminalidade, por permitir o controle da heterogeneidade não-observável existente entre as unidades individuais, bem como por permitir o controle parcial do problema de erro de medida decorrente da alta taxa de sub-registro de crimes. Isso é bastante plausı́vel, pois por hipótese a probabilidade de um crime ser registrado tem relação, dentre outras variáveis, com a renda, nı́vel de escolaridade e confiança nas atividades de polı́cia, cuja produtividade depende, parcialmente, dos gastos da sociedade com segurança pública. Assim, é possı́vel tratar a taxa de sub-registro como um efeito especı́fico de estado inobservável correlacionado com as variáveis exógenas do modelo e, pressupondo que esse efeito seja estável no tempo, pode-se controlá-lo parcialmente pela estimação de um modelo de Efeitos Fixos. O controle pela heterogeneidade não-observável de estados justifica-se por diversos fatores. Um deles é que, mesmo controlando alguns dos determinantes dos custos morais associados à atividade criminosa, é provável que existam outras caracterı́sticas culturais, relativamente estáveis no tempo, que impliquem diferentes taxas de crimes entre os estados, como por exemplo, maior ou menor predisposição a resolver conflitos interpessoais violentamente, disparidade no consumo de bebidas alcoólicas, presença de atividades ilegais lucrativas, existência de conflitos associados à posse de terra e assim por diante (Fajnzylber e Araujo Junior 2001). EconomiA, Brası́lia(DF), v.9, n.2, p.343–372, mai/ago 2008 363 Marcelo Justus dos Santos e Ana Lúcia Kassouf 5.2. Análises da distribuição espacial da criminalidade no Brasil No Brasil, a literatura empı́rica que investiga as peculiaridades causadas pelo espaço sobre a criminalidade numa abordagem econômica parece ter surgido pioneiramente no estudo realizado por Sartoris Neto (2000), que, em sua tese de doutorado, realizou uma análise de autocorrelação e causalidade espaço-temporal das taxas de homicı́dios na cidade de São Paulo. Peixoto (2003), utilizando os registros policiais das Unidades de Planejamento do municı́pio de Belo Horizonte, investigou os determinantes socioeconômicos da criminalidade. A análise é focada sobre os crimes violentos contra o patrimônio (roubo e roubo à mão armada) e crimes violentos contra a pessoa (homicı́dios). São empregadas técnicas de análise explanatória espacial (ESDA) 16 e de econometria espacial. A primeira permite identificar clusters criminais e regiões atı́picas e também investiga a presença de autocorrelação e heterogeneidade espacial. Já a segunda técnica permite que as peculiaridades causadas pelo espaço sejam consideradas dentro do modelo estocástico, ou seja, que os efeitos espaciais sejam controlados. Entre os resultados importantes do estudo destaca-se que a taxa de homicı́dios no municı́pio de Belo Horizonte é concentrada em algumas regiões. Também se constata que nas periferias e favelas em geral, as taxas de roubos são relativamente baixas comparadas às demais regiões, entretanto a taxa de homicı́dios é relativamente maior na periferia. Beato Filho e Reis (2000) já haviam observado que, nas regiões centrais da capital mineira, há uma maior taxa de crimes contra o patrimônio e que há uma maior incidência de crimes contra a pessoa na periferia. Segundo os autores, nas regiões centrais há grande circulação de “alvos” e de delinqüentes motivados, além do fato de o policiamento se tornar mais difı́cil em função da grande densidade demográfica. Contudo, na periferia, especialmente nas favelas, a natureza e a motivação dos homicı́dios parecem estar relacionadas ao tráfico e ao consumo de drogas. As estimações feitas por Peixoto (2003) revelaram que o nı́vel de riqueza e o tempo médio de atendimento da polı́cia exercem, respectivamente, efeitos negativos e positivos sobre a taxa de homicı́dios. Para as taxas de roubo e roubo à mão armada, o nı́vel de serviços privados da região e o número de matrı́cula escolar exercem efeitos positivos. Assim, regiões de maior concentração comercial e de maiores taxas de matrı́cula teriam maiores taxas desses tipos de crimes por propiciar um ambiente favorável à sua prática, entre outros motivos. Em sı́ntese, nesse estudo observou-se que, em geral, há alguma forma de dependência espacial nos dados das Unidades de Planejamento do municı́pio de Belo Horizonte. Na mesma linha de investigação, estão Almeida et alii (2005), que, utilizando a taxa de homicı́dios intencionais nos municı́pios do estado de Minas Gerais, 16 ESDA é uma coleção de técnicas para a análise estatı́stica de informações geográficas com o objetivo de descobrir padrões espaciais nos dados. 364 EconomiA, Brası́lia(DF), v.9, n.2, p.343–372, mai/ago 2008 Estudos Econômicos das Causas da Criminalidade no Brasil: Evidências e Controvérsias investigam o padrão espacial da criminalidade. Esses autores confirmam para Minas Gerais os resultados encontrados por Peixoto (2003) para Belo Horizonte. Em particular, revelam que as taxas de crimes não são distribuı́das aleatoriamente, porquanto há formação de clusters espaciais da criminalidade e autocorrelação espacial entre os seus municı́pios. A autocorrelação espacial indica que a observação local é rodeada de valores localmente similares, podendo ocorrer em dois sentidos: a observação local tem alta taxa de crimes e apresenta correlação espacial com a média dos vizinhos que também é alta; a observação local tem baixa taxa de crimes e está correlacionada espacialmente com a média de crimes dos vizinhos que também é baixa (Peixoto 2003). As evidências de agrupamentos espaciais de crimes ao redor de grandes cidades mineiras sugerem que parece existir uma possı́vel associação entre taxa de crime e taxa de urbanização ou densidade populacional. Estes autores ainda encontram evidências em favor da hipótese de que a criminalidade está sujeita à inércia, ou seja, que parcela da criminalidade de um perı́odo é transferida para outro, reforçando as conclusões de Araujo Junior e Fajnzylber (2001), Fajnzylber e Araujo Junior (2001), Andrade e Lisboa (2000), Gutierrez et alii (2004) e Kume (2004). Os resultados dessas estimativas sugerem que um modelo simples de regime espacial com efeitos inerciais sem determinantes causais explica aproximadamente 70% da variabilidade nas taxas de homicı́dios de Minas Gerais, além de a “inércia criminal” ser capaz de transmitir até 88% dos crimes ocorridos em um determinado perı́odo para um perı́odo próximo. Tanto pelos resultados apresentados por Peixoto (2003) quanto por Almeida et alii (2005), conclui-se que a criminalidade pode estar sujeita aos efeitos do espaço. Assim, o estudo de suas causas por meio da utilização de dados regionais requer testes para dependência espacial e, caso essa dependência seja encontrada, é necessário um método que a considere nas estimações. 6. Uma Proposta de Agenda de Pesquisa Analisando os estudos econômicos que investigaram a criminalidade brasileira, nota-se que a maioria não investigou uma relação especı́fica, como, por exemplo, a relação entre efeitos da escolaridade e crime. Em geral, o intuito dos estudos tem sido identificar os fatores socioeconômicos que afetam a criminalidade, sem se aprofundar em alguma relação especı́fica. Os estudos que se esforçaram em estudar o binômio desigualdade-crime, como os de Mendonça (2002) e Gutierrez et alii (2004), são uma exceção. Também se observa que, pelo fato de a literatura econômica do crime, no Brasil, ter surgido apenas em anos recentes, há nela diversas lacunas a serem preenchidas. Isso ocorre ainda pela falta de disponibilidade de dados, sem os quais não há como avançar na investigação cientı́fica das causas da criminalidade brasileira. A seguir destacam-se temáticas que consideramos prioritárias na agenda de pesquisa dos determinantes da criminalidade brasileira. Um dos fatores que certamente contribuem para o crescimento da criminalidade EconomiA, Brası́lia(DF), v.9, n.2, p.343–372, mai/ago 2008 365 Marcelo Justus dos Santos e Ana Lúcia Kassouf é a alta taxa de reincidência criminal, responsável, por exemplo, por parte da inércia do crime. Na literatura internacional, questões relativas à reincidência criminal, e mais especificadamente aos seus determinantes foram investigadas por Witte (1980), Myers Junior (1983) e Schmidt e Witte (1989), entre outros. No Brasil, entretanto, nenhum estudo foi realizado nesse sentido. Vale destacar que, segundo Witte (1980, 1983), um problema nesse tipo de investigação é que os dados utilizados são de uma amostra não-aleatória de prisioneiros libertados, fato que deve ser levado em consideração em estudos empı́ricos. Não se encontra nenhuma evidência na literatura nacional sobre o ciclo de vida do comportamento criminoso. Utilizando dados referentes aos Estados Unidos, Pezzin (1994) demonstra teoricamente e fornece evidências empı́ricas de que esse ciclo pode explicar parte das variações nas taxas de crimes ao longo do tempo. Mas nenhum estudo econômico investigou especificamente os efeitos das condições do mercado de trabalho brasileiro sobre a criminalidade, consideradas apenas como controle nas estimativas dos modelos empı́ricos. Caberia, portanto, uma investigação dedicada a essa relação, a exemplo do estudo empreendido por Gould et alii (2002), que analisam, nos Estados Unidos, o impacto da tendência declinante dos salários de homens jovens sobre a criminalidade, dando especial atenção para a endogeneidade presente entre as condições no mercado de trabalho e a taxa de crimes. Da mesma forma há no Brasil poucas evidências empı́ricas dos efeitos da interação social sobre o comportamento criminoso. Essa questão é abordada por Glaeser et alii (1996), que formalizam um modelo com o intuito de explicar, pelos efeitos da interação social, a forte variabilidade entre cidades americanas nas taxas de crimes. Os estudos de Mendonça (2002), Carneiro et alii (2005) e Shikida et alii (2006) devem servir como ponto de partida para novos avanços nessa linha de estudos. Estudos como os realizados por estes autores devem ser estendidos a mais unidades de detenção no Brasil. Apesar de extremamente oneroso, o ideal seria realizar um estudo de abrangência nacional que contasse com o apoio do Ministério da Justiça, dada a magnitude da população prisional brasileira. 17 Por implicar alocação ineficiente de recursos na prevenção e combate da criminalidade, por aumentar a probabilidade de sucesso do ato criminoso e por afetar, em curto prazo, o resultado esperado de polı́ticas de segurança pública, pesquisas dedicadas a investigar as causas do sub-registro de crimes numa abordagem econômica são importantes para o entendimento do fenômeno da criminalidade e, portanto, para sua prevenção e combate. Os estudos de Myers Junior (1980), Goldberg e Nold (1980), Craig (1987), MacDonald (1998), Duce et alii (2000), Soares (2004a,b) e Santos (2006) servirão de modelo para pesquisas que possam promover avanços nessa investigação. 17 Segundo dados enviados em resposta ao ofı́cio circular 003/2005 do Depen no dia 21 de janeiro de 2005, a população prisional do Brasil era de 262.710 indivı́duos (Fonte: Órgãos estaduais responsáveis pelo sistema prisional nos estados). 366 EconomiA, Brası́lia(DF), v.9, n.2, p.343–372, mai/ago 2008 Estudos Econômicos das Causas da Criminalidade no Brasil: Evidências e Controvérsias Um dos aspectos mais importantes da criminalidade que ainda não foi explorado no Brasil é o da delinqüência juvenil. Levitt (1998) se dedicou a essa questão nos Estados Unidos e seu estudo pode servir de modelo ao desenho de um estudo aplicado ao Brasil. Novamente, a barreira a ser superada é a da disponibilidade de dados que possam ser utilizados. A coleta de dados através da aplicação de questionários nas instituições responsáveis pela detenção e “recuperação” de menores delinqüentes é uma saı́da. 7. Considerações Finais A literatura da área demonstra ser evidente que a pesquisa cientı́fica é um instrumento importante para a investigação e compreensão da causas da criminalidade, pois apesar de haver consenso de que um policiamento mais intensivo inibe o crime, as suas causas fundamentais são estruturais e ligadas às oportunidades e condições de vida dos indivı́duos. Nesse sentido, a primeira conclusão deste estudo é a de que a teoria econômica pode ser extremamente útil para a investigação das causas da criminalidade. Verificou-se que a maioria dos estudos não considera a composição demográfica dos estados para a construção das taxas de crimes. Em geral, tem-se utilizado uma taxa de crimes sem controlar grupos de riscos. Contudo as estatı́sticas criminais mostram que a maioria das vı́timas de homicı́dios intencionais é jovem e do sexo masculino, de modo que parte da diferença no número de homicı́dios intencionais pode estar refletindo diferenças na composição demográfica dos estados. Observou-se que alguns estudos têm objetivos amplos, buscando de forma geral investigar os determinantes da criminalidade. Outros são mais especı́ficos, como, por exemplo, o que investiga a relação entre desigualdade e criminalidade. A literatura brasileira apresenta controvérsias no tocante à existência dos efeitos de deterrence sobre o comportamento criminoso. Mesmo entre os estudos que utilizam a mesma variável proxy – gastos com segurança pública – não há um consenso em relação ao assunto, embora a maioria tenha encontrado uma relação negativa, como previsto pelo modelo teórico de Becker. Contudo, há um consenso de que a desigualdade de renda é um fator que afeta positivamente o comportamento criminoso. Há também fortes evidências de que a criminalidade está sujeita aos efeitos regionais ou espaciais, em que é possı́vel haver um efeito de transbordamento da criminalidade de uma região para outra. Evidencia-se também a sujeição da criminalidade aos efeitos de inércia, pela qual parte da criminalidade de um perı́odo é transferida para outro, possivelmente em decorrência da especialização da atividade criminosa. A falha em rejeitar a hipótese de inexistência de efeitos de estado não-observáveis afetando a criminalidade dos estados brasileiros é praticamente um fato estilizado na literatura empı́rica, o que representa a necessidade do emprego de uma metodologia que considere a heterogeneidade individual existente entre os estados. EconomiA, Brası́lia(DF), v.9, n.2, p.343–372, mai/ago 2008 367 Marcelo Justus dos Santos e Ana Lúcia Kassouf No Brasil ainda há carência de dados criminais disponı́veis para o uso em pesquisas aplicadas. Assim, a maioria dos estudos lança mão das taxas de homicı́dios intencionais para mensurar a criminalidade. Somente nos últimos anos a Secretaria Nacional de Segurança Pública implantou uma base de dados que permitirá que outros tipos de crimes sejam também utilizados para mensurar a criminalidade. Entretanto, apesar de as estatı́sticas oficiais serem úteis para realizar estudos com o intuito de identificar os determinantes socioeconômicos, demográficos e judiciais da criminalidade, elas não permitem conhecer a real incidência de crimes, os determinantes do risco de vitimização e as questões inerentes ao sub-registro de crimes. Para isso são necessárias informações extraı́das de dados de pesquisas de vitimização que, além de úteis para estimar a real incidência da criminalidade em determinada região, podem ser usadas para identificar empiricamente os fatores determinantes do risco de vitimização e os fatores que colaboram para que um ato criminoso não seja efetivamente registrado na polı́cia, o que, por diversos motivos, incentiva o comportamento delinqüente. Além de ser a única forma de conhecer o perfil completo da vı́tima, é a forma mais eficiente de se obter o grau de satisfação da sociedade para com a polı́cia e justiça, isso porque se trata de pessoas que realmente tiveram experiências de vitimização e que, portanto, podem julgar os serviços prestados pelas autoridades de segurança pública. Por este estudo, foi possı́vel observar que a literatura econômica do crime apresenta forte e rápido crescimento no Brasil, apesar de haver ainda lacunas a ser preenchidas na investigação econômica do crime. Os entraves observados atualmente não dizem respeito a problemas econométricos ou de falta de embasamento teórico, mas, sim, à pouca disponibilidade de dados que possam ser utilizados para avançar no conhecimento das causas dessa anomalia social. O levantamento de dados fidedignos, que reflitam a magnitude real da criminalidade a que a sociedade se expõe, é a base para uma polı́tica eficaz e efetiva de prevenção e controle. Contudo, talvez a única forma de pressionar as autoridades competentes é usar os dados já existentes, mostrando assim o quanto é necessário que mais informações criminais sejam postas à disposição de pesquisadores. Por fim, devido à atual situação da insegurança pública em que vive o paı́s torna-se indispensável, além da disponibilidade de dados oficiais fidedignos, que se realize uma pesquisa de vitimização, de abrangência nacional, com certa periodicidade. Isso tornará possı́vel o acompanhamento das reais taxas de crimes, da eficiência e da eficácia das polı́ticas de segurança pública de prevenção e combate ao crime. Mas, uma pesquisa de tamanha magnitude terá um custo significativamente elevado. Uma opção é a inclusão de questões relativas a experiências de vitimização e atendimento pelas autoridades de segurança pública no questionário da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicı́lios (PNAD), a exemplo do suplemento especial de 1988. Nada mais oportuno para uma investigação da real criminalidade vivida pela população brasileira. Enfim, é necessário que as autoridades brasileiras de segurança pública invistam na coleta e sistematização de bancos de dados criminais confiáveis, nos moldes do 368 EconomiA, Brası́lia(DF), v.9, n.2, p.343–372, mai/ago 2008 Estudos Econômicos das Causas da Criminalidade no Brasil: Evidências e Controvérsias que já se faz nos Estados Unidos há décadas. Referências bibliográficas Albuquerque, P. H. (2007). Shared legacies, disparate outcomes: Why American South border cities turned the tables on crime and their Mexican sisters did not? Crime Law Social Change, 47:69–88. Almeida, E. S., Haddad, E. A., & Hewings, G. J. D. (2005). The spatial pattern of crime in Minas Gerais: An explanatory analysis. Economia Aplicada, 9(1):39–55. Andrade, M. V. & Lisboa, M. B. (2000). Desesperança de vida: Homicı́dio em Minas Gerais. In Henriques, R., editor, Desigualdade e Pobreza no Brasil, pages 347–384. IPEA, Rio de Janeiro. Araujo Junior, A. & Fajnzylber, P. (2000). Crime e economia: Um estudo das microregiões mineiras. Revista Econômica do Nordeste, 31(especial):630–659. Araujo Junior, A. F. & Fajnzylber, P. (2001). O que causa a criminalidade violenta no Brasil? Uma análise a partir do modelo econômico do crime: 1981 a 1996. Belo Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais, CEDEPLAR, 88p. Texto de Discussão 162. Arellano, M. & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and application to employment equations. Review of Economic Studies, 58:277–297. Beato Filho, C., Peixoto, B. T., & Andrade, M. V. (2004). Crime, oportunidade e vitimização. Revista Brasileira de Ciências Sociais, 19(55):73–89. Beato Filho, C. C. & Reis, I. A. (2000). Desigualdade, desenvolvimento socioeconômico e crime. In Henriques, R., editor, Desigualdade e Pobreza no Brasil, pages 385–402. IPEA, Rio de Janeiro. Becker, G. S. (1968). Crime and punishment: An economic approach. The Journal of Political Economy, 76(2):169–217. Blumstein, A. (1995). Youth violence, guns and the illicit-drug industry. Journal of Criminal Law and Criminology, 86(1):10–36. Blundell, R. & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87:115–143. Carneiro, F. G., Loureiro, P. R. A., & Sachsida, A. (2005). Crime and social interactions: A developing country case study. The Journal Socio-Economics, 34:311–318. Carneiro, L. P. (2000). Violent crime in Latin America cities: Rio de Janeiro and São Paulo. USP, 129p. Research Report 129. Carvalho, A. X., Cerqueira, D. R. C., Rodrigues, R. I., & Lobão, W. J. A. (2007). Custos das mortes por causas externas no Brasil. Brası́lia, IPEA, 33p. Texto de Discussão 1268. Cerqueira, D. & Lobão, W. (2004). Determinantes da criminalidade: Arcabouços teóricos e resultados empı́ricos. Dados – Revista de Ciências Sociais, 47(2):233–269. Corman, H. & Mocan, H. N. (2000). A time-series analysis of crime, deterrence and drug abuse in New York city. The American Economic Review, 90(3):584–604. Craig, S. G. (1987). The deterrent impact of police: An examination of a locally provided public service. Journal of Urban Economics, 21:298–311. Deaton, A. (1997). The Analysis of Holsehold Surveys: A Microeconomic Approach to Development Policy. Johns Hopkins University Press, Baltimore, Maryland. EconomiA, Brası́lia(DF), v.9, n.2, p.343–372, mai/ago 2008 369 Marcelo Justus dos Santos e Ana Lúcia Kassouf Donohue III, J. J. & Levitt, S. D. (1998). Guns, violence and the efficiency of illegal markets. The American Economic Review, 88(2):463–467. Duce, A. D. T., Chavarrı́a, P. L., & Torrubia, M. J. M. (2000). Análisis microeconómico de los datos criminales: Factores determinantes de la probabilidad de denunciar un delito. Disponı́vel em: http://www.revecap.com/iiieea/autores/D/120.pdf Acesso em 2 de março de 2005. Ehrlich, I. (1967). The supply of illegitimate activities. Unpublished manuscript, New York: Columbia University. Ehrlich, I. (1973). Participation in illegitimate activities: A theoretical and empirical investigation. Journal of Political Economy, 81(3):526–536. Fajnzylber, P. & Araujo Junior, A. F. (2001). Violência e criminalidade. In Lisboa, M. B. & Menezes Filho, N. A., editors, Microeconomia e Sociedde no Brasil, pages 333–394. Contra Capa, Rio de Janeiro. Fajnzylber, P., Lederman, D., & Loayza, N. (1998). Determinants of crime rates in Latin America and the world: Viewpoints. Washington: The World Bank, 42p. Fernandes, N. & Chofard, G. (1995). Sociologia Criminal. Rumo, São Paulo. Fleisher, B. M. (1963). The effect of unemployment on juvenile delinquency. The Journal of Political Economy, 71(6):543–555. Fleisher, B. M. (1966). The effect of income on delinquency. The American Economic Review, 61(1):118–137. Glaeser, E. L., Sacerdote, B., & Scheikman, J. A. (1996). Crime and social interactions. Quarterly Journal of Economics, 111(2):507–548. Goldberg, G. & Nold, F. C. (1980). Does reporting deter burglars? An empirical analysis of risk and return in crime. Review of Economics and Statistics, 62(3):424–431. Gomes, F. A. R. & Paz, L. S. (2004). The determinants of criminal victimization in São Paulo State. Disponı́vel em: http://econpapers.repec.org/paper/anpen2004/147.htm Acesso em 2 de outubro de 2007. Gould, E. D., Weinberg, B. A., & Mustard, D. (2002). Crime rates and local market opportunities in the United States: 1979-1995. Review of Economics and Statistics, 84(1):45–61. Grogger, J. & Willis, M. (2000). The emergence of crack cocaine and the rise in urban crime rates. The Review of Economics and Statistics, 82(4):519–529. Gutierrez, M. B. S., Mendonça, M. J. C., Sachsida, A., & Loureiro, P. R. A. (2004). Inequality and criminality revisited: Further evidence from Brazil. In XXXII Encontro Nacional de Economia. ANPEC, João Pessoa. Disponı́vel em: http://www.anpec.org.br/encontro2004/artigos/A04A149.pdf Acesso em 30 de dezembro de 2004. Kahn, T. (2000). Os custos da violência: Quanto se gasta ou deixa de ganhar por causa do crime no Estado de São Paulo. Fórum de Debates, Rio de Janeiro: IPEA, CESeC. Kelly, M. (2000). Inequality and crime. The Review of Economics and Statistics, 82(4):530–539. Kopp, P. (1998). A economia da droga. EDUSC, Bauru. Kume, L. (2004). Uma estimativa dos determinantes da taxa de criminalidade brasileira: Uma aplicação em painel dinâmico. In XXIII Encontro Nacional de Economia. ANPEC, João Pessoa. Disponı́vel em: http://econpapers.repec.org/paper/anpen2004/148.htm Acesso em 30 de dezembro de 2004. Lemos, A. A. M., Santos Filho, E. P., & Jorge, M. A. (2005). Um modelo para análise 370 EconomiA, Brası́lia(DF), v.9, n.2, p.343–372, mai/ago 2008 Estudos Econômicos das Causas da Criminalidade no Brasil: Evidências e Controvérsias socioeconômica da criminalidade no municı́pio de Aracajú. Estudos Econômicos, 35(3):569–594. Levitt, S. D. (1997). Using electoral cycles in police hiring to estimate the effect of police on crime. The American Economic Review, 87(3):270–290. Levitt, S. D. (1998). Juvenile crime and punishment. Journal of Political Economy, 106(2):1156–1185. Lobo, L. F. & Fernandez-Carrera, J. (2003). A criminalidade na região metropolitana de Salvador. In XXXI Encontro Nacional de Economia. ANPEC, Porto Seguro. Disponı́vel em: http://econpapers.repec.org/paper/anpen2003/d26.htm Acesso em 28 de setembro de 2006. MacDonald, Z. (1998). The under-reporting of property crime: A microeconomic analysis. Disponı́vel em: http://www.le.ac.uk/economics/research/ RePEc/lec/lpserc/pserc98-6.pdf Acesso em 4 de dezembro de 2005. Mendonça, M. J. C. (2002). Criminalidade e violência no Brasil: Uma abordagem teórica e empı́rica. Revista Brasileira de Economia de Empresas, 2(1):33–49. Mustard, D. B. (2003). Reexamining criminal behavior: The importance of omitted variable bias. The Review of Economics and Statistics, 85(1):205–211. Myers Junior, S. L. (1980). Why are crimes underreported? What is the crime rate? Does it really matter? Social Science Quarterly, 61(1):23–43. Myers Junior, S. L. (1983). Estimating the economic model of crime: Employment versus punishment effects. Quarterly Journal of Economics, 98(1):157–166. Oliveira, C. A. (2005). Criminalidade e o tamanho das cidades brasileiras: Um enfoque da economia do crime. In XXXIII Encontro Nacional de Economia. ANPEC, Natal. Disponı́vel em: http://econpapers.repec.org/paper/anpen2005/152.htm Acesso em 30 de dezembro de 2006. Peixoto, B. T. (2003). Determinantes da criminalidade no municı́pio de Belo Horizonte. Master’s thesis, Universidade Federal de Minas Gerais, CEDEPLAR, Belo Horizonte. Pereira, R. & Fernandez-Carrera, J. (2000). A criminalidade na região policial da grande São Paulo sob a ótica da economia do crime. Revista Econômica do Nordeste, 31:898–918. Pezzin, L. E. (1994). Incentivos de mercado e comportamento criminoso: Uma análise econômica dinâmica. Estudos Econômicos, 24(3):373–404. Rondon, V. V. & Andrade, M. V. (2003). Custos da criminalidade em Belo Horizonte. EconomiA, 4(2):223–259. Santos, M. J. (2006). Uma abordagem econômica do crime no Brasil. Master’s thesis, Escola Superior de Agricultura Luis de Queiroz, Universidade de São Paulo, Piracicaba. Santos, M. J. & Kassouf, A. L. (2007). Uma investigação econômica da influência do mercado de drogas ilı́citas sobre a criminalidade brasileira. Revista EconomiA, 8(2):187–210. Sartoris Neto, A. (2000). Homicı́dios na Cidade de São Paulo: Uma Análise de Autocorrelação e Causalidade Espaço-Temporal. PhD thesis, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Universidade de São Paulo. Schmidt, P. & Witte, A. D. (1989). Predicting criminal recidivism using ‘split population’ survival time models. Journal of Econometrics, 40(1):141–159. Shikida, P. F. A., Araujo Junior, A. F., Shikida, C. D., & Borilli, S. P. (2006). Determinantes do comportamento criminoso: Um estudo econométrico nas penitenciárias central, estadual e feminina de Piraquara (Paraná). Pesquisa e Debate, EconomiA, Brası́lia(DF), v.9, n.2, p.343–372, mai/ago 2008 371 Marcelo Justus dos Santos e Ana Lúcia Kassouf 17(1):125–148. Sjoquist, D. L. (1973). Property crime and economic behavior: Some empirical results. The American Economic Review, 63(3):439–446. Smigel-Leibowistz, A. (1965). Does crime pay? An economic analysis. Master’s thesis, New York: Columbia University. Soares, G. A. D., Musumeci, L., Borges, D., Rodrigues, S. C., & Fraga, G. (2003). Base nacional de estatı́sticas criminais: Análise e avaliação. Produto 2 – Recomendações de detalhamento e aperfeiçoamento da base de dados. Rio de Janeiro: Universidade Cândido Mendes, Centro de Estudos de Segurança Pública, 37p. (relatório de consultoria prestada à Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça. Soares, R. R. (2004a). Crime reporting as a measure of institutional development. Economic Development and Cultural Change, 52(4):851–871. Soares, R. R. (2004b). Development, crime and punishment: Accounting for the international differences in crime rates. Journal of Development Economics, 73:155–184. Stigler, J. G. (1970). The optimum enforcement of laws. Journal of Political Economy, 78(3):526–536. Witte, A. D. (1980). Estimating the economic model of crime with individual data. Quarterly Journal of Economics, 94(1):57–84. Witte, A. D. (1983). Estimating the economic model of crime: Reply. Quarterly Journal of Economics, 98(1):167–175. 372 EconomiA, Brası́lia(DF), v.9, n.2, p.343–372, mai/ago 2008
Download