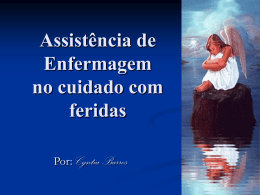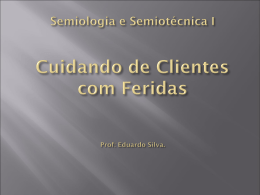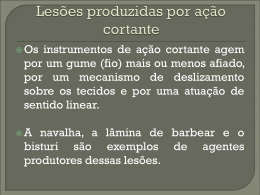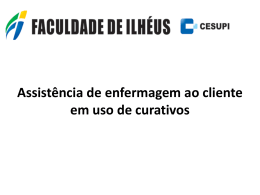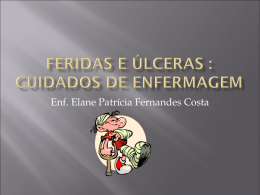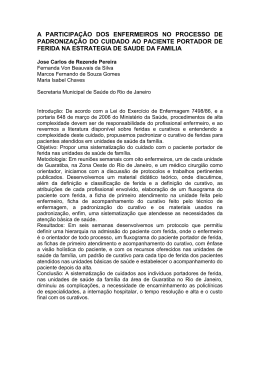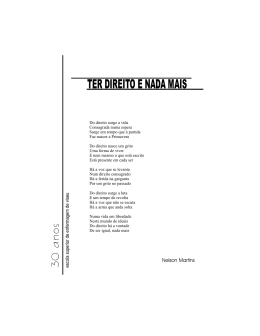UNIVERSIDADE CASTELO BRANCO INSTITUTO DE PÓS-GRADUAÇÃO QUALITTAS CURSO DE CLÍNICA MÉDICA E CIRÚRGICA DE PEQUENOS ANIMAIS UTILIZAÇÃO DO “FLAP” OMENTAL NA CICATRIZAÇÃO DE FERIDA CUTÂNEA CRÔNICA EM FELINO (Felis catus). RELATO DE CASO Carla Valéria Rocha Ramos Rio de Janeiro, jan. 2007 CARLA VALÉRIA ROCHA RAMOS Aluna do Curso de Clínica Médica e Cirúrgica de Pequenos Animais UTILIZAÇÃO DO “FLAP” OMENTAL NA CICATRIZAÇÃO DE FERIDA CUTÂNEA CRÔNICA EM FELINO (Felis catus). RELATO DE CASO. Trabalho monográfico de conclusão do curso de Clínica médica e cirúrgica de pequenos animais, apresentado à UCB como requisito parcial para a obtenção do título de Licenciado do curso, sob orientação do Prof° Marcus Vinicius de Castro Falcão Rio de Janeiro, jan.2007 UTILIZAÇÃO DO “FLAP” OMENTAL NA CICATRIZAÇÃO DE FERIDA CUTÂNEA CRÔNICA EM FELINO (Felis catus). RELATO DE CASO Elaborado por Carla Valéria Rocha Ramos Aluna do Curso de Clínica Médica e Cirúrgica de Pequenos Animais Foi analisado e aprovado com grau: ................ Rio de janeiro, ________ de _________________ de ______ Marcus Vinicius de Castro Falcão Rio de Janeiro, jan. 2007 RESUMO : Há mais de 3600 anos surgiram as primeiras idéias sobre as possíveis funcções do omento. Em 1906, Morrison verificou que esta estrutura poderia ser usada tanto para reforço em orifícios na herniorrafia, como na proteção das anastomoses intestinais, prevenindo deiscências e inflamações. Graças a sua capacidade de bloqueio inflamatório intra-abdominal, a riqueza de suas células mesoteliais, sua mobilidade e sua propriedade absortiva, o omento ficou conhecido como o “gaurdião abdominal”. O presente trabalo relata a utilização do flap omental na cicatrização da ferida cutânea crônica de um felino (Felis catus) que após várias tentativas sem sucesso com tratamento conservativo com bandagens, debridamento e fechamento secundário a omentalização foi a manobra cirúrgica escolhida como recurso para a cicatrização da ferida. Decorrido o tempo de 15 dias de pós-operatório, a ferida apresentava-se cicatrizada, os pontos foram retirados e o paciente apresentou uma boa evolução clínica. ABSTRACT : Over more than 3600 years omentum’s functions’ first ideas came up. In 1906, Morisson, a British surgeon noticed that it could be used to help seal hernias, to protect intestinal anastomosis, to avoid dehiscence and inflammation. Thanks to its anti-inflammatory properties, its myriad of mesothelial cells, its mobility and absortive properties, the omentum has been called the “policeman of the abdomen”. The present study shows the use of omental flap in the management of c chronic non-healing cutaneous wound in a cat (Felis catus), that after a several attemps of conservative treatment with dressings, debridement and second closure, the omentalisation was used as a surgical treatment to the wound closure. After a fourthnight of post-operative, the wound healed, sutures were removed and the patient had a great clinic outcome. SUMÁRIO 1 INTRODUÇÃO................................................................................................ 01 2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ................................................................... 03 2.1 ESTRUTURA E FUNÇÃO DA PELE DO GATO ....................................... 2.2 CICATRIZAÇÃO DE FERIDAS ................................................................... 2.2.1 Fase inflamatória ......................................................................................... 2.2.2 Fase de debridamento ................................................................................ 2.2.3 Fase de reparo ........................................................................................... 2.2.4 Fase de maturação ...................................................................................... 2.2.5 Problemas na cicatrização .......................................................................... 2.2.5.1 Tratamento da ferida de pele crônica ............................................................ 2.2.6 Tratamento pós-operatório da ferida ........................................................ 03 05 07 08 09 10 11 12 15 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 14 14 15 17 3 OMENTO ...................................................................................................... Anatomia do omento .................................................................................. Função do omento ...................................................................................... Aplicação cirúrgica do “flap” omental ...................................................... Aplicação do “flap” omental no reparo do ferimento cutâneo ................................................. Aplicação “flap” omental no tratamento de ferida crônica ......................... RELATO DE CASO ................................................................................ 22 24 26 4 RESULTADOS E DISCUSSÃO ............................................................. 34 6 CONCLUSÃO ........................................................................................... 38 REFERÊNCIAS ......................................................................................... 39 2.3.5 LISTA DE FIGURAS Figura 1. Ferimento crônico na coxa de um felino ...............................................................26 Figura 2. Deiscência de sutura ocorrida após tentativa de fechamento secundário ..............28 Figura 3 (a). Ampla tricotomia realizada em apêndice pélvico e cavidade abdominal .........29 Figura 3 (b). Antissepsia e assepsia realizada no campo operatório ......................................29 Figura 4. Proteção do ferimento após o mesmo sofrer debridamento e reavivamento dos bordos .....................................................................................................................................30 Figura 5. Liberação do folheto dorsal do omento através da laparotomia mediana. Seta branca evidencia curvatura maior do estômago e a seta amarela o baço.........................................................................................................................................30 Figura 6 - Exteriorização do pedículo omental pela região do flanco esquerda..................................................................................................................................31 Figura 7 – Pedículo omental levado da região do flanco até a ferida. Omento suturado a ferida cobrindo toda a área..........................................................................................................................................32 Figura 8 – Foto evidenciando as suturas do ferimento crônico, da laparotomia e da região do flanco. Todas realizadas no padrão de sutura contínuo simples.....................................................................................................................................32 1. INTRODUÇÃO Há mais de 3600 anos surgiram as primeiras idéias sobre as possíveis funções do omento. Em 1906 Morrison verificou que esta estrutura poderia ser usada tanto para reforço em orificios na herniorrafia, como para proteção das anastomoses intestinais, prevenindo deiscências e inflamações. Graças a sua capacidade de bloqueio inflamatório intra-abdominal, a riqueza de suas células mesoteliais, sua mobilidade e sua propriedade absortiva, o omento ficou conhecido como “guardião abdominal” (GRECA et. al,1998). O omento maior é muito extenso, e nos animais bem alimentados contêm muita gordura disposta em fileiras entrelaçadas. Visto ventralmente ele cobre toda a massa intestinal, estendendo-se da curvatura maior do estômago até a entrada da pelve. Ele está afixado na entrada maior do estômago, na parte esquerda do cólon, no ramo esquerdo do pâncreas e no hilo do baço (ROSS & PARDO, 1993). O omento tem vantagens únicas para a reconstrução e revascularizacão de feridas. O omento provê de boa vascularização, tecido maleável e longo pedículo vascular (MALONEY ET AL, 2002). Ele tem grande resistência contra infecções e por ser maleável, pode ser facilmente moldado (SHEN & SHEN, 2003). Estudos sugerem que o omento canino pode se estender para qualquer parte do corpo sem ser destacado do seu suprimento vascular (ROSS & PARDO, 1993). Na omentalização um “flap” omental é criado, passado por um túnel subcutâneo e fixado ao local da ferida após a excisão de todo tecido de granulação crônico (GRAY, 2005). O presente trabalho visa relatar a utilização do “flap” omental para a cicatrização de uma ferida crônica num felino (Felis catus). O omento há tempos vem sendo empregado como auxiliar na cicatrização de vísceras abdominais, torácicas e outros. No presente estudo confirmaremos a eficácia do flap omental no reparo de uma ferida cutânea crônica, demonstrando uma nova opção de terapia para esses pacientes. 2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 2.1 ESTRUTURA E FUNÇÃO DA PELE DO GATO A pele é a primeira linha de proteção contra as condições ambientais e microorganismos adversos. A pele e a sua pelagem proporcionam uma barreira contra agentes químicos e radiações e, em combinação com a gordura subcutânea, proporcionam um coxim contra o traumatismo mecânico, além de servir como isolantes contra os extremos de temperatura (PAVLETIC, 1999). A mais importante função da pele do gato é a proteção a danos externos e prevenção de perda excessiva de água, eletrólitos e outras macromoléculas.Outras funções da pele incluem regulação de temperatura, controle de pressão sanguínea, imunoregulação, secreção e excreção, percepção sensorial, proteção à radiação solar, indicador de saúde geral e estoque de água, eletrólitos, gordura, vitaminas, proteínas e outros materias (PAVLETIC, 1994). A pele é o maior órgão do corpo. A espessura da pele do gato varia de 0.2 mm a 0.4mm, dependendo da região do corpo e está diretamente relacionada com a temperatura da pele a qual decresce dorsal a ventralmente, proximal a distalmente do dorso. Em gatos a pele é mais grossa na região do dorso cervical, lombar e sacral, e mais fina na parte mais baixa da lateral do membro posterior, coxa e abaixo do membro anterior (PAVLETIC, 1994). A pele é composta pela epiderme e derme. A epiderme serve como leito externo semipermeável que protege o tecido do ambiente. Nenhuma ferida de pele pode ser considerada cicatrizada ate que o epitélio esteja restaurado em toda a área (IBID). A elasticidade inerente da pele, sua ausência de firmes fixações aos ossos, músculos e fáscias, e o comprimento e extensibilidade dos vasos cutâneos diretos respondem pelo alto grau de mobilidade da pele sobre a cabeça, pescoço e tronco dos gatos (IBID). A epiderme é avascularizada e mais fina, enquanto a derme é vascularizada e mais espessa, situando-se profundamente em relação à epiderme, a que nutre e sustenta (FOSSUM, 2005). A epiderme da pele provida de pelos consiste de três camadas principais o estrato cilíndrico, o estrato espinhoso e estrato córneo (PAVLETIC, 1994). A derme se compõe de fibras colágenas, fibras reticulares e fibras elásticas circundadas por substancias mucopolissacaridicas (PAVLETIC, 1994). A derme contém vasos sanguíneos e linfáticos, nervos, folículos pilosos, glândulas, dutos e fibras musculares lisas. Encontram-se fibroblastos, macrófagos, plasmócitos e mastócitos por toda essa camada (FOSSUM, 2005). A hipoderme ou subcútis é constituída basicamente de gordura com trabéculas colágenas e fibras elásticas. A hipoderma não está relacionada à pele, mas esta intimamente associada à função cutânea (PAVLETIC, 1994). A derme no gato é dividida em duas camadas distintas: o estrato papilar superficial e o estrato reticular profundo. A espessura da pele do gato é diretamente relacionada a espessura da camada dermal e varia de acordo com a área, sexo e raça (PAVLETIC, 1994). A pele mais delgada do gato esta localizada ao longo da superfície ventral do corpo, na superfície medial dos membros e na parte interna das pinas. Pela perspectiva clínica a pele do gato é mais dobrável e elástica que a pele do cão (PAVLETIC, 1994). 2.2 CICATRIZAÇÃO DE FERIDAS Ferida por definição é um dano ao tecido com ruptura variável da sua continuidade celular e anatômica. Estas podem ser classificadas em uma variedade de categorias de acordo com local, profundidade e tipo de dano. Entretanto, os princípios básicos de cicatrização e manejo são basicamente os mesmos em todas elas (PAVLETIC, 1994). A cicatrização de ferimentos é um processo biológico preferencial. Trata-se de uma combinação de eventos físicos, químicos e celulares que restauram um tecido ferido ou o substitui por colágeno. A cicatrização de feridas começa imediatamente após uma lesão ou incisão. A cicatrização de ferimentos é dinâmica, várias fases ocorrem simultaneamente. As quatro fases de cicatrização de ferimentos são inflamação, debridamento, reparo e maturação (FOSSUM, 2005). Em geral os defeitos dermoepidérmicos da pele cura-se por regeneração do epitélio(epiderme), enquanto que a derme, glândulas e folículos pilosos são substituídos por tecido cicatricial (PAVLETIC, 1994). Os primeiros 3 a 5 dias correspondem à fase intervalar da cicatrização, pois predominam inflamação e debridamento e os ferimentos ainda não ganharam força apreciável (FOSSUM, 2005). O final resulta numa fácil cicatrização com uma fina cicatriz, com pequenas fibroses e o retorno da arquitetura tecidual e funcionamento normal do órgão. Se uma ferida não cicatriza ordenadamente ou se o processo de cicatrização não resulta em integridade estrutural, então, a ferida é considerada crônica (STADELMANN et al, 1998). Segundo Staldemann et al, (1998), ferimentos crônicos são distinguidos dos agudos pelo volume de tecido de granulação presente e que este tecido é composto de números capilares e uma matriz de suporte que é rica em fibroblastos, células inflamatórias, células endoteliais e miofibroblastos. Cada ferida crônica é única, com circunstâncias fisiológicas e sociais que previnem ou retardam a cicatrização (STADELMANN et al, 1998). O manejo dessas feridas consiste em debridamento, bandagens, terapia com oxigênio hiperbárico, aplicação tópica de tris-EDTA e administração oral de antimicrobianos (SMITH ET AL, 1995). Maloney et al (2002) ressaltam que a oxigenação tecidual por suprimento sanguíneo adequado é um pré-requisito para o fechamento dessas feridas. 2.2.1 FASE INFLAMATÓRIA Inflamação é uma resposta vascular e celular do trauma designada a combater invasores e remover tecidos mortos ou secos. Essa remoção é essencial para sua preparação e para o processo de cicatrização normal. A intensidade da inflamação é geralmente proporcional à severidade do ferimento e a habilidade do corpo de responder (PAVLETIC, 1994). Essa fase caracteriza-se por um aumento de permeabilidade vascular, quimiotaxia das células circulatórias, liberação de citosinas e fatores de crescimento e ativação celular (macrófagos, neutrófilos, linfócitos e fibroblastos). Os vasos sanguíneos contraem-se por 5 a 10 minutos para limitar a hemorragia, mas depois se dilatam e escoam fibrinogênio e elementos de coagulação no interior do ferimento. O mecanismo de coagulação extrínseco é ativado pela tromboplastina liberada das células lesadas. A fibrina e os transudatos plasmáticos preenchem os ferimentos e tamponam os vasos linfáticos, localizando a inflamação e colando as bordas do ferimento. A formação do coagulo sanguíneo estabiliza os bordos do ferimento e proporciona uma retração tecidual limitada. Quando o coágulo seca, formam-se crostas que protegem o ferimento, evitam hemorragia adicional e permitem que a cicatrização progrida por baixo da superfície. Mediadores inflamatórios causam a inflamação, que começa imediatamente após a lesão e dura cerca de cinco dias. Os leucócitos que escoam dos vasos sanguíneos para o interior dos ferimentos iniciam a fase de debridamento. Prostaglandinas da serie E são sempre envolvidas na reação inflamatória inicial enquanto os efeitos da reação inflamatória posterior podem usar a prostaglandina da serie F e possivelmente da serie A . A prostaglandina parece ser responsável pela fase final da reação inflamatória enquanto, simultaneamente, inicia a fase de reparo do ferimento. Os sinais clássicos de inflamação (rubor, calor, tumor) são os resultados da vasodilatação , transudação e obstrução dos canais linfáticos locais. Abscesso, dependendo da severidade da ferida, da extensão da reação celular (PAVLETIC, 1994). 2.2.2 FASE DE DEBRIDAMENTO Durante a fase de debridamento, forma-se, nos ferimentos um exsudato composto de leucócitos, tecidos mortos e fluidos. Neutrófilos e monócitos e iniciam o debridamento, evitando infecções e debridam microorganismos e resíduos por fagocitose. Os monócitos tornam-se macrófagos dentro do ferimento em 24 a 48 horas.Os macrófagos secretam colagenases, removendo tecidos necrosados, bactérias e material estranho. Os fatores de crescimento podem iniciar, manter e coordenar a formação de tecido de granulação. Os fatores quimiotáticos direcionam os macrófagos para o tecido lesado (FOSSUM, 2005). 2.2.3 FASE DE REPARO O processo de reparo envolve epitelização da superfície da ferida, migração de fibroblastos por formação de colágeno, formação de tecido de granulação e contração da ferida (STASHAK,1991). A fase de reparo geralmente começa 3 a 5 dias após a lesão. Os macrófagos estimulam o acido desoxirribonucléico (DNA) e a proliferação de fibroblastos. Os fibroblastos migram para o interior dos ferimentos exatamente antes dos brotos de capilares novos, à medida que a fase inflamatória diminui (2 a 3 dias). Eles invadem os ferimentos para sintetizar e depositar colágeno, elastina e proteoglicanas, que amadurecem em tecido fibroso. A fibrina do ferimento desaparece à medida que é depositado colágeno. Após semanas e meses seguidos do ferimento, o colágeno continua com o processo de reparo. O colágeno surge para fazer a força elástica da ferida. A produção celular deve ser balanceada com a morte celular, formação capilar com obliteração e produção de colágeno com hidrolise colágena, degradação e absorção (PAVLETIC, 1994). A quantidade de colágeno atinge o máximo em 2 a 3 semanas após a lesão. À medida que o teor de colágeno dos ferimentos aumenta, o número de fibroblastos e a velocidade de síntese de colágeno diminuem marcando o final da fase de reparo (FOSSUM, 2005). Os capilares invadem os ferimentos atrás dos fibroblastos migrantes. Os capilares novos aumentam a tensão de oxigênio nos ferimentos. A drenagem linfática dos ferimentos é precária durante a cicatrização inicial. A combinação de novos capilares, fibroblastos e tecido fibroso forma um tecido de granulação carnoso e vermelho-brilhante em 3 a 5 dias após a lesão. Ele proporciona uma barreira a infecções, uma superfície para migração epitelial e uma origem de fibroblastos especiais, chamado miofibroblastos, que exercem um importante papel na contração da ferida (ibid). 2.2.4 FASE DE MATURAÇÃO Por três semanas após o ferimento, a homeostasia entre a síntese de colágeno e a sua degradação é ativada e a remodelação da ferida começa. Esse processo continua por mais de dois anos, e a força de tensão da ferida continua progressivamente. Há uma diminuição gradual do colágeno do tipo III e aumento do colágeno do tipo I. O numero de capilares do tecido fibroso diminui fazendo com que a cicatriz fique mais pálida (FOSSUM, 2005). Após um período, ocorre um rápido crescimento da força de tensão da ferida, que recupera cerca de 80% da sua forca original. A duração da fase de maturação depende de vários fatores, incluindo genética, idade, local da ferida, tipo de ferimento e duração da inflamação (STADELMANN et al, 1998). 2.2.5 PROBLEMAS NA CICATRIZAÇÃO Feridas que não cicatrizam em gatos não são comuns na rotina clínica. Elas podem ocorrer em pontos de tensão ou em áreas de grande movimentação como axila e coxa (quarto traseiro). Essas feridas representam um desafio ao cirurgião quando manejo e reparos convencionais falham (BROCKMAN et al, 1996). Possíveis causas do não fechamento de feridas cutâneas em gatos incluem condições infecciosas (infecção microbacteriana, vírus da imunodeficiência felina, leucemia felina e esporotricose), assim como corpos estranhos, granuloma eosinofílico, doenças sistêmicas e degenerativas e neoplasias (LASCELLES ET AL, 1998). Vários fatores podem estar envolvidos no não fechamento de feridas, tais como, doença sistêmica, infecções virais, corpo estranho ou infecção bacteriana no sítio do ferimento (LASCELLES ET AL, 1998). Brockman et al, (1996) afirmam também que hiperadrenocorticismo, terapias com drogas imunossupressivas, inflamação excessiva, tensão local no tecido, drogas anti-inflamatórias e a movimentação no sítio podem interferir com a contração do ferimento e retardar a epitelização. A insuficiência vascular, tanto venosa quanto arterial, necrose por pressão e agentes físicos são citados como causa do insucesso na cicatrização dos ferimentos crônicos (STADELMANN ET AL, 1998). A liberação de enzimas destinadas a degradar corpos estranhos destrói a matriz do ferimento, prolonga a fase inflamatória e retarda a fase fibroblástica do reparo tecidual. A cicatrização depende do suprimento sanguíneo, que transporta oxigênio e substratos metabólicos para as células. Um prejuízo no suprimento sanguíneo por causa de traumatismos, ataduras justas ou movimentação do ferimento retarda a cicatrização (FOSSUM, 2005). A idade do paciente e o estado físico podem influenciar na cicatrização da ferida. Geralmente com o estado de saúde igual, animais jovens cicatrizam mais rapidamente que os idosos, que são mais susceptíveis a infecções e podem ter reduzido suas habilidades de formação de tecido de granulação. Pacientes com infecções sistêmicas, doenças do fígado, rins ou sistema cardiovascular, e animais com problemas endócrinos apresentam retardamento na cicatrização de feridas (STASHAK, 1991). 2.2.5.1 Tratamento da ferida de pele crônica A procura por fatores contribuintes para o não fechamento da ferida deve ser investigada através de exames complementares, tais como: cultura e antibiograma, histopatologia, testes virais e a exclusão de processos neoplásicos (GRAY, 2005). Lascelles et. al (1998) também realizaram testes hematológicos e bioquímicos nos pacientes estudados. Testes sorológicos para leucemia e vírus da imunodeficiência felina foram realizados por Gray (2005), Brockman et al, (1996); Lascelles et al, (1996), (1998); Lascelles & White, (2001), nos felinos portadores de ferimento crônico. Todos os animais apresentaram resultados negativos. Brockman et al (1996) e Lascelles et al (1998) trataram feridas crônicas, sem sucesso, com debridamento, lavagens e várias tentativas de fechamento primário retardado associado a antibioticoterapia. Tentativas de fechamento de ferimentos crônicos axilares freqüentemente levam a deiscência e requerem cirurgia (BROCKMAN et al, 1996; LASCELLES et al, 1996). Lascelles et al, 1998 relatam que tensão excessiva ao redor da linha de sutura pode ser uma das causas de deiscência. De acordo com Gray (2005), cuidados pós-operatórios devem incluir confinamento na gaiola, manter o ferimento cirúrgico limpo (especialmente se tiver drenos) e colar Elizabetano. Bandagens devem ser usadas com cautela, pois tem sido associada ao insucesso por fricção excessiva resultando no comprometimento vascular. Lascelles et al, (1998), no pós-operatório também restringiram exercício, manteve o animal na gaiola e imobilizou os animais por 10 dias para diminuir qualquer possibilidade de tensão dinâmica no sítio da cirurgia. 2.3. Omento 2.3.1 anatomia do omento O grande omento é um avental mesentérico formado por um fino lençol de duas folhas de mesotélio com uma rica rede vascular e linfática (BROCKMAN et al., 1996 e FOSSUM, 2005) livre na cavidade abdominal que se origina da grande curvatura do estômago, cruzando o cólon transverso onde é fixado e descende à frente das vísceras até a sínfise (LIEBERMANN, 2000; BORIS et al, 2001). Sua superfície anterior encontra-se com a parede abdominal (peritôneo parietal) e a superfície posterior encontra-se com o peritôneo visceral. O omento é rico em vasos linfáticos que rapidamente absorvem o exsudato ou edema, é também rico em vasos sanguíneos e tem um enorme poder de combater infecção (DUPONT & MENARD, 1972). Suman, et. al. (1981), relatam que este órgão é facilmente acessado pela via intra-abdominal e sua remoção não resulta em déficit funcional. Quando totalmente estendido, o omento, no ser humano, pode cobrir uma área de mais de 500cm2 (PETIT et al., 1979). Já Liebermann (2000) afirma que a superfície da área omental varia de 300cm2 a 500cm2 e as dimensões variam de 14 a 36cm em comprimento e de 20 a 46cm de largura. De acordo com Dyce et al (1990), o omento maior é composto de tecido adiposo, que se deposita ao longo dos pequenos vasos formando uma estrutura de aparência rendilhada (LIEBERMANN, 2000). Segundo Maloney et. al., 2002, este é formado por um tecido fino, maleável, com vasos de largo calibre, facilmente estendido e pode ser separado do sítio doador para qualquer localidade. Sua estrutura móvel tem poder de reparação e fibrose por proliferação tecidual e aderências (DUPONT & MENARD, 1972). O omento é composto de uma rede de tecido conectivo trabecular que leva artérias, veias, vasos linfáticos e gordura. Entre as trabéculas existem membranas mesoteliais transparentes. Essas consistem em meramente duas camadas de células mesoteliais se juntam em um tecido conectivo pequeno e são finas. O estroma pode conter fibroblastos, fibrócitos, depósito de células de gordura e corpo linforeticular (exemplo, pontos leitosos). A superfície do mesotélio tem uma camada contínua de células achatadas, junções intracelulares unidas e uma fina camada de membrana que promove uma barreira contra difusão passiva (LIEBERMANN, 2000). 2.3.2 Função do omento O grande omento foi passado como uma dobra mesenterial larga e inútil, geralmente no caminho dos cirurgiões durante intervenções abdominais e gerando problemas como aderências (LIEBERMANN, 2000). Morison (1906) começou a usar o termo “polícia abdominal” para descrever a função ativa em combater infecções abdominais (LOGMANS ET. AL., 1996 e LIEBERMANN, 2000). Liebermann (2000) reconheceu que as aderências provocadas pelo omento não apenas encapsulam o foco da inflamação, mas também, promovem uma barreira contra a disseminação da infecção para cavidade abdominal e possuem propriedades antiinflamatórias. Gray, (2005) afirma que o omento oblitera espaço morto e sua rica rede vascular e linfática promove às células fatores humorais requeridos para controlar a infecção. Indução de neovascularização ocorre pelo desenvolvimento de conexões vasculares na interface entre o tecido sadio transplantado e o isquêmico para auxílio no fechamento da ferida (MALONEY et al., 2002). O omento é reconhecido por possuir característica única de prontamente aderir a um novo leito (SUMAN, et al, 1981). Este também é composto por um tecido maleável e bem vascularizado para reconstrução de defeitos teciduais extensos e tem um pedículo vascular longo (35 a 40cm) com vasos do mesmo tamanho o que reduz o uso potencial de microcirurgia (MALONEY et al, 2002). Entre suas funções estão incluídos drenagem linfática e tecidual (GOLSMITH et al., 1967), armazenamento de gordura, revascularização de lesões isquêmicas em extremidades distais e feridas crônicas avasculares como osteomielite (MALONEY et al., 2002), hemostasia (LOGMANS et al., 1996) e angiogênesis (GOLSMITH et al., 1974, BROCKMAN et al., 1996). Essas propriedades fazem seu uso ideal para áreas cirúrgicas que demandem revascularização (O´SHAUGHNESSY, 1936, MACMILLAN & STAUFFER, 1991, KARASAWA et al., 1993), assim como, feridas em que o processo de cicatrização é demorado ou compromissado (SMITH et al., 1995) ou quando infecção está presente (WATKINS & MEIRION THOMAS, 1985, WHITE & WILLIAMS, 1995). Foi sugerido que a característica hemostática do omento deve-se a sua habilidade de acelerar a ativação da protrombina e a rápida mudança do fribrinogênio à fibrina achada na presença do tecido omental. (LOGMANS et al., 1996; LIEBERMANN et al, 2000). O fator de crescimento polipeptídeo é um fator angiogênico que é liberado pelo omento e a ativação dos macrófagos estimulam novos capilares a invadir a rede fibrosa e tecidos adjacentes. A aplicação de sua fração lipídica melhora a sobrevivência da área do enxerto cutâneo e promove vasodilatação e neovascularização entre o enxerto cutâneo e o leito receptor. A defesa antibacteriana e revascularização são fatores essenciais para o uso do omento em cirurgias plásticas (LIEBERMANN et al, 2000). 2.3.3 Aplicação cirúrgica do “flap” omental O uso do omento em procedimentos cirúrgicos tem sido descrito extensivamente em humanos (GOLDSMITH et al, 1967, SAMSON & PASTERNAK, 1979, WATKINS & MEIRION THOMAS, 1985, KARASAWA et al, 1993; SALTZ et al, 1993) e mais recentemente, na literatura veterinária (HOSGOOD, 1990, SMITH et al, 1995, WHITE & WILLIAMS, 1995, BROCKMAN et al, 1996, BRAY et al, 1997). O “flap” omental é de considerável interesse no tratamento cirúrgico do câncer e suas complicações sendo primariamente descrita por um cirurgião oncológico (PETIT et al, 1979). Reconstrução e revascularização de extremidades com uso do omento vêm sendo descritas desde 1967, quando Goldsmith experimentalmente demonstrou que o pedículo omental poderia ser estendido e colocado na extremidade distal (MALONEY et al, 2002). Diferenças anatômicas no suprimento sanguíneo no omento de cães permitem a viabilidade do enxerto pedicular para extensão a qualquer sítio no corpo e por essa razão os enxertos pediculares são favoráveis em cirurgias veterinárias (ROSS & PARDO, 1993). O omento tem sido usado como um “flap” pedicular para reconstrução de defeitos no tórax (LASCELLES et al, 1998, FOSSUM, 2005), reparo cutâneo (DUPONT & MENARD, 1972; PETIT et al., 1979; BROCKMAN et al., 1996; LASCELLES et al., 1998; SMITH et al., 1995; GRAY, 2005), tratamento do linfedema de extremidade, revascularização cerebral (KARASAWA et al, 1993), reconstrução do trato urinário (FOSSUM, 2005) e revascularização do miocárdio (SUMAN, et al., 1981). Gray, 2005 relata seu uso como suporte vascular, para reparação de órgãos e drenagem de abscesso prostático (WHITE & WILLIAMS, 1995; LASCELLES et al, 1998; FOSSUM, 2005). Outros estudos experimentais mostraram que o omento sobrevive como um “flap” livre nos espaços pleural e pericardial, na câmara anterior do olho e na superfície cerebral (SUMAN, et al., 1981). Pela laparotomia, deve-se verificar a viabilidade do omento, um passo importante naqueles pacientes que já sofreram cirurgias abdominais e a lesão a ser tratada pelo “flap” omental pode ser tanto intra ou extra abdominal (PETIT et al, 1979). Ross & Pardo (1993) relatam que quando o “flap” é criado, a separação das partes pancreáticas e esplênicas da folha dorsal do omento com retenção da arcada vascular gastroepiplóica maximiza o suprimento sanguíneo. Cuidados para evitar torção e tração excessiva do pedículo omental são essenciais, reposição dos órgãos abdominais asseguram adequada perfusão do pedículo e embeber o “flap” em 0,9% de solução salina enquanto o abdômen é suturado (SMITH et al, 1995). Smith (1995), cita a preocupação em manter o “flap” omental úmido e aquecido para minimizar vasoconstrição. Cuidados na hemostasia e delicadeza na manipulação servem para evitar formação de hematoma (ROSS & PARDO, 1993). O túnel subcutâneo criado não apenas protege a base do pedículo, mas também parece prover alguma proteção contra contaminação secundária da cavidade peritoneal por bactéria resistente no sítio da incisão. (PETIT et al, 1979). Sutura entre o peritônio e o pedículo, no ponto de saída, serve para reduzir freqüência de hérnia no pós-operatório. (ibid). Segundo Brockman et al, (1996) deve-se ter muito cuidado para evitar rotação do pedículo omental e omentopexia no local de saída para o túnel subcutâneo deve ser feita para evitar que o omento retorne para cavidade abdominal, mas de uma maneira que não interfira com sua vascularização. Lascelles et. al., (1998) acreditam não ser necessário ancorar o omento no sítio da saída abdominal já que o mesmo poderia levar a comprometimento vascular. O omento promove tecido vascular para granulação que ocupa o espaço morto e diminui ocorrência de infecção na ferida (SMITH et al., 1995). Embora sejam menos duráveis que os “flaps” musculares, estimulam a formação do tecido de granulação até permitir um fechamento de ferimento mais precoce com “flaps” ou enxertos cutâneos (FOSSUM, 2005). Segundo Brockman et al. (1996) e Fossum, (2005) as possíveis complicações após uma transposição do flap incluem formação de seroma, herniação através do orifício de saída omental. Maloney et al, (2002) comentam também sobre o risco de formação de hérnia intra-abdominal, obstrução de intestino delgado, lesão esplênica ou sangramento resultante da dissecação. De acordo com Brockman et al (1996), a formação de seroma deve ser pelo fato da produção do mesmo exceder a habilidade do omento de removê-lo ou pelo fato do pedículo omental ser colocado de tal maneira que a vascularização venosa e linfática tenha colapsado favorecendo a formação do seroma. Entretanto, Maloney et al (2002) afirmam que sua contra indicação para uso como sítio doador incluem condições inflamatórias intraabdominais, obesidade mórbida e inúmeros procedimentos abdominais já realizados. O uso de técnicas de revascularização indireta (tais como transferência omental por pedículo ou enxerto livre) para pacientes portadores de ferimentos crônicos e com isquemia é para fornecer suprimento sangüíneo local e oxigenação (MALONEY et al, 2002). Tecido conectivo, gordura avascular ou periósteo intacto não vão suportar os enxertos livres, pois não irão produzir tecido de granulação (SMITH, 1995). Debridamento de tecido necrótico, controle da infecção, preservação da viabilidade do tecido regional e manutenção do fluxo cardiovascular normal são medidas práticas para promover o leito tecidual e se este for crônico e incapaz de promover epitelização ou aplicação de um enxerto livre, pode ser este excisado cirurgicamente até encontrar um tecido vascularmente viável (PAVLETIC, 1994). Em seu estudo, Maloney et al, (2002), relata que todos os “flaps” omentais alcançaram seu objetivo de revascularização e cobertura do ferimento distal e que o omento é um tecido rico e que geralmente não é utilizado para o tratamento de ferimentos difíceis em extremidade. “Flaps” musculares e omentais são capazes de estimular nova circulação para área do enxerto e os enxertos livres não serão bem sucedidos quando colocados numa ferida pobremente vascularizada, já que, sobrevivência a longo prazo é dependente da neovascularização do leito receptor. Esse é o resultado de uma queda no suprimento sanguíneo devido a uma falha no desenvolvimento da circulação colateral no ferimento isquêmico (PAVLETIC, 1994). Existem relatos na literatura humana de dor gástrica após extensão do pedículo omental para uso em cirurgias torácicas (SAMSON & PASTERNAK, 1979) devido à distorção do eixo gástrico secundário a criação do “flap” (LASCELLES et al., 1998). Maloney et al (2002) relatam também que deve se fixar o estômago ao cólon transverso para prevenir volvulo. Anorexia ou distúrbios gastrointestinais não foram observados a longo prazo em nenhum dos felinos do trabalho de Lascelles et al. (1998) devido a orientação relativa do trato gastro intestinal no animal quadrípede. Em humanos, o grande omento é usado em ferimentos para promover suprimento sanguíneo e estimular a formação de tecido de granulação necessário para suportar o enxerto (SMITH, 1995). Lascelles et.al, (1998), também descreveu seu uso em humanos como parte integral de muitos procedimentos reconstrutivos. Kiricuta (1963) foi o primeiro a propor o uso deste como enxerto para promover tecido para reparação de fístula retovaginal e vesico-vaginal. Brockman et al, (1996) relatam que o omento foi usado experimentalmente para criar um sítio subcutâneo para transplante de fígado xenogênico. 2.3.4 “Flap” omental no reparo do ferimento cutâneo Diversos autores relatam o uso do omento para enriquecer o tratamento de feridas (DUPONT & MENARD, 1972; PETIT et al, 1979; SUMAN et al., 1981; HOSGOOD,1990; SMITH et al., 1995; BROCKMAN et al., 1996; LASCELLES et al., 1998; MALONEY et al., 2002; GRAY, 2005) primariamente por sua produção de vários fatores angiogênicos (GOLSMITH et al., 1974; IMAIZUMI et al., 1990; BROCKMAN et al., 1996; ZHANG et al., 1997). Também promove uma fonte direta de macrófagos que são vitais para o sucesso do tratamento (FOWLER, 1989). “Flap” omental combinado com o fechamento da ferida foi previamente usado para tratar ferimentos crônicos axilares em felinos (LASCELLES et al., 1998). Resultados satisfatórios foram descritos com o uso do flap omental associado com “flap” tóraco-dorsal de pele (LASCELLES & WHITE, 2001). Smith et. al. (1995), em seu trabalho, observaram que quatro dias após a cirurgia, o tecido de granulação estava presente no ferimento e o pedículo omental aparentemente saudável exceto por uma área focal de 4 X 4mm de necrose superficial. Já Gray (2005) relata que no oitavo dia de pós-operatório do “flap” omental para um ferimento axilar em um felino, uma área de 0,5 X 2cm de necrose na face distal do “flap” foi observada e ressecada para fechamento por segunda intenção. Razões para o insucesso do “flap” omental incluem má preparação do leito e aplicação, infecção da ferida, acúmulo de fluido (LASCELLES et al., 1998) e manipulação incorreta na mudança das bandagens (SMITH et al., 1995). Possíveis razões para necrose do “flap” incluem comprometimento vascular, fricção e suprimento vascular ineficiente na margem distal do “flap” (GRAY, 2005). Segundo Smith (1995), tensão excessiva ou compressão do pedículo no túnel subcutâneo pode causar necrose. (PETIT et al, 1979). A técnica de omentalização não requer nenhum treinamento ou instrumento especial para ser realizada. Deve ser considerada a avaliação do ferimento e manejo deste nos gatos e pode ser facilmente adaptado em cães (BROCKMAN et al., 1996). 2.3.5 Aplicação do “flap” omental no tratamento de ferida crônica De acordo com Gray (2005), cuidados pós-operatórios devem incluir confinamento na gaiola, manter o ferimento cirúrgico limpo (especialmente se tiver drenos) e colar Elizabetano. Bandagens devem ser usadas com cautela, pois, tem sido associada ao insucesso por fricção excessiva resultando no comprometimento vascular. Lascelles et al, (1998), no pós-operatório também restringiu exercício, manteve o animal na gaiola e imobilizou os animais por 10 dias para diminuir qualquer possibilidade de tensão dinâmica no sítio da cirurgia. O túnel subcutâneo não apenas protege a base do pedículo, mas também parece prover alguma proteção contra contaminação secundária da cavidade peritoneal por bactéria resistente no sítio da incisão. (PETIT et al, 1979). Sutura entre o peritônio e o pedículo, no ponto de saída, serve para reduzir freqüência de hérnia no pósoperatório. (Petit et al, 1979). Segundo Brockman et al, (1996) deve-se ter muito cuidado para evitar rotação do pedículo omental e omentopexia no local de saída para o túnel subcutâneo deve ser feita para evitar que o omento retorne para cavidade abdominal mas de uma maneira que não interfira com sua vascularização. 3 RELATO DE CASO Um felino SRD de três anos de idade macho pesando 4 Kg foi atendido na policlínica veterinária da Universidade Estácio de Sá tendo como queixa principal a presença de um ferimento na coxa do apêndice esquerdo (Figura 1), secundário a deiscência de sutura após cirurgia de osteossíntese de fêmur. Proprietário se queixava também da dificuldade do felino em urinar. Figura 1 – Ferimento crônico na coxa de um felino Ao exame físico o animal apresentava desidratação de 5 %, vesícula urinária repleta, temperatura retal de 38°C, mucosas normocoradas e freqüência cardíaca (FC) de 140 batimentos por minuto (BPM). O felino foi internado para tratamento da obstrução uretral e a ferida foi tratada diariamente com creme a base de Triticum vulgare1. Quatro dias depois o paciente recebeu alta médica do quadro de obstrução uretral e prescreveu-se curativo diário com o mesmo creme para o tratamento do ferimento cutâneo. O animal retornou a Policlínica sete dias depois para revisão, apresentando ferida pouco cicatrizada. Optou-se pelo tratamento da ferida com bandagem úmida aderente com Iodopovidona2 0,1 % por 5 dias, e depois 1 2 Bandvet – Schering Plough Veterinária – Rio de Janeiro, RJ. Povidine tópico – Laboratório Biosintética – Ribeirão Preto, SP. bandagem úmida não aderente com Nitrofurazona3, até a cicatrização do ferimento por segunda intenção. Passadas 4 semanas, não foi observado evolução clínica da cicatrização da ferida, o tecido de granulação não apresentava evidências clínicas de infecção, porém sua coloração róseo-claro sugeria um tecido de granulação não saudável.Tentou-se então o debridamento do tecido de granulação, reavivamento dos bordos da ferida e o fechamento secundário da mesma. Após 15 dias uma observada com a nova deiscência de sutura foi ferida apresentando o mesmo aspecto de antes da cirurgia (Figura 2). Foram realizados exames sorológicos Leishmaniose, FIV e FELV. para Enquanto se aguardava os resultados protegido com bandagens absorventes úmidas que eram trocadas diariamente. o ferimento não aderentes Figura 2 – Deiscência de sutura ocorrida após tentativa de fechamento secundário. Notar a presença de um tecido de granulação não saudável sem evidências de infecção. 3 Furacin creme – Schering Plough – Rio de Janeiro, RJ. foi Com os resultados negativos das sorologias, procedeu-se a biópsia do ferimento com “Punch” de 6 mm com o felino sob anestesia dissociativa de Quetamina4 e Diazepan5. O resultado histopatológico foi de marcada proliferação fibroblástica bem diferenciada, acompanhada por deposição de colágeno e proliferação de capilares orientados perpendicularmente a epiderme. Áreas de ulceração do epitélio superficial acompanhado por leve infiltrado inflamatório agudo. Não foi observado, no material, alteração compatível com processo neoplásico. O diagnóstico foi de tecido de granulação acompanhado por ulceração do epitélio superficial. Após o insucesso no tratamento da ferida, preconizou-se a omentalização da ferida associada ao fechamento secundário da mesma. Como protocolo anestésico utilizou-se na MPA a associação dos fármacos Acepromazina6 (0,05 mg/Kg), Meperidina7 (2 mg/Kg) e Quetamina4 (10mg/Kg) que foram aplicados juntos na mesma seringa através da via intra muscular. O Propofol8 foi utilizado como agente indutor pela via endovenosa, vinte minutos após a aplicação da MPA. A manutenção anestésica foi realizada com Isoflurano9 associado à administração do Fentanil10 (0,05mcg/Kg) endovenoso visando analgesia transoperatória. O paciente foi posicionado em decúbito lateral e a tricotomia e antissepsia de toda a região abdominal e do apêndice pélvico foram realizadas (Figura 3). Procedeu-se o debridamento da ferida com reavivamento dos bordos e escarificação do tecido de granulação. 4 Francotar – Virbac – São Paulo , SP. Diazepanil – Hipolabor – Sabará, MG. 6 Acepran 1 % - Univet – São Paulo, SP. 7 Dolosal 50mg – Cistália – São Paulo, SP. 8 Profolen – Blausiegel – Cotia, SP. 9 Isoforine – Cristália – São Paulo, SP. 10 Fentanest – Cristália – São Paulo, SP. 5 a b Figura 3 – (a) Ampla tricotomia realizada em apêndice pélvico e cavidade abdominal. (b) Antissepsia e assepsia realizada no campo operatório. A ferida debridada foi protegida com uma gaze estéril que foi suturada à ela, com a finalidade de evitar a contaminação no momento em que o paciente fosse posicionado em decúbito dorsal para a realização da laparotomia mediana pré- retro umbilical (Figura 4). Figura 4 – Proteção do ferimento após o mesmo sofrer debridamento e reavivamento dos bordos. O omento foi abordado e exteriorizado da cavidade abdominal através da laparotomia. O folheto dorsal do omento foi liberado próximo às artérias gastroepiplóicas, sem comprometê-las desde a região esplênica até a pancreática. (Figura 5). Figura 5 – Liberação do folheto dorsal do omento através da laparotomia mediana. Seta branca evidencia curvatura maior do estômago e a seta amarela o baço. Através de uma abertura na musculatura abdominal e pele, na região do flanco esquerdo, obteve-se a exteriorização do pedículo omental, que foi realizada cautelosamente, tendo o cuidado de evitar tração exagerada e torção do pedículo que pudesse comprometer a vascularização do mesmo. O defeito muscular realizado na região do flanco permitia a passagem do pedículo sem causar garroteamento (Figura 6). Figura 6 - Exteriorização do pedículo omental pela região do flanco esquerda. Um túnel subcutâneo foi criado da ferida até a região do flanco, onde o “flap” omental se exteriorizava, para que o mesmo fosse transportado até a ferida. O omento foi suturado a ferida com fio de sutura Poliglactina 910 4.011 com pontos separados simples dispostos de uma forma que a rede omental cobrisse toda a ferida (Figura 7). Figura 7 – Pedículo omental levado da região do flanco até a ferida. Omento suturado a ferida cobrindo toda a área. Após a fixação do omento a pele foi suturada com Mononylon 3.012 no padrão de sutura separado simples. A laparorrafia procedeu-se de forma rotineira e o apêndice foi imobilizado com uma bandagem Robert Jones. Para os curativos das feridas cirúrgicas utilizou-se creme a base de Clorexidine13 (Figura 8). 11 Vicryl – Ethicon Johnson & Johnson – Campos, SP. Nylon – Techinofio – Goiânia, GO. 13 Furacin creme – Vetnil – Louveira, SP. 12 Figura 8 – Foto evidenciando as suturas do ferimento crônico, da laparotomia e da região do flanco. Todas realizadas no padrão de sutura contínuo simples. A bandagem foi trocada a cada 48 horas até o oitavo dia de pós – operatório, quando a partir de então a ferida foi mantida aberta com o felino usando apenas colar Elizabetano. Duas semanas após a cirurgia realizou-se a retirada dos pontos e foi dada alta médica para o animal. 4 RESULTADOS E DISCUSSÃO O paciente relatado no presente trabalho era portador de uma ferida há aproximadamente um ano que não cicatrizava. Sua coloração róseo-clara e a pouca quantidade de tecido de granulação se assemelham a definição de ferida crônica proposta por Stadelmann et al. (1998) Antes da indicação da omentalização da ferida, tentou-se o tratamento conservativo com bandagens, debridamento e fechamento secundário, pois se acreditava num possível erro no manejo dessa ferida até então. Entretanto, assim como Brockman et al (1996) e Lascelles et al (1998) não obtivemos sucesso nesse tipo de terapia para ferida crônica. O comprometimento no suprimento sanguíneo é citado por Fossum (2005) como responsável pelo retardo na cicatrização dos ferimentos. O aspecto do tecido de granulação do felino estudado sugere um tecido com pouca vascularização. Acreditamos que o local da ferida (coxa) por ser uma região de grande movimentação (BROCKMAN & PARDO, 1996) tenha sido um fator importante no comprometimento vascular da ferida. Os testes sorológicos e o exame histopatológico da ferida foram realizados na tentativa de diagnosticar possíveis causas para o não fechamento da ferida. Assim como nos trabalhos de Gray (2005), Brockman & Pardo (1996) e Lascelles et al (1998) os testes apresentaram resultados negativos. Devido ao insucesso do tratamento de rotina optou-se pela omentalização da ferida, já que o omento possui inúmeras propriedades de revascularização (KARASAWA, 1998), além disso, diversos artigos citam a utilização desse órgão no tratamento de feridas crônicas.(BROCKMAN & PARDO, 1996; DUPONT & MENARD, 1972; GRAY, 2005; LASCELLES et al, 1998; MALONEY, 2003; ROSS & PARDO, 1993; PETIT et al, 1979). Na liberação do folheto dorsal do omento, teve-se a preocupação de não comprometer as artérias gastroepiplóicas (GRAY, 2005). Durante esse procedimento, cuidados foram tomados para se evitar a torção e tração do pedículo, e o mesmo foi mantido umedecido com solução fisiológica estéril (SMITH et al, 1995 e ROSS & PARDO, 1993). Brockman et al (1996) ressalta a necessidade da omentopexia no local de saída da cavidade abdominal para evitar a rotação do mesmo, já Petit et al (1979) cita a preocupação com a herniação no local de saída do “flap”. Lascelles et al (1998) descreve a omentopexia como uma possível causa de comprometimento da vascularização do pedículo. No felino estudado não foi realizado a omentopexia e até o quinto mês de pós-operatório não foi observado herniação. Apesar da difícil avaliação da possível rotação do “flap”, acredita-se que isso não deva ter ocorrido devido à evolução satisfatória do caso. Goldsmith em 1967 (MALONEY et al, 2002) cita a possibilidade de estender o omento até a extremidade. No presente relato o pedículo omental foi transportado com bastante facilidade até a coxa do felino através de um túnel subcutâneo, que é ressaltado por Petit et al (1979) como uma forma importante de proteger a base do pedículo e evitar a contaminação da cavidade peritoneal. O felino teve o apêndice imobilizado com bandagem a fim de evitar movimentação excessiva no local da sutura, essa conduta é defendida por Lascelles et al (1998) enquanto Gray (2005) recomenda cautela na utilização das bandagens devido à fricção excessiva. A escolha pela bandagem Robert Jones se fez por ser uma bandagem acolchoada que causa mínima compressão da ferida e não compromete a vascularização. A proteção da ferida ao autotraumatismo foi outro fator levado em conta no momento de se optar pela bandagem, embora o felino tenha sido mantido com colar elizabetano. Setenta e duas horas após procedimento cirúrgico, na primeira troca de bandagens, notou-se um pequeno inchaço na região de exteriorização do “flap” omental, a ferida se encontrava fechada e seca sem evidências de deiscência de sutura. O animal não apresentava clinicamente sinais de dor. Em seu trabalho Smith et al (1995) relatam que quatro dias após a cirurgia, apesar do tecido de granulação estar presente e o pedículo omental se apresentar aparentemente saudável havia uma área focal de necrose superficial, o que não foi observado no caso relatado. No quinto dia a ferida apresentava um aspecto similar ao encontrado no terceiro dia após a cirurgia. No sétimo dia de pós-operatório, a ferida aparentava estar cicatrizada como um ferimento cirúrgico normal. O paciente foi mantido preso em gaiola, evitando movimentação excessiva, utilizando apenas colar elizabetano como citado por Lascelles et al (1998). No décimo quarto dia após a cirurgia o felino se locomovia normalmente e a ferida aparentava estar totalmente cicatrizada. Procedeu-se à remoção dos pontos e a retirada do colar elizabetano. O animal foi mantido em observação por mais uma semana e não apresentando nenhuma alteração durante esse período o mesmo recebeu alta médica e foi entregue ao setor de adoção da universidade. Cinco meses após a intervenção cirúrgica, o paciente se encontra bem, ferida totalmente cicatrizada vivendo em novo lar com outros animais. Nenhuma alteração é observada e nem relatada pelo proprietário. 6 CONCLUSÃO Baseando-se nos resultados do trabalho conclui-se que a omentalização mostrou-se viável e com um excelente resultado no tratamento de uma ferida crônica de felinos. REFERÊNCIAS BORIS, T. et al. Omental transposition for low pelvic anastomosis. American journal of surgery. v.182 (5), p. 460-464, 2001. BRAY, J. P.; WHITE, R. A. S.; WILLIAMS, J. M. Partial ressection and omentalisation: a new technique for management of prostatic retention cysts in dogs. Veterinary surgery. v. 26, p. 202-209, 1997. BROCKMAN, D.J. et al. Omentum-enhanced reconstruction of chronic nonhealing wound in cats. Veterinary surgery. Philadelphia, v.25, p; 99-104, 1996. DUPONT, C.; MENARD, Y. Transposition of the greater omentum for reconstruction on the chest wall. Plastic & reconstructive surgery. Montreal, n.3, v. 49, p. 263-267, out. 1972. FOSSUM, T. W. Cirurgia de pequenos animais. São Paulo: Rocca, 2005. FOWLER, J. D. W. Wound healing an overview. Seminars in veterinary medicine and surgery (small animal). v. 4, p. 256-262, 1989. GOLDSMITH, H. S.; DE LOS SANTOS, R; BEATTIE, E. J. Relief of chronic lymphedema by omental transposition . Ann. Surg. v. 166, p. 573, 1967. GOLDSMITH, H. S. Long term evaluation of omental transposition for chronic lymphedema. Ann. Surg. v. 180, p. 847-849, 1974. GRAY, M. J. Chronic axillary wound repair in a cat with omentalisation and omocervical skin flap. Journal of small animal practise. v. 46, p. 499-503, out. 2005. GRECA, F. H.; BIONDO-SIMÕES, M. L. P., SOUZA FILHO, Z. A; SILVA, A P. G.; NASSIF, A E.; BURDA-COSTA, P. Periódicos eletrônicos: Ações do omento no cicatrização de anastomoses colônicas: estudo experimental em ratos. Acta cirúrgica brasileira, 2005. Disponível em: <http//www.scielo.com> acesso em: 04 agosto 2006. HOSGOOD, G. The omentum – the forgotten organ: physiology and potential surgical applications in dogs and cats. Compendium on continuing education for the practicing veterinarian: small animal. v.12, p. 45-50, 1990. IMAIUZAMI, T.; HASHI, K.; KOH,H. Non-heparin binding endotelial cell growth factor from bovine omentum. Experimental cell research. v. 187, p. 292-298, 1990. KARASAWA, J.; TOUHO,H.; OHNISHI, H.; MIYAMOTO, S.; KIKUCHI, H. Cerebral revascularization using omental transplantation for childhood moyamya disease. Journal of neurosurgery. v. 79, p. 192-196, ago. 1993. KIRICUTA, I. L’emploi du grand épiploon dans la chirurgie du sien cancéreux. Press med. v. 71, p. 15-17, 1963. LASCELLES, B. D. X.; DAVIDSON, L.; DUNNING, M.; BRAY, J. P.; WHITE, R. S. A. Use of omental pedicle grafts in the management of non-healing axillary wounds in 10 cats. Journal of small practice. v. 39, p. 475-480, out. 1998. LIEBERMANN-MEFFERT, D. The greater omentum. Anatomy, embriology and surgical applications. Surgical clinics of north american. n.1, v.80, p. 275-292, fev. 2000. LOGMMANS, A.; SCHOEMARKERS, C. H.; HAENSEL, S. M.; KOOLHOVEN, I.; TRIMBOS, J. B.; VAN-LENT, M.; VAN-INGEN, H. E. High tissue factor concentration in the omentum – A possible cause of its hemostatics properties. European journal of clinical investigation. v. 26, p. 82-83, 1996. MACMILLAN, M.; STAUFFER, E. S. The effect of omental pedicle graft transfer on spinal microcirulation and laminectomy membrane formation. Spine. v. 16, p. 176-180, 1991. MALONEY, C. T. Jr.; WAGES, D.; UPTON, J.; LEE, W. P. Free omental tissue transfer for extremity coverage and revascularization. Plastic and reconstructive surgery [2002]. Disponível em: <http://www.pubmed.com>. Acesso em: 23 agosto 2006. O’SHAUGHNESSY, L. An experimental method of providing a collateral circulation to the heart. British journal of surgery. v. 23, p. 665-670, 1936. PAVLETIC, M. M. Surgery of the skin and management of wounds. In: Sherding, R. G. The cat disease and clinical management. 2 ed. W. B. Saunders Company., 1994. PAVLETIC, M. M. In: __________. Atlas of small animals reconstructive surgery. Philadelphia: W. B. Saunders Company., 1999. PETIT, J. Y.; LACOUR, J.; MARGULIS, A.; PREED, W. P. Indications and results of omental pedicle grafts in oncology. American cancer society. v. 44, p. 2343-2348, dez. 1979. ROSS, W. E.; PARDO, A. D. Evaluation of an omental pedical extension technique in the dog. Veterinary surgery. v. 22, p. 37-43, 1993. SALTZ, R. S.; STOWERS, R.; SMITH, M.; GADACZ, T. R. Laparoscopically harvested omental free flap to cover a large soft tissue defect. Annals of surgery. v. 217, p. 542-547, 1993. SAMSON, R.; PASTERNAK, B. M. Current status of surgery of the omentum. Surgery, gynaecology and obstetrics. v. 149, p. 437-441, 1979. SHEN, Y. M.; SHEN, Z. Y. Greater omentum in reconstruction of refractory wounds. Chinese journal of traumatology. [2003]. Disponível em: http://www.pubmed.com Acesso em: 20 agosto 2006. SMITH, B.A.; HELDLUND, C. S. Omental pedicle used to manage a large dorsal wound in a dog. Journal of small animal practise. v. 36, p.267-270, 1995. STALDEMANN, W. K.; DIGENIS, A. G.; TOBIN, G. R. Phisiology and healing dynamics of chronic cutaneous wounds. The american journal of surgery. v. 176, p. 26S-36S, ago. 1998. STASHAK, T. S.; Equine wound management. Philadelphia: W.B. Saunders, 1991. SUMAN, K. D.; JEFFREY, R. C.; ERVIN, S. W.; GEORGE, G.; TIMOTHY, A. M. Free grafting of the omentum for soft-tissue augmentation – A preliminary laboratory study. Plastic and reconstructive surgery. v. 68, p. 556-560, out, 1981. WATKINS, R. M.; MEIRION THOMAS, J. The role of the greater omentum in reconstructive skin and soft tissue defects of the groin and axilla. British journal of surgery. v. 72, p. 925926, 1995. WHITE, R. A. S.; WILLIAMS, J. M. Intacapsular prostatic omentalisation. Veterinary surgery. v. 24, p. 390-395, 1995. ZHANG, Q-X.; MAGOVERN, C. J.; MACK, C. A.; BUDENBENDER, K. T.; KO, W.; ROSENGART, T. K. Vascular endothelial growth factor is the great major angiogenic factor in omentum: mechanism of the omentum – mediated angiogenesis. Journal of surgical research. v. 67, p. 147-154, 1997.
Download