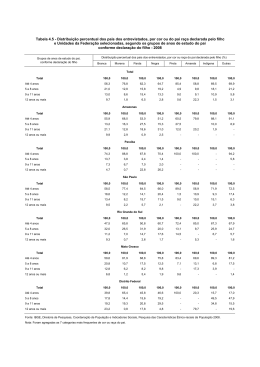A obsessão pela raça: reduzindo o irredutível Marcelo Gruman No não tão longínquo ano de 1950, pouco depois de um dos mais trágicos acontecimentos da história da humanidade, a hecatombe da Segunda Guerra Mundial, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura – UNESCO emitiu uma declaração que intentava, de uma vez por todas, acabar com a arrogância etnocêntrica. Nela, afirma-se que, do ponto de vista biológico, a espécie Homo Sapiens é composta de um certo número de grupos, que diferem entre si pela freqüência de um ou de vários genes particulares. Mas estes mesmos genes, aos quais deveriam imputar-se as diferenças hereditárias existentes entre os homens, seriam sempre em número reduzido se fosse considerado o conjunto da constituição genética do homem e grande a quantidade de genes comuns a todos os seres humanos, quaisquer que sejam os grupos aos quais pertençam. Em resumo, a semelhança entre os homens seriam muito maiores que suas diferenças. Daí Lévi-Strauss ter afirmado, no conhecido Raça e História, que há muito mais culturas que raças humanas, estas contando-se a unidades e aquelas, aos milhares. Segue-se, portanto, que os grupos nacionais, religiosos, geográficos, lingüísticos ou culturais não têm que coincidir, necessariamente, com os grupos raciais, e os aspectos culturais destes grupos não têm nenhuma relação genética demonstrável com os caracteres próprios da raça. No ano seguinte, uma nova declaração, também patrocinada pela UNESCO, foi redigida por um grupo de antropólogos e especialistas em genética. Diz ela, seguindo a anterior, que é publicamente reconhecida a pertença de todos os seres humanos à espécie Homo Sapiens. A novidade ficou por conta da afirmação de que não existem raças “puras”: Os esqueletos fósseis nos proporcionam o essencial do pouco que sabemos das raças desaparecidas. No que respeita à mistura de raças, há motivos para pensar que o processo de hibridização humana efetuou-se desde um tempo indeterminado, mas considerável. A bem da verdade, um dos mecanismos de formação, extinção e fusão da raça é precisamente sua hibridização. Jamais foi estabelecido, por meio de provas válidas, que esta hibridização tenha acarretado efeitos desfavoráveis; não existe, pois, nenhuma razão biológica para proibir o casamento entre indivíduos de raças diferentes. (CASTAÑEDA, 1961) Na esteira do consenso acadêmico em torno da igualdade dos homens, uma série de estudos foi realizada no intuito de provar que o ambiente social e cultural, mais do que a biologia, são responsáveis por diferenças na “capacidade intelectual” dos seres humanos medida, por exemplo, pelos chamados testes psicológicos. Numa coletânea de artigos publicada sob o título El racismo ante la ciencia moderna: testimonio científico de la UNESCO, com o objetivo de elaborar uma documentação científica sobre o que se chamou de “questão racial”, o professor de psicologia Otto Klineberg, da Universidade de Columbia, nos conta que numa região montanhosa do estado norte- americano do Kentucky, onde as escolas eram escassas e o ensino, medíocre, um pesquisador submeteu as crianças a uma série de testes, dentre eles, uma pergunta: “se você vai ao mercado com seis centavos para comprar bombom, e dá dez centavos ao vendedor, quanto ele te devolverá?”. Uma das crianças respondeu que nunca teve dez centavos no bolso e, se o tivesse, não teria gasto em bombons. Klineberg chama a atenção para o fato de que, nestes testes, pede-se ao indivíduo que reaja ante uma situação imaginária como se esta situação fosse real, assim, se este indivíduo não possui nenhuma formação prévia, é-lhe muito difícil, e às vezes impossível, responder “corretamente” ao pesquisador. Isto não quer dizer, entretanto, que a criança não saiba diminuir seis de dez, numa situação que tenha, para ele, um sentido adequado a suas preocupações e necessidades. Em outro exemplo, examina-se a aplicação de testes psicológicos a jovens negros e brancos de Nashville, no estado sulista do Tennessee, onde os negros não freqüentavam as mesmas escolas que os brancos, e em Nova Iorque, onde não havia distinção quanto à raça do aluno apto a freqüentar as escolas públicas. Os resultados obtidos demonstraram que em Nashville as crianças brancas eram claramente superiores às negras, ao passo que em Nova Iorque não havia qualquer diferença significativa entre os dois grupos raciais. Conclui o professor Klineberg que, se a diferença nos resultados dos testes psicológicos tende a desaparecer a medida em que diminui a diferença entre os ambientes, e se, quando ambientes são praticamente semelhantes, a diferença entre as notas desaparece completamente, temos um forte argumento a favor da explicação das diferenças observadas pela influência do ambiente, mais que pela herança biológica. Chamo a atenção para o fato de que, neste momento, o conceito de raça ainda permeia as discussões nas diversas áreas do conhecimento, seja a psicologia, a sociologia, a antropologia ou a genética, ainda que seu significado tenha deixado de associar biologia e cultura. É por este motivo que decidi não colocar aspas no termo, visto que seu uso ainda era parte do arcabouço teórico dos estudiosos. Até então, parte da intelectualidade brasileira acreditava que as capacidades intelectual e moral dependiam de “modificações bioquímicas da massa cerebral com auxílio da adaptação e hereditariedade”, por isso, somente uma “psicologia das raças” seria capaz de estudar as modificações que as “condições da raça” imprimem, por exemplo, à responsabilidade penal. O médico maranhense Raimundo Nina Rodrigues, crítico do livre arbítrio, criou mesmo a expressão “criminalidade étnica” (leia-se: racial), segundo a qual não é possível julgar criminalmente indivíduos de “raças” distintas pois que se encontram em fases de evolução moral e jurídica incompatíveis. Mesmo Gilberto Freyre, acusado de escamotear o racismo brasileiro, nega a relação entre o peso do crânio e a capacidade intelectual (quanto maior o peso, mais inteligente), comentando sarcasticamente: “o que se sabe da estrutura entre os crânios de brancos e negros não permite generalizações. Já houve quem observasse o fato de que alguns homens notáveis têm sido indivíduos de crânio pequeno, e autênticos idiotas, donos de cabeças enormes” (FREYRE,1936:209) A dissociação entre cultura e biologia, pedra de toque da antropologia moderna, nos leva à conclusão de que a crença em raças, ou seja, a crença de que atributos morais e intelectuais decorrem de atributos biológicos representados simbolicamente por características físicas (cor da pele, textura do cabelo, cor dos olhos, formato do crânio etc.), é o maior mal de nosso tempo. Sendo esta crença um fato social e cultural, poderia sucumbir perante a razão, “da mesma forma que a bruxaria em tempos pretéritos” (FRY, 2005). Os métodos estatísticos da antropologia física que informavam, ao longo do século XIX e mesmo do século XX, o estudo do corpo humano a partir dos aspectos morfológicos mais aparentes, sucumbiu com o desenvolvimento da genética e da biologia molecular, quando passou-se a comparar organismos a partir do conhecimento de estruturas muito mais íntimas e fundamentais. Ficamos sabendo, por exemplo, que as variantes genéticas entre duas pessoas escolhidas aleatoriamente em um mesmo grupo não divergem estatisticamente das diferenças existentes entre duas pessoas de grupos distintos. Resumindo: do ponto de vista genético e bioquímico, não se descobriu nenhum critério válido para juntar ou separar pessoas, estabelecendo-se o consenso de que as diferenças observáveis na linguagem, costumes e atributos morais não são biologicamente determinadas. Geneticistas vem concordando com a idéia de que “a única divisão biologicamente coerente da espécie humana é em bilhões de indivíduos, e não em um punhado de 'raças'” (PENA,2007). A melanina, por exemplo, considerada um dos elementos de referência na determinação “racial” dos indivíduos (ainda hoje usada no discurso de dermatologistas) perde este significado, a menos que reconheçamos a arbitrariedade da escolha deste critério e não de outro. Afinal de contas, ela é apenas uma dentre oitenta ou cem mil diferentes proteínas que compõem o corpo humano. É como classificar livros em uma biblioteca: Em certo sentido, tentar classificar pessoas num pequeno número de raças é como tentar classificar livros numa biblioteca; pode-se usar uma única propriedade – o tamanho, digamos -, mas o que se obterá é uma classificação inútil; ou pode-se usar um sistema mais complexo de critérios interligados, e então se obterá uma boa dose de arbitrariedade. Ninguém, nem mesmo o mais compulsivo dos bibliotecários, supõe que as classificações dos livros reflitam fatos profundos sobre estes. (APPIAH, 1992:66) Parece haver, contudo, um verdadeiro abismo entre o saber produzido por intelectuais e cientistas e a prática do Estado brasileiro, cuja conseqüência da falta de ressonância do primeiro sobre a segunda é o processo de racialização da sociedade brasileira através da institucionalização do conceito de “raça” na elaboração e execução de políticas públicas. O Parecer do Conselho Nacional de Educação, referente às Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana é apresentado como uma resposta, na área da educação, à demanda da “população afrodescendente” no sentido de “políticas de reparações, e de reconhecimento e valorização de sua história, cultura, identidade”. Propõe, ainda, a divulgação e produção de conhecimentos, a formação de atitudes, posturas e valores “que eduquem cidadãos orgulhosos de seu pertencimento étnico-racial – descendentes de africanos, povos indígenas, descendentes de europeus, de asiáticos – para interagirem na construção de uma nação democrática, em que todos, igualmente, tenham seus direitos garantidos e sua identidade valorizada”. Segue o documento definindo o objetivo da nova pedagogia de combate ao racismo, o fortalecimento, entre os negros, da “consciência negra” e orgulho de sua “origem africana”. Dois princípios são destrinchados: o da consciência política e histórica da diversidade deve conduzir à compreensão de que a sociedade “é formada por pessoas que pertencem a grupos étnico-raciais distintos, que possuem cultura e história próprias, igualmente valiosas e que em conjunto constróem, na nação brasileira, sua história”; o do fortalecimento de identidades e de direitos deve orientar a esclarecimentos “a respeito de equívocos quanto a uma identidade humana universal”. O Conselho Pleno aprovou, por unanimidade, o voto da relatora, Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva, no dia 10 de março de 2004 e, desde então, o projeto de resolução que institui as Diretrizes tramita no Congresso Nacional. Os excertos transcritos acima representam um retrocesso no longo caminho, ainda inconcluso, de inclusão das populações socialmente marginalizadas ao criar divisões artificiais desta mesma população por meio de critérios raciais. Alguns pontos devem ser analisados. O primeiro deles é a própria idéia de raça e o processo de racialização da sociedade brasileira. O racialismo e os racialistas acreditam que existem características hereditárias, possuídas por membros de nossa espécie, que nos permitem dividí-los num pequeno conjunto de raças, de tal modo que todos os membros dessas raças compartilham entre si certos traços e tendências que eles não têm em comum com membros de nenhuma outra raça. Esses traços e tendências característicos de uma raça constituem, segundo a visão racialista, uma espécie de “essência racial”, e faz parte desta ideologia que as características hereditárias essenciais respondam por mais do que características morfológicas visíveis (cor da pele, tipo de cabelo). Em si, o racialismo não é uma doutrina que tenha que ser perigosa, mesmo que se considere que a essência racial implica predisposições morais e intelectuais. Desde que as qualidades morais positivas distribuam-se por todas as raças, cada uma delas pode ser respeitada, pode ter seu lugar 'separado mas igual'”. No entanto, o que ocorre é a perda de autonomia do indivíduo na definição de sua origem, seu lugar no mundo, como se vê e como quer ser visto pelos outros, sobressaindo-se, de um modo geral, uma identidade negativa exógena. A autoclassificação é rejeitada em favor da heteroclassificação (FRY, 2007). A identidade é mais adscrita que adquirida, assemelhando-se a “raça negra” aos judeus vistos por Sartre, para quem sua existência depende menos da vontade interna do que da pressão externa. O que os negros do Ocidente, tal como os judeus secularizados, mais têm em comum é o fato de serem percebidos – por eles mesmos e pelos outros – como pertencendo a uma mesma raça, e de essa raça comum ser usada pelos outros como fundamento para discriminá-los: “se algum dia você esquecer que é judeu, um goy o lembrará disso”. Os pan-africanistas reagiram à sua experiência de discriminação racial aceitando o racialismo que ele pressupunha (...) Sem os antecedentes das noções raciais desaparece essa fundamentação intelectual original do pan-africanismo. (APPIAH, 1992: 38) Ações como a proposta pelo Conselho Nacional de Educação são radicalmente distintas das estratégias desracializantes de combate ao racismo uma vez que não só não nega a importância da “raça”, como celebram seu reconhecimento e formalização como critério na definição e execução de políticas públicas. O governo brasileiro, através de suas instituições, não só reconhece a existência e a iniqüidade do racismo, como também opta por contemplar a aprovação de leis que reconheçam a existência e a importância de “comunidades raciais” no Brasil. Como bem diz a expressão, “o tiro pode sair pela culatra” porque a redução da desigualdade racial exige que os beneficiários identifiquem-se racialmente fortalecendo, e não enfraquecendo, a crença no mito racial. O segundo ponto que merece atenção é a pretensa correlação inevitável entre o continente africano, a origem africano dos indivíduos brasileiros de cor negra e sua cultura, porque naturaliza diferenças sociais e culturais cristalizando-as pelo conceito anacrônico de “raça”. A África, nesta perspectiva, constitui-se numa matriz cultural e biológica unitária (MAGNOLI, 2007), sem história e homogênea. Estamos diante daquilo que o filósofo beninense Paulin Hountondji chamou de “unanimismo”, crença numa espécie de corpo central da filosofia popular compartilhado pelos africanos negros de uma maneira geral. No entanto, a descrição feita por um negro africano das diferenças culturais encontrados numa curta viagem de Gana a Botsuana desmontam qualquer tentativa de encapsular a diversidade simbólica em taxonomias reducionistas, inevitavelmente empobrecedoras, colocando em xeque o “essencialismo do afrocentrismo” (AZOULAY, 1997): Dirigindo pelo interior semi-árido de Botsuana até sua capital, Gaborone, a apenas um dia de distância, por avião, da vegetação tropical de Achanti, todos os homens vestiam camisas e calças, a maioria das mulheres trajava saias e blusas, e quase todas essas roupas eram sem padronagens, de modo que faltava às ruas o colorido dos delicados “tecidos” achantis; e os estilos dos entalhes, da tecelagem, da cerâmica e da dança eram-me totalmente desconhecidos. Nesse cenário fiquei a me perguntar o que, em Botsuana, supostamente decorreria de eu ser africano. Em conversas com médicos, juízes, advogados e acadêmicos ganeses em Botsuana – bem como no Zimbábue e na Nigéria – muitas vezes ouvi ecos da linguagem dos colonizadores em nossos debates sobre a cultura dos “nativos” (APPIAH, 1992:48) A tendência generalizada no Brasil é a de supor-se que a negação da identificação com minorias culturais seja condição essencial ou sine qua non para o abrasileiramento. Isto explicaria o fato de que o tema da origem nunca tenha sido objeto de pesquisa sistemática no Brasil, ao contrário do tema da “raça” ou “marca”. Em uma tentativa de melhorar este quesito de “raça” ou cor, tomar em consideração estas diversas objeções, introduzir de forma sistemática a variável de origem nos estudos sobre a população brasileira, com vistas ao Censo do ano 2000, o IBGE introduziu um conjunto de questões na Pesquisa Mensal de Emprego de julho de 1998, que cobriu cerca de 90 mil pessoas de dez anos de idade ou mais em seis áreas metropolitanas do país (SP, RJ, Porto Alegre, BH, Salvador e Recife). O objetivo era comparar as respostas à pergunta tradicional sobre cor a uma pergunta aberta, o que permitiria examinar em que medida estas categorias correspondem ou não à forma pela qual a população se identifica (SCHWARTZMAN,1999). Também se buscou examinar se a população se identifica, de uma outra forma, com origens culturais e étnicas específicas – se os “pretos” ou “pardos” se identificam como negros ou afro-descendentes, e os brancos se classificam em diferentes culturas e etnias, por exemplo. As perguntas abertas e fechadas sobre cor ou raça permitem examinar a pertinência ou aceitação, pelos entrevistados, das categorias usuais do IBGE. Foram encontradas quase 200 respostas diferentes para a questão “cor ou raça”. Enquanto a maioria da população “branca” utiliza este termo para se definir, o termo “preto” é rejeitado pela maioria da população classificada nesta cor (ainda que seja a categoria predominante no grupo), havendo uma grande preferência pela expressão “morena”, utilizada com intensidade por todos os grupos. Em relação à “origem”, o que se procurou foi uma “origem” com a qual a pessoa se sentisse identificada, sendo formulada no pré-teste a questão “qual a origem que o senhor considera ter?”, sem nenhuma especificação maior quanto ao sentido do termo. A dificuldade da questão é que as pessoas se classificam por critérios muito distintos. Para os descendentes de populações de migração mais recente (alemães, italianos, japoneses), o termo “origem” se refere ao país de origem dos pais ou avós. Para a população negra, uma eventual origem desse tipo teria que se referir a um passado africano longínquo, referência muito pouco utilizada. A restauração do conceito de raças humanas implica na desvalorização do princípio da igualdade dos cidadãos perante a lei ao dividir a sociedade em raças oficiais catalogadas pelo Estado, alicerce para um sistema de preferências e privilégios legais concedidos a título de “reparação” (FRY et al., 2007), conforme explicitado em uma das passagens das Diretrizes. A cidadania passa a comportar “graus” em função da cor da pele de cada um (no caso brasileiro), e as políticas sociais são pensadas com base em critérios de culpa, expiação e reparação de pecados coletivos, “com a substituição da antiga ideologia oficial de igualdade racial por outra, também abominável, de preconceito e perene conflito e discriminação entre raças antagônicas” (SCHWARTZMAN, 2007). Não é porque a democracia racial não existe de fato que devemos descartá-la como um sonho a ser alcançado. Comportar-se assim é “jogar o bebê fora junto com a água suja”, ou, conforme Clifford Geertz a respeito da inevitabilidade do subjetivismo na ciência antropológica, “como é impossivel um ambiente perfeitamente asséptico, é válido fazer uma cirurgia num esgoto” (GEERTZ, 1989: 40) A política da reparação toma como um de seus pressupostos a idéia de que, para reconhecer dois acontecimentos de épocas diferentes como sendo parte da história de um único indivíduo, temos que dispor de um critério de identidade do indivíduo em cada uma dessas épocas, independentemente de sua participação nos dois acontecimentos; da mesma forma, ao reconhecer dois acontecimentos como pertencentes à história de uma raça, também temos que dispor de um critério de pertença da raça nessas duas épocas, independentemente da participação dos membros nos dois acontecimentos. Esta é a lógica usada, por exemplo, pela ex-ministra da Secretaria Especial de Política da Promoção da Igualdade Racial (Seppir), Matilde Ribeiro, quando afirma “a reação de um negro de não querer conviver com um branco, eu acho uma reação natural. Quem foi açoitado a vida inteira não tem obrigação de gostar de quem o açoitou”. Nesta linha de raciocínio, um “branco” pobre da periferia do Rio de Janeiro é transformado em algoz do “negro” pobre da periferia deste mesmo Rio de Janeiro, ainda que os dois sejam compadres, tomem sua cerveja no bar da esquina e compartilhem dos sofrimentos típicos dos oprimidos. Acusam-se, no presente, os “descendentes” daqueles que cometeram pecados no passado. A responsabilidade moral de uns é herdada independentemente da vontade de quem herda, naturaliza-se a barbárie, agora com sinais invertidos. Estamos diante do “racismo intrínseco”, ou seja, o simples fato de uma pessoa pertencer a uma “raça” é suficiente para preferir uma pessoa a outra. Nenhuma quantidade de provas de que um membro de outra “raça” é capaz de realizações morais ou apresenta características admiráveis, serve de base para um tratamento digno. Uma espécie de “memória racial” (KUPER, 2000) fortalece o culto à diferença que, às vezes, parece ser o único valor incontestado pelos “multiculturalistas da diferença”. O discurso da diferença proposto pelos racialistas diz que as minorias constituem grupos autenticamente diferentes do ponto de vista de seus próprios membros, são o que são porque cada grupo tem sua própria cultura. A identidade parece ser uma questão de opção, embora a crença subjacente seja de que assim como a coletividade tem uma identidade autêntica que vai aflorar com o tempo, o indivíduo tem uma identidade necessária com uma determinada coletividade cultural, mesmo que ela ainda não tenha sido descoberta. Não se pode fugir da própria identidade, ela é fixada por algo mais essencial: a própria natureza. Seja para o bem (oprimidos), seja para o mal (opressores). A rigidez da classificação racial incluindo todos aqueles de ascendência africana, quer dizer, “negros”, sugere a adoção de uma estratégia política relativa à alocação de recursos e implementação de leis que fortaleçam a cidadania. O problema com estas categorias oficiais é que, apesar de suas vantagens políticas, a contínua utilização de categorias raciais negligencia a complexidade da genealogia individual mesmo em áreas tão importantes quanto o monitoramento da suscetibilidade de grupos específicos a determinadas doenças. O último ponto sobre o qual é importante atentarmos diz respeito à negação da identidade humana universal, base da Declaração Universal dos Direitos Humanos adotada e proclamada pela resolução 217A da Assembléia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948, que, nos seus dois primeiros artigos diz: Art. 1º “todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade” Art. 2º “toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição” Pergunto, fazendo coro ao antropólogo Peter Fry, se não seria mais interessante insistir veementemente na condição universal de Homo sapiens sapiens, lançando mão das recentes pesquisas dos geneticistas brasileiros, que corroboram as Declarações da Unesco apresentadas páginas acima, mostrando que o interior genômico dos indivíduos não está relacionado às suas aparências. Não acredito que seja possível ser sociólogo ou antropólogo e ficar sem opinião nesse debate, simplesmente porque nossas disciplinas são construídas sobre duas pedras fundamentais: a igualdade de todos os seres humanos e a desvinculação total entre genética e cultura. Portanto, não devemos ficar calados diante de todas as formas modernas de essencialismo e racismo, mesmo que isso implique assumir temporariamente posições “politicamente incorretas”. Afinal, racismo é racismo, e é tão perigoso quando invocado em favor dos fracos quanto dos fortes. Afinal, os fracos de hoje podem muito bem ser os fortes de amanhã. (FRY, 2005: 199-200) É auspicioso constatarmos que no país de referência ao pensamento racialista brasileiro, os Estados Unidos, a geração com menos de trinta anos “teima” em redefinir rótulos e categorias que insistem em obrigá-los a se identificar com apenas uma parte de sua herança (não apenas biológica mas, sobretudo, cultural). A proliferação de grupos de estudantes universitários “biraciais” e “multiraciais”, tão quanto a recusa de jovens a marcar apenas uma categoria racial nos documentos oficiais (medida prevista no Estatuto da Igualdade Racial, em tramitação no Congresso Nacional), sugere o fortalecimento na crença da complexidade das identidades sociais e na estima dada à autoreferencialidade (AZOULAY, 1997). Sem dúvida, a permanência de termos que mencionam a “raça” do indivíduo mostra que o pensamento biologizado ainda é bastante presente no cotidiano norte-americano, porém, estas categorias híbridas representam não só a capitulação quanto a apropriação das classificações criadas pelo racismo nos EUA, com sua oposição binária “branco” versus “negro”. Em si, o termo “biracial” é tão arbitrário quanto “raça”, sem significado a priori. Mas, no contexto de uma sociedade que o compreende como exótico e proibido, o “biracialismo” torna-se algo que as pessoas “vêem” como parte de suas identidades. A “fé fundamentalista na diferença naturalizada” (CAVALCANTI-SCHIEL,2007) leva a uma verdadeira “escolha de Sofia”: a liberdade sem a segurança do porto seguro representado pelo vínculo “comunitário” ou a segurança de estar entre “iguais” embora sem a liberdade de escolher seu próprio caminho. Os indivíduos, dilacerados entre a liberdade inebriante e a incerteza aterrorizadora, almejam o impossível. Eles querem nada menos do que desfrutar de duas vantagens – saborear e exercer sua liberdade de escolha ao mesmo tempo que têm o “final feliz” garantido e os resultados assegurados. Seja qual for o nome que selecionem para dar à sua preocupação, o que os indivíduos verdadeiramente ressentem é o risco inato à liberdade. Seja como for que descrevam seus sonhos, o que eles almejam é uma liberdade livre de riscos. (BAUMAN,1998:239) Os chamados “comunitaristas” esposam a tese de que, sendo inevitável a escolha no mundo moderno, seu resultado deve ser estabelecido antes que o ato de escolher comece, ou seja, a boa escolha é aquela que está dada de antemão. A verdadeira escolha foi feita antes do nascimento do indivíduo, e a vida que se segue deveria ser dedicada a descobrir qual foi essa escolha e comportarse de acordo com isso. A vida do indivíduo, simbolizada por um pêndulo, que se movimenta entre os pólos “liberdade” e “insegurança ontológica”, torna inevitável a procura incessante de um meio termo ou de um equilíbrio mínimo entre a livre circulação por espaços sociais múltiplos e a segurança de ser parte de alguma coisa, expressar uma determinada identidade social. Caminha-se entre o desajustamento e a integração. Para um “comunitarista”, fora das fronteiras deste grupo o indivíduo se transforma num “peixe fora d’água”. É uma questão de sobrevivência que, por outro lado, exige dos que aceitam as premissas comunitárias obediência a regras de comportamento e valores preestabelecidos, incontestáveis. A liberdade, portanto, é uma “falsa liberdade”, pois o abandono do grupo primordial leva-o à insegurança existencial: ser parte da comunidade é a única solução. Na maioria das vezes, o postulado da “sobrevivência” converte-se em uma aterradora arma de sujeição e tirania, empregada pelos guardiões e às vezes proclamados, e mais freqüentemente auto-proclamados, dos valores tradicionais (étnicos, raciais, religiosos) da “comunidade”, a fim de exigir reverência de seus infelizes tutelados e reprimir toda insinuação de uma escolha autônoma. Os valores dos direitos e da liberdade, caros ao coração liberal, são invocados para promover o rebaixamento dos direitos individuais e a negação da liberdade. (BAUMAN,op.cit:244) O preço a ser pago pelo indivíduo ao escolher “viver em comunidade” se dá na forma da liberdade, também chamada de “autonomia”, “direito à auto-afirmação” e “à identidade”. Qualquer que seja a escolha, afirma, resulta num ganho de alguma coisa e na perda de outra. Não ter comunidade significa não ter proteção; alcançar a comunidade, se isto ocorrer, poderá em breve significar perda de liberdade. A segurança e a liberdade são dois valores igualmente preciosos e desejados que podem ser bem ou mal equilibrados, mas nunca inteiramente ajustados e sem atrito. Dados os atributos desagradáveis com que a liberdade sem segurança é sobrecarregada, tanto quanto a segurança sem liberdade, parece que nunca deixaremos de sonhar com a comunidade, mas também jamais encontraremos em qualquer comunidade auto-proclamada os prazeres que imaginamos em nossos sonhos. A tensão entre a segurança e a liberdade e, portanto, entre a comunidade e a individualidade, provavelmente nunca será resolvida e assim continuará por muito tempo. (BAUMAN,2003:10) A modernidade desafia a “comunidade” e os “comunitaristas”. A “comunidade” nos fornece segurança ontológica em troca da liberdade da auto-identidade, nos sentimos parte de alguma coisa, compartilhamos experiências com outros indivíduos ainda que tais experiências nos englobem por inteiro sem deixar margem de manobra para uma futura mudança de rota em direção à mesma sensação de segurança, em outro lugar. A “comunidade” é aconchegante: A comunidade é um lugar “cálido”, um lugar confortável. É como um teto sob o qual nos abrigamos da chuva pesada, como uma lareira diante da qual esquentamos as mãos num dia gelado. Lá fora, na rua, toda sorte de perigo está à espreita (BAUMAN,op.cit:7) No clássico O homem marginal (1948), Everertt C. Stonequist afirma que, quando os muros do gueto medieval foram postos abaixo e ao judeu foi permitido participar da vida cultural dos povos no meio dos quais vivia, apareceu um novo tipo de personalidade, um híbrido cultural. Era um homem que participava intimamente da vida e das tradições culturais de dois povos distintos, não querendo romper completamente com o seu passado e tradições e não sendo aceito inteiramente pela sociedade que abria suas portas. Era um homem à margem de duas sociedades e duas culturas, que nunca se interpenetravam e se fundiam. O judeu emancipado é, nesta visão, o primeiro cosmopolita e cidadão do mundo, o “homem marginal” por excelência. É um tipo de personalidade, mais do que um estado transitório tanto dos imigrantes quanto de seus descendentes. Uma alternativa às interpretações dadas por Stonequist ao fenômeno da marginalidade em indivíduos portadores de tradições distintas pode ser a própria noção de “cosmopolitismo”. A sociedade moderna transforma hóspedes em anfitriões e vice-versa. A reciprocidade e periodicidade de papéis de anfitriões e hóspedes conduzem a um estado no qual nenhuma das partes está absolutamente “em casa” em lugar nenhum. O cosmopolitismo é parte da condição moderna, daí não fazer mais sentido falarmos num “judeu errante” se todos os indivíduos modernos são, em graus diversos, errantes. A “judaicidade” deixa de ser um ethos específico de um grupo específico. Todos nós somos cosmopolitas, cidadãos do mundo. O discurso racialista funciona como uma metáfora biologizante travestida de cultura. A escolha é pela nostalgia da impermeabilidade, pela “constância das pedras” (Sartre, 1960), maciças e impenetráveis, pela incapacidade de perceber que os indivíduos não dependem de sua constituição genética para estabelecer laços de solidariedade e que, numa sociedade complexa e multifacetada como é a brasileira, as fronteiras entre os domínios simbólicos, entre as identidades, sofrem rearranjos de acordo com a situação que se apresenta. Sociedades complexas, indivíduos complexos. Negar a igualdade humana, manter a crença no mito racial, é contribuir para a irracionalidade, para a intolerância, para o conflito, contribuindo para a persistência do racismo e a possibilidade do preconceito e da discriminação. Referências bibliográficas APPIAH, Kwame Anthony. Na casa de meu pai: a África na filosofia da cultura. Rio de Janeiro: Contraponto. 1997. AZOULAY, Katya Gibel. Black, Jewish and interracial. Durham: Durham University Press. 1997. BAUMAN, Zygmunt. 2003. Comunidade: a busca por segurança no mundo atual. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor. ______. 1998. O mal-estar da pós-modernidade. Rio de Janeiro: Zahar. CASTAÑEDA, José (org.). El racismo ante la ciencia moderna: testimonio científico da la UNESCO. Barcelona: Ediciones Liber. 1961. CAVALCANTI-SCHIEL, Ricardo. Quando nem todos os cidadãos são pardos. In: FRY, Peter; MAGGIE, Yvonne; MAIO, Marcos Chor; MONTEIRO, Simone & SANTOS, Ricardo Ventura. Divisões perigosas: políticas raciais no Brasil contemporâneo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. 2007. DA MATTA, Roberto. O que faz do brasil, Brasil?. Rio de Janeiro: Rocco. 2000 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Brasília. 2004. Disponível em: http://diversidade.mec.gov.br/sdm/arquivos/diretrizes.pdf. Acesso em: 10 de junho de 2008. FREYRE, Gilberto. Casa Grande e Senzala. Rio de Janeiro: Schimidt Editor. 1936 FRY, Peter. Pode-se criar uma cisão racial. In: FRY, Peter; MAGGIE, Yvonne; MAIO, Marcos Chor; MONTEIRO, Simone & SANTOS, Ricardo Ventura. ______. A persistência da raça. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. 2005. GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: LTC. 1989. KUPER, Adam. Cultura: a visão dos antropólogos. Bauru: EDUSC. 2002. MAGNOLI, Demétrio. Afro-descendentes. In: FRY, Peter; MAGGIE, Yvonne; MAIO, Marcos Chor; MONTEIRO, Simone & SANTOS, Ricardo Ventura. Op. Cit. PENA, Sergio. Receita para uma humanidade desracializada. In: FRY, Peter; MAGGIE, Yvonne; MAIO, Marcos Chor; MONTEIRO, Simone & SANTOS, Ricardo Ventura. Op. Cit. SARTRE, Jean Paul. Reflexões sobre o racismo. São Paulo: DIFEL. 1960. SCHWARTZMAN, Simon. Das estatísticas de cor ao Estatuto da Raça. In: FRY, Peter; MAGGIE, Yvonne; MAIO, Marcos Chor; MONTEIRO, Simone & SANTOS, Ricardo Ventura. Op. Cit. ______. “Fora de foco: diversidade e identidades étnicas no Brasil”. In: Novos Estudos CEBRAP 55. 1999. STONEQUIST, Everett C. O homem marginal. São Paulo: Martins Fontes. 1948.
Download