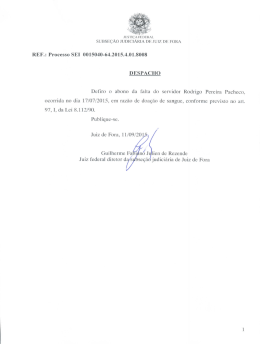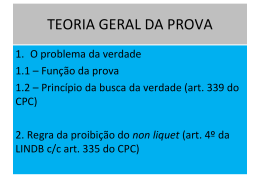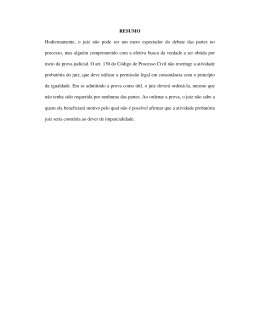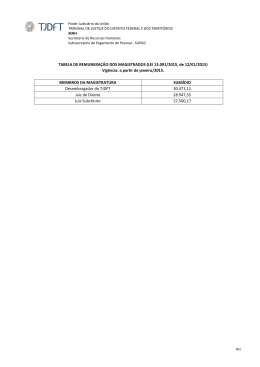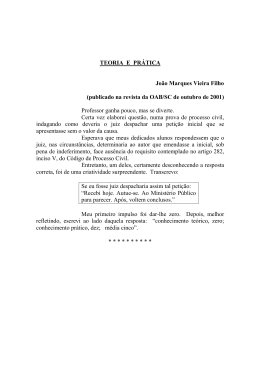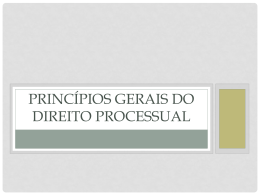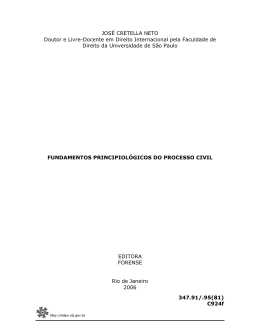HERMENÊUTICA E PROVA* Ricarlos Almagro Vitoriano Cunha** SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. Da definição de prova. 2.1 Da prova em seu sentido subjetivo: a noção de verdade. 2.1.1 Da noção de verdade em Habermas. 2.1.2 Do princípio da verdade real. 2.1.3 Verdade e hermenêutica em Luigi Pareyson. 2.1.4 Da prova em seu contexto discursivo. 3.0 Da fecundidade da verdade e da finitude do processo. 3.1 Da coisa julgada. 3.2 Da preclusão. 4.0 Da ausência de prova e do dever de julgar. 4.1 Prova, ônus, ficções jurídicas e presunções legais. 4.1.1 Dos sistemas de apreciação das provas. 4.1.2 Das ficções jurídicas e das presunções. 4.1.3 Crítica às presunções absolutas: um caso específico. 4.1.4 Dos deveres e ônus processuais. 4.1.5 Da distribuição dinâmica da carga de prova. 4.1.6 Da censura à iniciativa probatória. 5.0. Do silogismo e da subsunção. 5.1 “questão de fato” e “questão de direito”. 6.0 Conclusão. Apêndice - da metafísica: 1. da origem da expressão 2. da metafísica em Aristóteles 3. das teorias metafísicas. Referências . RESUMO Objetiva o presente trabalho demonstrar as contribuições das regras do método fenomenológico para a teoria da prova, a fim de constatar certos desvios de perspectiva quanto à estrutura da prova processual, sua finalidade e possibilidades. PALAVRAS CHAVES: PROVAS; VERDADE; HABERMAS; PRINCÍPIOS. RÉSUMÉ Objective le présent travail démontrer aux contributions des règles de la méthode fenomenológico pour la théorie de la preuve, afin de constater certains détours de perspective combien à la structure de la preuve processive, sa finalité et possibilités. MOT-CLÉS: PREUVES ; VÉRITÉ ; HABERMAS ; PRINCIPES. 1. INTRODUÇÃO O tema da prova processual é intrincado, recebendo de MICHELI TARUFFO1 a qualificação de um dos mais complicados da teoria do processo. E assim o é porque seus domínios não se limitam ao âmbito exclusivamente processual, mas se projetam para a seara da filosofia, porquanto, a par da problemática propriamente processual que envolve, mantém íntima conexão com o conceito de verdade e questões a ela conexas, como a própria possibilidade de alcançá-la, deslocando-nos para o âmbito da teoria do conhecimento. * Monografia apresentada à Universidade Federal Fluminense, para obtenção do título de Pós-graduado em Direito Processual Público, sob a orientação do Prof. Dr. Ricardo Perlingeiro. ** 1 Pós-graduado em Direito Processual Público pela Universidade Federal Fluminense. TARUFO, Michelle. La prova dei fatti giuridici. Milano: Giuffrè, 1992, p.2, apud BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Ônus da prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 19. Aproveitando esse liame, o trabalho que ora se introduz procura fazer um aporte das regras do método fenomenológico para a teoria da prova, a fim de constatar certos desvios de perspectiva quanto à estrutura da prova processual, sua finalidade e possibilidades. É inconteste que a prova, embora não tenha o magistrado como único destinatário, vê nele o seu alvo principal, porquanto a sua finalidade precípua é a de permitir a segura aplicação do direito à determinada situação fática que se mostrou controvertida e geradora de pretensão submetida à sua apreciação. Assim, a questão se cinge à aplicação do direito, a qual não pode divorciar-se do processo hermenêutico, tal como preleciona GADAMER em suas lições acerca da aplicatio. São pródigos os manuais na reprodução do modelo subsuntivo da norma, atestando que essa entidade, com conteúdo próprio especificado em seu texto, potencializa certos efeitos jurídicos para os fatos que descreve. Assim, determinado previamente o seu sentido e o seu alcance2, através de regras hermenêuticas próprias da ciência do direito, bastaria ao juiz constatar a efetiva existência dos fatos descritos para reconhecer os efeitos jurídicos que automaticamente decorreriam do fenômeno da incidência. Entretanto, como se pretenderá demonstrar, essa visão da realidade como mundo desprovido de linguagem não pode prosperar. Como conseqüência, é de esperar-se mais do magistrado, especialmente no que tange à evidenciação dos fatos (melhor falar em compreensão deles), porquanto, de maneira incindível, a sua constatação vem acompanhada de uma valoração jurídica. De um lado, quando um evento é deflagrado, não se pode afirmar uma incidência normativa automática, ainda que haja relação de identidade com o suposto normativo. É preciso um fenômeno redutor operado pelo homem, constituindo o fato jurídico, através de uma metalinguagem que efetuará um corte no fenômeno social. Somente então, pode-se dizer que o conseqüente da norma se verificou. Assim, não só a norma jurídica, mas também o evento deve ser alvo da hermenêutica. E aí reside exatamente o foco do trabalho: demonstrar que a prova, tendo por fim imediato viabilizar a constituição do fato jurídico, decerto que não pode destacar-se da hermenêutica. Por sua vez, é preciso, com o aporte da fenomenologia, divorciar-se do pensamento metafísico, que estabelece a dicotomia sujeito/objeto, levando-nos à ficção da existência de um mundo de essências, desprovido de linguagem e independente do próprio ser. Esse giro de perspectiva (le tournant herméneutique de la phénoménologie, como destaca Jean Grondin3) permite solidificar a teoria da prova em outras bases, destacada da pretensão de acesso a uma verdade intangível, incompatível com a finitude do próprio ser. 2 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito, p. 1. GRONDIN, Jean. Le tournant herméneutique de la phénoménologie. Paris: Presses Universitaires de France, 2003. 3 Para isso, mister demonstrar como a dogmática probatória nos levaria ao alcance de um processo justo, que não caia em devaneios subjetivos desprovidos do ideal de “certeza” jurídica. 2.0. DA DEFINIÇÃO DE PROVA Definir, no sentido lingüístico, consiste na tentativa de especificar a conotação de um termo4, o que, em outras palavras, acaba por orientar-nos no sentido de afirmar o critério pelo qual um determinado rótulo pode ser aplicado a uma classe de objetos, razão pela qual LUIZ ALBERTO WARAT5 afirma que definir é, portanto, realizar um processo de classificação. Confira: As palavras de nossa linguagem servem para fazer referência às diferentes classes de objetos que foram se constituindo no processo de compreensão da realidade natural e social. Quando uma pergunta sobre o significado de um termo é feita, está se pedindo que lhe seja proporcionando um critério que lhe permita saber a que classe de objetos o rótulo, cujo sentido se desconhece, é aplicado. Entretanto, esse processo definitório não nos coloca de forma unívoca no campo dos objetos designados, dentre outros motivos, pela ambigüidade natural da linguagem, assim entendida como a possibilidade de um mesmo signo lingüístico designar um campo referencial múltiplo. Tal se dá com a definição de prova. Não há uniformidade no catálogo de objetos que se enquadram na classificação do termo. Prova, por vezes, significa os meios destinados a fornecer ao juiz o conhecimento da verdade dos fatos deduzidos em juízo, ora a convicção que se forma no espírito do juiz quanto à verdade dos fatos6. Há quem fixe a distinção entre as fontes de prova (os fatos percebidos pelo juiz), os meios de prova (os instrumentos através dos quais eles são levados ao processo) e o objeto da prova (os fatos a serem provados)7. Para AFRÂNIO DA SILVA JARDIM, prova é o resultado da demonstração, submetida ao crivo do contraditório processual, da real ocorrência dos fatos relevantes para o julgamento da pretensão do autor8. Aqui, empreendeu-se um processo redefinitório que inova na desconsideração conceitual de qualquer atividade não submetida ao contraditório constitucionalmente determinado (CRFB/88, art. 5.º, LV), ainda que, em tese, pudesse levar à formação da convicção judicial acerca de determinados eventos, reputados relevantes para a causa. 4 WARAT, Luiz Alberto. Introdução geral ao direito: interpretação da lei, temas para uma reformulação. Vol I. Porto Alegre: Sergio Fabris, 1994. 5 Ib ibiden. 6 SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras linhas de direito processual civil. Vol. 2. 15.ª ed. São Paulo: Saraiva, 199, p. 329. 7 GRINOVER, Ada Pellegrini et al. As nulidades no processo penal. 6.ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 118. 8 JARDIM, Afrânio da Silva. Direito processual penal. 6.ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 209. Para LIEBMAN, prova são os meios que se prestam a dar conhecimento de um fato e portanto a fornecer a demonstração e a formar a convicção da verdade do fato mesmo9. Definição alinhada com MANDRIOLI, que a conceitua como os instrumentos processuais por meio dos quais o juiz forma o seu convencimento acerca da verdade ou da não verdade dos fatos afirmados por uma ou outra parte10. Torneada em termos ligeiramente diversos, temos a noção apresentada por MALATESTA11: A prova pode ser considerada sob um duplo aspecto: quanto à sua natureza e produção e ao efeito que produz no espírito daqueles perante quem é produzida. Sob este segundo aspecto, resolve-se na certeza, probabilidade e credibilidade (...) Como as faculdades perceptivas são a fonte subjetiva da certeza, as provas são um modo de apreciação da fonte objetiva, que é a verdade. A prova é, portanto, deste ângulo, o meio objetivo com que a verdade atinge o espírito; e o espírito pode, relativamente a um objeto, chegar por meio das provas tanto à simples credibilidade, como à probabilidade e certeza: existirão, assim, provas de credibilidade, de probabilidade e de certeza. A prova, portanto, em geral, é a relação concreta entre a verdade e o espírito humano nas suas especiais determinações de credibilidade, probabilidade e certeza. De uma maneira geral, portanto, têm-se a prova sob duas vertentes, comumente designadas de aspectos subjetivo e objetivo. Pela primeira, seria ela a convicção firmada na consciência do seu destinatário acerca da correspondência entre o fato afirmado e o evento real a que se refere, convicção da verdade ou da probabilidade, como quer MALATESTA; ao passo que, pela segunda, a expressão acaba por equiparar-se aos meios de prova, vale dizer, os instrumentos pelos quais os fatos são inseridos no processo e levam o sujeito àquele estado de convicção. Adiante destacaremos cada uma delas. 2.1 DA PROVA EM SEU SENTIDO SUBJETIVO: A NOÇÃO DE VERDADE No que tange ao aspecto subjetivo, a prova está ligada à noção de verdade, assim entendida como um juízo de correlação entre a imagem e o objeto. Confira12: A verdade, em geral, é a conformidade da noção ideológica com a realidade; a crença na percepção desta conformidade é a certeza. Ela é, portanto, um estado subjetivo da alma, podendo não corresponder à verdade objetiva: por vezes, tem-se certeza do que objetivamente é falso; por vezes, duvida-se do que é objetivamente verdadeiro (...) a certeza deriva normalmente do influxo da verdade objetiva; mas dizemos que, provindo normalmente da verdade, não é a verdade: não é mais do que um estado da alma, podendo, às vezes, devido à nossa própria imperfeição, não corresponder à verdade objetiva. 9 LIEBMAN,Enrico Tullio. Manuale do diritto processuale civile. Vol. I. Milano: Giuffrè, 1992, p. 318. MANDRIOLI, Crisanto. Corso de diritto processuale civile. Vol II. Torino: G. Giappichelli, 1998, p. 156. 11 MALATESTA, Nicolai Flamarino Dei. A lógica das provas em matéria criminal.Trad. Paolo Capitanio. 6.ª ed. Campinas: Bookseller, 2005, p. 87. 12 MALATESTA, ob cit., p. 24. 10 Inicialmente, Trata-se da verdade como teoria da correspondência, assim explicada por ALEXY13: uma sentença (ou uma expressão, por exemplo, uma proposição ou uma informação (statement) só pode ser chamada verdadeira se e quando o estado das coisas às quais a sentença dá expressão de fato existe. Um estado de coisas que existem é um fato. Assim, a verdade pode ser definida como uma correspondência entre a sentença e o fato. Por ser a verdade a base do conceito, reportemo-nos à sua noção, com apoio nas lições de HEIDEGGER14. Em um primeiro plano, verdade exprime uma idéia de realidade, ou seja verdadeiro é o que é real, como na sentença “É verdadeiramente difícil elaborar uma monografia final de curso.”, significando dizer que é verdadeiramente difícil elaborar uma tal monografia. De qualquer forma, o autor nos alerta para o fato de que o ouro falso, nem por isso, deixa de ser real, o que nos faz considerar o fato de que verdade não tem necessariamente ligação com o real. Melhor então apelarmos para a idéia de autenticidade, para assim, chegarmos à idéia de conformidade. Daí porque o ouro autêntico é verdadeiro, não por ser real, mas por estar de acordo com aquilo que prévia e constantemente entendemos como ouro. Abstraindo-se do ente, a verdade também se reflete sobre as enunciações que dela fazemos. Uma enunciação é verdadeira quando aquilo que ela designa e exprime está conforme com a coisa sobre a qual se pronuncia. Resumindo15: Ser verdadeiro e verdade significam aqui: estar de acordo, e isto de duas maneiras: de um lado, a concordância entre uma coisa e o que dela previamente se presume, e, de outro lado, a conformidade entre o que é significado pela enunciação e a coisa. E isso nos leva à definição tradicional, segundo a qual, veritas est adaequatio rei et intellectus, ou seja, verdade é a adequação da coisa ao conhecimento, ao que HEIDEGGER16 aponta para a também possibilidade de afirmar-se que veritas adequatio intellectus ad rem, qual seja, a verdade da proposição só se verifica também na verdade da coisa, o que pressupõe então a verdade como um conformar-se, um juízo de conformidade. Para não nos aprofundarmos na profícua, mas não menos densa obra do renomado filósofo, concluímos a sua menção neste tópico esclarecendo que a coletânea de sentidos por ele empreendida, relativamente ao termo verdade, nem de longe atesta a sua anuência com eles. Para HEIDEGGER, a apreensão do ente tal como ele é pressupõe uma abertura do homem sobre ele. É nessa abertura que o 13 ALEXY, Robert. Teoria da argumentação jurídica: a teoria do discurso racional como teoria da justificação jurídica. Trad. De Zilda Hutchinson Schild Silva. São Paulo: Landy, 2001, p. 92. 14 HEIDEGGER, Martin. Sobre a essência da verdade. In Conferências e escritos filosóficos. Coleção “Os pensadores”. São Paulo: Nova Cultural, 1996, p. 155. 15 Ob. cit., p. 156. 16 Ib ibidem. ente se põe e se propõe, através da enunciação que o apresenta, a qual está jungida ao dever de fazê-lo tal como ele é, o que significa que, ao assim fazer, o que é dito é conforme, é verdadeiro. Portanto, nessa correlação que acaba por fazer do enunciado uma afirmação verdadeira, a verdade seria mais tributável à própria abertura que a ele mesmo. Daí concluir17: se somente pela abertura que o comportamento mantém, se torna possível a conformidade da enunciação, então aquilo que torna possível a conformidade possui um direito mais original de ser considerado como a essência da verdade. Assim, cai por terra a atribuição tradicional e exclusiva da verdade à enunciação, tida como o único lugar essencial da verdade. A verdade originária não tem sua morada original na proposição. As críticas ao modelo não se esgotam. Estamos partindo da idéia de existência de um juízo de correlação, como dissemos acima. Para tanto, pressupondo um mundo real, concreto; e outro, imaginário, subjetivo. Essa idéia de um mundo de essências e sua representação se insere no campo metafísico apoiado na dicotomia sujeito versus objeto, já espancado pela filosofia, consoante adiante veremos. Por isso mesmo, não nos parece um modelo adequado para a classificação conceitual. É esclarecedora a lição de FERRAZ JR.18: O pressuposto metafísico não explicado é o de que (a) o mundo real é este conjunto de objetos enquanto coisas singulares, concretas e captáveis sensivelmente, e de que (b) quando atribuímos palavras às coisas, aos objetos do mundo real, seguimos certas delimitações predeterminadas nos próprios objetos. 2.1.1 DA NOÇÃO DE VERDADE EM HABERMAS O grande problema da teoria da correspondência é exatamente a indeterminação quanto a que deve a proposição corresponder. Que algo é esse, ausente do contexto lingüístico? Essa noção de fato como entidade autônoma da consciência, absoluta, não prospera, porquanto fato não é algo concreto, sensível, mas um elemento lingüístico capaz de organizar uma situação existencial como realidade. A própria realidade, o mundo real, não é um dado, mas uma articulação lingüística mais ou menos uniforme num contexto existencial19. Portanto, se a verdade como correlação ideológica do fato com a sua representação não pode prosperar; a certeza, como convicção dessa correlação também não se sustenta. Conseqüentemente, a noção de prova como elemento de que deriva essa certeza há que ser superada. Se afastarmos esse pressuposto sobre o que se baseia o conceito tão difundido (verdade como juízo de correlação), desmorona ele próprio. É o que já se faz sentir em HABERMAS, mencionado 17 Ob. cit., p. 159. Em que pese falarmos em conclusão, a expressão foi aqui empregada no sentido de concluir pela impropriedade do modelo correlacional de verdade, sem que, com ela, leve-se à idéia de que o pensamento do filósofo acerca da essência da verdade estaria concluído. 18 JÚNIOR, Tercio Sampaio Ferraz. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão e dominação. 2.ª ed. São Paulo: Atlas, 1994, p 270. 19 Ferraz Jr., ob. cit., p. 270. por ALEXY20, cuja crítica à teoria da correspondência, acima exposta, leva-o à sua substituição pela teoria do consenso, pela qual, eu posso dar um predicado a um objeto, só quando todas as outras pessoas que puderem entrar numa conversa comigo, atribuírem ao objeto o mesmo predicado. Assim, a verdade das proposições estaria submetida à possibilidade de um acordo potencial com os demais21. ALEXY22, explorando a teoria do consenso de HABERMAS, após relacioná-la à teoria do ato de discurso, lançada por AUSTIN, assevera que a verdade é uma condição de validade atribuída aos atos do discurso. Faz-se assim uma transição do esquema metafísico, desprendendo a justificação de uma afirmação da verdade do que é afirmado. Ao contrário, afirma o autor, a verdade do que está sendo afirmado depende da justificação da afirmação (...) o conceito de verdade é enviado do nível da semântica para o nível da pragmática. E conclui que desse modelo atinge-se o objetivo de demonstrar que a verdade não consiste em uma relação problemática entre as sentenças e o mundo. Esse aporte da teoria dos atos de discurso, em que HABERMAS explicitamente se baseia na semiótica pierceana, realça a idéia de verdade como juízo dialógico. Nas palavras do próprio autor, o mundo como síntese de possíveis fatos só se constitui para uma comunidade de interpretação. Confira23: Real é o que pode ser representado em proposições verdadeiras, ao passo que “verdadeiro” pode ser explicado a partir da pretensão que é levantada por um em relação ao outro no momento em que assevera uma proposição. Com o sentido assertórico de sua afirmação, um falante levanta a pretensão, criticável, à validade da proposição proferida; e como ninguém dispõe diretamente de condições de validade que não sejam interpretadas, a “validade que se mostra para nós” (Geltung). A justificada pretensão de verdade de um proponente deve ser defensável, através de argumentos, contra objeções de possíveis oponentes e, no final, deve poder contar com um acordo racional da comunidade de interpretação geral. Essa comunidade a que se refere é fruto de um auditório de intérpretes idealmente construído, alargado no tempo e no espaço. Essa idéia da verdade relacionada ao discurso e sua interpretação com pretensões de aceitabilidade racional se traduz em uma explicação lingüístico-pragmática, como acima já anunciávamos. 2.1.2 DO PRINCÍPIO DA VERDADE REAL Um dos corolários do processo moderno é o de que o órgão julgador não é parte, não pode ser, portanto, parcial nos atos processuais que pratica. A imparcialidade tão buscada, seja no processo 20 Ob. loc. cit. MALATESTA, em linha semelhante, ao discorrer sobre o convencimento judicial, fala-nos do princípio da sociabilidade (ob. cit., p. 55): O convencimento não deve ser, em outros termos, fundado em apreciações subjetivas do juiz; deve ser tal que os fatos e provas submetidos a seu juízo, se o fossem, desinteressado ao de qualquer outro cidadão razoável, deveriam produzir, também neste a mesma convicção que naquele. Este requisito, para mim importantíssimo, é o que eu o chamo de sociabilidade do convencimento. 22 Ob. cit., p. 93. 23 HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade. Trad. Flávio Beno Siebeneichler. Vol. I. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997, p. 32. 21 civil, seja no penal, acaba por refletir-se no âmbito das provas, associado ao denominado princípio dispositivo, ou seja, “o juiz depende, na instrução da causa, da iniciativa das partes quanto às provas e às alegações em que se fundamentará a decisão”24. Essa preocupação de outorga de poderes instrutórios ao juiz, não só tem suas origens no temor de retrocesso ao modelo processual inquisitivo, mas também pode ser explicado através de uma questão moral: a de que “o homem deve ser livre para abandonar seu direito, se assim desejar”25. Daí a máxima: judex judicare debet secundum probata partium. Por sua vez, no processo penal, dado o relevante valor em jogo, a liberdade individual, associado ao seu caráter eminentemente público, já que é o Estado o titular do jus puniendi, o princípio é mitigado pelo reconhecimento de maiores poderes instrutórios ao juiz, escorados na premissa de que ele deve julgar fundado na verdade real, meta que deve buscar, ainda que as partes não tenham eficazmente diligenciado a proporcioná-la. Daí a conclusão26: No processo penal sempre predominou o sistema da livre investigação de provas. Mesmo quando, no processo civil, se confiava exclusivamente no interesse das partes para o descobrimento da verdade, tal critério não poderia ser seguido nos casos em que o interesse público limitasse ou excluísse a autonomia privada. Isso porque, enquanto no processo civil em princípio o juiz pode satisfazer-se com a verdade formal (ou seja, aquilo que resulta ser verdadeiro em face das provas carreadas aos autos), no processo penal o juiz deve atender à averiguação e ao descobrimento da.verdade real (ou verdade material), como fundamento da sentença. De qualquer forma, no processo convergem os interesses privados das partes e o público, voltado à pacificação social dos conflitos, através de um processo justo27. De fato, na precisa lição de J. A. JOLOWICZ, “o processo civil não representa mais um conflito particular de interesses entre as partes litigantes, mas antes de tudo um meio de assegurar o respeito à lei e de salvaguardar os direitos subjetivos que dele resultem”28. É o suficiente para tornar verdadeira a assertiva de que o juiz não pode ser um personagem inerte, mero expectador no processo, abdicando do seu papel diretivo para tornar-se um agente 24 CINTRA, Antonio Carlos de Araújo et al. Teoria Geral do Processo, 11.ª ed. São Paulo: Malheiros, 1995, p. 64. 25 JOLOWICZ, J.A. Public interest parties and the active role of the judge in civil litigation. Milão: Giuffrè, 1975, p. 291. 26 CINTRA, Carlos de Araújo et al. Teoria geral do processo, p. 65. 27 Pensamos não ser o caso de enveredarmo-nos pelo caminho da discussão acerca do controvertido conceito de interesse público, bastando, para nossos objetivos, interpor a lição de J. A. JOLOWICZ: “C´est au droit positif d´identifier ce que est d’intérêt public, et pour les pays non-socialistes on peut affirmer qu’en règle générale la solution d’un litige confórmement à la loi satisfait, à la fois, l’intérêt legitime des parties et l’intérêt public. C’est n’est donc que dans des cas limitativement definis par la loi qu’on peut reconnaître um intérêt public qui est distinct de l’intérêt légitime des parties” (ob. cit., p. 292). 28 Ob. cit., p. 293. dirigido. Exige-se dele um papel ativo, permitindo-lhe atuar de ofício, no exercício de competências que lhe foram legalmente outorgadas, para a consagração de um processo justo, razão pela qual, convém destacar a conclusão a que chegou o mesmo autor: “uma tal concepção do processo civil demanda que seja atribuído à pesquisa da verdade objetiva o caráter de princípio primordial do procedimento; princípio que, por sua vez, demanda a atribuição ao juiz de um papel ativo.”29 No nosso sistema processual há inúmeros exemplos. Dentre outros, o disposto no Código de Processo Civil, arts. 125, 130, 131 e 330. Por sua vez, o processo penal dá mostra de atenuação da referida busca pela verdade real, como por exemplo, na regra que impossibilita a instauração de um novo processo quando absolvido o réu, ainda que fundado em novas provas, que pudessem levar à conclusão da sua culpa (CPP, art. 386, VI). Portanto, fundado nos argumentos acima, podemos afirmar que a dicotomia verdade real versus verdade material não se justifica. E tal se dá não só porque o nosso sistema jurídico não a confirma, mas sobretudo pela inexistência de qualquer distinção ontológica, tal como resulta do que afirmamos no transcurso do item anterior. Daí a nossa concordância com DANIELLE SILVA30: as expressões verdade formal e verdade real carregam inerente imprecisão. O conceito de verdade não é ontológico nem absoluto e, no processo - penal ou civil que seja -, o juiz só pode buscar a verdade processual, que nada mais é do que o estágio mais próximo possível da certeza, centrando suas atenções sobre os fatos apontados pelas partes como juridicamente relevantes para, assim, lastrear uma conclusão oficial. Melhor será privilegiarmos as locuções princípio dispositivo e princípio da livre investigação das provas, sendo que esta última já não pode ser associada, como outrora, ao princípio inquisitivo, haja vista as modernas exigências de situação do julgador em um processo penal justo. 2.1.3 VERDADE E HERMENÊUTICA EM LUIGI PAREYSON Do que até aqui foi visto percebe-se que há íntima ligação entre a noção de verdade e a prova, seja ela concebida como o instrumento para alcançar a primeira, seja como o próprio juízo acerca da convicção de que aquela foi alcançada. Eis o porquê da insistência no tema. A verdade é um conceito intimamente ligado à historicidade do humano e à revelação do “objeto”. Falar em verdade pressupõe falar em interpretação. Partamos da lição de LUIGI PAREYSON31: o único conhecimento adequado da verdade é a interpretação, entendida como forma de conhecimento histórico e pessoal, em que a personalidade singular e a situação histórica, longe de serem impedimento ou então somente limite do conhecimento, são a sua única condição possível e o único órgão apropriado. A interpretação pode 29 Ib. ibiden. Ob. cit., p. 125. 31 PAREYSON, Luigi. Verdade e interpretação. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 52. 30 definir-se, de certo modo, como aquela forma de conhecimento na qual o ‘objeto’ se revela na medida em que o ‘sujeito’ se exprime, e vice-versa. Portanto, “toda relação humana, quer se trate do conhecer ou do agir, do acesso à arte ou das relações entre pessoas, do saber histórico e da mediação filosófica, tem sempre um caráter interpretativo”32. Daí porque “da verdade não existe senão interpretação”33. Eis a correlação essencial. Ademais, o excerto transcrito acima pontua dois caracteres invariavelmente presentes na atividade interpretativa: a historicidade e a pessoalidade. Essa co-relação atua em simbiose e é coexistencial, ou, como quer PAREYSON, o aspecto revelativo, sendo inseparável do histórico, a ele se liga pela “coessencialidade”34. De notar-se que, ao referir-se ao caráter histórico da verdade, não estamos valorizando aquelas correntes relativistas cépticas, mas, ao contrário, esclarecendo que é na história que se torna possível a verdade, e não fora dela, porquanto inexeqüível tal pretensão de escape, já que exigiria uma saída do intérprete de si próprio e da própria situação. A historicidade é condição de possibilidade da verdade. Agregar à interpretação os atributos da historicidade e da pessoalidade significa reconhecer o seu aspecto múltiplo, contra o qual logo se evidenciam as críticas, no sentido de que, se múltipla, da verdade somente nos aproximamos, sem jamais tocá-la, como um satélite planetário35. Efetivamente, a pessoalidade da interpretação pode conduzir-nos a subjetivismos deturpadores da verdade, mas quando isso acontece, “a personalidade, tornada objeto de expressão mais do que 32 Ob. cit., p. 51. Ib ibiden. 34 Ob. cit., p.52. 35 Por oportuno, veja a posição de FERRAJOLI, que se serve dessa constatação para fundamentar um modelo garantístico pautado na verdade processual, em que a inevitável distância da verdade idealizada, traduzida na noção de “acercamento”, inspirada em POPPER, acaba por revelar-se em um princípio regulador da atividade jurisdicional. Confira: A "verdade" de uma teoria científica e, geralmente, de qualquer argumentação ou proposição empírica é sempre, em suma, uma verdade não definitiva, mas contingente, não absoluta, mas relativa ao estado dos conhecimentos e experiências levados a cabo na ordem das coisas de que se fala, de modo que, sempre, quando se afirma a "verdade" de uma ou de várias proposições, a única coisa que se diz é que estas são (plausivelmente) verdadeiras pelo que sabemos sobre elas, ou seja, em relação ao conjunto dos conhecimentos confirmados que delas possuímos. Para expressar esta relatividade da verdade, alcançada em cada ocasião, pode-se muito bem usar a noção sugerida por POPPER de "aproximação" ou "acercamento" da verdade objetiva, entendida esta como um "modelo" ou uma "idéia reguladora" que "somos incapazes de igualar", mas da qual podemos nos aproximar, sob a condição, não obstante, de que não se associem a tal noção conotações desorientadoras de tipo ontológico ou espacial, mas apenas o papel de um princípio regulador que nos permita asseverar que uma tese ou uma teoria é mais plausível ou mais aproximativamente verdadeira e. portanto, preferível a outras por causa de seu maior "poder de explicação" e dos controles mais numerosos a que foi submetida com sucesso.40 Tudo isto vale com maior razão para a verdade processual, que também pode ser concebida como uma verdade aproximada a respeito do ideal iluminista da perfeita correspondência. Este ideal permanece apenas como um ideal. Mas nisto reside precisamente seu valor: é um princípio regulador (ou um modelo limite) na jurisdição, assim como a idéia de verdade objetiva é um princípio regulador (ou um modelo limite) na ciência. (Direito e razão, p. 53) 33 órgão de penetração, sobrepõe-se à verdade, contribuindo para encobri-la e ocultá-la ao invés de captála e revelá-la”36, e aí onde o fenômeno se verifica, não se pode dizer haver ocorrido interpretação efetiva. Assim, não se trata de uma advertência emblemática da operação hermenêutica, mas de um vício que a desnatura. A falha da crítica reside na desconsideração da inseparabilidade da verdade e sua formulação, que permite harmonizar a unicidade daquela com a multiplicidade dessa. A verdade somente se revela através da sua formulação. Essa, como ato interpretativo, é multíplice por natureza, porque derivada da pessoalidade e da historicidade. Entretanto, a unicidade da verdade somente pode ser concebida no interior da sua formulação. Não podemos deixar cair na tentação de associar o modelo ao esquema metafísico, que se abre à dicotomia do real e das suas aparências, do objeto e seus reflexos. Entre a verdade e a sua formulação não há relação de alteridade, tampouco podem confundir-se, mas há uma relação de co-existência que as identifica, já que não há verdade longe da apreensão humana, pelo que também não se pode falar em verdade senão no âmbito da sua formulação. A questão é melhor explicitada por PAREYSON37: Toda formulação da verdade que seja digna desse nome é a própria verdade, como pessoalmente interpretada e possuída, e modo que as sempre novas e diversas formulações históricas da verdade são, ao mesmo tempo, seu único modo de aparecer e de existir, e o único modo nosso de professá-la e de possuí-la. E conclui o autor38: Como interpretação, a formulação da verdade é a própria verdade, e não coisa diferente dela. Certamente, é a verdade como pessoalmente possuída e como historicamente formulada, e não a verdade numa sua separação abstrata e impossível. Fala-nos então de um caráter transcendente da verdade, no interior da sua formulação, “no sentido de que aceita conceder-se a ela e até mesmo com ela identificar-se, mas não a ela reduzir-se e muito menos ainda nela exaurir-se”39. Finalmente, convém explicitar o aspecto integral da verdade. Reafirmando que da verdade só se tem a sua interpretação, e que esta além de pessoal é histórica, só podemos concluir pela multiplicidade das suas formulações, que a coloca (a verdade), embora única no interior daquelas formulações singulares, inexaurível, porquanto sempre apta a revelar-se diversa em outra interpretação. Não significa, com isso, que dela só possuímos uma parte, apta a ser integrada com a 36 PAREYSON, ob. Cit., p. 55. Ob. cit., p. 63. 38 Ob. cit., p. 65. 39 Ob. cit., p. 77. 37 agregação das perspectivas extraídas de outras interpretações. “A interpretação não é uma parte da verdade ou uma verdade parcial, mas é a própria verdade como pessoalmente possuída”40. Como nos esclarece PAREYSON, “A verdade não se divide nem se fratura numa multiplicidade de formulações, das quais se deva, portanto, reencontrar a totalidade, que somente poderia ser externa, mas reside inteira em cada uma delas”41. Adotando o modelo de PAREYSON, da verdade como sua interpretação, tendo a historicidade como condição de sua possibilidade, e a pessoalidade como o âmbito em que se revela, logo se vê a impertinência da busca por uma metafísica verdade real, a justificar a imanência de poderes instrutórios ilimitados ao juiz, que acabam por desnaturar o modelo garantístico de processo. Por outro lado, não há que se falar também em verdade meramente formal, porquanto revelada em sua formulação é única, não se podendo estabelecer um desvio da pretensa verdade objetiva idealizada. Também não há espaço para uma teoria aproximativa, como se a verdade obtida no processo fosse uma inverdade, valendo apenas pela sua aproximação ou “acercamento” da verdade real, como ideal a ser perseguido, consagrando-se em princípio regulador (FERRAJOLI). É que a verdade tal como formulada não é diversa, como já dissemos de outra verdade. Pode-se, evidentemente, dado o caráter histórico da hermenêutica, ser apreendida em formulação diversa, mas essa fecundidade não faz dela algo diverso da própria verdade que é, tampouco, uma fração do todo a que supostamente pertenceria. Como bem assevera PAREYSON, “não é interpretação aquela que, para possuir a verdade, crê dever eliminar todo o não dito, fechando o discurso numa espécie de completa e perfeita totalidade. A verdade justamente indica, como sinal da sua presença, o caráter interminável e sempre ulterior do discurso”. Mas a verdade em seu contexto discursivo, bem como as suas conseqüências e peculiaridades no processo, serão objeto de maior aprofundamento no item seguinte. 2.1.4 DA PROVA EM SEU CONTEXTO DISCURSIVO Do que até aqui se esboçou, já se permite constatar que a prova, subjetivamente considerada (para atender à significação contextual sobre que discorremos), está divorciada de qualquer mecanismo de correlação metafísica, evidenciando-se o seu caráter lingüístico e, sobretudo, pragmático, que a situa em um contexto de comunicação dialógica, em que o que se afirma ingressará em um espaço dialético, não limitado pelo locutor e o juiz, mas também com ingresso garantido às partes, na busca de uma validação do ato discursivo no processo. Se o valor perene a que se aspira pelo processo é a justiça, melhor desprender-se dessa ultrapassada noção de verdade como substrato da decisão justa, para apoiá-la no respeito ao catálogo 40 41 LUIGI PAREYSON, ob. cit., p.79. Ob. cit., p. 80. de garantias constitucionais do processo e do jurisdicionado, em especial no vetor garantístico do contraditório. Nesse sentido, a lúcida afirmação de DANIELLE SILVA42: O jurista não pode fechar-se num método previamente traçado e acreditar que, seguindo-o, chegará a uma verdade sobre o objeto pesquisado. É mais a partir da contestação que da reprodução, da dialética que da demonstração, que se poderá chegar a uma solução justa, e, pois, admitida como verdadeira para o caso. A essa dialética deve servir o processo, que, para além de um instrumento de justiça, representa garantia da liberdade, pela vivificação de normas que são genuínas garantias não só do acusado, mas do processo e da jurisdição. Assim, apenas para mantermo-nos congruentes com o título deste tópico, procuraremos responder à seguinte pergunta: o que seria efetivamente a prova? Evidentemente, não poderia ser aquela sensação de convicção de certeza a que se reportava MALATESTA, já que o critério verdade que o embasa, pelas razões já aduzidas, restou prejudicado. Nem tem cabimento o seu emprego vulgar, como na assertiva de que determinado fato restou provado! É que esse critério de validade não é prova. Pelo “viés objetivo”, meio de prova, portanto, conquanto disseminado, também não aproveita, já que os atos devem ser formalizados para existirem, e assim pressupondo transmissão por algum meio. Prova, para nós é o ato lingüístico submetido ao discurso dialógico, que visa à construção de um ato jurídico relevante para o processo. 3.0 DA FECUNDIDADE DA VERDADE E DA FINITUDE DO PROCESSO Ao discorrermos sobre a relação da verdade com a interpretação, destacamos que aquela só existe nessa última, a qual, sendo pessoal e histórica, acarreta formulações múltiplas da verdade, sem que, com isso, reste comprometida a sua unicidade no interior de cada formulação objetivada. Além disso, afirmamos que da verdade, ainda que de soslaio, só a retemos por inteiro, razão pela qual, em sua formulação, ela é completa, não se permitindo a fratura. Eis a razão pela qual a sua fecundidade inesgotável não faz das suas múltiplas formulações históricas e pessoais uma colcha de retalhos, apta a construí-la por completo, porque em cada uma não se tem a parte, mas já o todo. Concluímos com PAREYSON, afirmando que: não é interpretação aquela que, para possuir a verdade, crê dever eliminar todo o não dito, fechando o discurso numa espécie de completa e perfeita totalidade. A verdade justamente indica, como sinal da sua presença, o caráter interminável e sempre ulterior do discurso”. Esse “não dito próprio da interpretação não é um resíduo subentendido que se possa anunciar facilmente, mas um implícito infinito que alimenta um discurso contínuo e sem fim43. Entretanto, a infinitude desse discurso não se ajusta à finitude do processo. 42 SILVA, Danielle Souza de Andrade E. A atuação do juiz no processo penal acusatório. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris, 2003, p. 38. 43 Ob. cit., p. 80. De fato, se a prova é um instrumento que intermedeia o fato ao intérprete, a fim de que, nesse processo, ele penetre a verdade, formulando-a; e se a sua fecundidade está sempre aberta a novas formulações, fruto de um discurso dialógico entre os interessados, são necessários mecanismos formais de contenção do discurso no tempo, a fim de que ele não se eternize juntamente com o processo, o que, desde logo, violaria garantia constitucional recém-introduzida em nossa Constituição pela EC n.º 45/2004 (CRFB/88, art. 5.º, LXXVIII). Nesse contexto, destacam-se as preclusões e a coisa julgada. 3.1 DA COISA JULGADA Em nosso sistema, a coisa julgada tem expressa previsão constitucional (CRFB/88, art. 5.º, XXXVI), bem como na legislação que lhe é submetida, notadamente no Código de Processo Civil (CPC), em seu art. 467, que a estabelece como a eficácia que torna imutável e indiscutível a sentença, não mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário. A idéia da coisa julgada como fundamento de ordem prática remonta ao processo romano44. Em que pese a sobrevinda de novas explicações que a justificassem, tais como a idéia contratual do processo, o que acarreta a aceitação da imutabilidade da sentença como um acordo prévio das partes; ou ainda a visão de SAVIGNY, que via no julgado uma ficção de verdade, justificadora da sua estabilidade; além de tantas outras, não apaga a simplória idéia de que efetivamente o fundamento político da coisa julgada é a necessária segurança jurídica nas relações sociais45. LIEBMAN o confirma ao asseverar que ao escopo de por fim ao litígio e de dar certeza ao direito, o legislador fixou um momento em que é interditado todo novo pronunciamento sobre aquilo que foi decidido. Para o autor, essa seria a sua essência. Por isso, ele a vê como uma qualidade da sentença que torna imutáveis os seus efeitos46, única forma de efetivamente alcançarmos a estabilidade jurídica mencionada. Poder-se-ia cogitar da impropriedade da afirmada ligação entre coisa julgada e prova, uma vez que, em regra, a renovação de atos probatórios no âmbito recursal não é permitida, e assim, prolatada a sentença, transitada em julgado ou não, a idéia de prova não seria mais pertinente. Entretanto, tal crítica não se sustenta. 44 A anotação é de Chiovenda (Instituições, v. 1, p. 447), o qual menciona inclusive sua presença no Digesto: ne aliter modus litium multiplicatus summam atque inexpicabilem faciat difficultatem maxime si diversa pronunciarentur (fr. 6, Dig. De except. rei iud. 44, 2). Finaliza o citado autor que “a explicação da coisa julgada só se pode divisar na exigência social da segurança no gozo dos bens”. 45 Registramos ainda a posição dos juristas medievais, os quais, baseados em texto de ULPIANO (D. 1.5.25.) viam na sentença uma presunção de verdade justificadora da coisa julgada (res iudicata pro veritate habetur). A observação é de MOACYR AMARAL (ob. cit., p. 46). Curioso notar ainda que o Regulamento 737, de 1950, adotou tal concepção, como se verifica no texto do seu art. 185: “São presunções legaes absolutas ou factos, ou actos que a lei expressamente estabelece como verdade, ainda que haja prova em contrário, como a cousa julgada”. 46 LIEBMAN, Enrico Tullio. Eficácia e autoridade da sentença, p. 16. De fato, a prova, tal como vem sendo explorada nesse trabalho, não se resume à singela prática de atos visando à absoluta verdade dos fatos. Ao longo do texto, procuramos destacar que a prova é ato de persecução da verdade sim, mas uma verdade hermenêutica, com intensa e inafastável projeção do humano. Assim, o ato valorativo é elemento constitutivo da verdade, de forma que, na fase recursal, pela reabertura da discussão processual estar-se-ia reinaugurando o diálogo, apto à renovação da verdade, não se podendo, com isso, afirmar que estamos divorciado do contexto probatório47. 3.2 DA PRECLUSÃO Preclusão, segundo CHIOVENDA, é a perda de uma faculdade processual por se haverem tocado os extremos fixados pela lei para o exercício dessa faculdade no processo ou numa fase do processo48, perda essa que pode operar-se antes ou após a prolação da sentença. Como salienta LUIZ MACHADO GUIMARÃES49, partiu CHIOVENDA para a elaboração de um conceito unitário de preclusão, compreendendo todos os casos em que ocorre a “perda, ou extinção ou consumação de uma faculdade processual”, sendo assim, no seu conceito, é inerente e essencial a idéia de perda. Identificada essa generalização, criticou-a sob o argumento da necessidade de distinguir a preclusão operada pela perda de uma faculdade processual da que é decorrente da simples ultrapassagem (sem ocorrência de perda) de uma etapa da série procedimental. Ademais, pretende também isolá-la do efeito preclusivo, esse com natureza mais abrangente. Nas palavras do autor50: Com outro e diferente significado técnico é usado o termo ‘preclusão’, já agora, não para designar fato (omissivo) apto a constituir determinadas situações processuais (e, entre estas, a coisa julgada formal e a coisa julgada substancial), mas para indicar um característico efeito dessas mesmas situações processuais. E o denominado efeito preclusivo, mais restrito na coisa julgada formal (efeito preclusivo endoprocessual) e mais extenso na coisa julgada material (efeito preclusivo panprocessual). E prossegue: A eficácia preclusiva é pertinente à coisa julgada e também a outras situações processuais; não é, pois, uma eficácia específica ou característica da coisa julgada. É assim que, se uma questão não foi suscitada na etapa procedimental adequada, desta omissão resulta uma situação processual dotada de efeito preclusivo. 47 A idéia é confirmada pelo conceito que demos acima à prova: “Prova, para nós é o ato lingüístico submetido ao discurso dialógico, que visa à construção de um ato jurídico relevante para o processo”. 48 Ob. cit., p. 450. 49 GUIMARÃES, Luiz Machado. Estudos de direito processual civil, p. 10. 50 GUIMARÃES, Luiz Machado, ob. cit., p. 15. No campo da prova, podemos concluir afirmando que as preclusões se projetam nas noções de oportunidade e coerência, impedindo-se a prática de atos que venham ao encontro de conclusões já estabelecidas, em função de atos praticados por quem os requer (preclusão lógica)51; ou ainda, vedando-se a dilação probatória inoportuna (preclusão temporal). Como já visto, o tema tem imbricação com a prova processual, uma vez que, pelos fundamentos já expendidos, da fecundidade própria da noção de verdade, aliada ao foco hermenêutico, poderia cogitar-se de uma abertura contínua do sujeito ao tema discutido, o que afrontaria os caros ideais de estabilidade das relações, da segurança jurídica, da pacificação dos conflitos, que assim se eternizariam, pelo que os institutos em estudo se apresentam como conciliadores dessa mutabilidade histórica que lhe é inerente com os ideais mencionados, impedindo a renovação ou prática intempestiva de atos probatórios no processo. 4.0 DA AUSÊNCIA DE PROVA E DO DEVER DE JULGAR Aliada à finitude do processo, exsurge a questão do non liquet. A ausência da verdade não serve de fundamento à omissão do juiz quanto ao seu dever legal de decidir as questões que lhe são submetidas à apreciação. A norma, conquanto não expressa, deriva do sistema jurídico, seja pelas presunções legais nele inseridas, seja justificada por similaridade à situação de lacuna normativa, pois se não lhe é dado deixar de decidir diante de ausência ou obscuridade na lei (CPC, art. 126), tampouco poderá omitir-se na hipótese de não se encontrar devidamente instruído quanto aos fatos. Mas é de todo ilógico pretender que alguém seja compelido a emitir uma decisão em determinado “caso concreto”, submetido ainda ao dever de fundamentar este decisum, se tais operações se desenvolvem às escuras, sem um substrato de conhecimento dos fatos controvertidos, diante da ausência de provas, por exemplo. Se ainda apoiado no modelo de verdade como interpretação, e essa como ato de penetração do sujeito sobre algo que se lhe abre à compreensão, quid se esta abertura não é constatada, porque não há provas, ou se há, são inacessíveis, impertinentes ou insuficientes? Não se trata de hipótese de integração normativa, cuja solução já vem sinalizada no sistema (por exemplo, a Lei de Introdução ao Código Civil, art. 4.º e o Código Tributário Nacional, art. 108), mas de verdadeira integração fática, proporcionada por ficções propostas a tal título, por mecanismos procedimentais, como as presunções jurídicas52. 51 É o caso, v.g., de requerimento de oitiva da parte contrária, por meio do seu depoimento pessoal, quando o próprio requerente já tenha assumido espontaneamente a prática de ato que, com a prova requerida, pretenda ver negado. 52 A despeito da aparente identidade com que aqui empregamos as expressões “ficções jurídicas” e “presunções legais”, mais adiante apontaremos as diferenças entre ambas. 4.1 PROVA, ÔNUS, FICÇÕES JURÍDICAS E PRESUNÇÕES LEGAIS Ao encerrarmos o subitem anterior, deixamos claro que seria um contra-senso pretender que alguém se posicione fundamentadamente sobre determinada questão (e no caso do juiz, que vá além disso, decidindo a questão controvertida), sem estar instruído ou estando mal instruído acerca dos fatos relevantes em causa. Entretanto, mister atentar para o caráter institucional do processo, aspecto que se reflete diretamente na formação da convicção do magistrado. Eis a razão pela qual faremos um breve escorço acerca dos sistemas de apreciação das provas, antes de prosseguirmos com o tema. 4.1.1 DOS SISTEMAS DE APRECIAÇÃO DAS PROVAS No passado vigoravam as ordálias ou Juízos de Deus. Um sistema de convencimento baseado na premissa de que, imputada determinada aflição ao acusado, ele sagrar-se-ia vivo se estivesse falando a verdade, daí o caráter teológico do método. Com elas conviveu o juramento que, de abusivamente empregado, acarretou o surgimento da figura dos conspurgadores, pessoas idôneas que abonavam o juramento de outrem. No século X generalizaram-se os duelos53, inclusive entre os próprios conspurgadores, não para a disputa do bem jurídico em questão, mas como meio de apreciação probatória. Efetivamente a verdade do testemunho estaria ao lado do vencedor. Proibidas as ordálias e os duelos, foram restabelecidos os meios romanos de prova, tais como os documentos e testemunhos. Entretanto, as provas tinham um valor tarifado, não sendo permitido ao juiz apreciá-las livremente, segundo a sua própria convicção. Foi o denominado sistema de provas legais54. COUTURE55 nos trás interessantes notas exemplificativas acerca desse sistema, presentes no direito espanhol anterior à codificação, tais como: Os anciões deviam ser mais acreditados que os mancebos, porque mais viram e pesaram mais as coisas. O fidalgo devia ser mais acreditado que o vilão, porque parece que cuidará mais cair em vergonha por si, e por sua linhagem. O rico devia ser acreditado mais que o pobre, porque o pobre pode mentir por cobiça ou por promessa. E mais acreditado deve ser o varão que a mulher, porque tem o senso mais certo e mais firme. (os grifos constam no original). Em um prisma oposto, destacou-se o sistema da livre convicção. Nele seria ampla e irrestrita a liberdade do juiz para a avaliação, determinação e mesmo rejeição das provas, inclusive, dispensado 53 Cf. SANTOS, Moacyr Amaral. Ob. cit,, p. 380. Dentre as máximas do sistema: testius unus, testis nullus; testibus duodus fide dignus credentum. 55 COUTURE, Eduardo J. Fundamentos do direito processual civil. Campinas: Redlivros, 1999, p. 190. 54 de fundamentar a sua convicção, bem como podendo formá-la com base em sua experiência pessoal, a despeito das provas colhidas. Nas palavras de COUTURE56: Quanto à livre convicção, deve-se entender como tal o método de raciocínio que não se apóia necessariamente na prova que o processo fornece ao juiz, nem em meios de informação suscetíveis de serem controlados pelas partes. Neste método, o magistrado adquire a convicção da verdade pela prova dos autos, fora dela, e ainda contra ela. Como nos adverte AMARAL SANTOS57, a despeito da existência de defensores ardorosos desse sistema, “não consta que alguma legislação de povo civilizado o tenha adotado em sua pureza, com a concessão de ilimitada liberdade ao juiz no acolhimento ou na apreciação da prova”. Finalmente, destaca-se o sistema da persuação racional, em que o juiz, a despeito de ser livre na apreciação das provas, formará a sua convicção tendo elas por substrato. Ademais, porque condicionada, deve ser motivada. É o adotado pelo nosso sistema, como se depreende da leitura do art. 131 do Código de Processo Civil, já que, a despeito de poder o juiz formar livremente a sua convicção, deverá fazê-lo com base “nos fatos e circunstâncias constantes dos autos”, não podendo ainda dispensar as regras legais quanto à forma e à prova dos atos jurídicos (CPC, art. 366, dentre outras); e, finalmente, motivando-a, tal como determina a parte final do art. 131 do CPC58. 4.1.2 DAS FICÇÕES JURÍDICAS E DAS PRESUNÇÕES De uma maneira geral, é o princípio dispositivo que rege a produção de provas no processo. Se aquele a quem é atribuído o ônus probatório se omite, não deve o juiz subrogar-se, agindo em seu lugar. Por outro lado, se o processo não se compadece com a ausência de resposta do juiz, mesmo diante da inexistência ou insuficiência de provas59, é preciso resolver esse impasse. A despeito da possibilidade de outras soluções, apresenta-se a saída de institucionalizar determinadas ficções ou presunções que lhe dêem subsídios para a prolação da decisão. Cremos que esse é o maior fundamento para a sua previsão no sistema, qual seja, o de superar esse “impasse do processo decisório”60. O maior, é bem verdade, porém, não o único61. 56 Ob. cit., p. 194-195. Ob. cit., p. 381. 58 “O juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes; mas deverá indicar, na sentença, os motivos que lhe formaram o convencimento.” (CPC, art. 131) 59 Essa impossibilidade de suspensão do juízo por deficiência da instrução vai de encontro ao ideal de segurança jurídica, que nas palavras de HENKEL assume a feição de “exigência dirigida ao Direito positivo de criar, dentro do seu campo e com os seus meios, certeza ordenadora” (apud MARTINEZ, Ernesto Eseverri. Presunciones ... p. 25). 60 A expressão foi utilizada por AGUILÓ REGLA (ob. cit., p. 654). 61 O uso das presunções pode guardar relação com a distribuição da carga probatória, então, como vimos acima, pode ela atender a parâmetros diversos, tais como a hiposuficiência de uma das partes em relação à outra (art. 6.º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor), o interesse público materializado na relevância da captação de receitas públicas (art. 204 do Código Tributário Nacional) etc. 57 Mas efetivamente o que são as presunções? Presunções legais “são mandatos legislativos em virtude dos quais se ordena ter por estabelecido um fato, sempre que a ocorrência de outro fato, indicador do primeiro, tenha sido comprovada suficientemente”62. Em outros termos: dada uma proposição Pb, então a proposição Qp será presumida como verdadeira, onde Pb é a proposição-base e Qp a proposição-presumida. O sistema nos está impondo uma atitude proposicional, ou seja, de que, sob certas condições (estabelecidas na proposição-base), somos obrigados a incorporar certas premissas (proposições) ao nosso raciocínio. Destacamos que este dever de incorporação é condicionado à prova em torno da preposiçãobase (Pb), bem como, se a presunção for relativa, a ausência de prova contrária à proposiçãopresumida (Qp). Presunções relativas (ou juris tantum) são as que cedem em razão de prova em contrário. Assim, comprovada a inexistência do fato presumido, a presunção não mais se sustenta. Por sua vez, absolutas (ou jure et de jure) são aquelas que não admitem tal prova, i.e., não há possibilidade de ataque ao fato presumido. De qualquer forma, em uma ou outra, é possível a impugnação da proposição-base. Dessa moldura de sustentação das presunções, JOSEP AGUILÓ REGLA extrai duas estratégias de ataque a elas, a saber63: A. A estratégia de bloqueio: a presunção «Dado P, se presumirá que Q» restará bloqueada no caso c se, e somente se, se justifica que não está provado p em c, ou se prova a negação de p em c. B. A estratégia de destruição: a presunção «Dado P, se presumirá que Q» restará destruída no caso c se, e somente se, se prova a negação de q em c. Ou seja: haverá bloqueio da presunção quando não for comprovada a proposição-base ou quando se provar que ela não se configurou; por sua vez, a estratégia de destruição se refere à negação da própria proposição-presumida, por meio de prova contrária. Tratando-se de presunções absolutas, somente terá cabimento a estratégia de bloqueio, já que a proposição-presumida é intangível. Fala-se ainda em presunções em sentido estrito e presunções aparentes. As últimas estão estritamente ligadas às regras de distribuição da carga probatória (onus probandi); ao passo que as primeiras, ao contrário, sem afetá-la, apenas projetariam efeitos sobre o que deve ser provado (thema probandi). A idéia central é a de que, tratando-se de uma presunção em sentido estrito, ainda que potencialmente beneficiada por ela, a parte só efetivamente o será se comprovar a ocorrência do fatobase, sem o que não se poderá deduzir o fato presumido. Ao contrário, nas presunções aparentes, o seu 62 63 REGLA, Josep Aguiló. Notas sobre presunções de Daniel Mendonça. In DOXA n.º 22, 1999. Ob. cit., p. 651. beneficiário é dispensado de qualquer ônus probatório. A questão é complexa, na medida em que as normas que as estabelecem apresentam-se em texto com aparência de presunção, mas podem ser reescritas de forma a apenas centrar-se na questão do ônus da prova. Vejamos um exemplo: o art. 219 do Código Civil Brasileiro (CCB) estabelece que “As declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras em relação aos signatários”. A despeito da utilização da expressa presunção, em verdade a norma estabelece que os signatários dos documentos estão dispensados do ônus de provar as declarações nele constantes. A norma se circunscreveria apenas à questão da distribuição da carga probatória. Podemos ainda diferenciar essas presunções levando-se em conta a ausência, no exemplo mencionado, de qualquer proposição-base que nos conduzisse à proposição presumida. E nesse sentido estrutural, serve-nos a advertência de ERNESTO MARTINEZ, para quem a verdadeira presunção jurídica “é um processo, segundo o qual, comprovada a existência de um fato – o denominado fatobase -, conclui-se pela confirmação de outro que normalmente o acompanha – o fato presumido – sobre o qual se projetam determinados efeitos jurídicos”64. O autor realça a importância do caráter dedutivo da presunção, que deverá vir expressamente previsto na norma que a constitui, sob pena de desnaturar-se65. De qualquer forma, a classificação não é pacífica. Para JOSEP AGUILÓ REGLA, as falsas presunções (ou presunções aparentes), conquanto interfiram na carga probatória, não se limitam apenas a tal efeito, já que, na omissão do onerado, impõem a consideração de determinada premissa como verdadeira e, nesse sentido, acabariam por repercutir efeito próprio das presunções. Transportando o seu raciocínio para a regra utilizada no exemplo dado acima, o fato do interessado não haver provado determinado conteúdo diverso do estatuído no contrato, não significa apenas que esse conteúdo não seja aplicável, mas também que aquele decorrente do instrumento deve ser aceito. Assim propõe-nos uma categorização das presunções em presunções-princípio e presunçõesregra. Com base no modelo normativo de VON WRIGHT, define princípios como sendo um “tipo de pauta de conduta, de normas, cujas condições de aplicação derivam exclusivamente do seu conteúdo e, nesse sentido constituem mandatos incondicionados”66; ao passo que “as regras são normas que contam com condições de aplicação adicionais às do seu próprio conteúdo, por isso, em sua 64 MARTINEZ, Ernesto Eseverri. Presunciones legales e derecho tributario. Madrid: Marcial Pons, 1995, p. 7. Assim, prestaria essa nota para distinguir também as presunções legais do que denominou de sistemas de valoração, muito aplicados, por exemplo, na estimativa indireta da base de cálculo de tributos. Aqui, segundo o autor, não se estaria diante de uma presunção, em face da ausência legalmente expressa do processo dedutivo. Em nosso sistema, essa estimativa indireta é prevista no art. 148 do Código Tributário Nacional, verbis: Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial. 66 Ob. cit., p. 655. 65 formulação, adotam tipicamente uma estrutura condicional”67. Daí ficaria simples diferenciar as presunções-regra das presunções-princípio. Nas primeiras, a proposição presumida (Pp) dependeria da prova de uma proposição-base (Pb); ao passo que, nas segundas, (Pb) não está submetida a esta proposição condicional, dada a sua estrutura de princípio. Como exemplo de presunção-princípio em nosso sistema, temos a boa-fé prevista no art. 164 do CCB (ali, após presumir fraudulenta as garantias de dívidas concedidas pelo devedor insolvente, estabelece entretanto que se presumem de boa-fé e valem os negócios ordinários indispensáveis à manutenção de estabelecimento mercantil, rural, ou industrial, ou à subsistência do devedor e de sua família). Muito mais que desonerar o comerciante da prova da regularidade dos atos mencionados, se não provada pela parte interessada a má-fé dos referidos atos, configura-se ainda a conseqüência jurídica de obrigar a aceitação da validade dos atos praticados. Portanto, constata-se a presença da proposição presumida (Qp). Não há deslocamento do thema probandi, tal como ocorreria se estivéssemos diante de uma presunção-regra, uma vez que aqui, não se constata a presença do elemento condicional (Pb), em face mesmo da estrutura do princípio, que não contempla condicionamentos outros que não os do seu próprio conteúdo. Por sua vez, a relevância dessas presunções no sistema ultrapassa a função instrumental de superação do dilema decisório ao qual nos referimos acima (imperatividade de decisão fundamentada e ausência de instrução) para alcançar fins outros, de índole substancial e principiológica, como a proteção ao princípio da livre iniciativa, da isonomia etc. Uma outra conseqüência, bastante evidente por sinal, refere-se às formas de impugnação. Nas presunções-princípio, diante da inexistência da proposição-base (Pb), o ataque somente pode ser direcionado à própria proposição presumida. No modelo aqui exposto, somente teria cabimento a estratégia de destruição. Por sua vez, tratando-se de presunção-regra, além dessa, seria possível também a estratégia de bloqueio, já explicitada acima. Para o citado autor, a distinção acima está melhor ajustada do que aquela que insere em um mesmo contexto genérico as presunções relativas e absolutas, uma vez que, as últimas, ao contrário das primeiras, que se encaixam no campo de prova (já que partem de um fato que deve ser constatado para que se deduza a proposição presumida) dizem respeito à qualificação jurídica dos fatos, que passam a assumir resultados institucionais, contra os quais não haverá possibilidade de prova. Portanto, “mais que uma proibição de prova, nelas o que há é uma simples imputação normativa e, obviamente, estas não podem ser objeto de prova”68. 67 68 Ib ibiden. REGLA, Josep Aguilo. Ob. cit., p. 658. Finalmente, cabe-nos procurar identificar a nota característica das denominadas ficções jurídicas. A elas podemos atribuir o efeito de conversão de uma realidade impossível ou pouco provável em uma realidade artificial incontestável e, portanto, não se submetem ao mecanismo de destruição. Para PÉREZ DE AYALA, “a ficção jurídica não falseia nem oculta a verdade real, o que faz é criar uma verdade jurídica distinta da real”69. Aqui, parece-nos também que se trata de questão de mera qualificação jurídica. O nosso Código Civil, em seu art. 2.º, estabelece que “A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro.” Ao fazê-lo estabelece uma ficção, evidentemente não da existência do nascimento, fato impossível no caso, mas apenas aplica ao concebido, ainda não nascido, algumas das conseqüências próprias da personalidade, o que efetivamente nada tem a ver com matéria de prova. A despeito da proximidade, não falta quem atribua às ficções relação de identidade com as presunções absolutas, o que serve de base à crítica de ERNETO MARTINEZ, para quem nas “presunções, todas – absolutas e relativas -, instrumentos a serviço da prova, sua utilização é discricional para o órgão administrativo e para o juiz que tem que aplicar suas normas, circunstância esta que não é possível apreciar no caso das ficções jurídicas que, por sua natureza, se convertem em normas de obrigatória aplicação e acatamento”70. Dos modelos até agora propostos, diverge radicalmente MALATESTA, para quem presunção é espécie do gênero prova indireta, qualificada pela modalidade de raciocínio em que se deduz o desconhecido por algo conhecido, através do princípio da identidade.71 O autor esclarece com o exemplo da presunção de inocência atribuída a Tício. Afirma que a proposição-base (para adotarmos a mesma denominação que temos empregado até aqui) é a qualidade humana de Tício. Essa relação de pertinência de Tício, faz dele tributário de algumas qualidades que, de ordinário, reportam-se ao gênero. É o caso da inocência, a qual ordinariamente lhe pertence, se bem que não possa ser peremptoriamente atribuída a Tício (a qualidade não é constante da raça humana, daí porque alguns podem não a possuir). É o que leva à afirmação de que as presunções nos conduzem sempre a um juízo de probabilidade. Confira72: “Existe sempre um fato conhecido de que se parte para chegar ao desconhecido que se presume e aquele fato de que se parte é um fato que se tem diante dos olhos e que, por isso, não precisa ser provado, nem enunciado. O fato que nos conduz a presumir 69 AYALA, Pérez de. Las ficiones en el derecho tributario. Madrid: Ed. De Derecho Financiero, p. 16, apud MARTINEZ, Ernesto Eseverri, ob. Cit., p. 20. 70 Ob. cit., p. 23. 71 A despeito de o autor repetidamente inverter as proposições, afirmando que “o raciocínio presuntivo deduz o conhecido do desconhecido” (ob. cit., p. 192, grifamos), o que repete em inúmeras outras oportunidades em seu texto (como v.g., p. 195), não há qualquer lógica na afirmação, já que o que é conhecido não precisa ser presumido ou provado! O que se confirma pela contradição em sua obra (ou na sua tradução) quando adiante, estabelecendo a distinção entre presunções e indícios, assevera que “enquanto o raciocínio presuntivo vai do conhecido ao desconhecido, sob a luz do princípio da identidade ...” (p. 199 , o grifo é nosso). 72 Ob. cit., p. 194. Note que o trecho transcrito parece corroborar a nossa correção ao texto (v. nota anterior). a inocência no acusado é a sua qualidade de homem, que, pela pertinência que inclui na espécie humana, ordinariamente inocente, faz-nos concluir pela presunção da inocência do acusado, ou em outros termos, a sua provável inocência. A qualidade de homem no acusado, a matéria da presunção, ganha destaque e prova-se por sis só, é inútil enuncia-la.” MALATESTA faz ainda a distinção entre presunções e indícios. Esses seriam também espécie do gênero prova indireta e, como nas presunções, partiriam de um fato conhecido a outro desconhecido, porém, e aqui a divergência, o raciocínio se daria à luz do princípio da causalidade, e não da identidade. Trata-se também de uma prova que nos conduz a um juízo de probabilidade, porém, ressaltamos, decorrente de uma relação de causa e efeito entre duas proposições. O autor exemplifica: “as manchas de sangue encontradas na veste de Tício, depois do assassínio de Caio, não serão mais que um indício contingente da culpabilidade de Tício”. Adiante, afirma que “a criança que, por suas condições naturais de ser, recém-nascida, revela um parto recente (...) nestes casos, o indício não é contingente, mas necessário”. Sinceramente, nem me parece que haja relação de causa e efeito no primeiro exemplo, como não haverá qualquer probabilidade, senão certeza, no segundo. Afinal de contas, povoamos nossas mentes com conceituações e classificações, ou melhor, tentativas de estabelecê-las, mas com que finalidade? A sistematização de determinado campo objetal só tem cabimento, só justifica esse esforço, se vislumbrarmos alguma vantagem daí, seja para a sua melhor compreensão (o que está longe de ocorrer, no caso, já que temos a impressão de que após esse discurso compreendemos menos o tema do que antes), ou ainda para selecionarmos determinados conjuntos, a fim de que sobre eles projetemos um determinado regime jurídico específico. É inegável que o nosso sistema jurídico contempla inúmeras hipóteses em que o juiz se vê contido em sua manifestação na interpretação dos fatos pelo (e no) processo, diante de normas que restringem esse seu campo de liberdade73. Mais acima criticamos a afirmação de que o ideal do processo é a busca da verdade correspondencial, assim entendia aquela que revela uma relação de identidade (correspondência) entre o pensamento e o seu objeto. A posição não se justifica diante do paradoxo que não nos permite uma resposta à questão do que é esse algo que eu penso (ou que deveria pensar), senão o meu próprio pensamento dele. Essa verdade transcendental somente poderia ser captada também por um sujeito transcendental, isolado da linguagem para poder perceber essa diferença, o que seria um absurdo74. 73 A expressão aqui não é empregada aleatoriamente e, para tanto, remetemos o leitor às nossas anotações acerca dos fundamentos da hermenêutica e da verdade, onde destacamos a importância da liberdade do intérprete. 74 É oportuna a máxima de WITTGENSTEIN de que “o que não se pode falar deve-se calar” (Tratactus, Prefácio, p. 53, apud CONDÉ, Mauro Lúcio Leitão. Wittgenstein: linguagem e mundo. São Paulo: Annablume, 1998, p. 42) Como bem coloca LENIO STRECK, apoiado em lições de Castanheira Neves, “passa-se, enfim, da essência para a significação, onde o importante e decisivo não está em se saber o que são as coisas em si, mas saber o que dizemos quando falamos delas”.75 E essa percepção é relevante, na medida em que força o rompimento com a idéia de explotação significativa do texto, com a clássica afirmação de que interpretar consiste em extrair o sentido e o alcance da norma. Não há essencialmente um sentido imanente que deva ser buscado, senão um uso concretizado pelos sujeitos que se inserem em um contexto interativo e dialético. A verdade a que se aspira no processo é a verdade hermenêutica, histórica e pessoal, fruto da aplicação normativa que se revela nos fatos que se mostram. Vimos que essa verdade deve ser construída segundo regras processuais, a fim de que resulte de um discurso dialógico entre os interessados envolvidos na sua formação. O vai e vem agora não é mais entre o fato e a norma e viceversa, como quer KARL ENGISCH76, mas entre juiz e partes, em uma situação comunicacional interativa77. Esse princípio interacional revela a reflexividade da situação comunicativa, a qual deve ser controlada por regras que o qualificam como discurso racional. O processo, e evidentemente a prova, se encaixam nesse modelo discursivo. A peculiaridade é que, a despeito da historicidade da verdade, não se permite eternizar o diálogo no processo, razão pela qual as regras mencionadas se encarregam de encerrar o discurso em determinado momento. Da mesma forma, e aqui o campo das presunções, ficções e indícios, a imperatividade da resposta judicial se impõe inclusive sobre a eventual ausência e insuficiência probatória. Essa lacuna fática é colmatada pelo legislador, que passa a prescrever regras de atribuição de sentido ao juiz, suprimindo total ou parcialmente o seu campo de liberdade hermenêutica. Parece-nos que não há maiores problemas em generalizarmos tais restrições sob o título de presunções, que passariam a conotar qualquer comportamento reflexivo induzido no órgão julgador quanto às situações relevantes para o deslinde da questão submetida à sua apreciação. Os indícios, certamente estariam fora do gênero, porquanto não passam de fatos inseridos no contexto probatório, submetidos à liberdade de apreciação judicial, que lhes dará a valoração desejada, independentemente de qualquer pré-fixação legal. Agora, parece-nos relevante distinguirmos, entre as presunções, aquelas em que a ocorrência da proposição induzida se dê de forma dependente ou independente de uma proposição-base. E essa importância deriva exatamente da conseqüente extensão dos meios impugnatórios (vide acima as estratégias de bloqueio e de destruição). Assim, a conveniência e a utilidade impõem a classificação 75 STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica jurídica e(m) crise: uma exploração hermenêutica da construção do direito. 2 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000. 76 ENGISCH, Karl. Introdução ao pensamento jurídico.7.ª ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1996. 77 Veja adiante a prova no contexto comunicacional. das presunções em diretas e indiretas (que equivaleria às presunções-princípio e as presunções-regra, na classificação de JOSÉP AGUILO REGLA, vista acima). Quanto à já disseminada classificação das presunções em relativas (juris tantum) e absolutas (juris et de jure), convém a sua manutenção com as notas que a tipificam (pertinência à questão probatória, de um lado; e questão de qualificação jurídica de outro, respectivamente), daí resultando a conseqüência de ser possível ou não o ataque à proposição presumida. 4.1.3 CRÍTICA ÀS PRESUNÇÕES ABSOLUTAS: UM CASO ESPECÍFICO Se de um lado é evidente que o nosso sistema contempla as presunções absolutas (sejam elas diretas ou indiretas), não vemos como possam justificar-se. Nesse ponto concordamos com as lúcidas afirmações de CARLO S. NINO78: O consenso democrático não pode funcionar como critério de verdade fática para fundamentar a legitimidade jurisdicional. São incompatíveis com os princípios de uma democracia liberal as leis que pré-constituem fatos particulares, criando ficções ou presunções juris et de jure, como os chamados delitos de perigo abstrato; elas implicam que os poderes políticos se arrogam uma função inerente ao Poder Judicial. De fato, pretender a constituição prévia de fatos jurídicos pelo legislador consiste em usurpação de competência. Insistimos na diferenciação entre o texto e a norma. Essa última somente se mostra no momento da aplicação, como resultado do processo hermenêutico, de forma que não é dado ao legislador antecipar-se a um sentido desconhecido, sob pena de recairmos em verdadeiro exorcismo da realidade. Vejamos um exemplo. A CRFB/88 outorga à seguridade social uma estrutura tripartida e integrada de ações, nos campos da saúde, previdência e assistência social, direcionando a iniciativa dessas atividades aos Poderes Públicos e à sociedade (art. 194). Tratando especificamente da assistência social, a Constituição fixa-lhe um regime não contributivo e suas ações são orientadas com base em uma matriz de objetivos, dentre os quais se destacam, para o nosso estudo, a proteção à família, ao idoso e à pessoa portadora de deficiência, já consagrando a esses uma forma objetiva de tal proteção e apoio, outorgando-lhes a garantia de um salário mínimo de benefício mensal, desde que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei. Típica norma de eficácia limitada, consoante classificação do renomado JOSÉ AFONSO DA SILVA, ou de eficácia complementável, se preferirmos o magistério de MARIA HELENA DE 78 NINO, Carlos S. Fundamentos de drecho constitucional: análisis filosófico, jurídico y politológico de la prática constitucional. Buenos Aires: Astrea, 1992, p. 450. Apud REGLA, Josep Aguiló, ob. cit., p. 657). DINIZ79, em face da remessa ao legislador ordinário do dever de regulamentação do direito constitucionalmente estabelecido. E tal se deu, com a publicação da Lei n.º 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que, em seu art. 20, tratou do benefício de prestação continuada em questão, garantindo ao idoso maior de setenta anos e ao portador de deficiência o valor de um salário mínimo mensal. Estabeleceu ainda, e aí reside o punctum saliens da questão, a presunção de que não seria capaz de prover o sustento desses beneficiários, a família com renda mensal per capta inferior a um quarto do salário mínimo (art. 20, § 3.º). Em diversas demandas submetidas à apreciação judicial, o INSS, gestor desse benefício, negou-o com base nessa norma, porquanto não atendido o requisito objetivo legalmente fixado. Entretanto, muitos juízes, relativizando o preceito, acabaram por afastá-lo, diante da análise do caso concreto, em que, segundo seu juízo, restaram evidenciados os requisitos constitucionais, especialmente o de impossibilidade de o beneficiário prover o seu sustento ou tê-lo provido por sua família. Nesse sentido a súmula n.º 11 da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, que estabelece que “a renda mensal, per capta, familiar, superior a ¼ (um quarto) do salário mínimo não impede a concessão do benefício assistencial previsto no art. 20, § 3.º da Lei n.º 8.742, de 1993, desde que comprovada, por outros meios, a miserabilidade do postulante”. A questão foi submetida ao crivo do STF, através da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 1.232, Rel. Min. Nelson Jobim, restando afastada a alegada inconstitucionalidade, consoante se depreende da leitura da sua ementa, abaixo transcrita: CONSTITUCIONAL. Impugna dispositivo de lei federal que estabelece o critério para receber o benefício do inciso V do art. 203, da CF. Inexiste a restrição alegada em face do próprio dispositivo constitucional que reporta à lei para fixar os critérios de garantia do benefício de salário mínimo à pessoa portadora de deficiência física e ao idoso. Esta lei traz hipótese objetiva de prestação assistencial do Estado. Ação julgada improcedente. Nos termos do parágrafo único do art. 28 da Lei n.º 9.868/99, a declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade proferida em sede de ação direta de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade têm eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal, o que nos levaria à conclusão de que a questão estaria pacificada, reforçada pela revogação da súmula mencionada, em razão desse julgamento (DJ de 12 de maio de 2006, p. 604). 79 DINIZ, Maria Helena. Norma constitucional e seus efeitos. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 1992. Do que foi relatado se depreende que o juiz, ainda que efetivamente se encontre diante de uma situação em que um idoso comprove não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, e não são raras essas hipóteses, estaria impedido de reconhecer o seu direito constitucionalmente estabelecido, por conta de um juízo pré-fixado pelo legislador, que nenhum contato teve com o caso. Em um caso emblemático, o idoso pleiteou o benefício e, aos autos foi acostado laudo de avaliação sócio-econômica, lavrado por assistente social designado pelo juiz, onde cabalmente restou comprovada a situação de extrema miserabilidade do autor, que, convivendo com sua companheira, morava em um barraco alugado na favela, em situação de extrema penúria. Ele desempregado, ela beneficiária de uma pensão alimentícia no valor de meio salário mínimo, o que nos leva a uma renda mensal per capta de exatamente um quarto de salário mínimo, mas a lei exige que a renda seja inferior a esse valor, a fim de que o benefício seja devido! O legislador pretende reduzir matematicamente o conceito de miserabilidade, destituindo de relevância as peculiaridades em que o caso se manifesta (se o requerente tem despesas com aluguel, remédios etc.), fazendo do miserável uma pessoa independente e vice-versa. Evidentemente que o referencial do texto normativo é relevante para a atribuição de sentido, pois bem nos dá a noção paramétrica de que tipo de miserabilidade deverá ser abarcada pelo benefício, sem o que, por tratar-se de sistema não contributivo, a assistência social logo ver-se-ia comprometida em seus recurso, mas daí a ser determinante de sentido há uma distância muito grande, porque se reduz na pretensão absurda de exorcizar a realidade, em prejuízo da eficácia constitucional. O caso descrito bem dá mostra da dificuldade de sustentação dessas classes de presunções que depõem contra o papel da liberdade do julgador, inerente ao processo hermenêutico de atribuição de sentido normativo. As presunções absolutas são anacrônicas e retrógradas. Piores que o sistema de provas legais, já que, se nesse havia standards valorativos para as provas produzidas, naquelas é a própria valoração que é antecipada pelo legislador, sem a intermediação de provas e até mesmo contra elas! 4.1.4 DOS DEVERES E ÔNUS PROCESSUAIS Não pretendemos aqui imiscuirmo-nos na trajetória de busca pela natureza jurídica do processo, porquanto não se incluiria no escopo do presente trabalho. De qualquer forma, superadas as noções do processo como contrato e quase-contrato, parece-nos prevalente a idéia de vê-lo como relação jurídica (a despeito de modelos de vanguarda, como o de JAMES GUASP, que nele vêem projetada uma categoria própria). Partindo dessa premissa, JOSÉ FREDERICO MARQUES80 preleciona que o processo civil, por ser uma relação jurídica, cria para os seus sujeitos, direitos e poderes, ônus e deveres, bem como obrigações processuais. Assim, as normas processuais, configurando-se em imperativos jurídicos, disciplinariam a conduta das partes e de terceiros no processo; e a sujeição a esses imperativos se opera através de ônus, deveres e obrigações; e quando a parte tem o poder de tornar eficazes, em seu próprio interesse, os imperativos jurídico-processuais, surge, então, para ela, um direito processual subjetivo81. A noção de ônus é magistralmente posta por COUTURE: (...) o ônus funciona, por assim dizer, a double face: por um lado, o litigante tem a faculdade de contestar, de provar, de alegar; por outro lado, tem também um como que risco de não contestar, de não provar e de não alegar. O risco está em que, se não o faz, no devido tempo, a sentença é proferida sem ouvir a sua defesa, sem apreciar as suas provas ou sem estudar as suas razões. E conclui: (...) o ônus é um imperativo próprio. Quem tem sobre si o ônus está implicitamente forçado a efetuar o ato de que se trate; é o seu próprio interesse que o compele. O ônus aparece como uma espécie de ameaça, como uma situação embaraçosa que grava o direito do titular. Mas a este é dado desembaraçar-se da carga, cumprindo o que é visado por ela. Temos, de um lado a idéia de que se há deveres impostos pelas normas processuais, há imperativos a serem cumpridos, sob ameaça de uma sanção, porquanto, nas precisas palavras de FRIEDRICH LENT82, uma obrigação cujo inadimplemento fique ao arbítrio do obrigado constitui uma contradição “in re ipsa”; já quanto ao ônus, a carga imposta ao sujeito pode ser satisfeita ou não, à sua escolha, sabendo-se, entretanto, que a sua esfera jurídica será diretamente afetada por seu comportamento. No campo probatório, a pertinência com a noção de ônus processual é imediata. De fato, nos exatos termos do art. 333 do Código de Processo Civil Brasileiro (CPC), como regra, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquele. Dessa forma, ou o interessado livra-se da carga que lhe é imposta, deflagrando oportunamente o contexto discursivo em torno da prova, ou suporta o ônus de, omitindo-se, não ver aquele alegado conjunto fático considerado. As conseqüências da sua inércia lhe são diretamente repercutidas. 80 MARQUES, José Frederico. Manual de direito processual civil. Vol. 1, p. 139. Ib ibiden. 82 LENT, Friedrich. ”Oblighi e oneri nel processo civile”, in Rivista di diritto processuale, 1954, p. 151, apud MARQUES, José Frederico, ob. cit., p. 141. 81 Como vimos mais acima, diversos fatores, de ordem político-processual, levam à fixação de diretivas de distribuição desses ônus, imbricando-se o tema com aquele das preclusões e especialmente das presunções. Notadamente nas relações processuais envolvendo pessoas jurídicas de direito público, a distribuição da carga probatória pelo legislador parece privilegiá-las, sob o argumento do enquadramento dos atos administrativos em um arquétipo que lhes assegura a nota típica da “presunção de legitimidade”. Dessa forma, o administrado que venha sentir-se prejudicado por ato dessa natureza deveria suportar o ônus de provar o vício que o macula. A idéia merece nova delimitação de contornos, abordagem que será empreendida no próximo subitem, sob o enfoque da distribuição dinâmica da carga de prova, justificada sob o viés hermenêutico. 4.1.5 DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DA CARGA DE PROVA O art. 333 do CPC, na esteira do que já dispunha o art. 209 do nosso código de processo de 1939, estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. De qualquer sorte, viabiliza também a alteração desse critério, mediante convenção entre as partes, desde que não afete direitos indisponíveis ou torne excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito. Portanto, via de regra, “o encargo é da parte que objetiva ver demonstrado determinado fato, por ser este necessário (e eventualmente suficiente) à composição do suporte para a formação da convicção judicial”83. Assim, como regra geral, a distribuição da carga probatória está fundada basicamente em um critério subjetivo, a qualidade da parte – autor ou réu. Esse critério por sua vez, é orientado pela natureza dos fatos que cada um deles pretende comprovar, ou seja, se impeditivo, modificativo ou extintivo de direito de uma das partes ou se constitutivo de direito da outra. Inicialmente, a noção de fato extintivo, modificativo ou constitutivo não nos parece adequada para firmar um tal critério, dada a imbricação recíproca entre as pretensões envolvidas na lide, tal como adverte ECHANDIA: “um hecho puede ser constitutivo para el derecho pretendido por uma parte y extintivo respecto del alegado por la otra”84. No mesmo sentido, a crítica contundente de LEONARDO GRECO85: (...) muitas vezes a inexistência de um fato constitutivo é um fato impeditivo, extintivo ou modificativo. Se estes últimos são as chamadas causa excipiendi, ou seja, o direito do réu que se opõe ao que ilide o direito do autor, cumpre reconhecer 83 JÚNIOR, Antonio Janyr Dall’agnol. Distribuição dinâmica dos ônus probatórios in Revista dos Tribunais, vol. 788, p. 94. 84 ECHANDIA, Hernando Devis. Teoria general de la prueba judicial. Buenos Aires: Victor P. De Zavalía, 1970, t. 1, p. 468-469, apud JÚNIOR, Antonio Janyr Dall’agnol, ob. cit., p. 94. 85 GRECO, Leonardo. A prova no processo civil: do código de 1973 ao novo código civil, p. 7. Texto inédito divulgado aos alunos do Curso de Especialização latu sensu em Direito Processual Público, promovido pela Universidade Federal Fluminense, em parceria com o Conselho da Justiça Federal. que a inexistência do direito do autor pode ser constitutivo do direito do réu. Assim, por exemplo, no contrato de locação, a omissão dos pagamentos dos aluguéis pelo inquilino é fato constitutivo do direito do locador à rescisão do contrato, mas o inverso, o pagamento, é fato extintivo do direito do autor, que ilide o pedido de rescisão do contato. Pode impor-se ao autor o ônus de provar o inadimplemento contratual do locatário ou cabe ao réu a prova do seu cumprimento? Em segundo lugar, não pode tal partilha de encargos ser fundada em posições ocupadas pelos sujeitos processuais, uma vez que, dado esse nítido critério subjetivo, como já assinalamos acima, desconsidera os dados objetivos do caso, as particularidades que possam sugerir uma distribuição diferenciada do modelo estabelecido. Basicamente, qualquer critério que olvide a concretude da situação, vale dizer, que se apóie em standards pré-estabelecidos, apresentar-se-á problemático, orientação da qual não destoa MICHELLI, quando afirma que “do ponto de vista processual, é necessário ter-se presente não tanto a abstrata hipótese legal, mas, antes, a concreta pretensão”86. A diretiva legal, evidentemente, pode ser válida para aquelas situações em que, diante da impossibilidade de inauguração de um processo dialógico entre as partes, acerca do direito controvertido, basicamente pela impossibilidade de acesso ao campo probatório (lembrando que, no modelo aqui defendido, não se pode estabelecer taxativa distinção entre o campo dos fatos e aquele denominado “de direito”), alguém deverá suportar o ônus de sua inação ou descuido, permitindo-se ao juiz valer-se de presunções que lhe sirvam como último recurso à superação do que denominamos acima de “impasse do processo decisório”. Como já visto, a prova se caracteriza por um ato lingüístico divorciado de qualquer mecanismo de correlação metafísica, que a situa em um contexto de comunicação dialógica, em que o que se afirma ingressará em um espaço dialético, onde têm participação garantida o juiz, as partes e, enfim, todo aquele que possa vir a ser afetado por um provimento judicial dela decorrente, tudo isso na busca de uma validação do ato discursivo no processo. Assim, a deflagração desse diálogo não pode ser cerceada por parâmetros estáticos, previamente estabelecidos, já que há um flagrante interesse público na consecução de um processo justo, meta jamais alcançada se a prova não for instaurada quando podia sê-lo, ainda que por iniciativa ou provocação do juiz. Efetivamente, a observância descontextualizada da regra insculpida no art. 333 do CPC acabaria por levar a situações anti-isonômicas e, sobretudo, injustas no processo, tal como o confirma FREDIE DIDIERJR.87: Sucede que nem sempre autor e réu tem condições de atender a esse ônus probatório que lhes foi rigidamente atribuído - em muitos casos, por exemplo, vêem-se diante 86 MICHELLI, Gian Antonio. L’onere della prova. Padova: Cedan, 1966, p. 494 apud apud JÚNIOR, Antonio Janyr Dall’agnol, ob. cit., p. 94. 87 JÚNIOR, Fredie Didier. Curso de direito processual civil. Vol 1. 6.ª ed. Salvador: JusPODIVM, 2006, p. 519. de prova diabólica. E, não havendo provas suficientes nos autos para evidenciar os fatos, o juiz terminará por proferir decisão desfavorável àquele que não se desincumbiu do seu encargo de provar (regra de julgamento). É por isso que se diz que essa distribuição rígida do ônus de prova atrofia nosso sistema, e sua aplicação inflexível pode conduzir a julgamentos injustos. De fato, ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder Judiciário para o descobrimento da verdade (CPC, art. 339), dever esse que, por óbvio, não é subtraído às partes. Essas são, por excelência, os destinatários do comando legal, porquanto, além de lhes ser vedado articular fatos inverídicos (CPC, arts. 14, I88 e 17, II89), devem, procedendo de boa-fé (CPC, art. 14, II90), subsidiar o debate para que a interpretação/aplicação do direito se dê. Por isso mesmo, ao juiz pós-moderno, que longe se encontra do modelo francês da boca que pronuncia as palavras da lei, deve ser ativo no processo, reconhecendo-se-lhe inclusive a possibilidade de determinar a produção de provas que entenda necessárias ao deslinde do caso que lhe foi submetido à apreciação, tal como autoriza o art. 130 do CPC91. E essa determinação não deve ser necessariamente coincidente com aquela regra de distribuição que vimos comentando (CPC, art. 333). No contexto em que estudada a prova, inserido na idéia de processo como suporte dialógico para a busca da verdade hermenêutica, os deveres processuais acima relacionados autorizam o juiz a, considerando as peculiaridades da situação concreta, verificar qual das partes detém maior disponibilidade das informações necessárias ao desenvolvimento do processo de apuração da verdade, dirigindo a ela a determinação para a produção da prova, independentemente da posição que ocupa na relação processual. Tal a denominada teoria da distribuição dinâmica das cargas de prova. São esclarecedoras as lições de ROBERTO VÁZQUEZ FERREYRA92: Estas reglas de distribución de la carga de probar atienden más que a la condición de actor o demandado, a la naturaleza de los hechos que deben ser probados. Ahora pude decirse que la carga probatoria es compartida, no bastando una actidud meramente passiva del profesional demandado. Este ya no se puede quedar cruzado de brazos pues eso lo llevaría a um resultado seguramente negativo. Ahora el profesional también debe aportar toda sua prueba para demonstrar que obró com diligencia, prudencia y pleno conocimiento de las cosas. (...) 88 CPC, art. 14. São deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo: I expor os fatos em juízo conforme a verdade. 89 CPC, art. 17. Reputa-se litigante de má-fé aquele que (...) II - alterar a verdade dos fatos. 90 CPC, art. 14. São deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo (...) II - proceder com lealdade e boa-fé. 91 CPC, art.130. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. (grifamos) 92 FERREYRA, Roberto Vázquez. Prueba de la culpa médica. Buenos Aires: Hamurabi, 1991, p. 110, apud É essa mobilidade da regra que permite flexibilizar o critério de distribuição das cargas segundo as peculiaridades concretas, superando as críticas que inicialmente destacamos. A despeito de ausência de norma expressa no CPC que acolha a teoria, certo é que o sistema a ampara, com base no dever de boa-fé processual imposto às partes, no princípio da solidariedade, na isonomia processual e também no devido processo legal, mormente se o considerarmos sob o viés substantivo. O próprio legislador, em inúmeras oportunidades, vem mitigando a rigidez do critério previsto no art. 333 do CPC, remanejando o ônus da prova para parte diversa daquela que o comando citado indicaria. Apenas para exemplificar, ilustramos com o art. 6.º do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que a esse assegura “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”. De notar-se que o redirecionamento do onus probandi não se dá por conta de presumida hipossuficiência93 do consumidor, mas quando essa, no caso concreto, for detectada pelo órgão julgador, segundo parâmetros hauridos da tradição ou, na linguagem do Código, conforme as “regras ordinárias de experiências“; bem como, a despeito de ausente aquela posição de inferioridade, quando diante da verossimilhança de suas a alegações. Ora, se diante de especificidades da situação concreta, o juiz se depara com posições díspares entre as partes, no que tange ao conhecimento da causa e da possibilidade de produção da prova, não pode ele, escorando-se em regra estática e pré-estabelecida, ignorar a situação e impor uma carga indevida a quem não tem, ou dificilmente terá, condições de suportá-la, porque, desse tratamento desconectado da realidade das situações das partes, não se pode dizer prestigiada a isonomia constitucional. Não é por outro motivo que LEONARDO GRECO afirma que a regra do art. 6.º, VIII, do CDC não é privativa das relações de consumo94: Convencendo-se, pelas circunstâncias do caso concreto, de que as regras legais de distribuição do ônus da prova tornarão excessivamente onerosa a prova da existência do direito pela parte a quem aproveita, deverá o juiz, em respeito às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa e, particularmente, à igualdade concreta de que devem desfrutar as partes ao aceso à Justiça, inverter o ônus da prova, exigindo da parte que está em condições mais favoráveis a prova do fato contrário, evidentemente, após intimá-la e dar-lhe ampla oportunidade de 93 Para fins de direcionamento da carga probatória, a hipossuficiência a que se refere o texto não deve voltar-se necessariamente ao aspecto econômico, tal como nos adverte ANTONIO JANYR DALL’AGNOL JÚNIOR (ob. cit., p. 96): Antes de mais, é necessário, de uma vez por todas, romper com a idéia de que a hipossuficiência do consumidor seja idéia que esteja ligada apenas com a deficiência econômico-financeira. É certo que pode isso se dar, mas, se alguma idéia merece generalização, é a de que o desequilíbrio que se tem em conta, quando se cuida de vulnerabilidade do consumidor, situa-se no campo do conhecimento. Protege a lei o consumidor porque ordinariamente se encontra, do ponto de vista da ciência, em pior situação do que o fornecedor. O desequilíbrio é, como se usa dizer por vezes, de ordem técnica ou científica. A verdade, porém, é que se trata de tutelar o insciente, isto é, o “non sachant”, de que fala François Chabas. 94 GRECO, Leonardo. Ob. cit., p. 8. desenvolver as atividades necessárias ao cumprimento desse novo ônus. Ao contrário do que se pode pensar, a regra do art. 6.º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor não é privativa das relações de consumo, aplicando-se em todas as hipóteses em que as regras do art. 333 do CPC venham a gerar uma concreta desigualdade entre as partes e tornar excessivamente onerosa a demonstração da verdade fática que a uma delas interessa. 4.1.6 DA CENSURA À INICIATIVA PROBATÓRIA Tal como ocorre no campo da distribuição da carga de prova, que não pode ser balizada por padrões estáticos, deslocados da análise da especificidade da situação concreta, o mesmo ocorre no campo do direito à prova. O processo é um espaço aberto à formação da verdade, é o âmbito hermenêutico próprio para o seu descortinar. É nesse meio em que o diálogo deve encontrar solo fértil para o seu desenvolver. Daí porque as partes devem ter franco acesso para a sua fala, e como definimos a prova como um ato lingüístico, não pode o juiz calar a parte ao negar preconceituosamente a sua produção, impedindo iniciativas probatórias sob o fundamento de que ele, pré-concebidamente, preconceituosamente, entenda que ela será desprovida de utilidade, ou ainda negá-las, mesmo com base em regras legais, quando destituídas de um suporte principiológico-constitucional válido. Não olvidando a existência de certas vedações e limitações legais em matéria de prova processual, decerto que devem ser justificadas segundo alguns objetivos, dentre os quais a garantia da boa marcha do processo, a sua celeridade, a preservação de direitos fundamentais, tais como a intimidade da pessoa etc. Entretanto, ainda que legalmente estipuladas, se comprometem a instauração do discurso processual necessário à busca da verdade hermenêutica, sem que encontrem substrato em alguns dos diversos critérios constitucionais noticiados, devem ser repudiadas pelo juiz. Nosso entendimento se alinha à posição de LEONARDO GRECO, adiante transcrita95: (...) o ordenamento jurídico, ao lado da busca da verdade, protege igualmente outros valores, como o respeito aos direitos da personalidade, ao sentimento de família ou a outros direitos fundamentais. A verdade a todo o custo, aduz RICCI, seria uma meta absurda, inconcebível em uma sociedade civil, com base na qual poderia justificar-se até a tortura e que reconduziria o processo à barbárie do passado. Também a investigação científica é obrigada a respeitar a dignidade humana. O que se pode questionar é se todas as regras que a lei institui como fundamentos de escusas probatórias encontram respaldo na necessidade de preservação de autênticos direitos da personalidade ou se, extravasando desse limite humanitário, são desvirtuadas no sentido de simplesmente obstarem a apuração da verdade. Essa suspeita se acentua pela falta de homogeneidade da descrição legal dessas escusas, como se verifica do disposto nos arts. 347, 363 e 406 do CPC. Nessa matéria, pelo caráter restritivo do direito à busca da verdade, não pode caber qualquer arbítrio judicial, como indevidamente preconiza o inciso V do art. 363, pois ao juiz não cabe por um suposto juízo de eqüidade privar o litigante do acesso à prova. 95 Ob. cit., p. 11. 5.0. DO SILOGISMO E DA SUBSUNÇÃO Essencialmente, o processo é o locus onde o juiz desempenha a sua missão constitucional de aplicar o direito. É o espaço, onde os interessados podem dialogar com o Estado, a fim de que a norma explicitada por ele para o caso concreto seja resultado de um iter democrático. Como espaço de compreensão e de determinação de sentido, é corrente a agregação de modelos epistemológicos que permitam alcançar esse escopo com segurança e uniformidade, afastando-se de subjetivismos dirigistas. Nesse contexto, partindo de alguns dogmas, como o da visão do direito como sistema completo, firmou-se implacavelmente o modelo subsuntivo, que haure as suas razões no silogismo aristotélico. O silogismo é um método de inferência que extrai uma conclusão, a partir de duas premissas: a maior e a menor. Vejamos um exemplo: os mestres são sábios, Dr. Ricardo Perlingeiro é um mestre, logo, Dr. Perlingeiro é um sábio. A premissa maior é a de que mestres são sábios; a menor, é a de que o Dr. Perlingeiro é mestre; e a conclusão é a de que o Dr. Perlingeiro é um sábio. Como regra de construção, busca-se a ligação dos termos extremos, o maior e o menor, a partir de um termo médio, presente nas duas premissas (no exemplo, seria o termo “mestre”), mas necessariamente excluído da conclusão. Essencialmente, o positivismo se vale desse recurso lógico. A aplicação do direito seria decorrente dessa dedução, em que a premissa maior seria a lei; a menor, o caso concreto; e a conclusão, a sentença. Assim, a tarefa do juiz seria a de simplesmente fazer a subsunção do caso concreto àquela unidade de sentido que é a lei. A norma jurídica, como estrutura lógica, seria composta por uma situação hipotética devidamente valorada, de forma a ensejar conseqüências jurídicas. Se dissermos, por exemplo, que aquele que pratica homicídio deverá ser apenado com reclusão de seis a doze anos, estamos diante da seguinte estrutura: se (Hn) então (DC); onde (Hn) é a hipótese normativa (a prótase), que veicula o tipo penal; e (DC) é o conseqüente da norma (a apódose), que obriga à aplicação de determinada pena96. Submetendo o direito ao processo de inferência em estudo, a premissa maior seria o enunciado prescritivo geral; a menor, o enunciado descritivo, constatativo da hipótese normativamente prevista; e a conclusão, o enunciado prescritivo individual97, que estatui a conseqüência normativamente prevista para o caso concreto. 96 O que, por si só, já acarreta um problema, porquanto nos remete a um novo juízo, qual seja o de fixar concretamente a pena no âmbito da escala legalmente estabelecida. 97 Na verdade, já nos deparamos com outro problema, uma vez que a sentença não afirma que se deve punir o infrator, por haver sido constatada a prática do crime e a ele atribuída a autoria, mas efetivamente o pune. Estamos diante de um enunciado performativo, onde se verifica um salto do plano do discurso par ao da ação. A operacionalidade do modelo seria simples. Bastaria um juízo de constatação da realidade, hipoteticamente prevista, para que, por um ato jurídico, houvesse a incidência da norma sobre o fato concreto. Ou, em outra perspectiva, a subsunção do caso concreto à norma. A prova assumiria relevante papel nesse contexto, na medida em que compreenderia os meios pelos quais o juiz concluiria pela real existência dos fatos e da sua identidade com o suposto normativo, presente no texto legal. Portanto, elemento imprescindível para a identificação daquela proposição que denominamos premissa menor. Em primeiro lugar, o que o modelo não esclarece é que esse enquadramento pressupõe a compreensão da norma, que passa a ser objeto de nossa experiência; e, em segundo, que o fato do mundo sobre o qual ela incidiria também é objeto de compreensão. Ao contrário do que pretendem, não se trata de mera constatação do fato, mas compreensão mesmo, já que estamos no campo da valoração do evento. Assim, não há como cindir esse processo em dois momentos distintos. Essa fragilidade do modelo foi sentida por FERRAJOLI98, como se depreende do excerto seguinte, em que ele faz menção aos espaços de poder na atividade judicial: O juiz não é uma máquina automática na qual por cima se introduzem os fatos e por baixo se retiram as sentenças, ainda que com a ajuda de um empurrão, quando os fatos não se adaptem perfeitamente a ela. 13 A idéia de um silogismo judicial perfeito, que permita a verificação absoluta dos fatos legalmente puníveis corresponde (...) a uma ilusão metafísica: com efeito, tanto as condições de uso do termo verdadeiro quanto os critérios de aceitação da verdade no processo exigem inevitavelmente decisões dotadas de margens mais ou menos amplas de discricionariedade. Em conseqüência, na atividade judicial existem espaços de poder específicos e em parte insuprimíveis, que é tarefa da análise filosófica distinguir e explicar para permitir sua redução e controle. (grifamos) Esses espaços a que se refere o autor são agrupados em elementos de cognição e de disposição, os quais entrariam na composição do poder judicial. No primeiro grupo, três subespaços seriam encontrados, a saber: o poder de indicação, o poder de comprovação probatório (ou de verificação fática) e o poder de compreensão eqüitativa. Esses últimos são os que se mostram interessantes ao presente trabalho, mormente diante da sua assertiva quanto à irredutibilidade desses espaços, que se configuram como fisiológicos da atividade judicial99. O poder de indicação jurídica está relacionado à questão da interpretação da lei (aqui empregada em seu sentido lato). Assevera o autor que ela nunca é uma atividade exclusivamente recognitiva, mas fruto de uma escolha prática a respeito das hipóteses interpretativas alternativas, que 98 99 FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. 2.ª ed. São Paulo: RT, 2006, p. 42. Ob. cit., p. 44. se esgota inevitavelmente no exercício de um poder de indicação ou qualificação jurídica dos fatos julgados100. O poder de verificação fática aponta para a conclusão de que a prova empírica dos fatos na se resume apenas em uma atividade cognitiva, revelando-se sempre em um poder de escolha, fruto de um processo indutivo de onde exsurge uma conclusão mais ou menos provável. O poder de conotação eqüitativa revela a atividade valorativa do juiz na apreciação dos fatos. 101 Confira : além de comprovar os fatos abstratamente indicados na lei como pressupostos da pena, o juiz deve discernir as conotações que convertem cada fato em diverso dos demais, por mais que estes pertençam ao mesmo gênero jurídico. Tais conotações nunca são legal e totalmente predeterminadas, pois em grande parte vêm remetidas à eqüidade do juiz, que. segundo mostrarei, é uma função cognitiva, que sem dúvida inclui uma atividade valorativa. Conquanto torneado em feições diversas, parece-nos que a sistematização empreendida por FERRAJOLI se alinha à nossa advertência quanto à impossibilidade de prosperar o modelo silogístico puro, porque essencialmente sustentado em um conceito de verdade correlacional, apoiado em um binômio sujeito-objeto metafísico já ultrapassado, bem como por olvidar que as premissas envolvidas no processo de inferência não são um dado, mas fruto da compreensão humana, a qual, se bem aceita em relação à premissa maior (a norma jurídica), costuma ser negligenciada quanto à valoração dos fatos102. Nem mesmo no âmbito das teorias da argumentação jurídica, o apoio ao modelo silogístico pode contar com uma adesão incondicionada, uma vez que, na lógica formal, a validade do argumento pode decorrer de proposições verdadeiras ou falsas, situação insustentável no campo da aplicação do direito. Por exemplo, se digo que tartarugas são mamíferos (proposição p) e que mamíferos voam (proposição q), então concluo que tartarugas são seres voadores (proposição conclusiva). Do ponto de vista lógico o argumento absurdo é válido, embora fundado em proposições inverídicas. Esse é um dos motivos de insatisfação com o argumento dedutivo, a que se reporta MANUEL ATIENZA, qual seja, a de que a respectiva lógica “só nos oferece critérios de correção formais, mas não se ocupa das questões materiais ou de conteúdo”103. A par de outros inconvenientes de ordem interna, não raro as premissas são permeadas de elementos valorativos, tal como ocorre, v.g., nos tipos penais em que se introduzem elementos 100 Ob. loc. cit. Ob. cit., p. 43. 102 Mais ainda, porque não se pode interpretar a norma, desvinculando-a de um caso concreto (não há norma fora de um determinado contexto), de um conjunto fático específico, enfim, da própria aplicação do direito. 103 ATIENZA, Manuel. As razões do direito: teorias da argumentação jurídica. 2.ª ed. São Paulo: Landy, 2002, p. 33. 101 normativos104, como “mulher honesta”, “indevidamente”, “sem justa causa”, “dignidade”, “decoro”; ou ainda quando, nas normas em geral, introduzem-se “conceitos jurídicos indeterminados”, tais como “boa-fé”, “interesse público”, “ordem pública” etc. Assim, a constatação da “premissa menor” é na verdade submetida a um processo compreensivo, valorado. Ademais, como bem salienta MANUEL ATIENZA, “o estabelecimento da premissa menor do silogismo judicial, a premissa fática, pode ser o resultado de um raciocínio do tipo não dedutivo. O mesmo pode acontecer com relação ao estabelecimento da premissa maior, da premissa normativa”105, tal como ocorre no raciocínio por analogia. Nessas hipóteses, em que as próprias premissas devem ser justificadas, estamos no âmbito do que o autor denomina de justificação externa106. Ora, parece-nos que o silogismo, longe de ser um processo de construção da conclusão, funcionaria mais como um discurso de fundamentação dela. Se é assim, e invariavelmente necessitamos de um procedimento de justificação externa ao próprio silogismo para validá-lo, então é questionável o seu próprio uso. A despeito de termos avançado nas críticas, com o intuito de desmistificar a possibilidade de edificação exclusivamente lógica do direito. Não perdemos de vista o foco, qual seja, a questão da prova na atividade judicial. Ela se conecta ao tema, na medida em que, por esse difundido modelo de argumentação, a premissa menor seria por ela constatada. Portanto, estamos no âmbito da finalidade da prova judiciária, que aqui passa a assumir uma feição diferenciada. Prosseguindo na exposição, é oportuna a distinção introduzida por GREGORIO ROBLES107, acerca da contemplação e da constituição fática. Mistifica-se o ideal contemplativo do fato jurídico, quando, em verdade, a linguagem o constitui. O autor toma o exemplo do homicídio para melhor esclarecer a questão. Imagina-se a pré-existência da ação em relação à norma que a proíbe, mediante a cominação de determinada pena. Entretanto, não se trata desse perfil contemplativo. A norma jurídica é que constitui a ação do homicídio, porque atribui um sentido próprio ao ato de matar, somente captável por um ato valorativo. Nas palavras do autor108: A ação ser ia preexistente a norma, e esta se limitaria a regular a ação preexistente. Assim, a ação física de matar alguém preexistiria à regulação normativa, e esta se limitaria a proibir tal ação através da imposição de sanções aos infratores. Trata-se de uma visão de senso comum que, contudo, não se adapta a característica essencial do direito de ser um âmbito ôntico-prático de caráter constitutivo-regulador. As 104 Elementos normativos do tipo penal são aqueles “componentes que exigem, para a sua ocorrência, um juízo de valor dentro do próprio campo da tipicidade (...) cuida-se de pressupostos do injusto típico que podem ser determinados tão-só mediante juízo de valor da situação de fato” (JESUS, Damásio E. de. Direito penal: parte geral. Vol. 1. 11.ª ed. São Paulo: Saraiva1986, p. 238). 105 Ob. cit., p. 47. 106 Quando a justificação se refere à validade da inferência, a partir das premissas dadas, fala-se em justificação interna. Ao contrário, se o que se põe à prova é o caráter menos ou mais fundamentado de suas premissas, fala-se em justificação externa (ATIENZA, ob. cit., p. 51.) 107 ROBLES, Gregório. O direito como texto. São Paulo: Manole, 2005. 108 Ob. cit., p. 36. normas do direito não se limitam a regular ações, mas, ao mesmo tempo, e até com prioridade, constituem as ações. Sem norma não há homicídio, ainda que exista a ação física de matar. A prova disto e que a ação tísica de matar pode corresponder ao cumprimento de um dever, como ocorre com o soldado em guerra, o carrasco na execução, a polícia diante de um franco atirador que haja provocado pânico... Nestes casos, não só dizemos que estas pessoas não cometeram delito, como ainda consideramos que cumpriram um dever jurídico. E prossegue109: A solução deste aparente paradoxo esta em que a ação não e apenas um movimento físico ou psíquico-tísico, não é um acontecer meramente factual, mas um significado, um sentido. A ação é o sentido que um determinado movimento psíquico-físico tem. Mas o mesmo movimento pode ter vários significados, que dependerão do contexto situacional dentro do qual se insere a ação, e, em última análise, do discurso comunicacional ao qual pertença. Em outras palavras, para determinar a ação será necessário interpretar o movimento psíquico-físico no âmbito de um determinado texto, de modo que a partir deste texto aquela ação adquira o sentido que lhe cabe. Contudo, esta operação hermenêutica pressupõe conceber a ação também como texto. Depreende-se daí que não só a norma (premissa maior) não pode ser confundida com o seu texto, sendo imprescindível um ato de revelação de cunho hermenêutico, inseparável do contexto de referência, portanto, um ato atributivo de sentido (o que acaba por levar à falência a concepção da norma como um dado pelo órgão elaborador do seu texto); mas também o fato jurídico (premissa menor) não é fruto de um juízo de mera constatação, contemplativo, mas carregado de sentido, por um processo dialético de compreensão, em simbiose com a própria norma, daí porque nos permitimos qualificá-lo de hermenêutico110. Afirmar que há o conhecimento do fato para submetê-lo a uma valoração a posteriori, ou ainda que tal valoração é feita a priori, estando contida na norma, não se coaduna com a atividade précompreensiva, própria da visão hermenêutica aqui presente. O fato não é algo per si, mas algo para nós, inserido em um contexto integrado também pelo sujeito. Pensar o contrário é retroagir a uma lógica de inferência subsuntiva própria do pensamento metafísico, como já afirmamos, articulado no superado esquema sujeito-objeto, idealizada pelo positivismo, o que nos leva ao que LÊNIO STRECK denominou de “exorcismo da realidade”. Confira111: É preciso chamar a atenção para o fato de que vivemos ainda em um mundo jurídico que busca exorcizar os fatos e conflitos tratados pelo Direito, isto é, em um mundo em que a metodologia jurídica continua com a função de promover a desvinculação 109 Ib ibiden. Embora sem criticar o silogismo, mas o redesenhando, ROBLES confirma a natureza interpretativa do ato de captação do sentido da ação, ao afirmar que “para subsumir é preciso interpretar, pela perspectiva do discurso do texto em que se contempla genericamente a ação, os movimentos que ocorrem na realidade” (ob. cit., p. 38) 111 STRECK, Lênio Luiz. Interpretar e concretizar: em busca da superação da discricionariedade do positivismo jurídico, in Olhares hermenêuticos sobre o direito: em busca de sentido para os caminhos do jurista. Porto Alegre: Unijuí, 2006, p. 331. 110 do caráter historicamente individualizado do caso que esteja na sua base para atingir o abstrato generalizável e comum. Por isso, continua o renomado autor, uma crítica consistente ao positivismo deve superar a redução da norma ao texto do ordenamento jurídico, a uma ficção artificial, da solução do caso a um processo logicamente inferível por meio do silogismo112. Em suma, há efetivamente duas grandes lacunas que se evidenciam na análise do método proposto, ambas centradas na questão hermenêutica: primeiro, que entidade é essa, a norma jurídica, em cujo âmbito eu devo enquadrar o fato concreto? Segundo, partindo do pressuposto que aquela entidade autônoma teria sido evidenciada no pensamento humano, o fato a ser a ela subsumido não deveria passar também por um procedimento compreensivo, a fim de que fosse determinado? Essa dicotomia abstrata, direito versus fato, costuma levar à menção corrente entre “questão de direito” e “questão de fato”, cuja crítica adiante aprofundamos. 5.1 “QUESTÃO DE FATO” E “QUESTÃO DE DIREITO” O modelo subsuntivo clássico se fragiliza ao pressupor uma idealidade de um mundo duplo: de um lado, os fatos; e de outro, o direito. Mundos esses que estariam aptos a uma conexão lógica, por meio de um simples ato humano de inferência113. A questão carece de maior detalhamento, porquanto, como bem colocou GUASTINI, “Freqüentemente os juristas falam como se cressem na existência de um enigmático reino do direito, distinto do comum mundo dos fatos e que se opõe a este”, entretanto, “as relações entre direito e fatos são bem mais complexas do que leva pensar o modo comum de exprimir-se”114. Efetivamente, assiste razão ao autor. O modelo subsuntivo esbarra em problemas graves, como já evidenciamos. Primeiro, porque a norma não pode ser confundida com o seu texto, razão pela qual, a premissa maior não pode ser considerada um dado pronto para a operação lógica de inferência. 112 Ob. cit., p. 334. Para alguns, sequer tal ato seria necessário, bastando, a título de exemplo, visualizar quão profícuos são os manuais de direito tributário onde, afirmando a natureza declaratória do ato de lançamento e escorados no modelo subsuntivo, seus autores vêem a hipótese de incidência tributária magicamente projetando efeitos sobre o campo fático, de forma automática, daí resultando o surgimento da obrigação tributária, independentemente de qualquer ato humano, mas pela simples ocorrência do fato hipoteticamente previsto na norma jurídica. Eis a crítica contundente de PAULO DE BARROS CARVALHO (Direito tributário: fundamentos jurídicos da incidência. São Paulo: Saraiva, 2.ª ed., 1999, p. 108), citando GASTON JÈZE: um fato material não é nunca, desde o ponto de vista da técnica jurídica, mais que a condição de aplicação a um indivíduo de um ‘status’ legal, ou condição para o exercício de um poder legal. Mas, jamais um fato, um ato material, cria uma situação jurídica qualquer. A situação jurídica geral não pode ser criada mais que por uma manifestação de vontade denominada lei ou regulamento; a situação jurídica individual não pode ser criada mais que por uma manifestação unilateral ou bilateral de vontade. Em outros termos, requer-se sempre um ato jurídico, uma manifestação de vontade no exercício de um poder jurídico. (grifamos). 113 114 GUASTINI, Riccardo. Das fontes às normas. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 57. Ao contrário, pressupõe um procedimento de compreensão, do qual não se prescinde do cotejo com o mundo fático. A negação dessa premissa nos conduz àquele exorcismo da realidade de que nos advertia LÊNIO STRECK. Além disso, RICCARDO GUASTINI prossegue afirmando que do juiz são exigidas duas operações distintas e indissolúveis, a saber: a verificação da ocorrência dos fatos em questão; e a avaliação desses fatos115. À primeira operação denominou “verificação factual” e à segunda de valoração jurídica, a qual, por sua vez, ou se resumiria em um problema de interpretação ou em um juízo de qualificação dos fatos (subsunção). Tratando-se de interpretação, estaríamos diante de uma “questão de direito”; ao passo que, se de mera verificação factual ou problema de qualificação dos fatos, “questão de fato”. Quanto à “verificação factual”, a questão estaria ligada a uma constatação indireta, porque o juiz, salvo situações excepcionais, somente deles poderia manter um contato mediato, através da prova, tida como um fato que induziria à consideração de ocorrência de um outro116. E esse processo de inferência não seria lógico-dedutivo, mas derivado do que GUASTINI denominou de congruência narrativa. Explica o autor117: Observa-se que o conceito de congruência narrativa é um tanto fugaz. A congruência assemelha-se à coerência lógica, mas é diferente desta. Enquanto a coerência é uma qualidade negativa (ausência de contradições), a congruência é uma qualidade positiva. Ademais, enquanto a coerência é um conceito de dois valores (um conjunto de proposições ou é coerente ou não é), a congruência é questão de grau (um conjunto de proposições pode ser menos congruente do que um outro, sem, no entanto, ser incongruente). Assim, mesmo diante do juízo constatativo, se pudesse existir autonomamente, alguns problemas já seriam enfrentados, a justificar o afastamento do modelo simplista do silogismo. Contudo, constatar e avaliar ou qualificar um fato (melhor denominarmos compreender o caso sob um prisma normativo) não são operações cindíveis, tampouco podem subsistir destacadas da interpretação da norma, porquanto interpretação é aplicatio. Daí porque a divisão entre “questão de direito” e ”questão de fato” não se sustenta, já que para o juiz o cerne do problema não é um fato bruto, mas um fato jurídico, devidamente qualificado por uma norma, norma essa que não nos é dada previamente, mas evidenciada caso a caso. Questão de fato, no processo, serão sempre questões de direito e vice-versa, uma vez que é impossível a cisão do direito com a “realidade”. Os fatos para o juiz serão sempre abordados em um panorama valorativo, sempre objeto da sua compreensão, o que nos leva à sua interpretação. 115 Ob. cit., p 70. GUASTINI, ob. cit., p. 70. 117 Ob. cit., p. 71. 116 Assim, o móvel e fim do processo é a hermenêutica. O próprio GUASTINI já sinaliza para uma crítica. Confira: A interpretação judicial (...) é uma interpretação ‘orientada para os fatos’, já que o raciocínio judicial é sempre impulsionado por um preciso caso particular concreto: os juízes não se perguntam qual é o significado de um texto normativo ‘em abstrato’, mas se perguntam se um dado caso particular cai ou não dentro do campo de aplicação de uma certa norma. Por outro lado, uma vez que não subsiste nenhuma diferença lógica entre as questões de interpretação dos textos e as questões de qualificação dos casos particulares, não parece possível traçar uma linha nítida de discriminação entre os dois tipos de abordagem: trata-se claramente de dois modos diferentes de enfrentar o mesmo problema. Alertamos que o atual discurso não nos afasta do foco da questão – a prova. Nos compêndios, é comum a sistematização do tema, desmembrando o seu estudo, através da pontuação de alguns subtemas, tais como, o conceito de prova (que já abordamos em caráter preliminar), a sua classificação, o objeto da prova, os meios de prova, a finalidade da prova e os sistemas da valoração da prova. No último subitem é que a questão ora estudada se insere. É extremamente equivocado falar-se em juízo de mera constatação em matéria de prova judiciária, ao qual estaria ligada uma mera “constatação factual”, seja porque ela está cercada de particularidades no processo, seja porque não pode subsistir independentemente do problema da qualificação fática e, portanto, da hermenêutica. 6.0 CONCLUSÃO 1. O conceito de prova não é unívoco na doutrina, tampouco no seu uso vulgar. Essa vaguidade do termo não nos impede de mostrar seus usos comuns, ora referido subjetivamente à convicção que produz no julgador acerca da verdade; ora objetivamente, como instrumento para alcançá-la, comumente associada à noção de meios de prova. 2. Dessa aproximação conclui-se pela íntima relação entre prova e verdade, o que exige um aprofundamento dessa. Em um modelo tradicional, verdade exprime uma relação de correspondência entre uma afirmação e a realidade que denota. 3. A teoria da correspondência não se ajusta ao modelo hermenêutico de verdade, porquanto centrado na correlação sujeito versus objeto, imagem versus representação, substância versus forma, todos conceitos duais hauridos da metafísica clássica, já ultrapassada, porque não consegue precisar a que realidade deve a enunciação corresponder para ser verdadeira, bem como porque pressupõe a existência de um mundo objetal dado. 4. A noção absoluta de fato como entidade autônoma da consciência não prospera, porquanto fato não é algo concreto, sensível, mas um elemento lingüístico capaz de organizar uma situação existencial como realidade. A própria realidade, o mundo real, não é um dado, mas uma articulação lingüística mais ou menos uniforme num contexto existencial118. 5. Se a verdade como correlação ideológica do fato com a sua representação não pode prosperar; a certeza, como convicção dessa correlação, também não se sustenta. Conseqüentemente, a noção de prova como elemento de que deriva essa certeza há que ser superada. 6. HABERMAS, desvencilhando-se do modelo criticado, propôs uma teoria discursiva para a verdade, de sorte que um predicado somente poderia ser tido como válido se fosse constatado um consenso acerca da predicação, obtido em meio a um auditório universal idealizado. Assim, a verdade das proposições estaria submetida à possibilidade de um acordo potencial com os demais. Faz-se assim uma transição do esquema metafísico, desprendendo a justificação de uma afirmação da verdade do que é afirmado e conectando-a à justificação da afirmação mesma. No dizer de ALEXY119, o conceito de verdade é enviado do nível da semântica para o nível da pragmática. 7. Esse aporte da teoria dos atos de discurso, em que HABERMAS explicitamente se baseia na semiótica pierceana, realça a idéia de verdade como juízo dialógico. Nas palavras do próprio autor, o mundo como síntese de possíveis fatos só se constitui para uma comunidade de interpretação. 8. Da verdade só se tem a sua interpretação, sendo essa última histórica e pessoal, o que revela a fecundidade da verdade, em suas múltiplas formulações. 11. Retornando ao campo da prova, com o aporte das teorias discursivas, conclui-se que ela, divorciada de qualquer mecanismo de correlação metafísica, evidencia-se no seu caráter lingüístico e, sobretudo, pragmático, que a situa em um contexto de comunicação dialógica, em que o que se afirma ingressará em um espaço dialético, não limitado pelo locutor e o juiz, mas também com ingresso garantido às partes, na busca de uma validação do ato discursivo no processo. 12. Se o valor perene a que se aspira pelo processo é a justiça, melhor desprender-se dessa ultrapassada noção de verdade como substrato da decisão justa, para apoiá-la no respeito ao catálogo de garantias constitucionais do processo e do jurisdicionado, em especial no vetor garantístico do contraditório. Para tanto, conceituamos prova como o ato lingüístico submetido ao discurso dialógico, que visa à construção de um ato jurídico relevante para o processo. 13. Se a prova é um instrumento que intermedeia o fato ao intérprete, a fim de que, nesse processo, ele penetre a verdade, formulando-a; e se a sua fecundidade está sempre aberta a novas formulações, fruto de um discurso dialógico entre os interessados, essa pretensa abertura contínua do sujeito ao tema discutido afrontaria os caros ideais de estabilidade das relações, da segurança jurídica, da pacificação dos conflitos, que assim se eternizariam. Por isso, são necessários mecanismos formais de contenção do discurso no tempo, a fim de que ele não se perpetue juntamente com o processo. 118 119 Ferraz Jr., ob. cit., p. 270. Ob. cit., p. 93. Nesse contexto, os institutos da preclusão e da coisa julgada se apresentam como conciliadores dessa mutabilidade histórica que lhe é inerente com os ideais mencionados, impedindo a renovação ou a prática intempestiva de atos probatórios no processo. 14. Há efetiva correlação entre os temas da prova e da coisa julgada porque, não se resumindo a primeira à singela prática de atos visando à absoluta verdade dos fatos, mas a uma verdade hermenêutica, com intensa e inafastável projeção do humano, o ato valorativo é elemento constitutivo da verdade, de forma que, na fase recursal, pela reabertura da discussão processual estar-se-ia reinaugurando o diálogo, apto à renovação da verdade, não se podendo, com isso, afirmar que estamos divorciado do contexto probatório. 15. Em outro extremo surge a questão do non liquet. Apoiado no modelo de verdade como interpretação, e essa como ato de penetração do sujeito sobre algo que se lhe abre à compreensão, quid se esta abertura não é constatada, porque não há provas, ou se há, são inacessíveis, impertinentes ou insuficientes, mas mesmo assim, o juiz é obrigado a decidir a causa? A situação de lacuna probatória é resolvida pelo manejo de mecanismos legais que fixam presunções e ficções jurídicas, úteis na superação desse impasse decisório. 16. Superando as diversas classificações e distinções estabelecidas na doutrina e expostas ao longo do trabalho, podemos atribuir às presunções qualquer elemento que provoca um comportamento reflexivo induzido no órgão julgador quanto às situações relevantes para o deslinde da questão submetida à apreciação judicial. 17. Dentre as presunções é relevante destacar que umas são estabelecidas com referência a uma proposição-base e outras independentemente dela. A relevância deriva da diversidade dos meios impugnatórios disponíveis ao seu ataque. 18. As denominadas presunções absolutas são anacrônicas e retrógradas. Revelam-se piores que o sistema de provas legais, já que, se nesse havia standards valorativos para as provas produzidas, naquelas é a própria valoração que é antecipada pelo legislador, sem a intermediação de provas e até mesmo contra elas! 19. De fato, pretender a constituição prévia de fatos jurídicos pelo legislador consiste em usurpação de competência. No âmbito da fenomenologia há que se insistir na diferenciação entre o texto e a norma. Essa última somente se mostra no momento da aplicação, como resultado do processo hermenêutico, de forma que não é dado ao legislador antecipar-se a um sentido desconhecido, sob pena de recairmos em verdadeiro exorcismo da realidade. 20. As preclusões processuais, assim como as presunções, tocam a questão do ônus da prova. A par da fixação de critérios estáticos e subjetivos no codex processual civil sobre o tema, a visão do processo como espaço para a construção da verdade hermenêutica, os deveres processuais impostos às partes, como os da boa-fé, da solidariedade, da colaboração com a Justiça; bem assim os princípios constitucionais da igualdade e do devido processo legal (e seus consectários, como o do contraditório), aliados ainda ao papel ativo reservado ao juiz no processo, tudo isso recomenda a adoção de mecanismos dinâmicos de distribuição da carga de prova, vinculados a especificidades da situação concreta, tal como o previsto no art. 6.º, VIII, do CDC, que, em atenção aos princípios acima mencionados, sobretudo o da igualdade, deve ser extrapolado a outras relações processuais além daquelas de consumo, de forma a imputar o ônus da prova àquele que melhor condições, com menor sobrecarga, possa desincumbir-se do encargo. 21. Por outro lado, escusas probatórias, ainda que legalmente previstas, somente podem ser acolhidas se os valores atrelados à norma forem consentâneos com a trama principiológica plasmada na constituição. Jamais podem ser tolerados impedimentos ao direito de provar da parte, fundado em preconceituosa conclusão judicial acerca da sua desnecessidade, porquanto estaria tal conduta em desacordo com a própria noção de prova processual, uma vez que comprometem a instauração do discurso processual necessário à busca da verdade hermenêutica. APÊNDICE - DA METAFÍSICA Ao longo do estudo, o emprego da expressão “metafísica” foi reiterado, razão pela qual, visando a uma melhor compreensão do texto, optamos por delinear superficialmente o tema, de forma descartada do corpo do texto principal, viabilizando a sua leitura apenas aos interessados, sem comprometimento da idéia principal com encartes que só de forma mediata tocam a idéia principal. 1 DA ORIGEM DA EXPRESSÃO É longínqua a preocupação do homem com os problemas do conhecimento, o que é ele e quais as suas possibilidades, os seus limites. A existência de algo, o porquê dele existir, o que é o que existe e por que existe, são, dentre tantas outras, algumas das perguntas que estarrecem o homem, desde os primórdios. O mundo se apresenta em uma base ordenada, o cosmos, daí porque estudá-lo e compreendêlo era objeto de uma cosmologia, ciência voltada à busca do princípio ou causa primeira que a tudo ordena, denominada pelos filósofos de physis. “A cosmologia seria então a explicação racional sobre a physis do Universo e, portanto, uma física”120. A expressão metafísica teria derivado do trabalho de compilação das obras de Aristóteles, por Andrônico de Rodes, por volta do ano 50 a.C.121, precisamente porque referida a um conjunto de escritos que se situavam após os trabalhos aristotélicos sobre a física e a natureza, daí a denominação ta meta ta physika (ou seja, aqueles escritos situados além dos escritos sobre a física). Assim, valeria a expressão por seu caráter meramente ordenador da obra aristotélica. Entretanto, a expressão possui um significado mais abrangente do que o meramente topográfico. Aristóteles reservou à sua Filosofia Primeira, o estudo do que é essencial, transcendental, a substância primeira de todas as coisas, portanto, as coisas que estão acima das físicas, a metafísica. Como preleciona MARILENA CHAUÍ122, o vocábulo não quer dizer apenas o lugar onde se encontram os escritos posteriores aos tratados de física, não indica um mero lugar num catálogo de obras, mas significa o estudo de alguma coisa que está acima das coisas físicas ou naturais e que é condição da existência e do conhecimento. No mesmo sentido, GIOVANNI REALE123: Todavia, por feliz coincidência, a expressão TA META TA PHYSIKA, quando se dá a meta O sentido de além ou acima, assume um significado que se presta 120 CHAUÍ, Marilena. Convite à filosofia. 12.ª ed. 5.ª impressão. São Paulo: Ática, 2002, p. 209. A despeito da notícia histórica, a origem do termo não é pacífica entre os historiadores, como noticia Giovanni Reale: “O título deve ter surgido no século I a. C., pouco antes de Nicolau: portanto, justamente na época da publicação da edição de Andrônico. Ele teria sido cunhado ou pelo próprio Andrônico para a publicação dos escritos aristotélicos, ou teria surgido imediatamente na ordem da publicação, os livros de filosofia primeira vinham depois dos de física” (REALE, Giovanni. Metafísica. Vol. I. São Paulo: Edições Loyola, 2001, p. 27. 122 Ob. cit., p. 210. 123 Ob. cit., p. 28. 121 perfeitamente para indicar o próprio conteúdo, ou seja, a pesquisa sobre o ser suprasensível e transcendente, que é objeto dos catorze livros aos quais tal expressão foi imposta como título. Por isso a posteridade, desde muito cedo, em vez da originária fórmula aristotélica "filosofia primeira" e de outras análogas das quais falaremos, preferiu o termo "metafísica" porque, prescindindo das eventuais intenções de quem o cunhou, ele exprime de modo mais atual, mais eficaz e mais fecundo o que Aristóteles tem em vista nos catorze livros, ou seja, a tentativa de estudar e determinar as coisas que estão acima das físicas, ou seja, além delas, e que, portanto, podem muito bem ser qualificadas de meta-físicas. 2 DA METAFÍSICA EM ARISTÓTELES Na obra aristotélica, a metafísica tem múltiplas acepções, porém, todas convergindo para um mesmo campo semântico. Inicialmente, pode-se vê-la como “ciência ou conhecimento das causas e dos princípios primeiros ou supremos”. Posso, por exemplo, saber empiricamente se determinado medicamento é eficaz no combate a certa doença e, assim, estou ciente de que a coisa é dessa forma. Contudo, isso não me garante o conhecimento do porquê da coisa ser como ela é (por que o remédio cura!). Para tanto, necessário saber a sua causa, o seu princípio, assim entendido o porquê da própria coisa. Ao se conhecer a causa ou princípio de algo, tenho ciência da coisa. A ciência será metafísica, se o conhecimento se detiver às causas primeiras, aquelas que condicionam toda a realidade, as causas e os princípios que fundam os seres em sua totalidade. Expressando-se de outra forma, a metafísica seria a “ciência do ser enquanto ser”. O recorte da realidade torna o seu objeto, como realidade particular, restrito à determinada ciência, como a matemática, a astronomia etc. A metafísica estaria voltada ao universal, ao ser enquanto ser. São expressivas as palavras do próprio Aristóteles: Existe uma ciência que considera o ser enquanto ser, e as propriedades que lhe competem enquanto tal. Ela não se identifica com nenhuma das ciências particulares: de fato, nenhuma das outras ciências considera universalmente o ser enquanto ser, mas. delimitando uma parte dele, cada uma estuda as características dessa parte. Assim o fazem, por exemplo, as matemáticas. Para não nos alongarmos muito, finalizaremos com a concepção da metafísica como teoria da substância. Para Aristóteles, a metafísica compreenderia o estudo das propriedades gerais de todos os seres, aquilo que têm de essencial e sem o que o ser não seria o que é. Essa essência inerente a todos os seres, Aristóteles denominou de substância. 3 DAS TEORIAS METAFÍSICAS Deixemos por ora de lado a metafísica aristotélica e retornemos na linha do tempo a Parmênides e Heráclito. Esse último afirmava que o mundo era transformação. A mutabilidade a sua regra. O mundo seria esse fluxo perpétuo onde nada permanece idêntico a si mesmo (...) Nossa experiência sensorial percebe o mundo como se tudo fosse estável e permanente, mas o pensamento sabe que nada permanece, tudo se torna contrário a si mesmo124. A seu turno, Parmênides afirmava uma contradição nessa linha de raciocínio, porquanto restava afetado o princípio lógico da não contradição, já que não se pode ser algo e não ser. Assim, o que realmente existe seria imutável, seria o Ser. Propôs então a distinção entre o pensar e o perceber. O câmbio contínuo, a mudança, seria decorrente de ilusões sensoriais, próprio da percepção, que se atém às aparências. Por detrás delas, aí então poderíamos contemplar o Ser enquanto tal. Platão, por sua vez, dizia assistir razão a Heráclito, porque o mundo material estaria em constante mutação, mas esse seria um mundo de aparências, que não poderia ser confundido com o mundo verdadeiro, onde defrontaríamo-nos com essências imutáveis, o mundo inteligível. Aristóteles superou essa dicotomia do mundo proposta por Platão, aceitando a mudança como realidade não aparente, não ilusória. No mundo constataríamos seres tendentes à mudança e outros não, tudo a depender da sua essência mesmo, que permitiria a alguns, modificar-se, em razão das suas potencialidades (daí a minuciosa categorização conceitual por ele proposta: primeiros princípios, causas primeiras, matéria, forma, potência, ato, essência, acidente etc.). Aristóteles, ao estabelecer que a essência verdadeira das coisas naturais e dos seres humanos e de suas ações não está no mundo inteligível, separado do mundo sensível, mas nas próprias coisas, no homem mesmo e nas suas ações, é tido como o marco de surgimento da metafísica. A idéia que se projeta adiante, evidentemente com certas adaptações, tem por base a noção metafísica de que as coisas existem e são o que são por si mesmas, em razão de essências ou substâncias nelas mesmas contidas. O objeto do conhecimento seria então a extração cognitiva dessa realidade em si mesma, não importa o processo (na nossa perspectiva). Portanto, o que é essencial para o nosso estudo é identificar, nas teorias metafísicas, e aí não estamos nos restringindo ao modelo aristotélico, esta separação entre o sujeito cognoscente e o objeto cognoscível, como se a realidade fosse um dado, apto a ser apropriado pela consciência humana, tal como ela (realidade) é em si mesma, em sua essência ou substância, independentemente de nós. 124 CHAUÍ, Marilena, ob. cit., p. 180. REFERÊNCIAS ATIENZA, Manuel. As razões do direito: teorias da argumentação jurídica. 2 ed. São Paulo: Landy, 2002. BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Ônus da prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário: fundamentos jurídicos da incidência. 2.ª ed. São Paulo: Saraiva, 1999. CHAUÍ, Marilena. Convite à filosofia. 12.ª ed. 5 impressão. São Paulo: Ática, 2002. CINTRA, Antonio Carlos de Araújo et al. Teoria Geral do Processo. 11 ed. São Paulo: Malheiros, 1995. DINIZ, Maria Helena. Norma constitucional e seus efeitos. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 1992. GRONDIN, Jean. Lê tournant herméneutique de la phénoménologie. Paris: Presses Universitaires de France, 2003. MARTINEZ, Ernesto Esseverri. Presunciones legales y derecho tributário. Madrid: Marcial Pons, 1995 JESUS, Damásio E. de. Direito penal: parte geral. Vol. 1. 11 ed. São Paulo: Saraiva1986 FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. 2 ed. São Paulo: RT, 2006. GRINOVER, Ada Pellegrini et al. As nulidades no processo penal. 6 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. GUASTINI, Riccardo. Das fontes às normas. São Paulo: Quartier Latin, 2005. GUIMARÃES, Luiz Machado. Estudos de direito processual civil. São Paulo, 1969. HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade. Trad. Flávio Beno Siebeneichler. Vol. I. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997. HEIDEGGER, Martin. Sobre a essência da verdade. In “Conferências e escritos filosóficos”. Coleção “Os pensadores”. São Paulo: Nova Cultural, 1996, p. 155. JARDIM, Afrânio da Silva. Direito processual penal. 6 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997. JÚNIOR, Fredie Didier. Curso de direito processual civil. Vol 1. 6.ª ed. Salvador: JusPODIVM, 2006. JÚNIOR, Tercio Sampaio Ferraz. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão e dominação. 2 ed. São Paulo: Atlas, 1994. ______________Teoria da norma jurídica. 4 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005. LIEBMAN, Enrico Tullio. Manuale do diritto processuale civile. Vol. I. Milano: Giuffrè, 1992. ______________. Eficácia e autoridade da sentença e outros escritos sobre a coisa julgada. 3 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1945. MANDRIOLI, Crisanto. Corso de diritto processuale civile. Vol II. Torino: G. Giappichelli, 1998. MALATESTA, Nicolai Flamarino Dei. A lógica das provas em matéria criminal.Trad. Paolo Capitanio. 6 ed. Campinas: Bookseller, 2005. PAREYSON, Luigi. Verdade e interpretação. São Paulo: Martins Fontes, 2005. ROBLES, Gregório. O direito como texto: quatro estudos de teoria comunicacional do direito. São Paulo: Manole, 2005. SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras linhas de direito processual civil. Vol. 2. 15 ed. São Paulo: Saraiva, 199. SILVA, Danielle Souza de Andrade E. A atuação do juiz no processo penal acusatório. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris, 2003. STRECK, Lênio Luiz. Interpretar e concretizar: em busca da superação da discricionariedade do positivismo jurídico, in Olhares hermenêuticos sobre o direito: em busca de sentido para os caminhos do jurista. Porto Alegre: Unijuí, 2006. ______________. Hermenêutica jurídica e(m) crise: uma exploração hermenêutica da construção do direito. 2 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000 WARAT, Luiz Alberto. Introdução geral ao direito: interpretação da lei, temas para uma reformulação. Vol I. Porto Alegre: Sergio Fabris, 1994.
Download