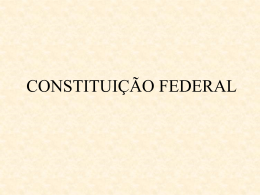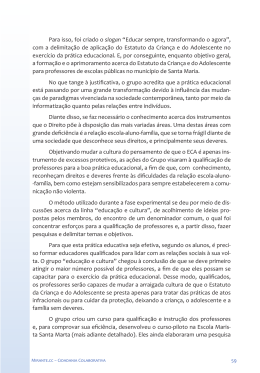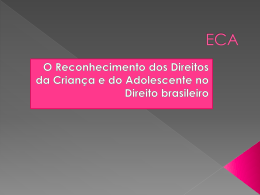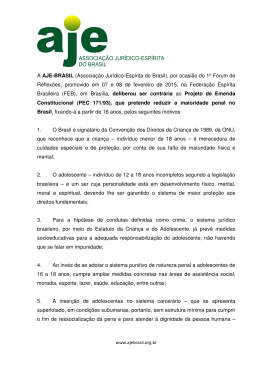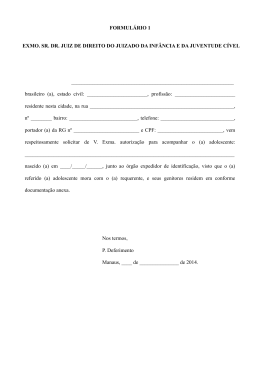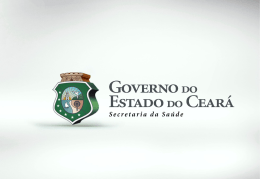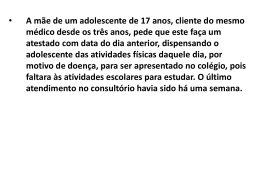UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ ROSANGELA CRISTINA ROSINSKI LIMA VIOLÊNCIA NO CONTEXTO ESCOLAR: ASPECTOS DESTACADOS DA LEI 8.069/90 BIGUAÇU 2011 ROSANGELA CRISTINA ROSINSKI LIMA VIOLÊNCIA NO CONTEXTO ESCOLAR: ASPECTOS DESTACADOS DA LEI 8.069/90 Monografia apresentada como requisito parcial para a obtenção do título de Bacharel em Direito, pela Universidade do Vale do Itajaí, Centro de Ciências Sociais e Jurídicas, campus de Biguaçu. Orientador: Prof. Dr. Marcos Leite Garcia. BIGUAÇU 2011 PÁGINA DE APROVAÇÃO A presente monografia de conclusão do Curso de Direito da Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI, elaborada pela graduanda ROSANGELA CRISTINA ROSINSKI LIMA sob o título VIOLÊNCIA NO CONTEXTO ESCOLAR: Aspectos destacados da Lei 8.069/90, foi submetida em 16/06/2011 à banca examinadora composta pelos seguintes professores: Dr. Marcos Leite Garcia, Orientador, Leonardo Vieira de Ávila e Carlos Alberto Luz Gonçalves, membros da Banca, e aprovada com a nota 9,0 (NOVE). Biguaçu, 16 de junho de 2011 [Professor Título Nome] Orientador e Presidente da Banca [Professora MSc. Helena Nastassya Paschoal Pítsica] Responsável pelo Núcleo de Prática Jurídica AGRADECIMENTOS: Ao Nosso Senhor Supremo, pela dádiva da vida, a meus pais, em especial a minha mãe pelo exemplo de professora e batalhadora, ao companheiro presente e solidário, cuja paciência nos momentos difíceis foi fundamental. Aos filhos: Felipe, Maria Cecília e Lourdes Maria, amados, sempre lembrados; dos quais privei tempo e convivência para dedicar-me ao trabalho monográfico. Às netas: Maria Eduarda, Larissa e Rafaela, promessas de tudo de maravilhoso que uma família pode proporcionar. Aos queridos amigos, que de tantos, omito nomes mas os menciono sempre em minhas preces, principalmente à Ieda, pelo apoio em todos os momentos. A professora doutora Daniela Mesquita Leutchuk de Cadermatori pelo apoio e orientação inicial. De forma muito especial ao Professor Doutor Marcos Leite Garcia pela orientação competente. A todos os professores e funcionários da UNIVALI pelo carinho, presteza e competência profissional que sempre demonstraram. DEDICATÓRIA Dedico este trabalho a todos que dele possam usufruir, com o intuito de prestar minha contribuição no sentido da prevenção e diminuição da violência no contexto escolar e quiçá, no conturbado mundo em que vivemos. TERMO DE ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE O presente trabalho monográfico constitui-se em pesquisa acadêmica cientifica, sem fins lucrativos e cuja responsabilidade de inteiro teor é da autora, observando as normas cientificas de citações e créditos aos autores referenciados, isentando os autores utilizados, os membros da Banca de Avaliação e demais participantes das idéias e considerações nele defendidos. Biguaçu, 16 de junho de 2011. ROSANGELA CRISTINA ROSINSKI LIMA RESUMO Desenvolver estudo monográfico acerca dos aspectos históricos, filosóficos, jurídicos e sociológicos pertinentes à violência no contexto escolar são os objetivos do presente trabalho monográfico. A relevância da problemática no âmbito jurídico é constatada pelos reiterados episódios de violência que apresentam-se no cotidiano recente das escolas brasileiras. Ainda, a temática carece de estudos acadêmicos desse porte, cujo caráter cientifico contribuirá para sua melhor elucidação. Utilizou-se o método de abordagem dedutivo, aliado a um esforço interpretativo de análise e tratamento dos dados de cunho dialético, cuja opção metodológica ocorreu em função da complexidade da abordagem por tratar-se de temática polissêmica, exigível de enfoques multidisciplinares. A pesquisa se efetivou pela coleta de dados e do conhecimento teórico obtido através de documentação indireta em pesquisa bibliográfica. Nessa busca interpretativa, o respaldo teórico foi encontrado nas elaborações de Anthony Giddens, Michel Maffesoli e de Michel Foucault, dentre outros. São destacados dados quantitativos de recentes pesquisas sobre a violência no Brasil, a partir de pesquisas significativas, dentre elas, a do Ministério da Justiça, intitulada o Mapa da Violência 2011, os jovens do Brasil, que propiciam visão atualizada e fidedigna da realidade vigente. Nos contornos da legislação vigente, notadamente no que concerne ao Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90), realizam-se reflexões pertinentes à violência no contexto escolar. Relatam-se ainda os resultados de pesquisa de campo qualitativa, de abordagem etnográfica, realizada em duas escolas da rede pública de ensino, localizadas no município de Biguaçu, Santa Catarina, que propiciaram o olhar para a realidade estudada. Nos aspectos conclusivos da Monografia, além do destaque das abordagens jurídicas do estudo, foram propostos possíveis encaminhamentos, objetivando contribuir para o enfrentamento da violência no contexto escolar. Palavras chave: 1) Violência escolar; 2) Direito educacional; 3) Lei 8.069/90 ABSTRACT A develop monographic study of the historical, philosophical, legal and sociological issues relevant to violence in the school context are the goals of this monograph. The relevance of the issue in the legal framework is evidenced by repeated episodes of violence which present themselves daily in recent Brazilian schools. Still, the issue lacks academic studies of this size, which contribute to its scientific character elucidate. We used the method of deductive approach, combined with an interpretative effort of analysis and processing of the dialectical nature, whose methodological approach was based on the complexity of the approach because it is polysemous theme, due to multidisciplinary approaches. The research is effected by collecting data and theoretical knowledge gained through indirect documentation in literature. Search this interpretation, the theoretical support has been found in the elaborations of Anthony Giddens, Maffesoli and Michel Foucault, among others. Are prominent figures from recent research on violence in Brazil, from significant research, among them the Ministry of Justice, entitled the Violence Map 2011, the youth of Brazil, which provide reliable and updated view of current reality. Within the frame of existing legislation, notably regarding the Status of Children and Adolescents (Law 8.069/90), are held discussions pertaining to violence at school. We report also the results of field research qualitative, ethnographic approach, conducted in two public schools of education located in the municipality of Biguaçu, Santa Catarina, which led his eyes to the reality studied. Conclusive on aspects of the Monograph, and highlight the legal approaches of the study, were proposed as possible approaches, aiming to contribute to combating violence at school. Key words: 1) School violence, 2) educational law, 3) Law 8069/90 SUMÁRIO INTRODUÇÀO-----------------------------------------------------------------------------------------11 1 A VIOLÊNCIA, SEUS CAMINHOS, SUAS MANIFESTAÇÕES ----------------------16 1.1 ABORDAGENS LÉXICAS, SEMÂNTICAS E FILOSÓFICAS---------------------------16 1.2 ABORDAGENS JURÍDICAS E TERMINOLÓGICAS -------------------------------------20 1.3 ABORDAGENS HISTÓRICAS E SOCIOLÓGICAS----------------------------------------27 2 A VIOLÊNCIA NO BRASIL: ASPECTOS DESTACADOS REFERENTES À TEMÁTICA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE------------------------------------------39 2.1 A VIOLÊNCIA NO BRASIL: BUSCANDO A MULTIPLICIDADE DE ENFOQUES----------------------------------------------------------------------------------------------39 2.2 O QUE AS PESQUISAM REVELAM--------------------------------------------------------46 2.3 PARA ALÉM DOS DADOS-------------------------------------------------------------------54 2.4 VIOLÊNCIA NO CONTEXTO ESCOLAR -------------------------------------------------56 2.4.1 Tipos de violência escolar----------------------------------------------------------------------57 2.4.2 Indisciplina e Violência -----------------------------------------------------------------------60 3 CAMINHOS E DESCAMINHOS: DESTAQUES DA LEGISLAÇÃO E O PASSO A PASSO DA REALIDADE ESCOLAR VIVENCIADA--------------------------------62 3.1 PROCESSO HISTÓRICO DA LEGISLAÇÃO ACERCA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO BRASIL------------------------------------------------------------------------62 3.2 A LEI 8.069/90 E OS CONFLITOS NAS ESCOLAS – POSSÍVEIS RELAÇÕES------68 3.3 ENFOQUES DESTACADOS DA LEI 9.394/96-----------------------------------------------74 3.4 VIOLÊNCIA, LEIS E CONFLITOS COTIDIANOS-----------------------------------------76 3.4.1 Conselho Tutelar – destaques ao limites e possibilidades de sua atuação----------------85 3.5 A PESQUISA NAS ESCOLAS – O QUE A REALIDADE EVIDENCIOU-------------87 CONCLUSÕES: FIM OU INÍCIO DE NOVAS CAMINHADAS...------------------------93 REFERÊNCAIS BIBLIOGRÁFICAS------------------------------------------------------------104 APÊNDICE QUESTIONÁRIO ELABORADO OBJETIVANDO COLETA DE DADOS NAS ESCOLAS ANEXOS PROJETO DE LEI 11.875 DE 2005 INTRODUÇÃO A problemática da violência pressupõe uma multiplicidade pertinente de entradas possíveis. O cardápio é vasto e os contornos seriam impossíveis se não tivéssemos que fazer algumas escolhas, enfatizar algumas linhas de fuga que possam interrogar certos pontos que não raro são postos entre parênteses1 A afirmação de que vive-se em uma sociedade violenta parte da constatação da realidade vigente, bombardeada por notícias cada vez mais frequentes, principalmente veiculadas na mídia, cujas manchetes cotidianamente estampam diversas ocorrências envolvendo a violência e suas inúmeras manifestações. Todavia, o que ainda causa espanto é o envolvimento, cada vez maior, de jovens e crianças nessas situações. Como entender essa realidade? O que estaria motivando a participação de crianças e adolescentes nesse contexto? Em que medidas o conhecimento jurídico pode contribuir para esclarecer os aspectos que estão envolvidos nesse complexo entendimento? Em quais proporções um fenômeno multifacetado como a violência influencia o espaço escolar brasileiro? São questionamentos que o presente trabalho monográfico objetivou contribuir para elucidar, embora nos limites de uma elaboração acadêmica produzida entre fevereiro de 2010 a maio de 2011. A opção pessoal pela temática é resultante na história pessoal da autora, cuja trajetória profissional como educadora em redes públicas de ensino, durante duas décadas, resultaram 1 AMARAL, Augusto Jobim do. Cartografia à Margem: impasses sobre a violência na contemporaneidade. Revista Sociologia Jurídica. n.9 – Disponível em http// www.sociologiajuridica.net.br. Acesso: 30 jun. 2010. em preocupação pela problemática. Aliado ao interesse pessoal, a relevância jurídica de estudos desse porte, motivaram sua seleção. Para tanto, traçou-se caminho de estudos que objetiva trilhar, principalmente pelos aspectos sociológicos e jurídicos envolvidos nesse contexto. Entender como ocorre, sob quais circunstâncias e quais são os tipos de violência que se manifestam, é um esforço teórico que exigiu uma caminhada a ser construída, por tratar-se de tema polissêmico, exigível de diálogo interdisciplinar. Nessa caminhada, no primeiro capítulo intitulado: A violência, seus caminhos, suas manifestações - abordaram-se as concepções diferenciadas sobre a violência a partir da ótica de diversos autores, privilegiando o entendimento sociológico, filosófico, histórico, bem como as contribuições de cunho jurídico. Inicialmente destacaram-se os aspectos semânticos do termo violência, com o recurso de dicionários e publicações especializadas. Na seqüência, o entendimento jurídico da temática. A opção por essa abordagem está intrinsecamente relacionada à relevância da problemática no âmbito jurídico, haja visto que a observação cotidiana da realidade aponta para a necessidade de estudos a respeito da violência no contexto escolar, cuja incidência é cada vez mais constatada nos contatos com os profissionais da educação, conforme externam em seus relatos, reforçados pelas reiteradas ocorrências de violência na escola2 e em seu entorno, conforme os meios midiáticos têm apresentado. Ainda, conforme levantamentos preliminares, poucos são os estudos acadêmicos que abordam a violência no contexto escolar sob a ótica jurídica, se justificando, portanto, esse trabalho, tanto pela lacuna existente, quanto pela relevância social da temática. Dessa forma, para efetivar esse trabalho, procedeu-se a seleção, organização e interpretação de material acadêmico-científico encontrados na Doutrina, e em obras 2 Registra-se que durante a elaboração desta Monografia, ocorreu (em sete de abril de 2011) o assassinato de doze alunos na Escola Municipal Tasso da Silveira, em Realengo, zona oeste do Rio de Janeiro.Além das mortes, o assassino feriu mais dezoito alunos, chocando a comunidade e ocasionando repercussão internacional. Nas investigações, uma das hipóteses da motivação do ocorrido foi atribuída ao bullyng sofrido pelo autor dos disparos, de vinte e três anos de idade, que era ex-aluno da escola. Fato também chocante no âmbito internacional ocorreu na escola Columbine, em Denver (EUA) , quando 2 jovens armados mataram 13 colegas em1999. sociológicas, antropológicas e de cunho político, além de fontes fidedignas, conforme será em seguida explicitado, que serviram de escopo às análises teóricas. Utilizou-se a metodologia de abordagem dedutiva, uma vez que se partirá de uma realidade mais ampla, a da violência, no âmbito do contexto mais específico, o escolar. Enquanto análise e tratamento dos dados, valeu-se também do método dialético, cuja opção metodológica ocorreu em função de sua melhor adequação à complexidade da abordagem que se efetivou pela coleta de dados e do conhecimento teórico obtido através de documentação indireta coletada em pesquisa bibliográfica em livros, artigos e outros meios de informação em periódicos (revistas, boletins, jornais), e sites da internet que possibilitaram a atualidade da pesquisa. Nessa busca interpretativa, ainda no primeiro capítulo o respaldo teórico foi encontrado nas elaborações de Anthony Giddens, principalmente na obra: “Para além da esquerda e da direita: o futuro da política radical”,3 cuja abordagem da questão da violência sob diversos ângulos, permitiu ampliar a percepção dos aspectos históricos, sociológicos e políticos que permeiam sua compreensão. Ainda os estudos de Edgar Morin4, que apontam a para a necessidade de se compreender a complexidade da realidade e do pensamento servem de escopo para o trabalho, pois, conforme defende o autor: “Ao se refletir sobre o Direito, enquanto um sistema normativo que regula as relações dos homens em sociedade, necessário se torna ter presente a noção de complexidade do mundo da vida e da ciência.” . Utilizou-se também o respaldo teórico dos estudos de Maffesoli5 nos quais são preponderantes elaborações que contribuem para essa reflexão. São também fundamentais as formulações de Foucault6 e dos demais teóricos que oportunamente referenciou-se. 3 GIDDENS, Anthony. Para além da esquerda e da direita: o futuro da política radical. Trad.de Álvaro Hattnher. São Paulo: UNESP, 1999. 4 MORIN, Edgard. Ciência com consciência. Rio de Janeiro: Ed. Bertrand Brasil, 2009. 5 MAFFESOLI, Michel. Dinâmica da violência. São Paulo: Vértice, 1987. ____ Tempo das Tribos: O declínio do individualismo nas sociedades de massa. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1998. ____ A violência totalitária – Ensaio de antropologia política. Porto Alegre: Sulina, 2001 6 FOUCAULT, M. Em defesa da sociedade: resumo dos Cursos do Collège de France (1970-1982). Trad. Andréa Daher. Rio de Janeiro: Zahar, 1997. ____ . Vigiar e Punir. (história de violência nas prisões) Trad. de Raquel Ramalhete. 23.ed. Petrópolis: Vozes, 2000. No segundo capítulo, intitulado: A violência no Brasil: aspectos destacados referentes à temática da criança e do adolescente identificaram-se os contornos da problemática, utilizando para tanto de respaldo bibliográfico e doutrinário pertinente, bem como de pesquisas atuais que forneceram dados quantitativos e qualitativos imprescindíveis tais como o Mapa da Violência 201l – os jovens do Brasil, estudo efetivado pelo Ministério da Justiça lançado em 24 de fevereiro de 2011.7 São também destacados os aspectos da violência nas escolas brasileiras, relacionados à criança e adolescentes e o contexto escolar, com seus reflexos, suas nuances, subsidiados por autores, doutrinadores jurídicos e estudos teóricos que contribuem para elucidar a temática. No terceiro capítulo sob o título: Caminhos e descaminhos: o que preceitua a legislação e o passo a passo da realidade escolar vivenciada - estudaram-se aspectos da Lei 8069/19908, selecionando-se os de pertinência com a temática, com a inserção de formulações de doutrinadores, que propiciam aprofundar o estudo. Na continuidade do terceiro capítulo passou-se ao relato descritivo do que a prática recente demonstrou, ao efetivar-se um esforço interpretativo de entendimento da realidade, que conduziu a uma incursão mais direta pelo “lócus” escolar, através de um levantamento de dados por amostragem, realizado diretamente no ambiente de duas escolas públicas do município de Biguaçu9, Santa Catarina. O período de coleta de dados corresponde ao segundo semestre letivo de 2010 e ao primeiro semestre de 2011, quando foram coletados dados da realidade, bem como se efetivou a aplicação de um questionário junto aos profissionais da educação e realização de observações e entrevistas com alunos e pais, objetivando um olhar mais concreto e fidedigno do que realmente ocorre no contexto escolar com relação a violência e suas múltiplas manifestações. Os dados coletados serviram de subsídio para um entendimento mais detalhado e respaldado pela prática social, sendo que o tratamento metodológico dos dados se restringiu ao razoável dentro dos limites de um trabalho monográfico de Graduação, sem pretensões de análise mais aprofundadas. Contudo, primou pelo cuidado e respeito aos procedimentos metodológicos da pesquisa de campo numa abordagem etnográfica, de cunho qualitativo, 7 Disponível em http// www.portal.mj.gov.br - acesso em 20.03.2011. Também conhecida como ‘Estatuto da Criança e do Adolescente’ – neste trabalho as duas denominações são indistintamente utilizadas. 9 A opção pelas escolas do município de Biguaçu oportunamente será elucidada, no terceiro capítulo dessa Monografia. 8 conforme Pasold10 ; Demo11 e Eco12 indicam. Procurou-se também identificar, do ponto de vista cognitivo, quais as reais necessidades dos profissionais da educação quanto à aplicabilidade da legislação, acreditando que o conhecimento e maior compreensão acerca dos preceitos legais do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8069/1990) contribuem para prevenir e diminuir a violência no contexto escolar. Nas considerações finais intituladas: Conclusões: Fim ou início de novas caminhadas... retomaram-se as principais elaborações teóricas de cunho jurídico e social, alcançadas na trajetória de estudos desenvolvida, bem como propõe-se alguns encaminhamentos com intuito de contribuir com as reflexões sobre a temática. Acredita-se que no esforço reflexivo, crítico e cientificamente respaldado, aliado a ações concretas, planejadas com rigor técnico-científico adequado, se possa concretamente contribuir para alcançar um patamar de convivência efetivamente mais saudável menos hostil, violento e repressivo, que constitui-se no anseio de todos que almejam uma sociedade mais justa e equânime. Nesse sentido que os estudiosos e operadores do Direito têm muito a contribuir. Passa-se, portanto à caminhada na busca do entendimento dessa complexidade, desenvolvendo o estudo abordando a violência em suas diferenciadas facetas. 10 PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: teoria e prática.11ª. ed. Florianópolis: Conceito Editorial Millennium Editora, 2008 - do mesmo autor Prática da pesquisa jurídica – idéias e ferramentas úteis para o pesquisador do direito. 9ª. ed. Florianópolis, OAB/SC Editora, 2005. 11 DEMO, Pedro. Metodologia cientifica em ciências sociais. 4ª. ed. São Paulo: Atlas, 2005. 12 ECO, Umberto. Como se faz uma tese. 14ª. ed. São Paulo: Perspectiva, 1996. 1 A VIOLÊNCIA, SEUS CAMINHOS, SUAS MANIFESTAÇÕES Quando falamos de violência objetiva estamos a referir a estas formas mais sutis de coerção que sustentam de algum modo as relações de dominação e de exploração. A lógica autogeradora e insana da circulação do capital (o Real da dança especulativa do capital), se assim quisermos definir, passa por aí13 Estuda-se o fenômeno da violência inicialmente com o entendimento da significação léxica, semântica e filosófica. Na sequência, realiza-se a abordagem jurídica em suas primeiras aproximações, limitadas ainda ao estudo da terminologia selecionada entre os doutrinadores. Em seguida as abordagens históricas e sociológicas, contribuem para a compreensão ampliada. Neste esforço interpretativo, procura-se trazer os estudos sobre a violência em nosso país, com ênfase na Doutrina pertinente e no estudo do Ministério da Justiça intitulado: Mapa da Violência 2011 - os jovens do Brasil.. Sabe-se que a proposta de estudos é desafiadora, pois de acordo com Zaluar: De inicio, é preciso dizer que a violência não é alguma coisa peculiar à nossa época ou à nossa sociedade. Em todas as sociedades, e em todas as épocas, ocorrem ações que se podem caracterizar como violentas já que apelam para o uso da força bruta, seja através de que instrumento for, ao invés de apelar párea o consentimento. O que varia são as suas formas de manifestação e as regras sociais que as controlam. 14 Na esteira dessas elaborações pode-se aduzir que a violência se manifesta de forma distinta, condizente com a realidade de cada contexto social. A partir dessa concepção, é importante partir do estudo dos diversos significados associados ao termo ao longo da história, passando-se portanto às suas distintas abordagens. 13 AMARAL, Augusto Jobim do. Cartografia à Margem: impasses sobre a violência na contemporaneidade. Revista Sociologia Jurídica. n.9 14 ZALUAR, Alba. Condomínio do diabo: as classes populares urbanas e a lógica do “ferro”e do fumo. In: Crime, violência e poder. PINHEIRO, Paulo Sérgio (org.). São Paulo: Brasiliense, 1983, p.270. 1.1. ABORDAGENS LÉXICAS, SEMÂNTICAS E FILOSÓFICAS No esforço de iniciar o entendimento acerca da violência, inicialmente remete-se às explicitações etimológicas nas quais encontra-se que o termo vem do latim violentia, que significa violência, caráter violento ou bravio, força. O verbo violare significa trotar com violência, profanar, transgredir. Tais termos devem ser referidos a vis, que quer dizer, força, vigor, potência. Mais profundamente, a palavra vis significa a força em ação, o recurso de um corpo para exercer a sua força e portanto a potência, o valor, a força vital. O sociólogo H. L. Nieburg define a violência como "uma ação direta ou indireta, destinada a limitar, ferir ou destruir as pessoas ou os bens".15 Já o Oxford English Dicitonary define a violência como o "uso ilegítimo da força".16 Entre os antigos gregos existia a concepção do mundo como luta de contrários. Heráclito proclamou que a guerra é a mãe de todas as coisas. Segundo Odalia “Em vez de ordem, trata-se de um mundo por fazer e que se "faz" precisamente no conflito entre as forças contrárias, do qual brota o novo.17 Essa formulação que remonta aos primórdios da reflexão filosófica, tem em Heráclito o embrião da concepção dialética que reforça a ideia dos contrários e da constante dinâmica social, que é producente ao estudar a violência.Ainda, objetivando enfocar juridicamente a temática dessa Monografia, encontra-se em dicionário especializado em termos jurídicos a explicitação de Guimarães que conceitua: Violência – Uso da força física sobre alguém, para coagi-lo a submeter-se à vontade de outro, para fazer ou deixar fazer algo. Pode ser: física, material ou real, quando se emprega força material e outro meios que impossibilitem a resistência do paciente (vis corporalis)18 ; moral ou ficta, quando o agente intimida o paciente com ameaça grave de mal iminente, ou se é juridicamente incapaz de livre consentimento (vis compulsiva); iminente: a que se apresenta com perigo atual, traduzido na ameaça de 15 Citado por MICHAUD, Y. A Violência. São Paulo, Ática, 1989, p.35 Conforme ODALIA, N. O Que é a Violência. 6. ed., São Paulo, Brasiliense, 1991 (Coleção Primeiros Passos, n.º 85), p.12 17 ODALIA, Op.cit., p.28. 18 CARRILHA, Fernanda (et al). In: Dicionário de latim jurídico. Coimbra-PO: Almedina, 2010. Vis corporalis é termo latino que significa violência física – diverge de vis compulsiva – coação moral. 16 consumação imediata; arbitrária, aquela cometida no exercício de função pública ou a pretexto de exercê-la [...]19 Essa elaboração, extrapola o entendimento semântico do termo procura trazer a diferenciação dos tipos de violência. Já Chauí alerta para a dificuldade em definí-la: Evidentemente, as várias culturas e sociedades não definiram e nem definem a violência da mesma maneira, mas, ao contrario, dão-lhe conteúdos diferentes, segundo os tempos e os lugares. No entanto, [...] são percebidos da mesma maneira, nas várias culturas e sociedades, formando o fundo comum contra o qual os valores éticos são erguidos. Fundamentalmente, a violência é percebida como exercício da força física e da coação psíquica para obrigar alguém a fazer alguma coisa contrária a si, contrária aos seus interesses e desejos, contrária ao seu corpo e à sua consciência, causando-lhe danos profundos e irreparáveis, como a morte, a loucura, a auto- agressão ou a agressão a outros.20 A autora distingue portanto a violência física da psíquica assim como - a quem ela pode ser dirigida, ou seja, a si mesmo, ou a outrem. Sua explicitação é clara e suficientemente didática, inclusive por se tratar de obra dirigida ao leitor adolescente, notadamente para alunos de escolas de nível médio, como texto didático da disciplina de Filosofia que faz parte do currículo escolar oficial das escolas.21 Continua Marilena Chauí: Em nossa cultura, a violência é entendida como o uso da força física e do constrangimento psíquico para obrigar alguém a agir de modo contrário à sua natureza e ao seu ser. A violência é violação da integridade física e psíquica, da dignidade humana de alguém. Eis por que o assassinato, a tortura, a injustiça, a mentira, o estupro, a calúnia, a má-fé, o roubo são considerados violência, imoralidade e crime.22 Resguardados os limites da escrita didática, há que se considerar a profundidade da autora. Todavia, sua abordagem relaciona-se à ética filosófica. 19 GUIMARÃES, Deocleciano Torrieri. Dicionário compacto jurídico. 10ª. ed. – São Paulo: Rideel, 2007, p. 204-5 20 CHAUÍ, Marilena. Convite à filosofia. São Paulo: Ática, 1997, p. 336. 21 Acerca do currículo do ensino médio brasileiro, encontramos no site oficial do MEC ( em http//www.mec.gov.br. ) as orientações de conteúdos curriculares e encaminhamentos metodológicos relacionados à disciplina de Filosofia nesse grau de ensino. 22 CHAUÍ, Marilena. Convite à filosofia, p. 337. Em outra direção, de acordo com o professor Sandro César Sell: “Também a agressividade é positiva no sentido de permitir o alcance de objetivos legítimos dificultados pela ação contrária de outros seres”23 Na elaboração do autor é destacado o aspecto positivo de ações agressivas, que se manifestam com intuito de alcançar objetivos. Nesse escopo, importante registrar que foi Thomas Hobbes, filósofo inglês, considerado iniciador do jusnaturalismo moderno, que, ao estudar o uso legítimo da força pelo Estado, introduziu a ideia do uso da violência legitimada na consecução de objetivos. Tal formulação também é destacada por Dayse Braga Martins, ao abordar que a obra de Thomas Hobbes ressaltou que todos os homens são iguais por natureza e que, num estado de natureza anterior a qualquer governo, cada um, num impulso de auto preservação, deseja não só preservar a liberdade própria, como também adquirir domínio sobre os outros. Daí extrai Hobbes a razão de ser da guerra e da violência. Em sua obra Leviathan, Thomas Hobbes desenvolve essas, dentre outras argumentações, inclusive sobre o “acordo social” resultante da vontade de se regular essa violência decorrente do embate entre os homens, também sujeitos a uma autoridade central, da qual o Estado passa a ser considerado legítimo representante desse poder, resultante do acordo de um conjunto de pessoas24 (conforme JeanJacques Rosseau desenvolverá posteriormente na ideia de contrato social). Assim, na obra de Hobbes, há a defesa de que “ Todos são iguais no ‘medo recíproco’, na ameaça, que paira sobre a cabeça de cada um, da ‘morte violenta’. Os homens ‘igualam-se’ neste medo da morte." 25 23 24 SELL, Sandro César. Comportamento social e anti-social humano. Florianópolis. Ed. Digital Ijuris, 2006. MARTINS, Dayse Braga. O estado natural de Thomas Hobbes e a necessidade de uma instituição política e jurídica. Jus Navigandi, Teresina, ano 6, n. 51, 1 out. 2001. Disponível em <http://jus.uol.com.br/revista/texto/2117>. Acesso em: 25 maio 2011. 25 MARTINS, Dayse Braga. O estado natural de Thomas Hobbes e a necessidade de uma instituição política e jurídica. Jus Navigandi, Teresina, ano 6, n. 51, 1 out. 2001. Disponível em <http://jus.uol.com.br/revista/texto/2117>. Acesso em: 25 maio 2011. Apenas para pontuar, é sabido que no âmbito dos primórdios da história, encontram-se traços dessa ideia remotamente, pois é possível encontrar, 2000 anos antes, a descrição de contrato, no sentido de lei acordada entre os cidadãos e um poder por estes escolhido, em Platão, nos diálogos A República e Críton. Doutrinadores destacam também essa relação entre violência e agressividade, que por vezes são confundidos. Todavia é importante refletir-se acerca das diferenças dos dois conceitos, conforme alerta Miriam Abramovay: A agressividade é o comportamento adaptativo intenso, ou seja , o indivíduo que é vítima de violência constante têm dificuldade de se relacionar com o próximo e de estabelecer limites porque estes às vezes não foram construídos no âmbito familiar. O sujeito agressivo tem atitudes agressivas para se defender e não é tido como violento. Ele possui os padrões de educação contrários às normas de convivência e respeito para com o outro. 26 Nessas elaborações de Miriam Abramovay encontram-se as preocupações com a necessidade do estabelecimento de limites no convívio social, cuja gênese, conforme apontado por ela, deveria se iniciar no âmbito familiar. Violência e agressividade embora possam, por vezes caminhar juntas, encerram significados e interpretação diferenciadas. Nos contornos dessa Monografia jurídica há que se destacar que o uso legítimo da força é diferente do conceito de violência ilegítima. Entende-se por uso legitimo da força, a ação comedida e necessária, que for legitimamente empregada para por exemplo, repelir uma grave ameaça. O Código Penal Brasileiro27 em seu artigo 23 refere-se à questão, normatizando como “exclusão de ilicitude” pois não há crime quando o agente pratica o fato “em legítima defesa, estado de necessidade ou estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito”. Por outro lado, no mesmo ordenamento jurídico no parágrafo único do artigo 23 há a caracterização do “excesso punível”. O que nos artigos seguintes será melhor caracterizado, como por exemplo no artigo 25, pois só é cabível a exclusão de ilicitude 26 ABRAMOVAY, , Miriam.(et al) Revelando tramas, descobrindo segredos: violência e convivência nas escolas.Rede de Informação Tecnológica Latino americana-.Brasilia: Sec Estado Ed. Distrito Federal, 2009, p.107. 27 Código Penal Brasileiro quando a violência é utilizada quando o agente [...] “usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão [...]. No Código Civil Brasileiro também figura essa possibilidade, da utilização do uso legítimo da força e de “meios moderados” como por exemplo, na defesa da propriedade, quando da ocorrência de esbulho ou turbação. O artigo 1210 do Código Civil expressamente traz que: [...] “ e segurando de violência eminente, se tiver justo receio de ser molestado”.28 É portanto nesse limiar entre o que é legitimado pela lei e o que constitui excesso que se estabelece os contornos da violência indesejável, que é objeto do estudo da presente Monografia, pois nos limites deste trabalho monográfico, ao se abordar a violência escolar, adota-se o conceito de violência proposta por Chauí “entendida como o uso da força física e do constrangimento psíquico para obrigar alguém a agir de modo contrário à sua natureza e ao seu ser. [...] violação da integridade física e psíquica, da dignidade humana de alguém.”29 Destacadas essas explicitações de cunho semântico e filosófico, aprofunda-se o entendimento, passando às abordagens jurídicas da temática, que contribuirão para elucidar diversos aspectos, imprescindíveis nessa caminhada de estudos. 1.2 ABORDAGENS JURÍDICAS E TERMINOLÓGICAS No âmbito da Doutrina Jurídica as abordagens sobre a temática da violência são também recorrentes. Entre as diversas abordagens encontra-se doutrinadores como Capez afirmando que violência pode ser conceituada como “[...] uma agressão, de ordem física ou moral, voluntária, desferida contra um indivíduo ou contra um grupo, podendo ser legítima ou ilegítima.”30 Já o “Relatório mundial sobre violência e saúde” editado em Genebra pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2002, trouxe sua definição a respeito, entendendo que: considera-se violência como o uso força, poder real ou em ameaça, contra si próprio, contra outra pessoa, ou contra um grupo ou uma coletividade. Assim, a OMS utiliza como 28 Código Civil Brasileiro CHAUÍ, Marilena. Convite à filosofia. p. 336. 30 CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal- parte geral.V. 1 São Paulo:Saraiva, 2007, p. 89. 29 definição para violência. o uso intencional de força ou poder, através de ameaça ou agressão real.31 Pode-se auferir que a violência é, portanto, intrínseca à própria existência social, inerente à vida do ser humano, pois a encontramos em todas as formas de sociedade. O que de fato mudam são suas formas de manifestação e a intensidade com a qual se manifestam. Nessa vertente, com propriedade a professora do Mestrado em Ciências Criminais da Faculdade de Direito da PUC-RS, Ruth Chittó Gauer ao abordar em seu artigo: “Alguns Aspectos da Fenomenologia da Violência”, destaca que “Esse fenômeno aparece em todas as sociedades; faz parte, portanto, de qualquer civilização ou grupo humano, basta atentar para a questão da violência no mundo atual, tanto nas grandes cidades como também nos recantos mais isolados.”32 Aproxima-se do entendimento que o fenômeno da violência é recorrente em diversas sociedades e ao longo do desenvolvimento de diversas civilizações, a esse respeito, Gauer prossegue questionando: A pergunta que se faz, quando se fala em violência, refere-se ao sentido de se voltar a um tema que está presente em nosso cotidiano comum dos fenômenos sociais mais inquietantes do mundo atual. Vista dessa forma, podemos dizer que a violência é um elemento estrutural, intrínseco ao fato social e não o resto anacrônico de uma ordem bárbara em vias de extinção. 33 No entanto, não pode-se ignorar que na sociedade contemporânea realmente a violência passou a ser a tônica dos noticiários, da abordagem das mídias e preocupação constante de todas as camadas da população, das mais pobres às mais abastadas. 31 ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Apresenta Relatório Mundial sobre Violência e Saúde. Disponível em: http//www.opas.org.br/cedoc – acesso em 20 mar. 2010 32 , GAUER, Gabriel & Ruth Chittó(orgs.) Alguns Aspectos da Fenomenologia da Violência In: A fenomenologia da violência. Curitiba: Juruá, 2005, p. 17. 33 GAUER, Gabriel & Ruth Chittó (orgs.) Alguns Aspectos da Fenomenologia da Violência violência. Curitiba: Juruá, 2005, p.13. In: A fenomenologia da De acordo com Sposito “[...] os episódios de violência tendem a aumentar em nossa sociedade, pois na medida em que os conflitos se acirram e não são discutidos e solucionados, mais se acumula ‘larvas de um vulcão que está sempre prestes a entrar em erupção’”34 E quando a violência efetivamente acontece? Como acalmar “o vulcão”? Se é que isso é possível? Ou mesmo como contribuir para impedir que ele entre em erupção? Obviamente são necessários muitos questionamentos, reflexões, estudos, para os quais o presente trabalho objetiva contribuir. Conforme salienta Ristum: [...] é importante nesse âmbito considerar que a familiarização com a agressividade e a violência as tornam, como analisam psicólogos e sociólogos, matéria do cotidiano, corriqueiras a ponto de serem consideradas "normais". Ocorre portanto, certa banalização da violência, sendo que, a proliferação indiscriminada desses comportamentos mostra que a escola perdeu - ou vem perdendo - o poder normativo e ignora ou negligencia os recursos pedagógicos para o estabelecimento de limites entre o que é aceitável e o que ultrapassa essa condição. 35 Nesse sentido Gauer apud Silva36 contribui teoricamente com essas reflexões ao escrever que: A violência, [...] pressupõe o entendimento, ou conceitualização, sem a qual a discussão corre o risco de tornar-se estéril ou fragmentária. Falar sobre a violência é falar sobre um universo tão amplo como tratar da própria sociedade com toda sua complexidade” 37 34 SPOSITO, M. P (2001). Um breve balanço da pesquisa sobre violência escolar no Brasil. São Paulo: Educação e Pesquisa, n. 27 (1), p. 87-103. 35 RISTUM, M. (2004b). Violência: uma forma de expressão da escola? São Paulo: Caderno de Filosofia e Psicologia da Educação, v. 2, p.103. 36 SILVA, M.L. “A racionalização da violência penal e o movimento codificador do século XIX”: o caso brasileiro. In: GAUER, J.C. A fenomenologia da violência. Curitiba: Juruá, 2005, p. 93. 37 GAUER, Gabriel & Ruth M.C (orgs.) A fenomenologia da violência. Curitiba: Juruá, 2005, p.93. Já Márcio Seligmann Silva, ao estudar as elaborações de Walter Benjamin, destaca as reflexões do filósofo alemão sobre a violência que vão desde as questões míticas, ligando-a à cultura grega e a violência divina, ao judaísmo, conforme aponta: Para esquematizar, haveria duas violências, dois Gewalten concorrentes: de um lado, a decisão (justa, histórica, política, etc.), a justiça que fica além do direito e do Estado, mas sem conhecimento decidível; do outro, haveria conhecimento decidível e certeza num domínio que permanece estruturalmente aquele do indecidível, do direito mítico e do Estado. De um lado a decisão sem certeza decidível, do outro, a certeza do indecidível, mas sem decisão.38 Infere-se portanto que no estudo do autor da obra de Benjamin, violência está relacionada à possibilidade de decisão, ao que denomina-se de livre-arbítrio, ou seja, ao “conhecimento decidível”. Silva, em sua particular interpretação do pensamento de Walter Benjamin, optou pela tradução do original “Zur Kritik der Gewalt”, uma vez que todo o ensaio é construído sobre a ambigüidade da palavra Gewalt, que pode significar ao mesmo tempo “violência” e “poder”. Segundo Silva a intenção de Benjamim é mostrar a origem do direito (e do poder judiciário) a partir do espírito da violência. “Portanto, a semântica de Gewalt, neste texto, oscila constantemente entre esses dois pólos; tive que optar, caso por caso, se “violência” ou “poder” era a tradução mais adequada.” 39 É com esse entendimento que Silva estabelece relações interessantes da obra de Benjamin com ênfase na violência, poder e direito, defendendo que as leis oscilam entre oprimir e defender, sendo que nessa dinâmica uma verdadeira guerra pelo poder se instaura. Nesse sentido pode-se inferir que Benjamim ressalta o movimento dialético existente nas relações pessoais, notadamente no que concerne à violência. Com escopo nessas considerações, poder, direito e violência relacionam-se ao longo da história: A crítica da violência, ou seja, a crítica do poder, é a filosofia de sua história. É a “filosofia” dessa história, porque somente a idéia do seu final permite um enfoque crítico, diferenciador e decisivo[...] um movimento dialético de altos e baixos nas configurações do poder enquanto instituinte e mantenedor do direito. A lei dessas 38 SILVA, Marcio Seligmann, Walter Benjamin – O Estado de exceção: entre o político e o estético. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007, p.67 39 SILVA, Marcio Seligmann, Walter Benjamin – O Estado de exceção: entre o político e o estético. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007, p. 68. oscilações consiste em que todo poder mantenedor do direito, no decorrer do tempo, acaba enfraquecendo indiretamente o poder instituinte do direito representado por ele, através da opressão dos antipoderes inimigos [...]. A ruptura dessa trajetória, que obedece a formas míticas de direito, a destituição do direito e dos poderes dos quais depende (como eles dependem dele), em última instância, a destituição do poder do Estado, fundamenta uma nova era histórica.40 Exatamente na esteira da contribuição de Walter Benjamin encontram-se considerações acerca do direito que institui e sustenta o poder; sendo que por outro lado, em função do movimento dialético, rompe também com esse poder que, enfraquecido ao longo do tempo, é substituído por outro. Já Alessandro Baratta ao abordar as violências estrutural e penal, sob a ótica dos direitos humanos ressalta que a luta para que se garanta a observância dos direitos humanos como estratégia para conter a violência institucional está relacionada à contenção da violência estrutural. Assim, a partir desse enfoque o autor ressalta que a violência reprime: [...] as necessidades reais e portanto dos direitos humanos no seu conteúdo histórico-social. A violência estrutural é uma das formas da violência; é a forma geral de violência em cujo contexto costumam originar-se, direta ou indiretamente, outras forma de violência. 41 Em conseqüência disso, Baratta aponta, concluindo seus estudos escreve que: Uma política de contenção da violência punitiva é realista somente se se inscrever no movimento para a afirmação dos direitos humanos e da justiça social já que as possibilidades de utilizar de modo alternativo os instrumentos tradicionais da justiça penal para a defesa dos direitos humanos são sumamente limitadas. 42 40 Op. cit., p. 85. BARATTA, Alessandro. Direitos humanos: entre a violência estrutural e a violência penal. Fascículos de Ciências Penais. Porto Alegre, n.2, p.44-61, abr./jun. 1993 41 42 BARATTA, Alessandro. Direitos humanos: entre a violência estrutural e a violência penal. Fascículos de Ciências Penais. Porto Alegre, n.2, p.44-61, abr./jun. 1993 Concernente a questão dos direitos humanos, o professor Marcos Leite Garcia contribui para esse estudo com a elaboração que demonstra essa relação com a realidade social: Em contrapartida se os direitos fundamentais se desenvolvem de acordo com uma realidade social favorável, que os faz efetivos e desenvolvidos; estaríamos então diante de direitos fundamentais substancialmente efetivos. Evidentemente que as realidades complexas das chamadas sociedades dos países periféricos não são tão assim claro e escuro, mas podemos então dizer que temos momentos de direitos fundamentais substancialmente efetivos e, na maioria das vezes, estes estão escritos apenas em uma folha de papel.43 Aduz o autor a respeito da complexidade da questão. Na atual conjuntura brasileira não há como negar os avanços sociais no sentido de que os direitos fundamentais se efetivem. Principalmente com os avanços ocorridos nas últimas décadas. Todavia na contramão, o desrespeito ao cidadão, as precárias condições de vida em várias localidades brasileiras ainda apontam para o extenso caminho a ser percorrido. O professor Garcia ao se referir aos “direitos [...] escritos apenas em uma folha de papel” metaforicamente ilustrou a precariedade no cumprimento de nossas leis; pois embora muitas sejam bem elaboradas, não saem do papel. Acerca dessa reflexão há que citar-se o interessante trabalho do jornalista Gilberto Dimenstein44 que desenvolve também sua abordagem calcada na falta de efetividade dos direitos humanos no Brasil. Importante ainda destacar que foi o sociólogo Ferdinand Lassalle, o primeiro teórico a estabelecer essa relação metafórica para as leis que não saem do papel, ao estudar as constituições, pois segundo ele: "De nada serve o que se escreve numa folha de papel se não 43 GARCIA, Marcos Leite. Uma proposta de visão integral do conceito de direitos fundamentais. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, 46, 31/10/2007/.Disponível em http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=2343. Acesso em 04/04/2011. 44 DIMENSTEIN, Gilberto. Cidadão de papel: a infância, a adolescência e os direitos humanos no Brasil. 10ª. ed. São Paulo: Ática, 2009. se ajusta à realidade, aos fatores reais e efetivos do poder.45 Referindo-se a falta de efetividade dos direitos constitucionais. Também Teresa Pires do Rio Caldeira desenvolve seus estudos na mesma direção em sua abordagem evidenciando o paradoxo entre direitos, violência e cidadania afirmando que “[...] de fato, a problemática dos direitos humanos acaba sendo emblemática dos inúmeros paradoxos gerados pelo imbricamento de criminalidade e afirmação de direitos, de violência e democracia[...]” 46 A demarcação entre o que é direito, o que é excesso, o equilíbrio nas relações que o direito propugna, muitas vezes se estabelece numa tênue relação conforme apontado por Alba Zaluar: “Há um profundo senso de justiça e de equilíbrio nas relações entre os que se consideram como iguais. A violência começa a criar o clima de terror e desespero quando este controle desaparece junto com as distinções inocente/culpado, justo/injusto, trabalhador/bandido.”47 No outro extremo da questão da garantia dos direitos há que se falar nos desvios e no controle social punitivo, pois abordar essa contradição é imprescindível para discutir-se mais amplamente a violência na conjuntura atual. Com relação ao controle social punitivo, encontramos elaboração doutrinária de Eugenio Raúl Zaffaroni e José Henrique Pierangeli que afirmam: Em um sentido mais amplo, entendido o sistema penal [...] como “controle social punitivo institucionalizado”, nele se incluem ações controladoras e repressoras que aparentemente nada têm a ver com o sistema penal. Com efeito: “punição” é ação e efeito sancionário que pretende responder a outra conduta, ainda que nem sempre a conduta correspondente seja uma conduta prevista na lei penal, podendo ser ações que denotem qualidades pessoais, posto que o sistema penal, dada sua seletividade, parece indicar mais qualidades pessoais do que ações, porque a ação filtradora o leva a 45 LASSALE, Ferdinand. O que é uma Constituição.Tradução de Hiltomar Martins Oliveira. Belo Horizonte: Ed. Líder, 2002. 46 CALDEIRA, Teresa Pires do Rio. Violência, direitos e cidadania: relações paradoxais. Revista Ciência e Cultura. vol.54 no.1 São Paulo: Jun/Set. 2002, p.27. 47 ZALUAR, Alba. Condomínio do diabo: as classes populares urbanas e a lógica do “ferro”e do fumo. In: Crime, violência e poder. PINHEIRO, Paulo Sérgio (org.). São Paulo: Brasiliense, 1983, p.271. funcionar desta maneira. Na realidade, em que pese o discurso jurídico, o sistema penal se dirige quase sempre contra certas pessoas mais que contra certas ações.48 É nítido o posicionamento de Zaffaroni e Pierangeli contra a seletividade do sistema penal, que funciona muitas vezes como controle e repressão, sendo mais efetivo quando o individuo a ser punido é desfavorecido economicamente. Também ao abordar a “Teoria da prevenção legal”, Ciro Trento refere-se ao medo do castigo, normalmente imposto como punição aos atos violentos: A pena passa a possuir como maior função incutir nos membros da sociedade o medo do castigo, a partir não somente da previsão legal da sanção para todos os tipos de crimes, como também pelo exemplo conferido com a aplicação e execução desta sanção aos que praticam tais condutas. 49 No âmbito do direito penal, violência e punição andam juntas e os excessos punitivos são combatidos por representativos doutrinadores, entre eles, sob a ótica do “garantismo penal” 50 escreve Luigi Ferrajoli: A propósito, é necessário dissipar imediatamente um equivoco devido à própria falta, na nossa tradição teórica, da distinção aqui operada entre direitos fundamentais e situações de poder: os primeiros exercitados por atos improdutivos de efeitos e, portanto, por sua natureza não nocivos a terceiros; as segundas exercitadas por atos produtivos de efeitos na esfera jurídica alheia. Caso se acolha esta distinção, não é verdadeiro que toda lei, como escreve Benthan, limita a liberdade. Limita a liberdade as leis que comprimem direitos fundamentais, como, por exemplo, as normas penais sobre delitos de opinião, ou de associação, ou de reunião. Ao contrário, as leis 48 ZAFFARONI, Eugenio Raúl & PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito penal brasileiro, volume 1: parte geral. 6ª . ed. São Paulo. Ed. Revista dos Tribunais, 2006, p. 64. 49 50 TRENTO, Ciro. Pena abaixo do mínimo legal. Porto Alegre: WE Editor, 2003. A terminologia “garantismo penal” relaciona-se ao esquema científico elaborado principalmente por Luigi Ferrajoli, jurista italiano, que defende limites e critérios na atuação jurisdicional, além de desenvolver análise epistemológica da cognição judicial. Estudos mais aprofundados nessa direção, embora reconhecidamente importantes, não são objeto desse trabalho. (Nota da autora da Monografia). emanadas sob a tutela de tais direitos limitam mais os poderes dos sujeitos mais fortes, em garantia das liberdades ou das expectativas dos sujeitos mais fracos.51 Tais posicionamentos alertam para a necessidade da tutela dos direitos fundamentais, entre eles os que tutelam os direitos das crianças e dos adolescentes, conforme abordar-se-á no próximo capítulo desta Monografia. Ainda no que tange a essas questões, Maria Victória Benevides aponta “aspectos significativos da violência urbana contemporânea”, segundo ela: A exacerbação da agressividade de setores da população economicamente mais marginalizada e, portanto, mais exposta às violências cotidianas de todos os tipos (os dramas do desemprego, desnutrição, péssimo atendimento nos serviços básicos como transporte e saúde, a precariedade de habitação, etc.) - O descrédito na eficácia da policia e na “justiça” da ação da Justiça. - A incorporação dos métodos mais violentos da própria polícia.52 Nesse escopo há que se refletir a relação da violência com as questões sociais, conforme as autores acentuaram. Dessa forma, com esses destaques iniciais, objetiva-se enfatizar os aspectos relacionados à compreensão da terminologia que contribuem para ampliar o entendimento proposto. Ao longo do desenvolvimento dessa Monografia aprofundar-se-ão os aspectos jurídicos pertinentes, com ênfase na problemática da violência no contexto escolar, dando continuidade ao trabalho com o próximo enfoque. 1.3 ABORDAGENS HISTÓRICAS E SOCIOLÓGICAS 51 FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão. Teoria do garantismo penal. Trad. Ana Paula Sica e outros. 2ª. ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2006. 52 BENEVIDES, Maria Victoria et al. Respostas populares e violência urbana. In PINHEIRO, Paulo Sérgio. Crime, violência e poder. São Paulo: Brasiliense, 1983, p. 228 Ao lado da abordagem jurídica há que se considerar que a violência que atinge a vida e a integridade física das pessoas é um produto de modelos de desenvolvimento que tem suas raízes na História. Justifica-se portanto, a busca por raízes históricas desse entendimento, sendo que a abordagem sociológica contribui para elucidar diversos aspectos, sendo que os estudos de autores como Michel Maffesoli, Michel Foucault e Anthony Giddens tornam-se imprescindíveis e serão oportunamente aprofundados nesta Monografia. A violência pode ser considerada de âmbito público ou no âmbito privado. A primeira é mais visível, influi e distorce a imagem da sociedade. É a que mais preocupa o Estado, pois é geradora de polêmica. A segunda é mais velada, pois na maioria das vezes ocorre entre as paredes do convívio restrito, como é o caso da violência familiar, com o cônjuge ou com os descendentes. Segundo Gauer53 a violência pode ainda ser de gênese estrutural ou de conjuntural, sendo que a primeira afeta uma parte significativa da população e várias instituições. A violência estrutural é comparada pelos autores a uma doença crônica, pois é instalada numa parte da sociedade e vai criando metástases por toda a sociedade. Sustentam os autores que os atos violentos estão relacionados aos valores, crenças, interpretações sobre o bem e o mau, impulsionando ações que forçam os indivíduos a operarem de acordo com essas convicções. Nessa vertente, estudos como de Anna Freud54 aludem ao fato do equilíbrio interno, quando perturbado, alterar aspectos da personalidade, por conseqüência influencia o meio onde se inserem. Essas pesquisas comprovaram que graves distúrbios da socialização acontecem quando a identificação com os pais é desintegrada através de separações, rejeições e outras interferências com os vínculos emocionais existentes entre a criança e as figuras parentais. Reforça ainda que o cidadão normal, perante a lei, perpetua a posição infantil de uma criança ignorante e complacente, em face aos seus pais opressores. O delinquente perpetua a atitude da criança que ignora ou menospreza, ou desobedece à autoridade parental e atua em desafio desta. 53 GAUER, , Ruth Maria Chittó et GAUER, Gabriel José. A fenomenologia da violência. Curitiba: Juruá, 2005. Apud FREIRE,, Isabel P., (1995), "Perspectivas dos Alunos acerca das Relações de Poder na Sala de Aula - Um estudo transversal". In Estrela, A., Barroso, J. & Ferreira, J. A Escola: Um Objecto de estudo. Lisboa: AFIRSE Portuguesa, Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Lisboa, pp. 755-768. 54 De acordo com as inferências de Anna Freud, qualquer indivíduo é passível de exercer atos de violência, uma vez registrada uma ruptura com a normalidade. No entanto, num indivíduo que não tenha patologias associadas, após a ruptura, retorna ao estado de acalmia e sua normalidade interior também é restaurada 55. Importante registrar que também na abordagem psicológica, a violência é entendida como inerente ao ser humano. Todavia o exercício desmedido, desproporcional, frequente é que torna-se considerado desviante da normalidade. Nessa vertente, considerando o ser humano como produto do social, Michel Foucault destaca a imposição da disciplina, como forma de contenção da violência, pois “assim como se fabricavam os soldados, se fabricam os homens aptos ao trabalho, que sabem a hora de falar, a hora de pedir permissão, a hora de dormir, de comer, de casar, de se aposentar (...)” a disciplina transformou todos em “máquinas” destinados à produção nas fábricas. A disciplina fabrica o que Foucault denominou de “corpos dóceis”. Para o autor, foi absolutamente necessário constituir o povo como um sujeito moral, portanto separando-o da delinqüência, separando o grupo dos denominados delinqüentes, mostrando-os como perigosos não apenas para os ricos, mas também para os pobres, mostrando-os carregados de todos os vícios e responsáveis pelos maiores perigos. Desde o nascimento da literatura policial e da importância, nos jornais, das páginas policiais, das horríveis narrativas de crimes.56 Ainda segundo Michel Foucault a ideia que embasava a punição na escola clássica era de que a pena deve ser visível para sempre deixar viva a representação do castigo como consequência da infração. Abordar-se-ão na continuidade dessa Monografia, outros aspectos a esse respeito. Estudos reconhecidos no meio jurídico-acadêmico, efetivados por Maffesoli abordam também a violência em várias obras. Em Maffesoli57 a violência é tratada como parte da ordem social, com um lugar definido e estruturante na sociedade. Segundo o autor, apesar da 55 Devido aos limites do presente trabalho acadêmico, e de sua ênfase aos aspectos jurídicos, as abordagens psicológicas acerca da violência não serão aprofundadas. 56 FOUCAULT, Michel. Ciência e Saber: a trajetória da arqueologia de Foucault. Rio de Janeiro, Ed. Graal, 1982 57 MAFFESOLI, Michel. Dinâmica da violência. São Paulo: Vértice, 1987. anomia aparente, a violência garante um movimento social de ordem, seja na manutenção da vigente, ou na antecipação de uma nova a ser constituída. A possibilidade da violência criaria a necessidade do estabelecimento de normas de convivência e estruturação de parâmetros para a vida em sociedade. Como exemplo, o autor cita a regulamentação dos armamentos, as lutas, os duelos da antiguidade e na era moderna as competições esportivas e mais hodiernamente os direitos humanos que regulam as relações sociais em países democráticos. Michel Maffesoli adjetiva violência conforme as formas como se manifesta na sociedade, pois adquire diversas facetas, qualificando-a como violência institucionalizada: caracterizada por estar atrelada à burocracia do Estado, sendo seletiva e garantindo a manutenção do poder instituído; violência banal, manifestada pela aceitação de situações apresentadas de forma exaustiva e recorrentes na mídia, que causam cada vez menos espanto ocasiona, pois fazem parte do cotidiano não refletido da maioria das pessoas. Essa banalização, resultado da presença da violência em todos os níveis e em todas as idades, até nos jogos e desenhos infantis58 acarreta uma maior tolerância e até indiferença à violência, verificável em nossa realidade atual. Para o autor, há ainda a violência anômica, que traduz as contradições existentes na sociedade, manifestada por aqueles de divergem da ordem instituída; seria a violência dos “dissidentes’’ conforme aponta o autor59. Tais elaborações são utilizadas por diversos estudiosos da questão da violência no Brasil, dentre eles, Ruth Chittó Gauer, utilizando-se do aporte teórico de Michel Maffesoli, acentua que a violência torna-se exposta e de tal forma escancarada, conforme é destacado, que se transforma em: [...] simples dado do cotidiano, entre tantos outros, e talvez não menos incômodo. Estabelece-se um estado geral de apatia, de tranqüila “aceitação”, tanto nos que 58 A esse respeito, registra-se o interessante trabalho de Alice Agnes Spindola Mota, da Univ. de Tocantins, que aborda a influência da violência dos desenhos animados sobre o comportamento das crianças. Disponível em: http//www.artigocientifico.uol.br/ br/uploads/artc_1191873605_98.doc. Acesso em13.02.2011. 59 MAFFESOLI, Michel. Dinâmica da violência. São Paulo: Vértice, 1987, p.185. aplicam a violência, direta ou indiretamente, como naqueles que a sofrem diuturnamente.60 Gauer ressalta a conotação da violência interna, manifestada principalmente pela transgressão decorrente da “falta de valores”, ou da substituição daqueles consagrados como virtudes, por outros relacionados ao consumismo exacerbado, cuja luta pelo sucesso econômico e capacidade financeira levam ao cometimento de atos de violência, na maioria das vezes ligados à aquisição de bens materiais e ao status social.61 Manifestações estas que o Direito Penal tem exaustivamente se ocupado nas ocorrências de furtos, roubos, assaltos e toda gama de crimes relacionados a ofensas ao patrimônio; notadamente com o avanço do tráfico de drogas e suas conseqüências sociais como o aumento da criminalidade, característica dos centros urbanos economicamente desenvolvidos. O questionamento formulado pelos autores é inquietante, pois: A pergunta que se faz, quando se fala em violência, refere-se ao sentido de se voltar a um tema que está presente em nosso cotidiano comum dos fenômenos sociais mais inquietantes do mundo atual. Vista dessa forma, podemos dizer que a violência é um elemento estrutural, intrínseco ao fato social e não o resto anacrônico de uma ordem bárbara em vias de extinção. 62 Aceitando esse entendimento pode-se auferir que a violência é, portanto, intrínseca à própria existência social, inerente à vida do ser humano, pois é encontrada em todas as formas de sociedade. O que de fato mudam são suas formas e a intensidade com a qual se manifestam. Nessa vertente, continuam as elaborações pois para Gauer “Esse fenômeno aparece em todas as sociedades; faz parte, portanto, de qualquer civilização ou grupo humano, basta atentar para a questão da violência no mundo atual, tanto nas grandes cidades como também nos recantos mais isolados.63 60 GAUER, , Ruth Maria Chittó et GAUER, Gabriel José. A fenomenologia da violência. Curitiba: Juruá, 2005, p. 15. 61 GAUER, Ruth Maria Chittó et GAUER, Gabriel José. Op. cit. 2005, p. 16-25. 62 Idem, p.13. 63 Idem, p.17. Na mesma direção, Sposito salienta que “ os episódios de violência tendem a aumentar em nossa sociedade, pois na medida em que os conflitos se acirram e não são discutidos e solucionados, mais se acumula ‘larvas de um vulcão’ que está sempre prestes a entrar em erupção64 Ristum alerta para a realidade de que a violência está diretamente relacionada à exacerbação das desigualdades e que para enfrentar essa problemática são necessárias diversas ações, mediadas pela vontade política dos agentes, conforme continua a ser defendido na referida obra: O enfrentamento político da questão da violência passa pela compreensão de seus determinantes sociais e sua distribuição na cartografia urbana. A tarefa complexa que se apresenta hoje, como prioridade, ao /Estado, dentro do objetivo de desenvolver com sucesso uma abordagem da questão da violência que incorpore a presença do caráter relacional no binômio agressor-vítima, é a de promover o estabelecimento da confiança da sociedade em relação à iniciativa estatal, derivando daí o reconhecimento de sua competência.65 A preocupação com o enfrentamento da violência tem relação com a melhoria das condições de vida, ao acesso à educação, trabalho, moradia, saúde e segurança, dentre outras garantias constitucionais, conforme destaca-se no presente trabalho. Quanto ao enfrentamento da questão da violência, com ênfase na verificada no contexto escolar, abordar-se-á oportunamente nos capítulos subsequentes desta Monografia, conforme proposto nos objetivos do trabalho. Ainda, no que concerne ao o uso da violência física para dirimir conflitos de toda ordem, é necessário considerá-la como uma questão importante a ser enfrentada por todos os estudiosos e de maneira especial pelos operadores do Direito, enquanto parcela fundamental de intelectuais que direcionam constantemente seu olhar para a questão. 64 SPOSITO, M. P. Um breve balanço da pesquisa sobre violência escolar no Brasil. São Paulo: Educação e Pesquisa, n. 27 (1), 2001, p. 87-103. 65 RISTUM, M. (2004b). Violência: uma forma de expressão da escola? São Paulo: Caderno de Filosofia e Psicologia da Educação, v. 2, p.103. Nesse sentido Silva66 contribui teoricamente com essas reflexões ao escrever que: “A violência, [...], pressupõe o entendimento, ou conceitualização, sem a qual a discussão corre o risco de tornar-se estéril ou fragmentária. Falar sobre a violência é falar sobre um universo tão amplo como tratar da própria sociedade com toda sua complexidade” 67 Sociedade complexa esta, cujas tramas e tecituras envolvem uma diversidade de relações, de interesses, de grupos, onde a violência é componente cada vez mais presente e que necessita ser estudada. Também abordando essa complexidade, desenvolve a ideia das “tribos urbanas” (metropolitanas ou regionais) que se constitui nas: [...] diversas redes, grupos de afinidades e de interesse, laços de vizinhança que estruturam nossas megalópoles. Seja ele qual for, o que está em jogo é a potência contra o poder, mesmo que aquela não possa avançar senão mascarada para não ser esmagada por este. 68 Em sua obra “A violência totalitária: ensaio de antropologia política” Michel Maffesoli continua estudando essa problemática, propondo reflexões antropológicas sobre o tema, a partir da organização da polis da antiguidade greco-romana, onde violência e revolta caminhavam juntas; até a instauração de uma nova organização, fundamentada na violência urbana, ligada à ideia de progresso e utilidade que “privilegiaram o econômico e o controle racionalizado, descartando as outras dimensões sociais.’’69 Nessa direção, constata-se que um dos autores que também exaustivamente estudaram a violência foi Anthony Giddens, cujas elaborações constituem-se em respaldo teórico, conforme registrou-se na Introdução desta Monografia, que forneceram importante escopo para o trabalho. 66 SILVA, M.L. “A racionalização da violência penal e o movimento codificador do século XIX”: o caso brasileiro. In: GAUER, J.C. A fenomenologia da violência. Curitiba: Juruá, 2005, p. 93. 68 MAFFESOLI, Michel. O Tempo das Tribos: O declínio do individualismo nas sociedades de massa. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1998, p. 16. 69 MAFFESOLI, Michel. A violência totalitária – Ensaio de antropologia política. Porto Alegre: Sulina, 2001 É assim que encontra-se na obra de Giddens “Para além da esquerda e da direita: o futuro da política radical”,70 a questão da violência abordada sob diversos aspectos, permitindo ampliar a percepção no que concerne a abordagens histórica, sociológica e política que permeiam a sua compreensão. Para Giddens violência sempre existiu na história da humanidade, assumindo inclusive um papel preponderante que possibilitou a própria sobrevivência da civilização e o seu desenvolvimento. Em seu trabalho, Giddens relaciona o surgimento da violência à própria existência do homem no planeta, pois foi para sobreviver que o ser humano aprendeu a lutar, a se defender das intempéries, dos outros animais e na seqüência partiu para a luta entre sua própria espécie. Dessa forma, o aprendizado da guerra pelos homens aconteceu desde o inicio da História e acontecia enquanto expressão da agressividade masculina, ligado ao heroísmo, honra e espírito de aventura, conforme escreve: Na sociedade pós-militar, existe um movimento de avanço e recuo entre o declínio dos ideais de masculinidade nesses diversos sentidos e a entrada das mulheres na cena pública.[...] Nesse ínterim, os valores masculinos que acompanhavam o militarismo estão se desgastando ou tornando-se ambíguos, como resultado do avanço da igualdade de gêneros e do crescimento da reflexividade social. 71 Ainda em seus estudos, Giddens, preocupa-se com a atribuição de conceitos, ao afirmar que “O problema com tais conceitos é que eles tornam constante um fenômeno já bastante difundido. Perde-se de vista aquilo que é específico à violência da forma entendida comumente – o uso da força para causar dano físico a outra pessoa.” (grifo da autora da Monografia) 72 Ainda segundo Giddens (1999, p.260) “Violência” foi, às vezes, definida de uma forma bastante ampla. Johan Galtung, por exemplo, defende um “conceito extensivo de violência” que se relacionaria a um amplo conjunto de condições que inibem o desenvolvimento das oportunidades de 70 GIDDENS, Anthony. Para além da esquerda e da direita: o futuro da política radical. Trad.de Álvaro Hattnher. São Paulo: UNESP, 1999. 71 GIDDENS, Anthony. Para além da esquerda e da direita: o futuro da política radical. Trad.de Álvaro Hattnher. São Paulo: UNESP, 1999,p 226. 72 GIDDENS, Anthony. Para além da esquerda e da direita.,p. 261 vida dos indivíduos. Violência é qualquer barreira que impede a realização de potencial, sendo essa barreira social e não natural [...]73 Ao abordar a violência civil organizada, sob a forma da guerra, Giddens (1996, p. 143) volta a alertar para a proliferação das formas de violência, pois: [...] A violência civil organizada, sob a forma de guerra civil, tornou-se muito mais a exceção do que a regra. No entanto, é provável que essa pacificação interna tenha sido obtida com o pano de fundo de uma preparação crônica para a guerra externa. Solidariedade em casa, inimigos bem definidos lá fora. Era esse, afinal de contas, o contexto no qual os direitos de cidadania ampliaram-se [...]74 Embora compreendendo que Giddens opta por uma abordagem macro da temática , pois refere-se a estados nações e que também analisa as guerras e como os fundamentalismos hoje existentes atuam, não há como deixar de reconhecer as contribuições de sua análise, que se dá no sentido das transformações sociais e no potencial para a guerra que os homens sustentaram ao longo da civilização. Nessa vertente, o autor procede a sustentação da persistência da divisão de gêneros e possibilidades de uma teoria normativa da violência. Ainda aprofundando essa reflexão, o autor assevera que [...] “a influência da violência estende-se desde a violência masculina contra as mulheres até a guerra em grande escala, passando pela violência casual das ruas.”75. Ao discutir a modernidade e suas consequências, em seu livro “As consequências da modernidade”76 acrescenta Giddens: “O monopólio bem-sucedido dos meios de violência por parte dos estados modernos repousa sobre a manutenção secular de novos códigos de lei criminal, [...] o controle supervisório de “desvios””. Ficou evidenciado que a questão do controle da violência é recorrente nas discussões políticas e sociológicas. Tal se justifica pela pertinência da preocupação. A própria organização social, cada vez mais complexa nas sociedades contemporâneas, exige esse olhar cuidadoso. 73 GIDDENS, Anthony. Para além da esquerda e da direita.p. 260 GIDDENS, Anthony. Para além da esquerda e da direita p. 143 75 Op.cit. p.27. 76 GIDDENS, A. As consequências da modernidade. Tradução de Raul Fiker. São Paulo: UNESP, 1991, p.65. 74 Nas relações sociais, muitas vezes marcadas pela desigualdade, injustiça e pela premente necessidade de combate a pobreza, é mister conhecer com maior profundidade as elaborações de autores como Giddens, pois ao analisar as “Questões de atuação e valores” conclusivamente afirma: Vista de uma forma abrangente, uma estrutura de política radical se desenvolve segundo uma perspectiva de realismo utópico e em relação às quatro extensas dimensões da modernidade. Combater a pobreza, absoluta ou relativa; restaurar a degradação do meio ambiente; contestar o poder arbitrário; reduzir o papel da força e da violência na vida social (grifo nosso) – são esses os contextos direcionadores do realismo utópico. 77 As afirmações Giddens remetem à reflexões sobre a origem da violência nas sociedades onde há desigualdade social, pobreza, degradação do meio ambiente, poder arbitrário, que conduzem a situações tais de marginalidade que necessitam ser combatidas de forma abrangente. Para tanto, ressalta-se nesse trabalho as contribuições dos operadores do Direito, que nesse sentido podem (e devem) ser significativas, na busca por uma convivência social mais justa e igualitária e pela garantia no cumprimento dos direitos fundamentais, e claro, dentre eles, o da educação, conforme têm-se salientado, no decorrer dessa Monografia. Nessa direção, Augusto Jobim do Amaral é também incisivo em suas elaborações ao escrever: Quando falamos de violência objetiva estamos a referir a estas formas mais sutis de coerção que sustentam de algum modo as relações de dominação e de exploração. A lógica auto-geradora e insana da circulação do capital (o Real da dança especulativa do capital), se assim quisermos definir, passa por aí. Não se trata meramente de aceitar este novo patamar do capital como uma simples abstração ideológica que ignora tudo e todos, uma percepção distorcida da vida social material cotidiana, que dispensa pessoas reais e recursos naturais. Por trás desta abstração, por óbvio, há seres humanos vivendo, sofrendo e consumindo em seu meio ambiente frágil, mas isto não é suficiente. Não pára por aí. Não basta dizer que o que existe, de um lado, é a realidade social (base da circulação do capital, numa leitura marxista, que a tudo se reduz) e, doutro, o parasita gigante que suga suas forças. Isto porque esta abstração é 77 GIDDENS, Anthony. Para além da esquerda e da direita: o futuro da política radical. Trad.de Álvaro Hattnher. São Paulo: UNESP, 1999 p. 279. radicalmente concreta, ela estrutura processos materiais – vide o comportamento indiferente do especulador que pode mandar à bancarrota um país inteiro pelo teclar de seu palm top[...]78 Dessa forma, além de preocupar-se em extrapolar o mero entendimento da realidade, que embora seja obviamente necessário, mas que por si só não garante que as mudanças ocorram, há que se prosseguir com as reflexões. É nesse sentido que ao abordar essa temática, o Juiz Federal e professor no Rio Grande do Norte, Ivan Lira de Carvalho79 , ressalta que: Assim, tanto é violenta a ação do ladrão, que não hesita em esfaquear a vítima, para desta subtrair um relógio, como é violenta a inação (ou omissão)80 do Estado, conivente com a proliferação de favelas nas cercanias e no seio das urbes, habitadas pela escória da cidadania, sem acesso à saúde, à educação e até mesmo à alimentação.” 81 Há que se registrar também os diversos estudos sobre as causas da violência e da criminalidade, entre eles, “Um resumo das principais abordagens sobre as causas da violência e da criminalidade” 82 que apresenta as tentativas teóricas de explicação das causas da criminalidade, entre elas: as teorias focadas nas patologias individuais, teoria da desorganização social, teoria do estilo de vida, da associação diferencial (do aprendizado social), do controle social, do autocontrole, da anomia, interacional, econômica e da escolha racional. Tais elaborações teóricas demonstram a dificuldade de estudar a violência, por se tratar de fenômeno complexo e multifacetado; todavia demonstram também a pertinência dos esforços interpretativos, conforme Cerqueira & Lobão a seguir alertam: 78 AMARAL, , Augusto Jobim do. Violência e Processo Penal: crítica transdisciplinar sobre a limitação do poder punitivo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008 79 CARVALHO, Ivan Lira de. A violência no Brasil. Disponível em http//www.jfrn.gov.br – Acesso em 14 set.09 80 Nota explicativa inserida pela autora do Projeto de Monografia. 81 CARVALHO, Ivan Lira de. A violência no Brasil. Disponível em http//www.jfrn.gov.br – Acesso em 14 set.09. 82 Disponível em: http//: www.segurancacidada.org.br acesso em 09.02.11 – (site da Secretaria de Direitos Humanos – Presidência da República – Brasil) Vários autores procuraram elaborar um modelo integrado para explicar a violência, cujo enfoque se dá nos vários níveis estrutural, institucional, interpessoal e individual. Tais anseios decorreram da percepção empírica de que a violência e a sua tolerância variam significativamente entre as sociedades, entre as comunidades e entre os vários indivíduos. Um primeiro uso foi de Bronfrenbrenner (1977), que procurou explicar o desenvolvimento humano e a psicologia social. Outros autores buscaram entender, por meio dessa abordagem, a etiologia de dinâmicas criminais específicas, como Belsky (1980), que se preocupou com o abuso infantil; [...]83 Embora com as dificuldades inerentes ao conteúdo cultural, psicológico, sociológico, histórico, antropológico e jurídico das abordagens sobre a violência, e suas manifestações, o autor destacou o modelo ecológico, atribuído a Shrader: Segundo essa abordagem, mais do que atribuir importância a determinadas características isoladas, o modelo – que ficou conhecido como modelo ecológico (ver Shrader, 2000) – considera que a combinação de tais atributos pertencentes àqueles diferentes níveis ocuparia um papel central na explicação da violência. Com intuito ilustrativo, apresenta-se a representação de “Um arcabouço integrado para a causalidade da violência”, conforme Cerqueira e Lobão onde inserem-se as estruturas econômica, política e social que incorporam crenças e normas culturais que permeiam a sociedade, observadas na Figura 1, baseada em Moser e Shrader (1999).84 83 CERQUEIRA, Daniel & LOBÃO, Waldir. Determinantes da criminalidade:arcabouços teóricos e resultados empíricos. Revista Dados, vol. 47. n. 2 Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro: 2004 84 Conforme SHRADER, E. (2000), Methodologies to Measure the Gender Dimensions of Crime and Violence. Washington, DC, World Bank. (apud CERQUEIRA, Daniel & LOBÃO, Waldir. Determinantes da criminalidade:arcabouços teóricos e resultados empíricos. Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro: 2004. Revista Dados, vol. 47. n. 2 Instituto A representação gráfica é elucidativa, pois demonstra que há uma interrelação nos fatores que influenciam a violência, dessa forma, podemos conclusivamente inferir que são determinantes as influências culturais, históricas e conjunturais, que incidem na problemática da violência. Notadamente algumas dessas influências podem se configurar como mais determinantes que outras em diferentes contextos. Inegavelmente todas contribuem no esforço explicativo das causas da violência. Nesse sentido, escrevem Cerqueira & Lobão: vezes elas (as causas da violência)85 interagem em vários níveis, conforme apontado no modelo ecológico, fazendo com que as próprias dinâmicas criminais funcionem como motivadoras de outras.[...] Fica evidente, portanto, a partir da exposição dos vários modelos que explicam os determinantes da criminalidade, tratarse de um fenômeno complexo e multifacetado, mas que possui determinadas regularidades estatísticas que variam conforme a região e a dinâmica criminal, em particular. 86 [...] Muitas Portanto a questão espacial, do local onde a violência é observada, é também preponderante nas análises e necessita ser abordada. Com esse intuito é que passa-se a abordar, no próximo Capítulo, a violência no Brasil. 85 Inserção explicativa da autora da Monografia. CERQUEIRA, Daniel & LOBÃO, Waldir. Determinantes da criminalidade:arcabouços teóricos e resultados empíricos. Revista Dados, vol. 47. n. 2 Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro: 2004. 86 Retomando-se que até então o estudo desenvolvido propiciou evidenciar aspectos da violência cujos enfoques de cunho léxico, semântico, filosófico, histórico, e sociológico forneceram o escopo necessário para o entendimento jurídico aprofundado de uma realidade multifacetada e complexa como é a da violência. Nessa vertente, importante registrar a citação de Morin (apud Dias) de que “a vocação da ciência não consiste apenas em elaborar respostas, mas sobretudo em colocar questões; estas sempre atuais, sintonizadas com os acontecimentos do presente.” Alerta também a autora que: Incumbe aos filósofos e teóricos do Direito refletir sobre a dramaticidade de nossos tempos e perceber as formas nascentes de socialidade; pois estas são fontes de inspiração para a revisão constante do Direito posto e referência fundamentais para a proposição de novos direitos. O escopo da revisão do Direito consiste em levá-lo a adequar-se às demandas concretas e sempre renovadas de Justiça. Colocadas pela Sociedade o caráter de justiça do Direito desvela sua eticidade e seu modo de nascimento societal expressa seu caráter democrático.87 Considerações como estas da autora são pertinentes nessa análise, pois remete a responsabilização dos profissionais que objetivam comprometer-se com as mudanças sociais e com as conquistas dos direitos fundamentais. Nessa direção, estudos são imprescindíveis, cuja continuidade, abordando a violência no Brasil e suas implicações no contexto escolar, além de aspectos concernentes à Lei . 8.069/1990, propiciarão os aprofundamentos objetivados no próximo Capítulo. 87 Disponível em http//www.6.univali.br/seer/index.php/nej/article/download/424/366 DIAS, Maria da Graça dos Santos. A utopia do Direito justo. Acesso em 14.03.2011. 2 A VIOLÊNCIA NO BRASIL ASPECTOS DESTACADOS REFERENTES À TEMÁTICA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE A nova lei reguladora dos preceitos constitucionais, em sua primeira parte, arrola os direitos das crianças e adolescentes; e, na segunda, a forma de viabilização desses direitos. É aí pois, que se insere e se torna relevante a figura do advogado. (grifo nosso)88 Conforme foi constatado anteriormente, a violência assume diferenciadas formas de manifestação e se configura em consonância com fatores históricos, culturais, sociológicos dentre outros, e diverge conforme a realidade, que é dinâmica e contraditória. Diverge também de país para país, isso porque cada povo, cada nação tem suas características próprias que compõe a identidade nacional onde preponderam aspectos culturais, históricos e políticos, entre outros. Passa-se portanto a abordar a violência no contexto brasileiro, selecionando-se entre os doutrinadores, as concepções que coadunam-se com os objetivos do presente trabalho. Ainda, buscou-se em pesquisas recentes, dados quantitativos e interpretações que propiciassem o entendimento dessa realidade que refere-se à violência no Brasil e suas relações com as crianças e adolescentes no contexto escolar. 2.1 A VIOLÊNCIA NO BRASIL: BUSCANDO A MULTIPLICIDADE DE ENFOQUES Em se tratando de um país como o Brasil, pluricultural, pautado pela diversidade e com uma realidade social caracterizada pelas desigualdades, há que se perceber a violência 88 VERONESE, Josiane Rose Petry. Temas de Direito da Criança e do Adolescente. São Paulo: LTr, 1997, p.97. de divergentes formas, cujo olhar necessita de atenção e sensibilidade para compreender esse caleidoscópio de imagens.89 Nesse escopo, relevante pesquisa realizada pelo Núcleo de Violência e Justiça da Faculdade de Serviço Social da PUC-SP deu origem o livro coordenado por Isaura de Mello Oliveira, que conta com textos de Graziela Acquaviva Pavez e Flavia Schilling. Conforme as autoras: As causas da violência são várias e se combinam de forma diversa, conforme o país em questão. No Brasil, o quadro é pintado com as cores da pobreza absoluta, da exacerbação das desigualdades sociais e da urgência de um projeto coletivo que mobilize os jovens, o que vem gerando o terreno propício à disseminação da violência, numa sociedade em que poucos conseguem satisfazer todas ou quase todas as suas necessidades, sonhos e desejos. A “permissão social” para dar vazão ao sofrimento está freqüentemente negada, subjugada ao medo e à sobrevivência. 90 De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil é um dos países com maior número de homicídios no mundo, tendo liderado o ranking mundial em 200391, o que coloca o problema na pauta dos maiores desafios a serem superados no cenário nacional. Conforme já abordou-se, é estudado por doutrinadores que a violência e a criminalidade são decorrentes da confluência de múltiplos fatores, tanto individuais como estruturais. Nesta análise, embora se credite o fenômeno a uma associação entre esses aspectos, a análise centra-se na defesa de que as raízes estruturais da violência são as que podem (e devem) sofrer intervenções do Estado por intermédio de políticas públicas que garantam o combate às desigualdades sociais e econômicas (oportunizando alternativas de trabalho, educação, saúde e segurança, entre outras garantias fundamentais), o planejamento urbano, pensado no sentido de propiciar o acesso a bens culturais, de lazer, mobilidade e outras que propiciem o exercício da ampla cidadania; que caminha na contramão da violência. 89 A metáfora do caleidoscópio utilizada aqui pela autora da Monografia baseia-se em Hernández, Fernando. Metodologia de projetos, o conhecimento é um caleidoscópio. Porto Alegre: Artmed, 2009. 90 OLIVEIRA, Isaura de Mello. Reflexões Sobre Justiça e Violência: O Atendimento a familiares de vítimas de crimes fatais. São Paulo: EDUC. Imprensa Oficial do Estado, 2002, p.13. 91 Disponível em http//www.portal.saude.org.br acesso em 25.04.2011 A crescente urbanização, a que se pode atribuir o aumento da violência é constatada pelos índices oficiais, pois segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística92 (IBGE), no ano de 2002, o Brasil atingiu um índice de urbanização de 84,14%, configurando-se como uma nação amplamente urbana. Com base em dados da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL), sabe-se que em 2000 a taxa média de urbanização da América Latina era de 75%, sendo esta já considerada alta. O Brasil portanto superou essa taxa, justificando-se a preocupação com o crescimento acelerado, principalmente nas grandes cidades, sem que os investimentos em infraestrutura acompanhem as novas demandas. Segundo Pestana, nas últimas décadas, após o período de ditadura militar, principalmente com a democratização pós constituinte, a transição democrática, ainda em curso, tem esbarrado numa enorme dificuldade em inserir a atuação penal nesse paradigma político. Escreve a autora: Mais do que isso, os limites ao processo de democratização, presentes na atuação desse setor estatal, remete-nos à idéia de que o campo jurídico ainda não acompanhou as mudanças democráticas. Mesmo que o discurso corrente entre os profissionais do Direito afirme a democratização da Justiça Penal, na prática observa-se uma forte Continuar no caminho da consolidação democrática, cujo importante passo já foi dado na promulgação da Constituição de 1988, é um desafio a ser partilhado por todos, e de forma especialmente responsável pelos operadores do Direito. Isso porque, conforme Norberto Bobbio, o respeito e o cumprimento das legislações ainda não são uma prática social arraigada, afinal, os direitos humanos não são herdados; eles precisam ser conhecidos, respeitados e conquistados a cada dia. Ressalta ainda que “o problema fundamental em relação aos direitos do homem hoje não é tanto o de justificá-los, mas o de protegê-los. [...] Trata-se de um problema não filosófico, mas político”93 Nesse trajeto, há que se ressaltar o contexto brasileiro, posto que a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 contempla a educação no rol dos direitos sociais, 92 93 Disponível em http//www.ibge.org.br acesso em 25.04. 2011 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. 8ª. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1992, p.110. segundo o artigo 6º, bem como no Capítulo II “Da educação, da cultura e do desporto” que estão expressos nos artigos 205 a 214. Ainda os artigos 226, parágrafo 8º. e 227, parágrafo 4º., coadunam-se com as questões relacionadas à violência; cujo aprofundamento ainda será realizado nesta Monografia. Também, no que se refere ao aspecto jurídico, as leis criadas que abrangem a questão da violência infantil estão contempladas na “ Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) - art.3 e 5;” na “Declaração Universal dos Direitos da Criança” (1959) - Princípio 9º ; e ainda na “Convenção sobre os Direitos da Criança” , que a partir de 1990 o Brasil é signatário, em seus artigos: 19.1 e 2, 9, 34, 35, 36 e 39. Ordenamentos estes recepcionados na Constituição da República Federativa do Brasil, nos artigos já citados.94 No que concerne ao “Estatuto da Criança e do Adolescente”(1990) em seus artigos: 5, 13, 16, 17, 18, 56, 70, 87, 98, 101, 129, 130, 141, 206, 232, 233, 240, 241, 263, 245; trazem aspectos importantes de serem apontados, conforme será aprofundado nesta Monografia. Importante neste escopo, salientar o marco político e jurídico que a Constituição Federal de 1988 representa, sendo considerada a “Constituição cidadã” pelo rol de garantias que preceitua. São direitos e garantias que tanto do ponto de vista constitucional, como do ordenamento jurídico internacional estão presentes e que devem ser cumpridos. Percebe-se que há uma distinção entre direitos e garantias. Distinguindo direitos, de garantias, o constitucionalista José Afonso da Silva, sustenta que “os direitos são bens e vantagens conferidos pela norma, enquanto as garantias são meios destinados a fazer valer esses direitos, instrumentos pelos quais se asseguram o exercício e gozo daqueles bens e vantagens.”95 Assim, nos artigos 205 a 208 de nossa Lei Fundamental, em se adotando o critério referido, encontram-se delineados os contornos essenciais deste direito fundamental à educação, o que no entanto, nos remete a questionar quanto à eficácia desse direito. 94 Inclusive a Lei 8.072 de 1990, que refere-se aos crimes hediondos, traz a abordagem da violência contra crianças e adolescentes. Contudo, em que pese a importância, dado os limites propostos, essas situações não são objeto de estudo desta Monografia. 95 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional positivo, Ed. RT, 6ª. ed. 2007. Salienta-se ainda no escopo desse trabalho, que o Estatuto da Criança e do Adolescente, baseado na “Doutrina de Proteção Integral” se constitui no instrumento para se construir a cidadania infanto-juvenil, pois contém além dos princípios e um conjunto de estratégias de estruturas, dos mecanismos sociais e administrativos para organização social que possibilite a efetivação dos direitos e lhe mostram como corrigir os desvios do abuso e da omissão para garantir direitos, quando estes são ameaçados por alguém da família, da sociedade e do Estado, conforme se estará aprofundando neste trabalho monográfico. O Estatuto se estende a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação, mudando a concepção, passando a considerá-los como sujeito de direitos, pessoas em condição peculiar de desenvolvimento, a requerer proteção e prioridade absoluta no nível das políticas sociais. A Lei 8.069, veio em 1990, de encontro ao anseio de uma normatização específica que regulamentasse os direitos de crianças e adolescentes no Brasil. Todavia, sabe-se que os direitos necessitam de ações concretas para que se efetivem. Nesse sentido, configura-se a importância de ações como as desenvolvidas no “Programa de Formação para a Cidadania Infanto-juvenil”, projeto integrante do programa de extensão Unicidade da Universidade do Vale do Itajaí, , que abrange trabalho de conscientização em escolas municipais e entidades sociais em Itajaí, Balneário Piçarras, Baleneário Camboriu e Florianópolis, iniciado em 2003, cujo trabalho consiste em esclarecer sobre meio ambiente, direitos humanos e cidadania. Segundo suas coordenadoras: professoras Ana Claudia Delfini Capistrano de Oliveira, e Maria de Lourdes Alves Zanatta, as contribuições para as comunidades são representativas e os avanços visíveis.96 Além da premente necessidade do respeito aos direitos humanos, (conforme já abordou-se nesta Monografia), os problemas que marcam a realidade brasileira relacionam-se às consequências do desemprego, das dificuldades de acesso aos serviços essenciais, que levam invariavelmente ao aumento da criminalidade, necessitam ser equacionados para que não continue prevalecendo esse vertiginoso “efeito cascata” da violência urbana. É nesse escopo que Lahuerta alerta: “” [...] um traço que marca a experiência brasileira no século XX 96 Conforme Relato no: Fórum Nacional de Extensão e Ação comunitária das Universidades e instituições de ensino superior comunitárias. Direitos Humanos: infância e adolescência – a contribuição da extensão universitária. Joinville, Ed. Univille, 2008 é a presença simultânea de um intenso processo de modernização e de um baixíssimo compromisso com as instituições democráticas.”” 97 Percebe-se a modernização, o crescente processo de urbanização das cidades, o aumento da industrialização, o crescimento econômico. Todavia esse crescimento não acompanhou a satisfação da demanda por melhores condições de vida. Santos definiu a democracia brasileira como ainda restrita ao mercado, pois embora existente o discurso dos direitos humanos, a prática ainda é restrita no país pois: “A democracia de mercado impõe a competitividade como norma central, uma mpetitividade obtida através de normas privadas que arrastam as normas públicas.”98 Vale lembrar que democracia de mercado, ou seja, liberdade empresarial, a “livre empresa” e o incentivo ao empreendedorismo não levam necessariamente a democracia de oportunidades, à justiça social.É nesse contexto que o individualismo e a busca pelo sucesso profissional, pela acumulação de bens materiais gera um afã pela acumulação de riquezas, que via de regra, gera processos de exclusão, trazendo em sua “bagagem” o problema da violência, que urge por respostas. Todavia, as respostas dadas pelo poder instituído, na maioria das vezes, consiste em penalizar, criminalizar a violência, sem buscar suas razões, ou atacar suas raízes. Fica-se como a arrancar os arbustos da “erva daninha” que é aparente; enquanto as raízes, escondidas e oportunistas, se proliferam. Nessa linha, os governos democráticos contemporâneos frequentemente adotam uma posição punitiva que visa reafirmar a aptidão do Estado em punir e controlar a criminalidade, nem sempre com êxito. Diante do medo hegemônico gerado pelo crescimento da violência, muitas vezes amplificado pelos meios de comunicação de massa, o poder Judiciário cumpre sua função orgânica de proteger a elite que compõe, agindo com rigor no combate ao crime, em especial aquele proveniente das classes populares. Em um ciclo vicioso, o campo jurídico passa a associar a eficiência à repressão. Muitos, inclusive, ressentem-se dos limites legais que 97 PESTANA, Débora Regina. Justiça penal no Brasil contemporâneo: discurso democrático, prática autoritária. São Paulo: Ed. Unesp, 2003, p.218. 98 SANTOS, Milton. As cidadanias mutiladas: o preconceito. São Paulo: IMESP, 1997, p.13 protegem os direitos dos réus e dos condenados. Encaram os direitos humanos como uma restrição à sua prerrogativa de punir. Nesse sentido que Adorno (1994, p.126)99 ao referir-se a sociedade brasileira escreve que o recente passado de ditadura relaciona a terminologia de violência à transgressão dos direitos humanos e de desrespeito aos direitos de cidadania. Ainda segundo o autor esses direitos referem-se: [...] à integridade física do indivíduo, à igualdade perante a lei, à liberdade de pensamento e de convicção, bem como aos direitos coletivos e sociais [...] e incorpora, ainda os direitos humanos nas relações privadas; o direito das categorias, tais como a mulher, a criança e o idoso.” (grifo da autora da Monografia)100 Destaca-se a pertinência do autor na defesa dos direitos fundamentais, ressaltando inclusive que sua elaboração é de obra anterior à promulgação da Constituição vigente, portanto, antecipou-se de forma adequada ao que teóricos como Gramsci (1989)101 qualificam como uma das funções dos intelectuais orgânicos, ou seja, a de atuarem como “vanguardas” na defesa de direitos ainda não conquistados. Divergentemente, a legitimidade, simbólica e autoritária de ações punitivas, respaldadas pelo Direito Penal pretendem a manutenção do status quo delimitado pela busca da "tranquilidade da vida social” que é meramente aparente, conforme ressalta Benevides: A relação entre miséria, criminalidade e violência foi rapidamente aceita pela deologia dominante e passou a justificar os procedimentos policiais arbitrários, como: as operações de buscas com grande aparato bélico nos bairros operários e favela [...] as detenções ilegais que fundamentam o principio pratico de elucidar o crime selecionando do amplo contingente de possíveis suspeitos aqueles que eventualmente podem ter um envolvimento real.102 Relacionar criminalidade, miséria e violência é recorrente nos estudos das questões pertinentes ao assunto, notadamente entre os autores nacionais.Também as relações com a ética são evidenciadas ao estudar-se a violência no Brasil. Dessa forma, o esvaziamento de 99 ADORNO, Sérgio. Violência um retrato em branco e preto. São Paulo: FDE, 1994, p. 126. Idem, p. 127. 101 A esse respeito elabora GRAMSCI. Antonio. Os intelectuais e a organização da cultura. Rio de Janeiro, Civilização brasileira, 1989. 102 BENEVIDES, Maria Victoria et al. Respostas populares e violência urbana. In PINHEIRO, Paulo Sérgio. Crime, violência e poder. São Paulo: Brasiliense, 1983, p. 228. 100 conteúdos éticos nas relações sociais segundo Velho, conduz à ausência de um sistema de reciprocidade nas negociações sociais minimamente eficaz, que: [...] se expressa em uma desigualdade associada e produtora de violência. A impossibilidade de acesso da grande maioria das camadas populares a bens e valores largamente publicizados, através da mídia e da cultura de massas em geral, acirra a tensão e os ódios sociais. A inadequação de meios legítimos para realizar essas aspirações fortalece o mundo do crime. [...] 103 Relacionando a discussão às questões concernentes ao poder, Regina Célia Pedroso, desenvolve pesquisa antropológica sobre as raízes da violência no Brasil, associando-a fundamentalmente à estrutura vigente na sociedade. Isso assume a configuração de que atitudes violentas são comumente classificadas como forma de ação resultantes do desequilíbrio econômico vigente, conforme citando Roberto da Matta destaca: Nesse discurso, onde predomina a ‘razão prática’, a violência não é um mecanismo social e uma expressão da sociedade, mas uma resposta a um sistema. Quer dizer, nessa lógica, a violência está tão reificada quanto o poder, o sistema, o capitalismo, etc., como um elemento que é visto de modo isolado, individualizado, da sociedade na qual ela faz sua aparição. Como se a violência e o violento fossem acidentes ou anomalias que um determinado tipo de sistema provoca e não uma possibilidade real e concreta de manifestação da sociedade brasileira.104 Desigualdade e violência caminham juntas e necessitam ser combatidas, o que com certeza só se efetivará com ações concretas cujo planejamento pressupõe o conhecimento aprofundado da realidade. Nesse caminho de conhecimento, os dados das pesquisas que abordem a violência são essenciais, conforme passa-se a enfocar. 2.4 103 O QUE AS PESQUISAM REVELAM VELHO, Gilberto. Cidadania e violência. Rio de Janeiro: UFRJ, 2006, p. 19 MATTA, Roberto da. As raízes da violência no Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1982 apud PEDROSO, Regina Célia. Violência e cidadania no Brasil. 2ª. ed. Ática, 1999, p.40-1. 104 As pesquisas sobre violência contribuem para elucidar o entendimento sobre a temática. Todavia, preliminarmente à análise dos dados há que se considerar o que Fausto alerta pois: “Quase todos os estudos sobre a delinquência contêm ritualmente uma observação cética ou cautelosa a respeito das estatísticas criminais, a partir da constatação de que elas não dão conta da verdadeira extensão do fenômeno social que aparentemente espelhariam.”105 Portanto a interpretação dos dados necessita de efetivação cautelosa pois refletem números, que embora quantitativamente registrem a realidade, exige também um enfoque qualitativo. Isso posto, na Tabela I a seguir, conforme estudo realizado pelo CRISP (Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública) da Universidade Federal de Minas Gerais no período de 1980 a 2002 que evidenciou o crescimento das taxas de homicídio no Brasil. Tabela I – Crescimento das taxas de homicídios por 100 mil/hab. Brasil (1980 – 2002), por faixa etária: Período Até 14 anos De 15 a 24 De 25 a 34 De 35 a 44 De 45 a 64 65 ou mais 80 a 89 1,1 48,0 32,1 24,2 15,8 8,1 90 a 99 1,8 57,4 45,8 32,9 19,8 10,5 00 a 02 2,0 56,4 54,6 35,2 21,1 10,8 Fonte: SIM/DATASUS, CRISP/UFMG. Os dados demonstram portanto a elevação dos índices na maioria das faixas etárias, excetuando-se a ocorrida em 90-99 na faixa de 15 a 24 anos, quando diminuiu (apenas 1 por cento) na análise dos dois anos seguintes. A pesquisa realizada pelo CRISP também revelou 105 FAUSTO, Boris. Controle social e criminalidade em São Paulo. In PINHEIRO, Paulo Sérgio. Crime, violência e poder.(org.) São Paulo, 1983, p. 196. que a violência não se distribui uniformemente pela cidade, mas localiza-se em áreas específicas, portanto a população mais vulnerável é a da periferia das grandes cidades. Na esteira dessas considerações, também Camila Teixeira Heleno, cita pesquisa coordenada em 2006 por Regina Novaes, cujos dados coletados conduzem a reflexões no sentido de que: O mundo contemporâneo coloca esta geração em uma situação paradoxal; a expectativa de vida tem se ampliado para os mais velhos, enquanto os jovens têm demonstrado um sentimento de vulnerabilidade, cujos principais medos, segundo Regina Novaes106 são: bala perdida, policia, domínio do trafico, ser preso, ser violentada, ser espancada e enterrada viva, sofrer violência e sofrer injustiça [...] 107 Também são suas inferências de que: O medo da violência é socialmente compartilhado e estrutura as relações interpessoais no mundo de hoje. A presença de reações de violência entre as pessoas, e principalmente entre os jovens, tem sido verificada em varias pesquisas. A juventude, sempre considerada uma etapa perigosa desde o inicio de sua teorização no inicio do século passado, atualmente tem sido relacionada à criminalidade. E assim, mais contemporaneamente, os jovens passaram a ser 106 Citação da pesquisa em: NOVAES, Regina. Os jovens e hoje: contextos, diferenças e trajetórias. In; MENDES DE ALMEIA, Maria Isabel (org) Culturas jovens, novos mapas do afeto. Rio de Janeiro, Zahar, 2006. p.105-120 107 HELENO, Camila Teixeira; RIBEIRO, Simone Monteiro (org.)Criança e adolescente: sujeitos de direitos. Belo Horizonte: Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais, 2010, p.54 considerados os principais responsáveis pela urbana.[...] violência e criminalidade 108 Por outro lado, estudos mais recentes apontam nova faceta da violência. No trabalho do Ministério da Justiça publicado em 24 de fevereiro de 2011, com o título: Mapa da Violência 2011 – os jovens do Brasil 109 ; estudo que analisou a violência em todos os municípios brasileiros, a partir dos índices do Ministério da Saúde que registram número de homicídios, de suicídios e de acidentes de trânsito, revelou dados surpreendentes, aqui parcialmente destacados, devido aos limites da abordagem, que enfocará apenas os índices de homicídios com ênfase aos dados relevantes para esta Monografia. O trabalho elaborado em parceria pelo Instituto Sangari e Ministério da Justiça brasileiros, traz um diagnostico sobre como a violência tem levado à morte brasileiros, especialmente os jovens, nos grandes centros urbanos e, surpreendentemente, também, expressivamente em localidades do interior. O estudo apresenta 18 tabelas que trazem dados de todos os 5.564 municípios brasileiros. As taxas de homicídios foram calculadas para municípios com mais de 10.000 casos verificados.Verificou-se que em 3007 desses municípios ocorreram mais de 10.000 casos de homicídios.Entre a população jovem, verificou-se ocorrência de mais de 10.000 homicídios em 562 municípios. Elucida-se que por população jovem o estudo seguiu as definições da Organização Pan-americana de Saúde e da OMS, optando por considerar a faixa etária que estende-se dos 15 aos 24 anos, considerando ser esse o período que corresponde a parte da adolescência e início da inserção na vida produtiva. 108 Idem, p.55 BRASIL. Ministério da Justiça. Homepage oficial Apresenta o “Mapa da Violência 2011 – os jovens do Brasil", dentre outros. Disponível em http://www.portal.mj.gov.br acesso em 20 mar.2011. 109 Passa-se ao destaque dos dados do estudo, selecionando-se os índices que são relevantes para o objetivo desse trabalho monográfico.110, sendo que a tabela seguinte referese aos casos entre jovens, em municípios com mais de 10.000 casos de homicídios verificados, conforme discriminado.111 Nos municípios com menos de 10.000 casos são considerados os dados de incidentes nos últimos três anos, mas não são calculadas as taxas. As taxas são calculadas somente para as cidades com mais de 10 mil casos. Municípios que apresentam de 10.000 a 30.000 casos têm as taxas calculadas pela média dos três últimos anos disponíveis (2006, 2007, 2008) TABELA 2 – HOMICÍDIOS – POPULAÇÃO JOVEM Tabela HTE. Número e taxas (em 100 mil) de homicídio nos municípios com 10.000 Habitantes ou mais. Brasil. POPULAÇÃO TOTAL. ORDENAMENTO ESTADUAL jovens ou mais. Brasil. POPULAÇÃO JOVEM. ORDENAMENTO NACIONAL PopulaMunicípio UF ção 2008 Pos. Homicídios Média anos (miles) Taxa 2006 2007 Nacional 2008 Maceió AL 176,6 1 430 413 444 251,4 1 Serra ES 76,1 1 154 148 187 245,8 2 Itabuna BA 40,1 1 59 70 92 229,4 3 Marabá PA 43,3 1 60 77 96 221,5 4 Simões Filho BA 23,1 3 32 49 71 219,8 5 Recife PE 281,5 1 635 635 595 211,3 6 110 Selecionaram-se os dados relevantes aos objetivos do presente trabalho monográfico, omitindo-se os demais. A integra da pesquisa encontra-se no site do Ministério da Justiça já devidamente referenciado. 111 Para o entendimento das Tabelas, considerar que todos os arquivos têm o mesmo formato, sendo: na 1ª coluna - Nome do município- 2ª coluna - Sigla da UF - 3ª coluna - População em 2008 (em mil) estimativas UNFPA/IBGE (BRA/4/P31A)- 4ª coluna - Anos utilizados para calcular a taxa- 5ª a 7ª colunas - Número de casos em 2006, 2007 e 2008 - 8ª coluna – Taxa - 9ª coluna - Ordenamento Nacional-10ª coluna - Ordenamento Estadual. Ananindeua PA 99,3 1 106 110 198 199,5 7 Cariacica ES 67,2 1 128 117 134 199,3 8 Lauro de Freitas BA 28,9 3 41 52 78 197,6 9 Cabo de Santo Agostinho PE 33,2 1 47 68 65 195,6 10 Rio Largo AL 12,8 3 26 23 24 190,2 11 Vitória ES 53,9 1 115 98 98 181,9 12 Linhares ES 24,6 3 46 50 38 181,3 13 Porto Seguro BA 24,4 3 57 25 49 178,6 14 Foz do Iguaçu PR 63,4 1 153 143 105 165,7 15 Duque de Caxias RJ 146,4 1 306 270 242 165,3 16 Caruaru PE 56,8 1 70 54 92 162,1 17 Imperatriz MA 48,8 1 63 72 79 161,9 18 Betim MG 83,0 1 133 104 134 161,5 19 Piraquara PR 17,0 3 16 27 38 159,1 20 Salvador BA 544,4 1 531 616 862 158,4 21 Eunápolis BA 19,4 3 23 25 44 157,9 22 Jaboatão dos Guararapes PE 129,3 1 214 203 193 149,3 23 Tailândia PA 15,6 3 25 24 20 147,4 24 Olinda PE 71,3 1 124 93 104 145,8 25 Cabo Frio RJ 31,4 1 37 46 45 143,1 26 2 Arapiraca AL 40,6 1 46 85 57 140,2 27 3 Camaçari BA 46,4 1 47 35 65 140,2 28 7 União dos Palmares AL 12,1 3 22 15 14 140,0 29 4 Macaé RJ 33,0 1 44 46 46 139,6 30 3 Viana ES 11,5 3 13 16 19 138,6 31 5 Vila Velha ES 71,3 1 102 118 98 137,4 32 6 Curitiba PR 316,7 1 383 368 428 135,1 33 3 Fonte: BRASIL, Ministério da Justiça. Mapa da violência 2011 – Os jovens do Brasil112 Nos municípios com menos de 10.000 casos são considerados os dados de incidentes nos últimos três anos, mas não são calculadas as taxas. As taxas são calculadas somente para as cidades com mais de 10 mil casos. Municípios que apresentam de 10.000 a 30.000 casos têm as taxas calculadas pela média dos três últimos anos disponíveis (2006, 2007, 2008). Dos 33 municípios brasileiros destacados, os maiores índices de homicídios entre jovens são registrados na região nordeste, pois somente nesta região foram verificados 16 municípios com os maiores índices, o que equivale a 48,5 % do total destacado. Assim, foram registrados índices mais elevados em 7 municípios da Bahia, em 4 municípios de Alagoas e em 5 municípios de Pernambuco. Registre-se também que o município com maior ocorrência de homicídios entre jovens foi o de Maceió, capital de Alagoas. Divergentemente do que poderia supor-se, não são os grandes centros urbanos os que registraram maiores índices. Ainda, segundo a fonte citada, a região norte do Brasil concentra também número significativo de municípios com altos índices de homicídios, com 3 municípios do estado do Pará e um do Maranhão que registraram os maiores índices.113 Na região sudeste o estado com maior número de municípios registrados na pesquisa é o do Espírito Santo. Já no sul do país, o estado do Paraná registrou maior número de municípios com mais ocorrências de homicídios entre jovens, sendo que Foz do Iguaçu ultrapassa inclusive a capital em número de homicídios. Extrapolando esse grupo dos 33 municípios, vamos encontrar o primeiro município do estado de Santa Catarina a constar na pesquisa, aparece na 126ª. posição, conforme a seguir, extraído da versão completa da tabela 2. PopulaMunicípio UF ção 2008 (miles) 112 Média Homicídios Taxa anos 2006 2007 2008 Pos. Pos. Nacio- Esta- nal dual BRASIL. Ministério da Justiça. Homepage oficial Apresenta o “Mapa da Violência 2011 – os jovens do Brasil", dentre outros. Disponível em http://www.portal.mj.gov.br acesso em 20 mar. 2011. 113 Todas as interpretações hora elaboradas, consistem em inferências pessoais, da autora da Monografia, com base nos dados quantitativos do Ministério da Justiça. Itajaí SC 30,8 1 26 13 25 81,1 126 1 Fonte: BRASIL, Ministério da Justiça. Mapa da violência 2011 – Os jovens do Brasil114 Assim, Itajaí, no litoral do estado é o município que registra o maior índice de homicídios entre jovens. No âmbito geral, isto é, em homicídios sem distinção da faixa etária, Itajaí consta no 318ª. colocação, conforme a seguir, precedido de Cajueiro (AL) e Conceição da Barra (ES); conforme a seguir, extraído da versão completa da Tabela 3. Tabela 3 – HOMICÍDIOS – CÔMPUTO GERAL PopulaMunicípio UF ção 2008 (miles) Homicídios Média Taxa anos 2006 2007 2008 Pos. Pos. Nacio- Esta- nal dual Cajueiro AL 20,7 3 7 12 4 37,1 317 23 Itajaí SC 169,9 1 50 42 63 37,1 318 2 Conceição da Barra ES 27,0 3 6 16 8 37,0 319 17 Fonte: BRASIL, Ministério da Justiça. Mapa da violência 2011 – Os jovens do Brasil115 A seguir, os dados do ordenamento nacional destacando os 4 primeiros municípios com maiores índices de homicídio na categoria geral. 114 BRASIL. Ministério da Justiça. Homepage oficial Apresenta o “Mapa da Violência 2011 – os jovens do Brasil", dentre outros. Disponível em http://www.portal.mj.gov.br acesso em 20 mar. 2011. 115 Idem. TABELA 4– ORDENAMENTO NACIONAL – HOMICÍDIOS TOTAIS Tabela HTN. Número e taxas (em 100 mil) de homicídio nos municípios com 10.000 Habitantes ou mais. Brasil. POPULAÇÃO TOTAL. ORDENAMENTO NACIONAL PopulaMunicípio UF ção 2008 (miles) Média Homicídios Taxa anos 2006 2007 2008 Pos. Pos. Nacio- Esta- nal dual Itupiranga PA 42,3 1 46 38 68 160,6 1 1 Simões Filho BA 114,6 1 86 99 175 152,6 2 1 Campina Grande do Sul PR 36,6 1 27 39 46 125,5 3 1 Marabá PA 199,9 1 164 186 250 125,0 4 2 Fonte: BRASIL, Ministério da Justiça. Mapa da violência 2011 – Os jovens do Brasil116 Constatou-se que o Pará, no norte brasileiro, é um estado com ocorrências significativas. Registrando-se também o município paranaense de Campina Grande do Sul, localizado na região metropolitana da capital, Curitiba, que no ordenamento nacional geral, (sem enforcar especificamente os jovens), também figura no 3º. lugar nas ocorrências. São afirmações preocupantes pois remetem à uma mais aprofundada reflexão acerca das questões da violência no Brasil conforme se está constatando. Quanto à abordagem do estado de Santa Catarina, a título elucidativo complementar, insere-se a Tabela 5. TABELA 5- ORDENAMENTO ESTADUAL – HOMICÍDIOS TOTAIS Tabela HTE. Número e taxas (em 100 mil) de homicídio nos municípios com 10.000 habitantes ou mais. Brasil. POPULAÇÃO TOTAL. ORDENAMENTO ESTADUAL 116 BRASIL. Ministério da Justiça. Homepage oficial Apresenta o “Mapa da Violência 2011 – os jovens do Brasil", dentre outros. Disponível em http://www.portal.mj.gov.br acesso em 20 mar. 2011. Popula-ção Município UF 2008 (miles) Pos. Homicídios Média Taxa anos 2006 Navegantes SC 55,7 1 17 Itajaí SC 169,9 1 50 Itapoá SC 11,3 3 4 Santa Cecília SC 15,8 3 Balneário Camboriú SC 99,5 Chapecó SC Itapema 2007 nal 2008 12 Nacio- 24 43,1 215 63 37,1 318 421 6 32,6 403 6 6 3 31,6 435 1 9 19 28 28,1 554 171,8 1 27 37 47 27,4 581 SC 35,7 1 14 3 9 25,2 650 Florianópolis SC 402,3 1 79 81 91 22,6 766 Lebon Régis SC 12,1 3 4 0 4 22,0 792 Caçador SC 70,1 1 19 16 15 21,4 818 Abelardo Luz SC 16,9 3 4 5 1 19,8 900 São José SC 199,3 1 46 34 38 19,1 932 São João Batista SC 23,5 3 6 2 5 18,4 979 Camboriú SC 56,3 1 6 4 10 17,8 1028 Joinville SC 492,1 1 60 65 86 17,5 1050 Joaçaba SC 25,2 3 3 5 5 17,2 1064 Canoinhas SC 54,4 1 4 6 9 16,5 1103 Araquari SC 22,5 3 3 4 4 16,3 1114 Tijucas SC 29,1 3 4 3 7 16,0 1135 Xaxim SC 25,2 3 6 3 3 15,9 1150 Palhoça SC 128,4 1 16 18 20 15,6 1175 Porto União SC 33,3 1 6 4 5 15,0 1225 São Lourenço do Oeste SC 22,7 3 4 2 4 14,7 1257 Porto Belo SC 13,9 3 4 2 0 14,4 1282 Xanxerê SC 41,8 1 7 3 6 14,4 1286 Balneário Piçarras SC 14,5 3 3 2 1 13,8 1332 Imbituba SC 38,6 1 3 8 5 13,0 1409 Campos Novos SC 29,2 3 3 4 4 12,6 1448 Urubici SC 10,8 3 1 3 0 12,4 1476 Criciúma SC 187,0 1 17 8 22 11,8 1526 Pouso Redondo SC 14,3 3 1 2 2 11,6 1538 Ibirama SC 17,3 3 1 3 2 11,5 1549 Rio Negrinho SC 44,0 1 5 1 5 11,4 1572 Ilhota SC 12,0 3 0 0 4 11,1 1604 Imperatriz SC 18,3 3 3 0 3 10,9 1619 Dionísio Cerqueira SC 15,3 3 1 2 2 10,9 1627 Içara SC 56,4 1 3 2 6 10,6 1651 Blumenau SC 296,2 1 14 24 30 10,1 1705 Corupá SC 13,2 3 1 1 2 10,1 1710 São José do Cerrito SC 10,6 3 2 0 1 9,4 1768 São Joaquim SC 24,9 3 5 2 0 9,4 1779 Biguaçu SC 55,7 1 10 5 5 9,0 1834 Rodeio SC 11,1 3 1 1 1 9,0 1837 Correia Pinto SC 15,1 3 0 3 1 8,9 1854 Capinzal SC 19,0 3 0 1 4 8,8 1866 Concórdia SC 69,8 1 6 4 6 8,6 1887 Barra Velha SC 19,5 3 3 1 1 8,6 1891 Nova Trento SC 11,8 3 0 1 2 8,5 1900 Rio do Sul SC 59,2 1 8 7 5 8,4 1901 Lages SC 167,0 1 15 11 14 8,4 1912 Santo Amaro da Fonte: BRASIL, Ministério da Justiça. Mapa da violência 2011 – Os jovens do Brasil117 117 BRASIL. MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Homepage oficial Apresenta o “Mapa da Violência 2011 – os jovens do Brasil”, dentre outros. Disponível em http://www.portal.mj.gov.br acesso em 20 mar.2011. Portanto, a Tabela 5. traz o ordenamento estadual de Santa Catarina, com destaque para os 50 municípios com maiores ocorrências.. Os dados revelam que o município de Navegantes, no cômputo geral de homicídios do estado catarinense é o 1º. colocado, seguido por Itajaí (lembrando que no ordenamento especifico, considerando o homicídio entre jovens, Itajaí é o 1º. colocado). Florianópolis figura na 8ª. colocação, seguido de São José, na 12ª. posição. Já outros municípios da região metropolitana da capital como Palhoça vem em 21º. lugar e Biguaçu na 42ª. colocação. Considerando-se o número de habitantes a capital não apresenta posição tão preocupante como a de Navegantes e Itajaí principalmente. Pode-se inferir que as justificativas para Itajaí ter apresentado tantos homicídios entre jovens deve-se a razões como a localização portuária, além da frequência de jovens em atividades noturnas envolvendo ingestão de bebidas alcoolicas ser elevada118 Por razões análogas, regiões de fronteira, como são os casos de Foz do Iguaçu e Guaira no Paraná também registraram índices significativos. Por óbvias razões de delimitação do trabalho monográfico não serão tecidas outras considerações adicionais a respeito dos dados do Ministério da Justiça, acreditando-se que o recorte de interpretação foi suficiente ao enfoque proposto. Todavia é imprescindível que se proceda uma interpretação que extrapole a mera transcrição dos dados quantitativo, o que se propõe a desenvolver a seguir. 2.5 PARA ALÉM DOS DADOS Dados quantitativos preocupantes, como os destacados, remetem à uma mais aprofundada reflexão acerca das questões da violência no Brasil, conforme tem se enfatizado nesse trabalho. 118 Conforme dados acerca do I Forum Nacional Antidrogas, http:/www.dolk.host.sk/dolkpage96.maconha/relatorio.htm.br – acesso em 13 abr. 2011. disponível em Há inclusive autores que expressam com tenacidade posicionamento a respeito, como Luiz Eduardo Soares ao afirmar que apesar do Brasil não estar em guerra, vivemos uma situação típica de sociedades em guerra. [...] uma guerra fratricida e autofágica, na qual meninos sem perspectiva e esperança, recrutados pelo tráfico de armas e drogas (e por outras dinâmicas criminais), matam seus irmão, condenado-se, também eles, a uma provável morte violenta e precoce, no círculo da tragédia.119 Soares chama atenção também para as outras formas de violências no Brasil e sua gravidade: a violência doméstica e de gênero, os crimes de racismo e a homofobia. Estes tipos de violência são pouco denunciados, portanto, menos registrados pelos órgãos oficiais e por isso, menos conhecidos. Porém, a violência atinge todas as camadas sociais. Foi o que demonstrou uma pesquisa de vitimização feita pelo CRISP/UFMG, em Belo Horizonte. A pesquisa apontou que a cidade é a capital brasileira onde as pessoas se sentem mais inseguras. “A população de BH sofre com a violência objetiva, que chamamos de violência real, e com a violência subjetiva, que chamamos de violência sentida”120. Segundo Soares para compreender a questão da violência faz-se necessário interpretála dentro de um contexto, de acordo com o tempo, a história, a política e a cultura local da sociedade, pois “Várias são as matizes da criminalidade e suas manifestações variam conforme as regiões do país e dos estados. O Brasil é tão diverso que nenhuma generalização se sustenta. Sua multiplicidade também o torna refratário a soluções uniformes.”121 Soares defende que as políticas públicas de enfrentamento da violência devem ser dirigidas à população jovem dos bairros mais pobres, apesar de acreditar que não há relação 119 SOARES, Luiz Eduardo. Juventude e Violência no Brasil Contemporâneo. In NOVAIS, Regina; Vannuchi. Paulo. Juventude e sociedade (Orgs.). São Paulo. Editora. Fundação Perseu Abramo, 2004, p.130. 120 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. Centro de Estudos de Criminalidade e Violência Pública. Pesquisa disponível em http//www.crisp.ufmg/vitimização. Acesso em 14 dez. 2010. 121 SOARES, Luiz Eduardo. Juventude e Violência no Brasil Contemporâneo. In NOVAIS, Regina; Vannuchi. Paulo. Juventude e sociedade (Orgs.). São Paulo. Editora. Fundação Perseu Abramo, 2004, p.130. direta entre pobreza e criminalidade e que alguns fatores existentes nestes locais é que contribuem para o aumento da violência, dentre eles o desemprego, o tráfico de armas e drogas e a falta de política pública nas áreas de educação, saúde, lazer e serviços de apoio às famílias. Já Silva traz um elemento novo para a discussão da violência urbana, o que denomina de "sociabilidade violenta". Ele acredita que seja ela não simples sinônimo de crime comum e nem de violência em geral pois “Trata-se, portanto, de uma construção simbólica que destaca e recorta aspectos das relações sociais que os agentes consideram relevantes, em função dos quais constroem o sentido e orientam suas ações.”122 Para o autor a sociabilidade violenta afeta mais especificamente as favelas, em virtude da forma urbana típica desses locais, pois são: “[...] em geral muito densos e com traçados viários precários, dificultando, o acesso das pessoas que não estão familiarizadas com eles e, portanto, favorecendo o controle pelos agentes que lograrem estabelecer-se neles.”123 Considerações como as do autor são pertinentes nessa análise pois procurou-se evidenciar aspectos da violência cujas abordagens de cunho léxico, histórico, sociológico que fornecem o escopo necessário para o entendimento jurídico aprofundado de uma realidade multifacetada e complexa como é a da violência. Nessa vertente, Dias, afirma que: Somente a partir do pensamento complexo podemos compreender o enraizamento sócio-cultural de toda ciência, sua “contaminação” ideológica e sua pluralidade conflitual. A multidimensionalidade da realidade – natural, humana, social – exige um pensamento complexo para compreendê-la.124 122 SILVA, Luiz Antônio Machado. Sociabilidade violenta: por uma interpretação da criminalidade contemporânea. In: RIBEIRO, LUIZ C. Q. (Org.) Metrópolis: entre a coesão e a fragmentação, a cooperação e o conflito. São Paulo, Perseu Abramo, 2004. 123 124 Op.cit. p. 24. DIAS, Maria da Graça dos Santos. A utopia do Direito justo. http/www.6.univali.br/seer/index.php/nej/article/download/424/366. Acesso 13 mar. 2011. Disponível em Essa complexidade exige, além de um esforço interpretativo, ações concretas e a sensibilização para o problema, aliado aos recursos que, por si só não bastam, conforme salienta Josiane Rose Petry Veronese: Mesmo que haja um aumento dos recursos materiais e qualificação de recursos humanos, tornando mais sofisticadas as técnicas e o padrão de atendimento, nem por isso tais programas poderão ser considerados promocionais; não é pela mera sofisticação dos meios técnicos que se chegará a interferir na complexa situação da infância e adolescência brasileira, inserida no amplo quadro dos problemas sociais.125 Aduzindo essas elaborações, há que se prosseguir nesta caminhada de estudos, aprofundando a análise proposta, conforme a seguir no próximo enfoque, que tratará da violência no contexto escolar, notadamente no que concerne à realidade brasileira. 3.4 VIOLÊNCIA NO CONTEXTO ESCOLAR Adota-se nesse trabalho a concepção ampla de violência que o direcionamento da temática exige. Assim, no desenvolvimento desta Monografia, utilizou-se da definição de Guimarães, em seu dicionário especializado em termos jurídicos, para propiciar o entendimento agora retomado (com omissões), de que: Violência [...] pode ser: física, material ou real, quando se emprega força material e outro meios que impossibilitem a resistência do paciente (vis corporalis)126 ; moral ou ficta, quando o agente intimida o paciente com ameaça grave de mal iminente, ou se é juridicamente incapaz de livre consentimento (vis compulsiva); iminente: a que se 125 VERONESE, Josiane Rose Petry. Os Direitos da Criança e do Adolescente. São Paulo: LTr, 1999, p.185 Vis corporalis é termo latino que significa violência física – diverge de vis compulsiva – coação moral. Segundo: CARRILHA, Fernanda (et al). Dicionário de latim jurídico. Coimbra-PO: Almedina, 2010. 126 apresenta com perigo atual, traduzido na ameaça de consumação imediata; arbitrária, aquela cometida no exercício de função pública [...]127 Também a definição proposta por Chauí “entendida como o uso da força física e do constrangimento psíquico para obrigar alguém a agir de modo contrário à sua natureza e ao seu ser. [...] violação da integridade física e psíquica, da dignidade humana de alguém.”128; conforme já registrado, agora é retomada para que prossiga-se no estabelecimento de relações de pertinência com a violência no contexto das escolas brasileiras. Considerar-se-á como violência escolar, aquela verificada no interior das instituições de ensino, bem como em seu entorno, como por exemplo, em quadras de realização de atividades desportivas, nos pátios externos das escolas, adjacências mais próximas ou em atividades extra curriculares ( tais como em passeios e excursões, viagens de estudos, desde que integrantes do planejamento que compõe as atividades escolares). É portanto, a violência que tem como lócus o ambiente escolar entendido de forma a abranger as dependências físicas dos estabelecimentos, seu entorno e os locais onde atividades pedagógicas também se desenvolvem a partir de uma concepção de planejamento curricular que contemple também as relações fora dos limites físicos das escolas. Esse tipo de violência, quando põe em risco a ordem, a motivação, a satisfação e as expectativas dos alunos e do corpo docente, tem efeitos graves sobre as pessoas envolvidas, bem como sobre os demais partícipes das atividades escolares. Tais ocorrências contribuem para o insucesso dos propósitos e objetivos da educação, do ensino e do aprendizado. Nessa esteira, interessa melhor delimitar os tipos de violência que acontecem no contexto escolar, conforme segue. 2.4.1 Tipos de violência escolar 127 GUIMARÃES, Deocleciano Torrieri. Dicionário compacto jurídico. 10ª. ed. – São Paulo: Rideel, 2007, p. 204-5 128 CHAUÍ, Marilena. Convite à filosofia. São Paulo: Ática, 1997, p. 336. Uma das formas mais aparentes da violência no contexto escolar é a verificada contra a parte física da escola, configurada pela violência contra o patrimônio, ou seja: contra as instalações construídas, os equipamentos, por vezes danificados, depredados, além de pichações. Em outras ocorrências registram-se furtos. Alguns são qualificados como simples atos de vandalismo. Outros efetuados por estranhos à comunidade escolar com intuito de auferir lucro com o produto dos objetos furtados das escolas. Ambos os tipos de violência denotam o desrespeito pela instituição educacional. Por outro lado, autores como Bordieu e Passeron estudaram a violência simbólica, o que culminou por desencadear toda uma gama de estudos que foi depois denominada de “crítco-reprodutivismo” pois se preocupou em estudar as relações da escola com a reproducao social das formas de opressão e obediência à ordem vigente. Nessa vertente crítica é destacado que a escola exerce sobre o aluno uma “violência simbólica” quando o anula da capacidade de pensar e o torna um ser capaz somente de reproduzir. A violência simbólica é a mais difícil de ser percebida, mas segundo Bourdieu e Passeron: [...] é sentida na falta de oportunidades para o desenvolvimento da criatividade e de atividades de lazer; quando as escolas impõem conteúdos destituídos de interesse e de significado para a vida dos alunos; ou quando os professores se recusam a proporcionar explicações suficientes, abandonando os estudantes à sua própria sorte , desvalorizando-os com palavras e atitudes de desmerecimento [...] a violência simbólica também pode ser contra o professor quando este é agredido em seu trabalho pela indiferença e desinteresse do aluno.129 Aspectos da violência nas relações entre os profissionais da educação e os alunos, merecem maiores aprofundamentos, pois está cada vez mais presente nas escolas brasileiras. É a violência dos alunos e seus familiares contra os profissionais da escola, que manifestamse desde por agressões verbais mas que chegam a vias de fato, em agressões fisicas contra os 129 A violência simbólica e a visão da escola enquanto “aparelho ideológico do estado” são abordados por Bordieu e Passeron, entre outros; teóricos denominados “crítico-reprodutivistas”que influenciaram o pensamento crítico-reflexivo sobre a realidade educacional. (nota explicativa da autora da Monografia). Referência conforme BOURDIEU, Pierre e PASSERON, Jean-Claude. A reprodução: elementos para uma teoria do sistema de ensino. Lisboa, PO, Editorial Vega, 1978. profissionais e seus patrimônios. São profissionais que têm seus veículos riscados, pneus furados, recebem agressões de diversas ordens. Conforme já apontamos, pelas pesquisas que proliferam, os profissionais da educação têm sido vítimas desse tipo de crime, levando inclusive aos representantes do legislativo a elaborar e aprovar normas que têm por objetivos “estimular a reflexão nas escolas e respectivas comunidades acerca da violência que tem atingido os educadores, seja no ambiente escolar ou em suas imediações.”130 Tais projetos objetivam também desenvolver nas comunidades atividades que proponham o combate à violência, “implementando medidas preventivas e cautelares em situações nas quais os educadores estejam sob o risco da violência, que possa comprometer sua incolumidade”131 Em anexo, à guisa de exemplificação, consta a Lei nº 11.875 de 19 de janeiro de 2005, (Projeto de lei nº 697/2003, do deputado Sebastião Arcanjo - PT) que “Institui a Política de Prevenção à Violência Contra Educadores da Rede de Ensino do Estado de São Paulo”. Tal exemplificação é relevante por se tratar da maior rede de ensino do país, que conta com o maior número de unidades escolares e consequentemente o maior número de profissionais em exercício no país. Constatou-se nos relatos observados e nas notícias veiculadas na mídia, que as principais ocorrências envolvendo profissionais da educação vítimas de violência evidenciam que as práticas mais comum são as de lesão corporal e de agressões verbais. Nesse escopo, com intuito de aprofundar esse entendimento, proceder-se-á a coleta de dados tendo como foco o lócus da escola pública, conforme desenvolvido no próximo capítulo desta Monografia. Por outro lado, registra-se ainda episódios de violência doméstica, caracterizada como a violência praticada por familiares ou pessoas ligadas diretamente ao convívio diário da criança e do adolescente. Preocupante é essa situacao conforme salientado por D’Agostini: Quem é educado com violência pode aprender que esta é a forma privilegiada para se solucionar conflitos ao longo da vida. Por isso mesmo, criança que é vítima de 130 CARVALHO, Maria de Lourdes. Aumento da violência escolar preocupa parlamentares. Disponível em http://www.al.mt.gov.br/v2008 - Acesso em 13out. 2009. 131 Idem. violência em casa está mais propensa a exibir comportamento violento no futuro. No entanto, quem é educado de forma não violenta, também aprende que a chamada pedagogia indutiva ou do diálogo é a melhor forma apara os pais ensinarem aos filhos o certo e o errado.132 Merece destaque essa elaboração pois é recorrente no senso comum dominante que os exemplos educam, mais do que o verbalizado, pois as crianças têm nos adultos um “modelo” de comportamento que frequentemente seguem. Na esteira dessa abordagem, o doutrinador argentino Neuman destaca: Es preciso el estudio de la estructura familiar de modo pluridimensional y, muy en especial, la incidencia que sobre ella ejerce esa violencia diaria generada por el propio sistema, que impone nivelies que mellan la identidad con exigencias y desigualdades impresionantes133 Defende portanto o autor, a necessidade de que o estudo da estrutura familiar, contemple suas múltiplas dimensões, e em especial, sobre as influências da violência diária do próprio sistema, que impõe exigências e reforça as desigualdades sociais, que por sinal, não é restrito ao território brasileiro. Essas são importantes considerações, que somam-se às seguintes do mesmo autor: Es preciso advertir uma suerte de principio que se registra em múltiplos casos. La violência contra menores logra enfermarlos psiquicamente e incluso resentirlos, al punto que las conductas agresivas que suelen adoptar, parecem más bien una forma de protesta familiar y social.134 A preocupação do autor de que a violência contra menores atingi-os não apenas física, mas psiquicamente procede, pois reiterados episódios de violência tem como autores adultos, que quando crianças foram vítimas e quando crescidos passam a vitimizar. 132 D’AGOSTINI, 2009, p.33-4 NEUMAN, Elías. Victimologia: el rol de la victima en los delitos convencionales y no convencionales. 2ª. Ed. Buenos Aires: Ed. Universidad, 1994, p. 84 (Tradução livre da autora da Monografia) 134 NEUMAN, Elías. Victimologia: el rol de la victima en los delitos convencionales y no convencionales. p.85 (Tradução livre da autora da Monografia) 133 Nos limites desse trabalho monográfico, este tipo de violência, embora significativo e lamentável, não será enfocado. Assim como também não se abordará o bullying, apenas registrando que é caracterizado pela reiterada e constante manifestação de violência expressado por agressões verbais, exposição da vítima a situações vexatórias e/ou constrangedoras, ou ainda por reiterada violência física, cuja repetição e continuidade no ambiente escolar, envolvendo as mesmas vítimas e os mesmos agressores, é também uma de suas características. 2.4.2 Indisciplina e Violência Por outro lado, é importante distinguir indisciplina e violência. Num ambiente com regras existe a possibilidade de haver transgressão. A indisciplina, portanto, pode ser considerada um ato até certo ponto dentro da normalidade, quando se caracteriza pela simples transgressão, ou conforme já abordado, na concepção de Mafessoli como violência anômica, que traduz as contradições existentes na sociedade, manifestada por aqueles de divergem da ordem instituída; ou seja a indisciplina como manifestação da violência dos “dissidentes’’.135 Ainda, é próprio da violência perturbar acordos e regras que pautam as relações, o que lhe confere uma carga negativa, gera sofrimento, causa danos físicos e psicológicos, humilhação, desespero, e em casos mais drásticos, acaba por findar em tragédias, conforme a que referiu-se no início desta Monografia. Assim, como se destacou, a violência que ocorre “na” escola é associada aos graves problemas sócio-econômicos das grandes cidades, o domínio do narcotráfico, as gangues, o declínio da autoridade dos pais e professores, a violência reproduzida da TV e dos jogos eletrônicos, que influenciam o cotidiano de crianças e adolescentes. A violência “da” escola, historicamente, reproduz as desigualdades sociais, produz castigos físicos em nome da “disciplina”, da “moral”, dos “costumes”, da “adaptação à sociedade”. A palmatória é o principal símbolo dessa educação repressiva e tradicional, infelizmente, ainda não abolida em muitas partes do mundo. Por outro lado, também extremamente preocupante é a violência praticada pelos alunos contra os professores e funcionários das escolas, manifestada em atitudes violentas 135 MAFFESOLI, Michel. Dinâmica da violência. São Paulo: Vértice, 1987, p.185. que vão desde agressões verbais, até casos mais graves que danificam seus bens, e sua integridade física, moral e psicológica. Hoje, professores de todo o país sofrem desrespeito, ameaças, e agressões físicas dos alunos e pais deles.136 A par da perplexidade que a situação infringe, há que se ressaltar o desalento manifestado pelos profissionais da educação, que clamam por providências, mas dificilmente são ouvidos. No que tange a essas preocupações, abordar-se-á no próximo Capitulo desta Monografia, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e suas relações com o contexto educacional, além da Lei 9.394/96, que é a “Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional”, importante nessas reflexões. Para além da abordagem legal, será apresentada a imersão pelo cotidiano escolar, objetivando um olhar mais aprofundado da realidade, conforme oportunamente explicitado. 136 A esse respeito vide: COSTAS, Ruth. Com medo dos Alunos. Revista Veja, edição, nº 1904, 11/05/2005, p .153 4 CAMINHOS E DESCAMINHOS: DESTAQUES DA LEGISLAÇÃO E O PASSO A PASSO DA REALIDADE ESCOLAR VIVENCIADA Quem é educado com violência pode aprender que esta é a forma privilegiada para se solucionar conflitos ao longo da vida. [...]. No entanto, quem é educado de forma não violenta, também aprende que a chamada pedagogia indutiva ou do diálogo é a melhor forma apara os pais ensinarem aos filhos o certo e o errado.137 Defende-se neste trabalho que são significativas as contribuições que o conhecimento acerca da legislação pode propiciar para prevenir e, quiçá, para coibir as relações conflituosas que permeiam o ambiente educativo. Nesse escopo, além do entendimento de que os direitos das crianças e dos adolescentes devam ser respeitados, no contexto escolar é também importante que ocorra o estabelecimento de limites restritivos, que necessitam ser exercitados, pois desta forma, o professor não simplesmente impondo limites, mas os estabelecendo de forma democrática, participativa, contribui para a formação integral dos educandos. Para tanto o conhecimento dos preceitos legais mais amplos, conforme abordar-se-á, é imprescindível, para que os limites normativos sejam definidos com embasamento legal do ordenamento jurídico pertinente. 3.1 PROCESSO HISTÓRICO DA LEGISLAÇÃO ACERCA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO BRASIL 137 D’AGOSTINI, 2009, p.33-4) Na esteira desse entendimento, cumpre destacar que a legislação atual é fruto de um processo histórico que, ao longo do tempo e de uma luta de grupos sociais na defesa dos interesses das crianças e adolescentes, se construiu. A importância do reconhecimento desses direitos é um dos passos iniciais para que eles se efetivem e para que se caminhe no avanço dessas conquistas. Nessa abordagem histórica, Veronese escreve que: Sob a vigência do Código de Menores de 1979, o próprio texto legal se encarregava de provocar uma espécie de marginalização, quando não compreendia o citado “menor” como a criança ou adolescente, mas sim como aquele que situado na faixa etária de 0 a 18 anos de idade se achava em “situação irregular” [...] A exclusão da infância e da adolescência do processo social e uma das formas mais perversas de marginalização, pois exclui-se, a priori, aquele que não teve sequer oportunidade e condições de escolher seu próprio caminho, de identificar-se com um determinado projeto de vida; encontrando-se então forçado a buscar o seu espaço pelas ruas da cidade.138 A pesquisadora e assistente social Irma Rizzini contribui com essa abordagem histórica ao focalizar conflito entre as iniciativas da caridade e da filantropia, que eram no passado a tônica das políticas de atendimento a criança. Nesse enfoque histórico, segundo a autora: [...] no início do século XX, o Estado passa a intervir no espaço social através do policiamento de tudo que foi causador da desordem física e moral e pela ordenação desta sob uma nova ordem. Para tal serão importadas novas teorias e criadas novas técnicas, as quais servirão de subsídio para a criação de projetos, leis e instituições que integrarão um projeto de assistência social, ainda não organizado em termos de uma política social a ser seguida em nível nacional [...] A infância pobre torna-se alvo, não só de atenção e de cuidados, mas também de receios. Denuncia-se a situação da infância no País - seja nas famílias, nas ruas ou nos asilos. O consenso é geral: a infância está em perigo. Mas há um outro lado da questão, constantemente lembrado pelos meios médicos e jurídicos: infância "moralmente abandonada" é potencialmente perigosa, já que, devido às condições de extrema pobreza, baixa moralidade, doenças etc. de seus progenitores, ela não recebe a educação considerada adequada pelos especialistas: educação física, moral, instrucional e profissional.(grifo nosso)139 A importância do conhecimento cientifico no entendimento da problemática da criança e do adolescente é portanto reconhecida com o processo histórico, que avança neste sentido, 138 VERONESE, Josiane Rose Petry. Os Direitos da Criança e do Adolescente. São Paulo: LTr, 1999, p.179 RIZZINI, Irma. A Assistência à infância na passagem para o século XX - da repressão à reeducação. In Revista Fórum Educacional 02/90 da Fundação Getúlio Vargas, p. 80 139 inclusive na direção de que a repressão deve ceder lugar à educação, conforme continua salientando a autora: Ciências como a medicina, a psiquiatria, o direito e a pedagogia contribuirão com teorias e técnicas para a formação de uma nova mentalidade de atendimento ao menor. A mentalidade repressora começa a ceder espaço para uma concepção de reeducação, de tratamento na assistência ao menor. Verifica-se o surgimento de um novo modelo de assistência à infância, fundada não mais somente nas palavras da fé mas também nas da ciência, basicamente médica, jurídica e pedagógica. A assistência caritativa, religiosa, começa a ceder espaço a um modelo de assistência calcado na racionalidade científica onde o método, a sistematização e a disciplina tem prioridade sobre a piedade e o amor cristão. (grifo nosso) 140 Essa evolução deve-se inclusive a influências do contexto internacional, pois Tratados Internacionais, tais como a Declaração de Genebra de 1924 sobre os Direitos da Criança alertou para a necessidade de proporcionar à criança uma proteção especial. Em 1959 foi também aprovada pela ONU a Declaração Universal dos Direitos da Criança. Foi a partir desses princípios que se passou a adotar a teoria da proteção integral como eixo básico dos direitos infanto-juvenis, todavia o que somente aconteceu no Brasil após o processo de redemocratização e com a promulgação da Constituição de 1988, considerada como a “constituição cidadã”. Normatizado no direito internacional, a educação inspirada no respeito aos direitos humanos, às liberdades fundamentais foi concepção adotada em sua totalidade por intermédio do Decreto 99.710 de 21.11.1990, após ser ratificado pelo Congresso Nacional (Decreto Legislativo 28 de 14.09.1990), conforme Sandra Mari Cordova D’Agostini ressalta pois: Ao assinar a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, o Brasil assumiu, então, um conjunto de compromissos e obrigações voltados para a proteção destes direitos, ou seja, o Estado, a sociedade e a família têm o dever de assegurar os direitos das crianças e dos adolescentes [...] 140 141 141 RIZZINI, Irma. A Assistência à infância na passagem para o século XX - , p. 82 D’AGOSTINI, Sandra Mári Córdova. Adolescente em conflito com a lei... & a realidade! 7ª. ed. Curitiba: Juruá, 2009, p.68. É nesse sentido que acentua-se que a conquista da atual legislação, rompe com a visão assistencialista e se consolida na perspectiva da proteção integral com escopo constitucional e de garantia dos direitos fundamentais, entre eles o da educação com qualidade. Ainda, a consolidação de iniciativas de valorização da vida, da dignidade humana e da convivência fraterna são importantes, conforme defende Veronese, que também ressalta a importância de políticas públicas que propiciem a erradicação da pobreza, da mortalidade infantil e da violência, assim: As políticas públicas necessitam valorizar mais a vida, pois os visíveis quadros de miséria social que relatam os altos índices de mortalidade infantil, da cruel realidade dos abortos, da trágica situação dos meninos e me ninas de rua, dos estigmatizados nas instituições protetoras, da violência (grifo nosso), etc, denunciam concretamente que as políticas governamentais e a sociedade em geral, não priorizam a criança, não valorizam a vida. 142 Na contramão dessa realidade há que se entender o trabalho dos operadores do Direito, ao lado dos educadores, também a autora salienta a influência da mídia que em alguns órgãos de comunicação associa diretamente a criminalidade à delinqüência juvenil, conforme escreve: A sociedade, ajudada pelos meios de comunicação social, que propagam, ainda que indiretamente, a confusa ideia de que a marginalização socioeconômica identifica-se com criminalidade, e segundo essa perspectiva encarna a ideia de que toda criança ou adolescente que vive na miséria se trata de um trombadinha, de um pivete, delinqüente, pixote, que habitualmente comete não somente pequenos delitos contra o patrimônio, mas envolve-se com organizações clandestinas, trafica drogas e outras mercadoria, e desse modo é instrumentalizado por quadrilhas de adultos que o exploram ou mesmo seviciam. 143 Registra-se a importância do cuidado ao associar a criminalidade a violência, pois essa relação não pode ser linear pois: 142 VERONESE, Josiane Rose Petry. Os Direitos da Criança e do Adolescente, p.14 143 VERONESE, Josiane Rose Petry. Os Direitos da Criança e do Adolescente, p.180. [...] A associação da criminalidade à pobreza, difundida na opinião pública, é conveniente para a classe dominante, pois tira a atenção do assunto de seu foco real: as desigualdades sociais, induzem sobre a pobreza uma generalizada e estigmatizadora suspeita de que toda crina ou adolescente carente é um infrator em potencial144 Na esteira dessas mesmas considerações, Minayo acentua: O Brasil possui uma das piores distribuições de renda do mundo, tendo como conseqüência profundas desigualdades socioeconômicas, das quais as crianças, adolescentes e jovens são as maiores vitimas. Apresenta graves problemas educacionais, grandes desigualdades nas formas de adoecimento e morte, além de sérios entraves nas questões de moradia, oportunidade de trabalho e de lazer [...]145 Portanto, a legislação anterior, como no primeiro Código de Menores de 1927 (Decreto 179423-A), a infância e adolescência infratora era tratada apenas do ponto de vista do desvio, da delinquência a ser punida. Na continuidade da evolução social o segundo Código de Menores foi instituído em 1979, tratando-se da Lei n º 6697/79, que o Estatuto da Criança e do Adolescente revogou Conforme relembra Veronese146 foram vários os enfrentamentos sociais que resultaram em conquistas de movimentos de caráter internacional comprometidos com a proteção e a efetivação dos direitos humanos (a formação da ONU e organismos ligados a ela (como a Unicef e a Unesco), e, no Brasil, mobilizações populares e de proteção aos direitos de crianças e adolescentes, além de freqüentes denúncias de violência infanto-juvenil, que contribuíram para a regulamentação que foi sistematizada no ECA. 144 145 Idem, ibidem. MINAYO, Maria Cecilia de Souza (et al.) Fala galera: juventude, violência e cidadania. Rio de Janeiro: Garamond, 1999, p.17 146 VERONESE, Josiane Rose Petry. Os Direitos da Criança e do Adolescente. Segundo Volpi Júnior, A garantia dos direitos da infância e da juventude, no Brasil, está solidamente fundamentada na Constituição Federal que a define como prioridade absoluta em seu artigo 227, na Lei 8.069/90 do Estatuto da Criança e do Adolescente e nos documentos internacionais, ratificados pelo Congresso Nacional, com especial destaque para a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança. A política de garantias se materializa num sistema articulado de princípios (descentralização administrativa e participação popular), políticas sociais básicas (educação, saúde e assistência social ) e programas especializados, destinados da proteção especial das criança e adolescentes violados em seus direitos por ação ou omissão da sociedade ou do Estado[...] 147 Reitera-se portanto a teoria da proteção integral, pois à criança e o adolescente são asseguradas a prioridade absoluta, tanto no texto constitucional como na Lei 8.069/90. Nesse sentido, ao comentar o artigo 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente, Helio Xavier de Vasconcelos ( professor da UFRN) defende que: Assegurando esses direitos, o Estatuto deseja e quer que todas as crianças e adolescentes brasileiros tenham uma escola publica gratuita, de boa qualidade, e que seja realmente aberta e democrática, capaz, portanto, de preparar o educando para o pleno e completo exercício da cidadania.O parágrafo único do mesmo art. 53 assegura aos pais e responsáveis não somente ter ciência do processo pedagógico mas, e principalmente influir na elaboração e na pratica das propostas educacionais, o que é de todo salutar em uma escola democrática.148 147 VOLPI JUNIOR, Mario (org.) Adolescentes privados de liberdade: a normativa nacional e internacional & reflexões acerca da responsabilidade penal.2ª. ed. São Paulo, Saraiva, 1999 148 CURY, Munir, AMARAL E SILVA, Antonio Fernando do Amaral e MENDEZ, Emilio Garcia. (coord.) Org. COSTA, Antonio Carlos Gomes da (et al) Estatuto da Criança e do adolescente comentado. – Comentários juridicos e sociais. 5ª. ed. São Paulo, Malheiros Editores, 2002,p. 207. Na mesma esteira, Maria Cecília de Souza Minayo escreve: O inciso I fala da igualdade não apenas do acesso, mas também de permanência na escola. O direito à permanência é hoje o grande ponto do fracasso escolar em nosso País. As crianças chegam mas não ficam, isto é, são vítimas dos fatores intra-escolares de segregação pedagógica dos mais pobres e dos menos dotados. A luta pela igualdade nas condições de permanência na escola é hoje o grande desafio do sistema educacional brasileiro. É importante, portanto, que todos aqueles que estejam engajados neste combate saibam que o direito à permanência na escola está juridicamente tutelado no Estatuto da Criança e do Adolescente, abrindo assim possibilidades novas na luta pela equalização do acesso a esse instrumento básico da cidadania, que é a educação.149 Essa abordagem é reforçada por Valter Kenji Ishida, ao afirmar que:“segundo a doutrina, o Estatuto da Criança e do Adolescente perfilha a ‘doutrina da proteção integral’, baseada no reconhecimento de direitos especiais e específicos de todas as crianças e adolescentes [...]”150 Explicitando aspectos da natureza dessas normas, Munir Cury assevera: Pela natureza de suas normas, o Direito do Menor é ius congens, onde o Estado surge para fazer valer a sua vontade, diante de sua função protecional e ordenadora. Segundo a distinção romana ius dispositivum e ius gens, o Direito do Menor está situado na esfera do Direito Público, em razão do interesse do Estado na proteção e reeducação dos futuros cidadãos que se encontram em situação irregular. 151 Na jurisprudência citada por Cury: O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90) em seu art. 2º. distingue a ‘criança’ (menor de 12 anos) do adolescente’(entre 12 a 18 anos). Somente para este último é que prevê ‘garantias processuais’(art. 110) Para a 149 criança, só fala em MINAYO, Maria Cecilia de Souza (et al.) Fala galera: juventude, violência e cidadania. Rio de Janeiro: Garamond, 1999. 150 ISHIDA, Valter Kenji. Estatuto da criança e do adolescente: doutrina e Jurisprudência. 4ª. ed. São Paulo; Atlas, 2003. 151 ISHIDA, Valter Kenji. Estatuto da criança e do adolescente: doutrina e Jurisprudência. ‘medidas de proteção’ ( arts. 99 a 102 e 104) ( STJ – 6ª. T. - RHC 3.547 – Rel. Adhemar Maciel – j. 9-5-1994) 152 Percebe-se nas decisões prolatadas pelos Tribunais que a Lei 8.069 é o escopo fundamental para o reconhecimento dos direitos das crianças e dos adolescentes sob a ótica da proteção integral. Assim, Wilson Donizeti Liberati ao citar decisão prolatada pelo TJSP (AC 19688-0 sob responsabilidade do Relator Lair Loureiro) reafirma que: A lei 8. 069/90 revolucionou o Direito Infanto-Juvenil, inovando e adotando a doutrina da proteção integral. Essa nova visão é baseada nos direitos próprios e especiais das criança e adolescente, que, na condição peculiar de pessoas em desenvolvimento, necessitam de proteção diferenciada, especializada e integral.153 Argumentação que coaduna-se com o entendimento até agora evidenciado de que a Lei 8.069/90 além de inovar no sentido da garantia da proteção integral, traz o desafio pela qualidade do ensino, conforme reafirma-se das elaborações de Minayo de que “o direito à permanência na escola está juridicamente tutelado [...] abrindo assim possibilidades novas na luta pela equalização do acesso a esse instrumento básico da cidadania, que é a educação.”154 Desafio este que aproxima qualidade de uma convivência saudável no contexto escolar, portanto onde urge a prevenção e diminuição da violência. O que somente se concretizará com estudos e ações concretas que propiciem esse entendimento. Nessa direção, a caminhada persiste, abordando os conflitos que ocorrem no contexto escolar. 152 153 ISHIDA, Valter Kenji. Estatuto da criança e do adolescente: doutrina e Jurisprudência. LIBERATI, Wilson Donizeti. Comentários ao Estatuto da Criança e do Adolescente. 7ª. ed. São Paulo; Malheiros, 2003, p.15. 154 MINAYO, Maria Cecilia de Souza (et al.) Fala galera: juventude, violência e cidadania. Rio de Janeiro: Garamond, 1999. 3.2 A LEI 8.069/90 E OS CONFLITOS NAS ESCOLAS – POSSÍVEIS RELAÇÕES É flagrante que não há como ignorar os conflitos existentes nas escolas. Nem há como suprimi- los em sua totalidade, pois os conflitos estão presentes em todas as relações sociais e inclusive mobilizam pessoas e grupos na direção evolutiva, da superação das dificuldades. Incluída nesse contexto social, a escola possui em seu interior harmonia e divergências, união e rivalidade, concordantes e discordantes o que, nos limites da convivência respeitosa é desejável. Retomando de Maffesoli “ A heterogeneidade gera a violência mas ao mesmo tempo é fonte de vida, ao contrario do idêntico (homogêneo) que quanto mais pacifico, mais potencialmente mortífero” Se a heterogeneidade, os conflitos são até desejáveis, por outro lado, o que preocupa são os desvios, os conflitos exacerbados que culminam em violência. Assim,para um entendimento do que a Lei 8.069/90 normatiza, e em que medida seu conhecimento pode contribuir para o enfrentamento da violência no contexto escolar, abordar-se-á os aspectos selecionados nessa direção.Considera-se pertinente o que escrevem Montagne e Fonseca ao destacar que: O estado brasileiro nos últimos anos vem desenvolvendo políticas públicas contraditórias: de um lado busca atingir a inclusão social dos segmentos menos favorecidos, por outro tais ações estão circunscritas no nivel de politicas publicas compensatorias. Dessa forma os avanços adquiridos no contexto juridico, influenciados pelas declarações e convenções internacionais, constituem processo lento e demandam esforços politicos no campo das politicas publicas 155 um 155 MONTAGNER, Ângela Christina Boelhouwer & FONSECA, Dirce Mendes. O contexto fático-juridico dos direitos das crianças e adolescentes no Brasil – Revista Jurídica CESUMAR Mestrado. Vo. 9 n.2 (juho/dez 2009) Maringa : Centro Universitario de Maringá, 2009, pgs 441s-459 É nesse sentido que a Constituição brasileira de 1988, bem como a Lei de Diretrizes e bases da Educação Nacional e Lei organica da Previdência Social contemplam orientações e princípios da Declaração dos direitos da criança de 1959. todavia há um descompasso entre a legislação e a prática. A causa pode ser atribuída a diversos fatores, tais como a perversa concentração de renda e o sistema de educação historicamente enfraquecido e excludente. Esta contradição também apontada pelas autoras, “têm alicerçado um quadro complexo que se estrutura sob vários ângulos e tem múltiplas causas [...] a violência intrafamiliar, que, embora possar estar mediada por outros fatores, perpassa e alimenta a reprodução da violência em diferentes níveis156 Reforçada portanto a relação de pertinência entre a escola e a família, cujas ações de proteção a criança e ao adolescente necessitam estarem cada vez mais direcionadas, inclusive pelos operadores do Direito. Acerca das diretrizes da processualística civil e suas relações com a temática da violência, e a proteção dos direitos coletivos e difusos, Silva e Veronese escrevem: [...] chama a atenção o fato de que o Estatuto da criança e adolescente está em consonância com as novas diretrizes da processualística civil, por três motivos: primeiro ao contemplar os meios judiciais garantidores dos interesses da criança e do adolescente, sobretudo no que diz respeito aos coletivos e difusos, percebe-se que a natureza privatista do direito processual está sendo objeto de profundas modificações; as quais remetem à necessidade de superação de determinadas estruturas tradicionais[...] segundo por preocupar-se com o tema do acesso à Justiça, está, a nova Lei, atenta ao fato de que, hoje, a garantia desse acesso constitui-se em um dos mais elementares direitos, pois a sociedade pouco a pouco passou a compreender que não mais é suficiente que o ordenamento jurídico contemple direitos; antes, é imprescindível que estes sejam efetivados, sendo que a propositura em juízo é portanto, um dos mecanismos que visam sua aplicabilidade. Terceiro , o acesso à Justiça na interposição de interesses afetos à criança e ao adolescente constitui-se, ainda, em mais um fator a corroborar no processo de transformação do próprio Poder judiciário, o qual passa a ser um instrumento de expansão da cidadania.157 156 157 Idem SILVA, Moacyr Motta; VERONESE, Josiane Rose Petry. A tutela jurisdicional dos direitos da criança e do adolescente. São Paulo: LTr, 1998, p.158 A questão do Judiciário e do acesso à justiça é trazida pelos autores, conforme também alerta Ferreira, reforçando a normatização da lei quanto a obrigatoriedade do ensino: [...] Conclui o Estatuto que a educação escolar do ensino fundamental constitui direito público subjetivo,, ou seja, o Estado deve oferecer escola a todos aqueles que se encontram em condições de freqüenta-la [....] Quanto à responsabilidade dos pais e responsáveis em relação aos filhos e pupilos em idade escolar estabeleceu o Estatuto: a) o direito de ter ciência do processo pedagógico b) participar da definição das propostas educacionais – parágrafo único do artigo 53; c) a obrigatoriedade de matricular o filho na escola- artigo 55. O não cumprimento dessas obrigações acarreta, aos pais e responsáveis, sanções de natureza civil e penal. Na esfera cível, responsabilidade em razão do poder familiar, e na penal, sujeitam-se à infração do artigo 246 do Código Penal, referente ao crime de abandono intelectual.158 A responsabilidade civil e penal do não cumprimento das obrigações estabelecidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, é passível de ações do Conselho Tutelar, que tem atribuições de aconselhamento, mas também de vigilância, e de poder decisório na aplicação de medidas que vão desde constatar irregularidades no cumprimento da lei e acionar os órgãos competentes para tomar as devidas medidas, conforme Ferreira acentua: [...] a própria Lei ressalta a ligação que deve existir entre a comunidade escolar e o Conselho Tutelar quando estabelece, no artigo 56, a necessidade de comunicação dos casos envolvendo maus-tratos de alunos, reiteração de faltas injusfificadas ou de evasão escolar e os elevados níveis de repetência. Muitas vezes, a solução de tais problemas não está centrada, apenas, no papel da criança ou do adolescente. Seus pais ou responsáveis também se apresentam como parte destes problemas e compete ao Conselho Tutelar aplicar as medidas pertinentes a eles. (ECA 129 e 136 II)159 158 FERREIRA, Luiz Antonio Miguel. O Estatuto da Criança e do Adolescente e o professor; reflexos na sua formação e atuação. São Paulo, Cortez, 2008, p.57 159 Idem, p.73 Na esteira do texto legislativo, há que se destacar o Capítulo IV do ECA que trata “Do direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer”. Destaca-se que por ter sido um Estatuto formulado a partir do texto constitucional, muito desse repete da Constituição Federal. O artigo 54 é um exemplo claro, pois conforme destaca Nogueira, o Estatuto em seu artigo 54 repete integralmente o art. 208 da Constituição Federal, nos seus sete incisos e três parágrafos. No entendimento do autor, a repetir seria reafirmar ou entender que no Brasil reitera-se o compromisso da proteção integral à criança e ao adolescente.160 Já Zaffaroni destaca que: Entre nós, o Estatuto da Criança e do Adolescente surgiu como decorrência da Constituição de 1988 que, pela primeira vez no envolver da historia brasileira, cuida da questão da criança e do adolescente, como prioridade absoluta, considerando dever da família, da sociedade e do próprio Estado a sua proteção. Ao proclamar a doutrina da proteção integral, a Constituição culmina por revogar, de modo implícito, a legislação anterior, que consagrava a doutrina da situação irregular.161 Também segundo Zaffaroni, pode-se estabelecer um quadro sinótico dos direitos normatizados a partir da nova legislação (Lei 8069/90), a criança (até a idade de 12 anos incompletos) e o adolescente (entre 12 e 18 anos) tem reconhecidos os seguintes direitos: a) à alimentação (art. 4º.); b) à convivência familiar e comunitária (arts. 4º. 19 e 24); c) à educação e cultura, ao esporte, ao lazer (arts. 4º. 53 a 59); d), à informação, diversões,espetáculos, produtos e serviços (art. 71); e) à inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral (art.17); f) à liberdade, ao respeito e à dignidade (arts. 4º., 15 e 18); g) participação na vida política (art. 16, VI); h) á preservação da imagem, da identidade e da autonomia, dos valores, idéias e crenças , dos espaços e objetos pessoais (art. 17); i) a profissionalização e a proteção no trabalho (arts. 4º., 60 e 69); j) a refúgio, auxílio e orientação (art. 16, VII); k) à vida e à saúde (arts. 4º. 7º. a 14); l) direitos quando privado de liberdade (art. 124); m) direitos individuais, difusos e coletivos (arts. 208 a 224); n) aos 160 161 NOGUEIRA, Paulo Lúcio. Estatuto da Criança e do Adolescente comentado. São Paulo: Saraiva, 1991 ZAFFARONI, Raùl Eugênio. Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado. 3ªed. São Paulo: Malheiros, 2007, p.128. direitos fundamentais (arts. 3º., 4º. E 7º.); o) direitos processuais, assegurado o devido processo legal (arts. 110 e 111)162 Especificamente no que tange aos direitos que enfoca-se nesta Monografia, no Capítulo IV da Lei 8.069/90 que trata “Do Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer”, artigo 53 normatiza acerca dessas questões, conforme a seguir copilado in verbis: Art. 53 – A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes: IIIIII- igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; direito de ser respeitado por seus educadores; direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instancias escolares superiores;’ IVdireito de organização e participação em entidades estudantis Vacesso a escola pública e gratuita próxima de sua residência. Parágrafo único – é direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. Mas, um questionamento a ser refletido, refere-se a se os alunos terão condições de contestar critérios avaliativos do processo pedagógico? Só se for através dos pais ou responsáveis, os quais, em muitos casos, também não terão condições pessoais, já que não tiveram também a devida formação. Há que se refletir também sobre as situações em que as crianças e adolescentes tudo podem, com poucos ou nenhum limite. Quando pequenas, a criança vivencia um sistema educacional que beira o democratismo. Todo o ensino é mediado, mastigado. Tudo em sala de aula é questionado, discutido. Já nas universidades, no ensino superior esses questionamentos desaparecem e observa-se que o sistema avaliativo é menos questionado. Por outro lado, com os adultos há um respeito recíproco, os conflitos são menores. Pode-se atribuir essa discrepância ao fato de que, quando adultos se adquire maturidade, que só é adquirida com a idade e as experiências pessoais. Defende também esse posicionamento, Nogueira ao registrar que: 162 Adaptado de ZAFFARONI, Raùl Eugênio. Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado. 3ªed. São Paulo: Malheiros, 2007, p.128-9 [...] o Estatuto contém normas ociosas e até mesmo acintosas em relação aos professores, quando prevê que à criança e ao adolescente fica assegurado o direito de “ser respeitado por seus educadores”, o que subverte a ordem de respeito, que deve ser recíproco, sabendo-se que, atualmente, os professores lutam para impor disciplina em suas classes. 163 E mais ainda: O Estatuto procurou ser pródigo em conceder direitos à criança e ao adolescente, esquecendo-se dos seus respectivos deveres, levando-se em conta, principalmente, que eles estão em desenvolvimento e precisam ser orientados e dirigidos, já que, dada a sua idade, não têm ainda discernimento suficiente. É perfeitamente justificável que tenham acesso a escola pública e gratuita próxima de sua residência, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, direito de ser respeitados por seus educadores e dever de respeitá-lo(art. 53, I, II e III)164 Nesse sentido caminhou a elaboração de Roberto João Elias, ao comentar o Estatuto da Criança e do Adolescente: O direito de ser respeitado pelos educadores é algo que deve ser cobrado pela família e pela própria sociedade, para que o menor possa ser educado sem traumas. Isso não quer dizer que os alunos poderão fazer o que quiserem na sala de aula e não deve ser confundido com a antipatia que muitos têm dos professores exigentes. Essa observação é importante para que não se confunda disciplina com autoritarismo e por outro lado acentua a importância da participação da família, ao que se acrescenta do mesmo autor: [....]No que tange ao direito de contestar critérios avaliativos, é algo que possibilita aos responsáveis pelo menor evitar que este seja prejudicado [...] tal faculdade, que é a 163 NOGUEIRA, Paulo Lúcio. Estatuto da Criança e do Adolescente comentado. São Paulo: Saraiva, 1991, p.6970. 164 NOGUEIRA, Paulo Lúcio. Estatuto da Criança e do Adolescente comentado. São Paulo: Saraiva, 1991, p. Salienta-se que na verdade o artigo faz referência aos direitos, mas não menciona o dever de respeitá-los. de recorrer às instâncias superiores, não pode representar o direito de sempre ser atendido em suas reivindicações, mas sim o de ter, por exemplo, sua prova submetida a uma revisão.O direito de se organizar ou participar de entidades estudantis, que é um preparo para o exercício da cidadania, não pode ser vedado a ninguém. Quaisquer discriminações são inaceitáveis. É claro que, em certos casos, para determinadas funções, pode ser exigida uma idade mínima para seu exercício.165 As questões que envolvem a participação estudantil, a representatividade e suas contribuições ao enfrentamento da violência no contexto escolar serão evidenciadas no tópico desta Monografia que aborda a pesquisa realizada nas escolas de Biguaçu. Prosseguindo com as preocupações concernentes a violência e legislação, investiga-se em que medidas, formas e possibilidades o ordenamento jurídico pode contribuir para enfrentar os problemas decorrentes da violência no contexto escolar. Minayo contribui ao escrever sobre o papel socializador da escola, todavia alerta que: Cabe ressaltar, entretanto, seu potencial para influenciar negativamente o futuro da criança, dos adolescentes e dos jovens, seja pela discriminação seja pelo descaso, situação que muitos estudantes sentem e verbalizam [...] ao contrário, como bem observaram alguns professores, as formas de educar necessitam de uma profunda transformação para se adequarem às necessidades dos jovens de todos os estratos sociais nos tempos atuais na qual é muito importante a preparação técnica, mas muito mais crucial o desenvolvimento da criatividade, da capacidade critica, reflexiva, fazendo o percurso do ‘preparar para aprender’ em lugar do ‘tudo saber’ [...]166 Questiona Minayo portanto, as influências que a escola exerce, principalmente nos jovens, sendo, segundo a autora, necessárias transformações nas formas de educar. 165 ELIAS, Roberto João. Comentários ao Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069, de 13 de julho de 1990). São Paulo: Saraiva, 1994. p. 53 166 MINAYO, Maria Cecilia de Souza (et al.) Fala galera: juventude, violência e cidadania. Rio de Janeiro: Garamond, 1999 Com o intuito de trazer o conhecimento do que é específico no ordenamento jurídico brasileiro com relação ao ensino, enfoca-se a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei n. 9.394/96 3.3 ENFOQUES DESTACADOS DA LEI 9.394/96 Sob a ótica do ordenamento jurídico, a Lei 9.394 de 1996 determina quanto aos “ Princípios e Fins da Educação Nacional ”: Art. 2º A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.167 Normatiza a legislação especifica da educação que é base para toda a organização escolar brasileira, em seu artigo 2º. já citado, a ênfase ao “pleno desenvolvimento do educando”, assim como “o exercício da cidadania” e os “ideais de solidariedade humana”. É imperativa a percepção de que a solidariedade humana e o exercício da cidadania destacados no artigo da Lei 9.394/96, enquanto princípios e finalidades da educação brasileira, necessariamente passam pela reflexão mais aprofundada acerca da violência que ocorre nesse contexto. No mesmo escopo da Lei encontra-se: Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber; III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas; IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância; 167 168 BRASIL, Ministério da Educação. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.Disponível em http//www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lei9394.htm.Acesso 20 abr. 2010. 168 Disponível em http//www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lei9394.htm. Acesso em 20/abr/2010 Reafirma-se esse entendimento, com destaque pelo preceituado no Inciso IV do artigo 3º. que aborda a tolerância como base para o ensino no Brasil. Tolerância no sentido da convivência harmoniosa, no respeito às diferenças, com práticas que propiciem essa vivência pedagógica. Ainda no que tange à Lei 9394/96, também conhecida como Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, encontra-se normatizado: Art. 27. Os conteúdos curriculares da educação básica observarão, ainda, as seguintes diretrizes: I - a difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática; Resta comprovado que a preocupação com os valores fundamentais, com o respeito aos direitos e deveres e suas relações com a cidadania, é presente na Lei normatizadora do ensino no Brasil, reforçado pelo artigo 32, conforme transcrito a seguir: Art. 32. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante: (Redação dada pela Lei nº 11.274, de 2006) I - o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo; II - a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade; III - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores; IV - o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. (grifo nosso) A abrangência do preceituado é ampla, cujo texto da Lei é incontestavelmente louvável, em consonância com a doutrina da proteção integral da criança e do adolescente169 . 169 Conforme será abordado no próximo capítulo desta Monografia. Todavia, a elaboração da Lei se assenta em um ideal de escola, aquela com boas condições de trabalho, com recursos físicos adequados, corpo docente bem remunerado, bem preparado e alunos comprometidos com a aprendizagem. Longe da realidade que, atualidade, é verificável no cotidiano na vivenciado na maioria das escolas brasileiras. Na realidade, o ambiente escolar reflete o que existe na sociedade, retratando relações conturbadas e conflituosas, tornando-se também vulnerável à violência. É nesse contexto que a escola tem dificuldades em assumir suas características e funções essenciais de educação, quer sejam as da socialização, promoção da cidadania e do desenvolvimento pessoal. No sentido de retomar suas funções, de atender às finalidades preceituadas na legislação educacional pertinente, são necessários muitos questionamentos, reflexões, estudos, para os quais o presente trabalho objetiva contribuir. Conforme salienta Ristum: [...] é importante nesse âmbito considerar que a familiarização com a agressividade e a violência as tornam, como analisam psicólogos e sociólogos, matéria do cotidiano, corriqueiras a ponto de serem consideradas "normais". Ocorre portanto, certa banalização da violência, sendo que, a proliferação indiscriminada desses comportamentos mostra que a escola perdeu - ou vem perdendo - o poder normativo e ignora ou negligencia os recursos pedagógicos para o estabelecimento de limites entre o que é aceitável e o que ultrapassa essa condição. 170 Na esteira do que Ristum alerta, há que se destacar a progressiva perda que ocorre cada vez acentuadamente, da função do aprendizado escolar, quer seja o de disciplinar o comportamento dos alunos. Por vezes, a indeterminação de limites, o não estabelecimento de regras claras, conduz o que a autora traz como “proliferação indiscriminada” dos comportamentos violentos, da agressividade nas relações escolares, conforme será aprofundado no prosseguimento dessa Monografia. 170 RISTUM, M. Violência: uma forma de expressão da escola? São Paulo: Caderno de Filosofia e Psicologia da Educação, v. 2, p.103. 3.4 VIOLÊNCIA, LEIS E CONFLITOS COTIDIANOS A temática é atual e extremamente preocupante, conforme aponta pesquisa171 realizada pela Unesco em 2008 sobre a violência nas escolas, em 14 capitais do Brasil, que mostrou essa realidade em relação à ameaças a alunos, país e professores. Essa pesquisa da Unesco sobre a violência nas escolas foi realizada em 239 escolas públicas e 101 escolas privadas. O estudo apontou que, além da violência física, o estupro e a violência sexual também já fazem parte do cotidiano das escolas. Mato Grosso ficou em primeiro lugar neste item, com 12% dos relatos, seguido do Amazonas e de São, com 11%. Também são comuns os relatos de roubos, tráfico de drogas e depredação do ambiente escolar. Nas capitais pesquisadas dos Estados de Goiás, Mato Grosso, Amazonas, Pará, Ceará, Pernambuco, Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Distrito Federal os relatos de violência foram frequentes. Revela ainda a pesquisa que existe violência em 83,4% das escolas brasileiras. Os furtos ocorrem em 69,4% delas. Cerca de 60% disseram ocorrer roubo em sua sala de aula, 37% declara que já foi furtado na escola. De certa forma inusitada é uma das conclusões, que aponta Cuiabá como capital brasileira que está em terceiro lugar no ranking de ocorrências violentas nas escolas, perdendo apenas no número de queixas para o Distrito Federal e São Paulo. Tal constatação remeteu a iniciativa parlamentar de instituir Projeto de Lei propondo a adoção de medidas preventivas para diminuir essa problemática, conforme posteriormente abordaremos. A questão legal aparece então como relevante em estudos como o efetivado por Motta ao ressaltar a “Importância das leis que regulam o ensino”, conforme escreve o autor: As causas das falhas na busca de mudanças de comportamento através dos processos de ensino-aprendizagem desenvolvidos em sala de aula são tanto sistêmicas quanto não sistêmicas; muitas são estruturais e, outras, conjunturais. Essas causas podem, em 171 CARVALHO, Maria de Lourdes. Aumento da violência escolar preocupa parlamentares. Disponível em http://www.al.mt.gov.br/v2008 - Acesso em 13out. 2009. alguns aspectos, depender da legislação vigente. Esta, se engessada e retrograda, pode ser um empecilho ao desenvolvimento dos indivíduos como pessoas humanas e das sociedades; se aberta e voltada para o futuro, pode ser instrumento positivo e alavancar o progresso de cada um e da humanidade, contribuindo para a produção e a divulgação da cultura e para o desenvolvimento científico e tecnológico, pessoal e profissional. 172 Nas considerações de Chauí173 já se encontravam preocupações a esse respeito pois a autora ressalta que o conformismo e a resistência andam sempre juntos no contexto social e os conflitos, mormente os que derivam para a violência, são esperados onde impera o autoritarismo. Abordando a problemática, Abramovay174 aponta para a necessidade de se redefinir os posicionamentos até então freqüentes nas escolas de que o professor deve falar e o aluno apenas ouvir e repetir. A autora alerta para o fato de que ao se instalar no processo educativo, a violência reflete a crise de valores que perpassa as relações sociais e as questões de gênero, pois via de regra, a maioria dos educadores agredidos são mulheres, temática merecedora de maiores aprofundamentos, todavia não efetivada nesse trabalho, em face de sua delimitação. A discussão acerca da disciplina, do estabelecimento de limites comportamentais no contexto escolar é recorrente, e frequentemente associada à violência. No que tange a essa constatação, oferece também imprescindível contribuição ao presente estudo a abordagem de Vieira & Veronese ao enfatizar que: A disciplina escolar, partindo dos princípios da Doutrina da Proteção Integral, é importante enquanto conjunto de regras que prevêem o papel dos limites na relação pedagógica. Se o regramento disciplinar for estabelecido com a participação dos educandos, terá mais condições de permitir que se desenvolva a consciência acerca da importância que os limites exercem na vida em sociedade. Além disso, a disciplina escolar não pode se distanciar de sua relação com o aprendizado dos limites, sob pena 172 MOTTA, Elias de Oliveira. Direito Educacional e educação no século XXI: com comentários à nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Brasília: UNESCO, 1997, p. 83. 173 174 CHAUÍ, M. O que é ideologia? Coleção Primeiros Passos. 3. ed. São Paulo:Brasiliense, 2004. ABRAMOVAY, , Miriam.(et al) Revelando tramas, descobrindo segredos: violência e convivência nas escolas.Rede de Informação Tecnológica Latino americana-.Brasília: Sec Estado Ed. Distrito Federal, 2009. de decair em instrumento de supressão da liberdade e de exercer uma função exclusiva de controle sobre os corpos e as atividades dos alunos. 175 Nesse âmbito há que se considerar as relações que se estabelecem com o cotidiano de nossos alunos nas escolas brasileiras na atualidade, reflexões essas que devem repensar o contexto familiar, a violência e as relações de confiança e comprometimento que no ambiente familiar compõe essa dinâmica de relacionamentos, por vezes conflitantes. Quanto a essas considerações, escreve Giddens que: No contexto da vida familiar, a confiança ativa envolve o comprometimento em relação ao outro e aos outros, sendo que esse comprometimento também implica o reconhecimento de obrigações que se estendem pelo tempo. O fortalecimento de comprometimentos e obrigações familiares, desde que baseado em confiança ativa, não parece ser incompatível com a diversidade das formas familiares que atualmente estão sendo exploradas em todas as sociedades industrializadas. As altas taxas de separação e divorcio vieram para ficar, mas podem-se perceber muitas maneiras p[elas quais elas viriam a enriquecer a solidariedade social em lugar de destruí-la. Por exemplo, o reconhecimento da importância primordial dos direitos das crianças (grifo nosso), junto coma s responsabilidades em relações a elas, poderia fornecer os próprios meios de consolidarmos os novos la;os de parentesco que vemos ao nosso redor – entre, digamos, dois grupos de pais e mães que também são padrastos ou madrastas e as crianças que possuem em comum” 176 Essas elaborações teóricas de Giddens situam-se também na esteira das produções jurídicas nacionais, tais como nas elaborações de Karina Miguel Sobral ao acentuar que a punição no âmbito domestico que ocorre em diversas famílias brasileiras se apresenta como algo que faz parte do disciplinamento visto com condescendência. Nessa direção escreve Sobral: 175 VIEIRA, C.E. & VERONESE, J.R.P. Limites na educação: sob a perspectiva da Doutrina da Proteção Integral, do Estatuto da Criança e do Adolescente e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.Florianópolis: OAB/SC Editora, 2006,p.117. 176 GIDDENS, Anthony. Para além da esquerda e da direita: o futuro da política radical. Trad.de Álvaro Hattnher. São Paulo: UNESP, 1999 p. 22-3. No Brasil ainda predomina o pensamento de que a punição corporal doméstica leveum tapa- é uma forma eficiente de disciplinamento e de educação da criança e do adolescente . [...] Vivendo neste ambiente, a c e o ado acabam por se “acostumar”com a violencia, passando a ve –la como natural. Consequentemente aprendem este tipo de comportamentos,muitas vezes, na fase adulta, acabem por repetir a acao de seus pais, vitimando seus filhos.177 Percebe-se nessa caminhada de elaboração de trabalho monográfico, as relações da teoria com a realidade constatada, conforme salienta-se. Assim, com o escopo dos doutrinadores, procura-se entender cientificamente, o que percebe-se empiricamente178. Esse é o esforço interpretativo presente em toda esta Monografia, para o qual Foucault volta a contribuir, assim como ao afirmar que “Os procedimentos disciplinares revelam um tempo linear cujos momentos se integram uns nos outros, e que se orienta para um ponto terminal e estável.”179 Ao discutir a disciplina na escola, aproximada segundo o autor, da disciplina do treinamento militar e das prisões, pois “O treinamento das escolares deve ser feito da mesma maneira; poucas palavras, nenhuma explicação, no máximo um silencio total que só seria interrompido por sinais” também salientado ao afirmar que: Na essência de todos os sistemas disciplinares, funciona um pequeno mecanismo penal. É beneficiado por uma espécie de privilégio de justiça, com suas leis próprias, seus delitos especificados, suas formas particulares de sançao, suas instâncias de julgamento. As disciplinas estabelecem uma “infra-penalidade”; quadriculam um espaço deixado vazio pelas leis; qualificam e reprimem um conjunto de comportamentos que escapava aos grandes sistemas de castigo por sua relativa indiferença.180 177 SOBRAL, Karina Miguel. A punição corporal doméstica de crianças e adolescentes: aspectos do direito interno e do direito estrangeiro. Revista Sintese de Direito Penal e Processual Penal ano II n.12 fev-mar 2002, p.153 178 Quanto ao conhecimento empírico em contraponto com o científico, vide PASOLD Cesar Luiz Prática da pesquisa jurídica – idéias e ferramentas úteis para o pesquisador do direito. 9ª. ed. Florianópolis, OAB/SC Editora, 2005. 179 FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir. (história de violência nas prisões) Trad. de Raquel Ramalhete. 23.ed. Petrópolis: Vozes, 2000. p.136. 180 Idem, p.149 Foucault atribui ao controle do tempo todo o ordenamento e disciplina, comparando a escola ao exército, pois: Na oficina, na escola (grifo nosso) no exército, funciona como repressora toda uma micropenalidade do tempo (atrasos, ausências, interrupçoes das taregfas) da atividade (desatençao, negligência, falta de zelo), da maneira de ser (grosseria, desobediencia), dos discursos (tagarelice, insolência) do corpo (atitudes “incorretas” gestos nao conformes, sujeita), da sexualidade (imodéstia, indecência). Ao mesmo tempo é utilizada, a título de puniçao, toda uma série de processos sutis, que vão do cadstigo físico leve a privaçoes ligeiras e a pequenas huminhações.181 Nesse contexto é que as punições ocorre. Quem transgride merece sanção, tanto para o preso como para o aluno indisciplinado, assim: [...] Trata-se ao mesmo tempo de tornar penalizáveis as frações mais tênues da conduta, e de dar uma funçao punitiva aos elementos aparentemaente indiferentes do aparelho disciplinar: levando ao extremo, que tudo possa servir para punir a mínima coisa; que cada indivíduo se encontre preso numa universalidade punível-punidora.182 Não é de se estranhar que, de tanto ser punido, os alunos aprendem a punir, a exercitar a violência entre os colegas e os demais de seus círculos de convivência. A par disso, é reconhecida a influência de grupos de referência de valores , crenças e formas de comportamento seria também uma motivação do jovem para cometer crimes. Por outro lado, conforme Firmo: [...] não podemos esquecer de que o Estatuto não prevê apenas deveres para os pai, Estado e sociedade, e direitos para as crianças e adolescente, pois, para estes impôs a educação lato sensu, ou seja, a educação para a cidadania, prevendo medidas de proteção e sócio-educativas para os atos infracionais praticados [...]assim, não se estará educando estes pequenos cidadãos se não lhes for ensinada a regra natural de causa e efeito, ou seja, de que a cada ato de desrespeito ao próximo e à sociedade decorrerá uma medida de proteção sócio-educativa.183 181 Idem, ibidem. Idem, ibidem. 183 FIRMO p.235 182 A participação da família, sua responsabilização é perfeitamente coerente com o desejável do ponto de vista legal, mais ainda, com as expectativas dos educadores, conforme na pesquisa in locu realizada nas escolas também ficou evidenciado, como ainda se enfatizará nesta Monografia. Nas relações humanas, valores como solidariedade, companheirismo, respeito, tolerância são pouco estimulados nas práticas de convivência social, quer seja na família, na escola, no trabalho ou em locais de lazer. A inexistência dessas práticas dão lugar ao individualismo, à lei do mais forte, à necessidade de se levar vantagem em tudo, (a tão famigerada e anacrônica “lei de Gerson” ou de levar vantagem em tudo). Decorre daí a brutalidade e a intolerância que nas escolas, são combatidos pelos educadores mais conscientes. Registra-se ainda a importância da inclusão do ensino de valores éticos e de exercício da cidadania, pautados do que se intitula “Temas Transversais”184 e que constam do currículo básico do sistema educacional brasileiro. Nesse sentido escreve Abramovay afirmando que “a construção da paz vem se apresentando em diversas áreas e mostra que o impulso agressivo é tão inerente à natureza humana quanto o impulso amoroso; portanto é necessária a canalização daquele para fins construtivos”185, ou seja, a indignação é aceita porém deve ser utilizada de uma maneira produtiva. Mas quando essa canalização não ocorre, a violência persiste, há que se penar no sentido de coibir os exageros, a violência exacerbada, nesse sentido escreve Veronese: [...] com a vigência do ECA, o ato infracional do adolescente passou a ser considerado dentro de um contexto complexo. Na concepção anterior, o problema era simples, tratava-se de um caso de delinqüência, e o problema era do sujeito que portava uma anomalia. Na nova concepção, a do ECA, para os adolescentes autores de ato infracional são previstas medidas socieducativas.186 184 Os conteúdos básicos do currículo das escolas brasileiras, bem como os Temas Transversais estão disponibilizados em http//www.mec.gov.br. 185 ABRAMOVAY, , Miriam.(et al) Revelando tramas, descobrindo segredos: violência e convivência nas escolas.Rede de Informação Tecnológica Latino americana-.Brasília: Sec. Estado Ed. Distrito Federal, 2009. 186 VERONESE, Josiane Rose Petry. Os direitos da criança e do adolescente. São Paulo: LTr, 1999, p.61 Percebe-se que as contribuições que a legislação pode possibilitar nas relações conflituosas que permeiam o ambiente educativo são ressaltados. Nesse escopo, as autoras assim apontam: A Doutrina da Proteção Integral apresenta uma ótima oportunidade para que o professor consiga ensinar que existem limites normativos (grifo meu) e que estes devem ser respeitados. Partindo do fato que crianças e adolescentes são titulares de direito , como já discutido, devem participar ativamente de seu processo de formação, o estabelecimento de limites restritivos pode ser compartilhado, isto é, o professor não impõe autoritariamente o limite, mas o estabelece [...]187 Para ensinar limites é notório que eles necessitam estar claros inclusive quanto ao respeito ao profissional que atua em educação, aspecto que atualmente não é observado pois são cada vez mais frequentes os registros de violência contra profissionais da educação. Essa é uma realidade preocupante e que também nos remete ao disposto por Motta188 ao discorrer que: “O último inciso do art. 67 da LDB determina que, para realmente promover a valorização dos profissionais de educação, os sistemas de ensino devem assegurarlhes condições adequadas de trabalho. Esse dispositivo, apesar de dizer algo óbvio e parecer desnecessário, é, na realidade, uma recomendação legal importante, porque as condições de trabalho do professorado brasileiro deixam muito a desejar e necessitam, com urgência, de melhor atenção e recurso dos diversos sistemas de ensino e também das escolas particulares. O comentário do autor se respalda em normativa constitucional pois o inciso V do art. 206 da Constituição Federal e incluída como um princípio no inciso VII do art. 3º da LDB (Lei nº 9394/96) foi enfatizada no mencionado art. 67 cuja íntegra é a seguinte: 187 Op. cit. p.175 MOTTA, Elias de Oliveira. Direito Educacional e educação no século XXI: com comentários à nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Brasília: UNESCO, 1997,p.430. 188 art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público: IIIIIIIVVVI- ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos; aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico remunerado para esse fim; piso salarial profissional; progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na avaliação do desempenho; período reservado a estudos, planejamento e avaliação incluído na carga de trabalho; condições adequadas de trabalho. (grifo nosso) Nesse escopo, é necessário refletirmos principalmente no que concerne à qualidade da educação pública e às condições de trabalho a que estão sujeitos a maioria dos profissionais da educação que enfrentam jornadas diárias excessivas, baixa remuneração e condições precárias, frequentemente sujeitos à atitudes de desrespeito, agressões verbais, quando não a verdadeiros episódios de violência por parte dos alunos, que estão se tornando rotineiros nas escolas. E afinal, a violência, as agressões da qual são vítimas os profissionais da educação, cuja origem está nas atitudes dos alunos, crianças e adolescentes pode ser de que forma encarada pelo “mundo jurídico? Esse é um importante questionamento que trazemos à discussão pois nos remete a pensar na relação que se estabelece no contexto dessa violência. De um lado temos o profissional da educação, na maioria das vezes funcionário público em seu exercício laboral. De outro temos o autor das agressões, crianças e adolescentes que a legislação contempla de forma específica e cuja normatização é especial. Retomando o que preceitua o art. 228 da Constituição Federal (1988) e art. 27 do Código Penal Brasileiro determina que "os menores de 18 (dezoito) anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial." No caso, a legislação especial é o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no. 8069/90). Esse, por sua vez, em seu art. 104, tem os mesmos dizeres. Sabemos que o menor não comete crime, apenas ato infracional, conforme normatiza a Lei. Discussões a esse respeito são uma constante entre os doutrinadores e a questão da menoridade penal e conseqüente imputabilidade é frequentemente arguida. Tais considerações nos remetem ao reconhecimento de que no âmbito escolar a violência tem que ser trabalhada muito mais no âmbito de um trabalho de esclarecimento, de cunho jurídico mas também educativo e preventivo. Para tanto se faz necessário uma fundamentação teórica que subsidie o trabalho, conforme a que estamos desenvolvendo, com intuito de contribuir com o enfrentamento dessa realidade. Ainda na busca de fundamentação teórica pertinente, encontra-se em Baratta, (2007) a formulação de que existe o “princípio da exigibilidade social do comportamento conforme a lei” o que implicaria em que as pessoas agissem em conformidade com o ordenamento jurídico vigente. (grifo nosso) Ainda segundo o autor citado, há duas séries de requisitos normativos, de acordo com o contexto situacional da ação, que seriam: [...] causas de não exigibilidade social do comportamento conforme a lei e os critérios para a sua verificação na situação da ação e aos papeis sociais /institucionais cobertos pelo sujeito na situação problemática. [...]critérios de avaliação do espaço de alternativas comportamentais à disposição do sujeito na situação problemática em que se levou cabo a ação.189 Já Herkenhoff assevera que: “Uma coisa é a interpretação abstrata da norma, num artigo ou livro doutrinário. Outra coisa é o julgamento do caso, envolvendo o homem e a dramaticidade da vida, à luz da norma e das diretrizes do sistema legal.”190 Partindo dessa perspectiva podemos auferir que nos casos concretos que ocorrem nas escolas nada melhor do que perceber a especificidade de cada situação, para a busca da solução jurídica mais adequada. 189 BARATTA, Alessandro. Direitos humanos: entre a violência estrutural e a violência penal. Fascículos de Ciências Penais. Porto Alegre, n.2, p.44-61, abr./jun. 1993. 190 HERKENHOFF,João Baptista. Como aplicar o Direito ( à luz de uma perspectiva axiológica, fenomenológica e sociológico-política) Rio de Janeiro:Forense, 2002, p.100. Nesse sentido que torna-se importante a percepção do conceito de culpabilidade, sendo que Romeu Falconi assim escreve: O surgimento da culpabilidade ( grifo do autor) se dá precisamente quando o agente realiza, dolosa ou culposamente, o evento cujo resultado planejou, ou sobre o qual não teve o cuidade de dispensar uma análise minimamente aprofundada sobre a previsibilidade exigível, sendo irrelevante se obteve ou não sucesso na empreitada.(grifos do autor). 191 Em outra obra, Falconi assim destaca: Nada menos que três normas jurídicas tratam da menoridade para os efeitos criminais. Com efeito, já o Código Penal de 1940 (Lei n 2848 reformada pela de n º 7209/84) definia a responsabilidade criminal para os maiores de dezoito anos, com ressalvas. Após, veia Constituição Federal, no artigo 228, tratando do mesmo tema. Não bastasse, surge o Estatuto do Menor e do Adolescente (Lei nº 8069/90) , para reiterar garantia, em lei ordinária, o que já era norma jurídica constitucional de eficácia plena (estas são as normas jurídicas que têm aplicação imediata) Não me agrada essa redundância legislativa, quando na prática, nada, ou quase nada, se faz.Conforme a redação do artigo 27 do Código Penal, os menores de 18 anos são penalmente incapazes. Absolutamente incapazes. Portanto, inimputáveis. Os menores de dezoito anos não praticam crimes ou contravenções penais, mas “atos infracionais”, conforme resulta da redação do artigo 103 da Lei nº 8.69/90.192 Conforme Falconi destaca essa certa “redundância legislativa” não garante que na prática as normas jurídicas se efetivem pois é fato verificável o distanciamento entre o que se propõe e o que a realidade social apresenta. 191 FALCONI, Romeu. Direito Penal: temas ontológicos- Coleção elementos de Direito. São Paulo: Ícone, 2003, p.155. 192 FALCONI, Romeu. Lineamentos de Direito Penal. 3 ed. São Paulo: Ícone, 2002, p.227. Nessa esteira, Valter Kenji Ishida ao comentar o Estatuto da Criança e do Adolescente, em obra que contempla aspectos da doutrina e da Jurisprudência afirma que “a questão da responsabilidade paterna é enfrentada por meio da interpretação doutrinária e jurisprudencial”193 Embora protegidos pela legislação pertinente, via de regra são menores, crianças e adolescentes que agridem seus professores, os diretores, enfim os profissionais que labutam para lhes oferecer o ensino formal. No delinear dessas abordagens sobre os limites e a da responsabilização paterna há que se registrar a atuação dos Conselhos Tutelares, conforme a seguir abordado. 4.4.1 Conselho Tutelar – destaques ao limites e possibilidades de sua atuação Para proteção e defesa dos direitos fundamentais, o Estatuto prevê a criação dos Conselhos dos Direitos da Criança e Adolescente, a nível nacional, estadual e municipal responsáveis pela formulação da política de atendimento à criança e adolescente e os Conselhos Tutelares que têm por função zelarem pelo cumprimento do ordenamento. Dessa maneira, não fica excluída a obrigatoriedade de o professor ou dirigente da escola ou creche comunicar autoridade policial os casos de ocorrência de maus tratos.Segundo Vera Lucia Tieko Siguihiro, cita que: A maioria dos Conselhos foi criado num cenário de perplexidade, tanto da sociedade civil quanto do setor político, sem qualquer tempo e clareza para se estruturarem e assumirem o seu papel. Para se constituir em espaço de ação dos sujeitos e criação de estratégias para acesso e construção de novas práticas na direção das garantias dos 193 ISHIDA, Valter Kenji Estatuto da criança e do adolescente- doutrina e Jurisprudência.4 ed. São Paulo: Atlas, 2003, p.191 direitos sociais do segmento que representam, são necessárias mudanças de pensamento e prática de conselheiros.194 Essa pratica necessita romper com as posturas de cunho imediatista, rotineira, burocrática e cartorária, para assumir a gestão social dos Conselhos Tutelares. Por outro lado, valorizar ainda o reconhecimento da autoridade. Isso porque a sociedade contemporânea carece de reconhecimento da autoridade. Ao valorizar somente o que novidade, a tecnologia os jovens acabam por romper com o passado, com a tradição e junto com isso vem o rompimento com a autoridade e com o respeito às normas. Em sociedades orientais isso ainda consegue se preservar, mas no ocidente as relações sociais são mais aligeiradas e na família já não se tem o habito da convivência. Os contatos são aligeirados. A anteriormente figura do avó, da avó que dava conselhos, que trazia suas lições de vida é cada vez mais rara. É o que Hannah Arendt195 contribui ao propor reflexão a respeito, salientando a pertinência da volta a valorização da autoridade tanto no contexto familiar, quanto no socialmente amplo. Retomando, no que concerne aos Conselhos Escolares, nos casos de verificação de maus tratos sofridos pelos alunos, de faltas reiteradas e injustificadas às aulas, de evasão e repetência escolar, os dirigentes de estabelecimentos de ensino deverão comunicar ao Conselho Tutelar essa ocorrência, conforme preceitua o art. 56 preceitua. Contudo, não fica excluída a obrigatoriedade de o professor ou dirigente da escola ou creche comunicar autoridade policial os casos de ocorrência de maus tratos envolvendo seus alunos, conforme o Artigo 136 do Código Penal Brasileiro, já citado preceitua. 194 SUGUIHIRO, Vera Lúcia Tieko. A prática pedagógica dos Conselhos. In: Cadernos caminhos para cidadania - Série Escolas de Conselhos, nº 1, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul - Campo Grande - MS, 1999, p.68-9. 195 ARENDT, Hannah. Sobre a violência. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 2004. Luiz Ângelo Dourado ao afirmar que “ O crime não é apenas um problema do criminoso, mas, também, do juiz, do advogado, do psiquiatra e do psicólogo”196 nos remete a essa responsabilização que necessita ser ampliada e assumida por todos os agentes da sociedade. No que tange `a atuação do Ministério Publico nesse sentido, Carla Moretto Maccarini elabora que: É perceptível que as dificuldades reveladas pelas pessoas na elaboração interna ao vivenciar rejeições, frustrações, abandono. Traumas não curados. Reduções na auto-estima. Inseguranças e medos, alem de outros, bem como o modo como cada uma delas reage a estes fatores internos acaba por motivar sérias ações efetivadas no mundo exterior, desencadeadoras de conflitos interpessoais, agressões verbais e físicas, ofensivas da integridade moral e corporal [...]197 Essa preocupação com os conflitos, presente desde o Projeto de Monografia, que norteou o presente trabalho monográfico hora apresentado, conduziu a necessidade de um olhar mais detalhado e fidedigno da realidade vigente, para o qual elaborou-se um procedimento metodológico de coleta de dados, conforme segue sendo explicitado. 196 197 DOURADO, Luiz Angelo. Raízes neuróticas do crime. Rio de Janeiro: Zahar, 2007, p. 7. MACCARINI, Carla Moretto, “O Ministério Público como fator de redução de conflitos e a construção da paz social” XVIII Congresso Nacional do Ministério Público – 25 a 28 de novembro de 2009. 3.5 A PESQUISA NAS ESCOLAS – O QUE A REALIDADE EVIDENCIOU Objetivando melhor compreender como a violência acontece nas escolas, efetivou-se, ao longo do ano letivo de 2010 e primeiro semestre de 2011 uma coleta de dados da realidade, in locu, que consistiu em breves imersões no universo escolar de duas escolas públicas do município de Biguaçu, Santa Catarina. Conforme já explicitado anteriormente, a opção pelas escolas do município ocorreu em virtude da prévia atuação da autora da Monografia como pedagoga na rede municipal de ensino dessa localidade. As escolas caracterizam-se por sua diversidade. Na escola A198 funciona o ensino fundamental do primeiro ao nono ano, com alunos da faixa etária dos 6 aos 16 anos, em sua maioria. Na escola B199 há um número menor de alunos, com funcionamento do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental, cujos alunos têm idades variando dos 6 aos 11 anos. Considera-se ainda o número de alunos repetentes que extrapolam essa idade, podendo-se encontrar, alunos com até 14 anos ainda nos quintos anos. São portanto, crianças e adolescentes que foram observados e entrevistados com procedimentos informais e com autorização dos familiares. Foram observadas 9 salas de aula na escola A (sendo uma de cada ano de ensino) e 2 salas na escola B (uma do quarto ano e uma do quinto ano), de comum acordo com profissionais das escolas. Ainda, alguns desses familiares, espontaneamente participaram da pesquisa, com depoimentos que serão comentados. A pesquisa realizada consistiu em abordagem qualitativa de cunho etnográfico e objetivou observar episódios de relacionamento em alguns momentos do cotidiano escolar em situações formais de aprendizagem, na sala de aula, nos recreios, nas entradas e saídas e horários de atividades extra classe. Em situações distintas foram coletadas impressões espontâneas e direcionadas de funcionários, alunos e seus familiares e profissionais da educação (professores, pedagogos, bibliotecários), através de registros informais mediante depoimentos espontâneos e 198 199 Assim denominada para preservar a identidade dos participantes da pesquisa de campo. Idem. direcionados para suas impressões sobre o cotidiano escolar e violência. Foram ainda aplicados questionários 200 familiar e episódios de , que objetivaram propiciar um olhar mais sistematizado das impressões dos profissionais da educação sobre a temática. Dos 26 questionários aplicados, 18 são de profissionais da escola A e 8 da escola B. Assim direcionou-se a observação e os diálogos travados para a constatação do que os profissionais de educação, alunos e seus familiares caracterizam como violência escolar e como ela ocorre. Ainda procurou-se evidenciar o que os alunos pensam sobre o assunto, suas dúvidas e inquietações envolvendo a violência. As ações da escola com relação ao problema foram também investigadas, bem como procurou-se a aproximação do que os professores conhecem sobre a legislação vigente, especificamente no que concerne ao Estatuto da Criança e do Adolescente e sua aplicabilidade no contexto escolar. Dos dados coletados e posterior análise à luz do escopo teórico pertinente, pode-se preliminarmente concluir que há uma lacuna considerável entre o que é verbalizado e o que é vivido no âmbito escolar. Para a maioria dos alunos a escola é um local de disciplina e onde as regras devem ser cumpridas. Os mesmos alunos registram que, se puderem, não cumprem o que foi determinado, pois, principalmente entre os adolescentes, se puderem transgridem normas como por exemplo, não fazendo silêncio nos horários determinados, vindo sem uniforme à escola e saindo antes do término das atividades. Quando questionados sobre o porquê de atitudes dessa natureza, justificaram com frases tais como: “porque não quero que me chamem de ‘mané’, de ‘certinho’” Para alguns é preferível ser “da turma dos bagunceiros do fundão, reprovar, do que ficarem ‘zoando’ só porque me comporto... sai fora!”. No aspecto da violência física, das agressões, provocações e brigas, a maioria dos alunos que se manifestaram confirmaram que ocorrem diversas vezes ao longo do período escolar, mas em geral são poucos os episódios mais sérios: “só com os bagunceiros mesmo”; “às vezes acontece por causa de um jogo, do futebol... aí o professor dá ‘um chega pra lá’ em cada briguento e acaba por ali.” Zaffaroni & Piarangeli ao desenvolver considerações sobre o que denominam de “criminalização seletiva” alertam: 200 Em Apêndice da presente Monografia, consta um modelo do Questionário aplicado como instrumento para coleta de dados que propiciaram um entendimento mais fidedigno do cotidiano das escolas no que concerne à violência vivenciada. [...] A criança desadaptada na escola, a que abandona os estudos,, a que é forçada ao trabalho nas ruas, à desocupação ou abandono ou à internação em instituições para menores, a que é tomada como “bode expiatório” dos conflitos familiares, a que sofre carências alimentares nos primeiros meses de vida, são todas “pré-candidatas” à criminalização, particularmente quando pertencem aos setores mais pobres.201 Contaram também os entrevistados que: “ tem umas meninas metidas a valentonas, que brigam na porrada mesmo, puxam cabelo, se estapeiam no chão...” Segundo os alunos os motivos são diversos que vão desde a disputa por amizades ou namorados ou por outras desavenças de relações da vizinhança. Os familiares em geral somente se envolvem nas desavenças com os filhos menores, ou seja os que freqüentam as séries iniciais de escolaridade. A maioria de famílias dos adolescentes não é participante nas escolas pesquisadas e não tomam conhecimento do que ocorre no cotidiano. Na fala de uma mãe de aluno adolescente fica claro a preocupação com o filho: “[...] todo dia fico rezando pro meu filho chegar inteiro da escola... ainda mais com o que já aconteceu por aí... teve um dia que um colega meio barra pesada levou um canivete e ameaçou ele enquanto esperavam o ônibus. Ele nem falou, foi o irmão menor que me contou... gelei na hora... se acontece alguma coisa, quem vai dar conta...”202 Nesse relato a preocupação com a segurança, cuja solução não se restringe a somente instalar câmeras na escola, detector de metais, contratar seguranças, que embora se constituindo em medidas viáveis, por si só não eliminam o problema da violência no cotidiano escolar. Outro importante registro da fala de um dos familiares consta que: “ a gente trabalha o dia todo, faz faxina, chega em casa cansada, tem mais filhos pequeno... não tem como saber de tudo que acontece na escola com os filhos...” . Assim a falta de tempo é alegada como impedimento para participar mais da escola. 201 ZAFFARONI, Eugenio Raúl & PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito penal brasileiro, volume 1: parte geral. 6ª. ed. São Paulo.Ed. Revista dos Tribunais, 2006, p. 97-98 202 Conforme relato de uma das mães, em depoimento espontâneo manifestado em 11.09.2010. Somente em casos mais graves (vias de fato, agressões físicas com consequências mais sérias, episódios violentos envolvendo danos ao espaço físico da escola, agressões a profissionais) é que as famílias se envolvem. Nesses casos, os problemas são comunicados às famílias, que se comprometem a tomar providências, o que, tem funcionado parcialmente. Segundo os profissionais das escolas “quando a família participa, caminha junto com a escola, as chances de se obter êxito na prevenção da violência escolar é maior... Infelizmente tem pais que esquecem o caminho da escola...” Constatou-se nas observações, todo um esforço do corpo docente, dos especialistas, em especial na escola municipal que atende o maior número de adolescentes em Biguaçu, para que se efetive uma maior participação dos alunos no cotidiano escolar, inserindo-os em diversas atividades culturais, tais como música, teatro. Nesse escopo, cabe ao professor como intelectual critico reflexivo frente ao Estatuto da Criança e do Adolescente, referenciar-se em uma postura ativa em relação à educação e à formação de seus alunos; ainda buscando uma reflexão de caráter coletivo e não individualista, com ciência do caráter político de sua atuação e do que pode contribuir na efetivação da cidadania.Nessa busca, a mediação constitui-se como necessária e decisiva. Com esse intuito que uma das escolas pesquisadas tem caminhado, em ações como na efetivação do “Conselho Escolar” órgão deliberativo e consultivo com representação estudantil e da comunidade, que visa inserir seus participantes em situações decisórias203, exercitando assim a co-participação dos discentes. Em uma das escolas, a criação do Grêmio Estudantil (que adequadamente recebeu o nome de “Atitude”) propiciou segundo um dos alunos entrevistados “uma voz maior ‘pros’ nossos interesses... melhorou o clima da escola...” Evidenciou-se, segundo os depoimentos do corpo docente e discente, dos funcionários e dos familiares dos alunos, significativa melhora no “comportamento” e no “clima” da escola, após a implantação do Grêmio Estudantil e das discussões do Conselho Escolar. No entendimento de Veronese204, a 203 A esse respeito, o Ministério da Educação propõe através de elaborações tais como em: BRASIL, MEC – Ministério de Educação e Cultura. Conselho Escolar como espaço de formação humana, Secretaria de Ed. Básica, Brasília: 2006 - volume 6. e ______. Conselho Escolar e a valorização dos trabalhadores em educação, Secretaria de Ed. Básica, 2006 volume 8. 204 VERONESE, Josiane Rose Petry. Os Direitos da Criança e do Adolescente. São Paulo: LTr, 1999. construção da paz vem se apresentando em diversas áreas e mostra que o impulso agressivo é tão inerente à natureza humana quanto o impulso afetuoso; portanto é necessária a canalização daquele para fins construtivos, ou seja, a indignação é aceita porém deve ser utilizada de uma maneira produtiva. Entre os profissionais da educacao, dos 26 questionários respondidos, no que refere-se ao interesse em conhecer acerca da legislação relacionada à infância e à adolescência, 24 profissionais ( 92%) a maioria portanto, manifestou interesse, todavia, alegam a falta de tempo em fazê-lo. Apenas dois profissionais (que corresponde a 8% do total de participantes) não demonstraram interesse em conhecer mais sobre a legislação relacionada à criança e ao adolescente. Diante da sobrecarga de trabalho e da contingência das tarefas pedagógicas que sobrecarregam a maioria dos profissionais, não é de causar estranheza a alegação de falta de tempo em se aprofundar e discutir sobre a violência no contexto escolar. Uma das alternativas, já proposta pelos mesmos participantes, seria de propor estudos durante o horário de trabalho, até porque consiste em processo de formação continuada ou de qualificação em serviço, já previsto nas redes de ensino como obrigatório. Todavia esse horário a ser disponibilizado para formação continuada tem o planejamento das atividades unilateralmente determinado pelas chefias dos sistemas e até hoje, segundo os entrevistados, não contemplou discussões dessa temática. Aliada a ações efetivas que garantam a participação de alunos e profissionais da educação no processo decisório das escolas, a proposta de democratização das relações no entender de autores como Gadotti é defendida, com as seguintes características: [...] ser uma escola autônoma para todos e democrática na sua gestão; 2º. Valorizar a dedicação exclusiva dos professores e ser de tempo integral paras os alunos; [...] 5ª. deve propor a expontaneidade e o inconformismo; 6ª. deve, também ser uma escola disciplinada. A disciplina que vem do papel específico da escola (o sistemático e o progressivo); 7ª. a escola não pode ser um espaço fechado [...] 8ª. a transformação da escola não se dá sem conflitos. Ela se dá lentamente. Pequenas ações, mas continuadas, são melhores no processo de mudança que eventos espetaculares, mas passageiros [...] 205 205 Segundo Moacir Gadotti que elaborou comentários ao ECA, inseridos em Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado. Comentários jurídicos e sociais. 5ª. ed.(coord. Munir Cury) São Paulo: Malheiros, 2002, p.182 Os autores ao finalizarem seu trabalho, enfatizando que a ideia de construção da cidadania esteve presente ao longo da pesquisa, elaboram enquanto ‘Recomendação’:Que os Ministérios e Secretarias pertinentes e o sistema escolar, através do investimento no esporte, nos espaços de lazer, e nas várias formas organizativas de cultura e dos grêmios, incentivem os processos de valorização da democracia no cotidiano, de superação das discriminações e dos preconceitos.Que o Estado assuma seu papel na busca de meios que conduzam à expansão da cidadania social [...]206 Reafirma-se também que “a questão da escola não é apenas uma questão de quantidade, mas uma questão de qualidade, de busca de concepções novas e de novas utopias educacionais que sempre mobilizaram a sociedade.” defendido por Gadotti.207 Na mesma esteira Serra afirma que: [...] todos somos responsáveis pela formação das crianças e adolescentes brasileiros.[...] O processo educacional que se dá na escola, para ser de qualidade, deve ser compreendido como complementar ao que cada um traz de história individual e coletiva. Além de respeitar e valorizar os valores culturais próprios do contexto da criança e do adolescente é importante dar-lhes condições de acesso à cultura de outros grupos sociais [...]208 Imbuindo-se desse entendimento, prossegue-se, retomando os estudos iniciais e conforme já metaforicamente formulado, caminhando no sentido de que se possa contribuir na direção do enfrentamento da violência no contexto escolar, notadamente no que concerne aos aspectos destacados da Lei 8.069/90, e da doutrina da proteção integral, pois conforme salientado por Veronese: 206 MINAYO, Maria Cecilia de Souza (et al.) Fala galera: juventude, violência e cidadania. Rio de Janeiro: Garamond, 1999, p.231 207 GADOTTI, Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado. Comentários jurídicos e sociais. 5ª. ed.(coord. Munir Cury) São Paulo: Malheiros, 2002, p.183 208 Idem, SERRA, Elizabeth D’Angelo, p.190-2 Esta proteção integral está alicerçada em dois pilares importantíssimos: a criança e o adolescente enquanto “sujeito de direitos” e a sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento” - art. 227, parágrafo 3º, IV, da C.F. A nova lei reguladora dos preceitos constitucionais, em sua primeira parte, arrola os direitos das crianças e adolescentes; e, na segunda, a forma de viabilização desses direitos. É aí pois, que se insere e se torna relevante a figura do advogado. (grifo nosso)209 Poder-se-ia ampliar essa relevância apontada pela autora, para a figura dos operadores do direito de forma geral, notadamente em sua atuação propiciando inclusive aos envolvidos no contexto educacional, um maior conhecimento sobre a legislação, que carece de abordagem no âmbito das escolas, conforme verificado na pesquisa que, nos limites desta Monografia, foi sucintamente enfocada e que nos remete às conclusões a seguir elaboradas. 209 VERONESE, Josiane Rose Petry. Temas de Direito da Criança e do Adolescente. São Paulo: LTr, 199 7, p.97. 4 CONCLUSÃO Os gestores escolares sabem que medidas tradicionais como gradeamento, vigilância e policiamento, a médio ou longo prazos, não são suficientes nem atingem os pontos centrais do problema da violência escolar ou urbana.210 Os estudos teóricos forneceram o aporte necessário dos doutrinadores e da legislação para o entendimento da violência no contexto escolar. A polissemia da temática exigiu abordagens diferenciadas, para as quais, constituíramse em importantes contribuições os estudos filosóficos, sociológicos, dentre outros; que apontaram para o entendimento da violência como um fenômeno presente nas diversas fases da história, assumindo facetas que se identificam com a estrutura social predominante em cada uma delas. Concernente à violência no Brasil, destacou-se que a concentração de renda, conduzindo a disparidades sócio-econômicas, aliada à, ainda, incipiente participação da população nas decisões políticas, reforça a relação da criminalidade e da violência à precariedade das condições de vida da maioria da população brasileira. Por outro lado, o recente processo de democratização, notadamente a partir da vigência da Constituição de 1988, constituiu-se em importante marco para que a efetivação dos direitos fundamentais ocorra. Dentre eles, a garantia de educação de qualidade é imprescindível na busca por uma sociedade mais equânime e igualitária. Nessa busca, o estudo jurídico muito tem a contribuir, sendo que o escopo da legislação específica sobre a criança e o adolescente, notadamente da Lei 8.069/90, foi fundamental nesta Monografia. Ainda, os destaques da Lei 9.394/96 também contribuíram 210 Disponível em http: www.conteudojuridico.com.br/pdf/cj029581.pdf - acesso em 31.03.2011 para o entendimento da problemática que exige olhar sensível e direcionado à busca de qualidade na educação brasileira. E não há como conquistar-se educação de qualidade sem que se enfrente o problema da violência nas escolas. Concluiu-se, pelos estudos realizados, que no contexto escolar, a violência relacionase com a convivência de opiniões divergentes, histórias de vida e interesses conflitantes, que impõe o estabelecimento de limites e do respeito mútuo. Violência escolar, transgressão e indisciplina guardam também relações de reciprocidade, ação e reação, cujo conhecimento da legislação, notadamente no que concerne ao Estatuto da Criança e do Adolescente, pode contribuir na direção de seu entendimento e na proposição de alternativas de solução para a problemática. Nessa caminhada, a incursão pela realidade escolar atual propiciou a reflexão ampliada, sob a ótica da constatação, da vivência e que, de forma mais fidedigna, retrata o real, cujo conhecimento é imprescindível para a prática jurídica. Nas escolas observadas em Biguaçu, constatou-se que há diferenças nas manifestações da violência no cotidiano escolar. Também verificou-se que são diferenciadas as formas do enfrentamento dessa violência. Na escola de menor porte, segundo os relatos, a maioria das ações direcionadas para episódios de violência foram pontuais, sem planejamento e ocorreram por iniciativa da direção da escola, com ênfase na punição. Divergentemente do que ocorre na escola municipal de maior porte, pois evidenciouse que a participação propiciada pela representação dos discentes, através do Grêmio Estudantil, e do processo de implantação do “Conselho Escolar” contribuíram para que a violência seja melhor compreendida e que, ações de cunho educativo, surtam efeitos preventivos. Conclui-se dessa forma, que a representação estudantil, como forma de expressão no contexto da escola propicia maior participação, ativa canais comunicativos. Portanto, constituem-se em iniciativas que podem coibir a violência. Propiciam também a reflexão sobre os problemas por parte dos envolvidos, a discussão, propondo soluções participativas. Destacou-se que a representatividade nas decisões contribui para democratizar as relações, propiciando que se caminhe no sentido do denominado “protagonismo juvenil” ou seja, tratando a criança e o adolescente como partícipe da escola, sujeito de direitos, rompendo as visões fragmentadas, assistencialistas e mormente punitivas, das relações que permeiam o contexto escolar. Contudo, os conflitos persistem, são graves e segundo os entrevistados nas duas escolas, a maioria dos profissionais da educação, dos alunos e seus familiares desconhecem as relações do ordenamento jurídico pertinente com o contexto educacional, notadamente no que refere-se ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Nesse sentido, que as contribuições dos operadores do direito devem se efetivar, propiciando maiores conhecimentos que contribuam para o esclarecimento da comunidade envolvida, objetivando que ações embasadas no ordenamento jurídico se concretizem na busca pelo enfrentamento da violência no contexto escolar. Evidenciou-se, pelos relatos dos participantes da pesquisa nas escolas, que ações efetivas que garantam a participação de alunos e profissionais da educação no processo decisório das escolas, são fundamentais para que o processo de democratização se realize, conforme defendido por Gadotti.211 Obviamente que a ocorrência de conflitos permanecerá, e há casos que inclusive é desejável que eles persistam, quando coerentes e legítimos, pois impulsionam `a reflexão e `as mudanças, necessárias para que se avance socialmente. Todavia, a disciplina é fundamental. Aquela fundamentada nos acordos, no direcionamento do trabalho produtivo, não apenas no cumprimento de ordens autoritárias e não refletidas, que visam apenas “domesticar os alunos e produzir corpos dóceis”, retomando a teorização de Foucault. Também destacou-se que a opção política por priorizar a educação é imprescindível para que ações se efetivem no enfrentamento do grave problema da violência nas escolas. Requer, portanto, que haja o comprometimento das administrações públicas nessa direção. Contudo, o que cada unidade escolar possa estar realizando já se constitui em importante passo nessa caminhada. À guisa de conclusões desta Monografia, sugerem-se encaminhamentos, com intuito de propiciar maiores reflexões e a efetivação de ações concretas, que possibilitem a prevenção e a diminuição da violência nas escolas. 211 Segundo Moacir Gadotti que elaborou comentários ao ECA, inseridos em CURY, Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado. Comentários jurídicos e sociais. 5ª. ed.(coord. Munir Cury) São Paulo: Malheiros, 2002, p.182 Sabe-se que o conhecimento é fundamental e a base de toda mudança atitudinal consciente. Para tanto propõe-se a realização de cursos e/ou palestras com a comunidade interessada, objetivando abordar noções de direitos da criança e do adolescente. Outra interessante proposta é divulgar as ações da escola, seus anseios e expectativas. Para tanto, a elaboração de boletins informativos, jornais escolares ou murais, cuja redação e organização pode ser, em conjunto, pensada e realizada por alunos e professores, com a participação da comunidade, constitui-se em forma de envolvimento produtivo e socialização de ideias e informações. Ações que busquem a reflexão acerca da violência, mediante atividades lúdicas e participativas envolvendo as famílias, tais como, atividades culturais, incluindo teatro, apresentações musicais, esportes entre pais, alunos e profissionais da escola, são também interessantes formas de propiciar o fortalecimento de relações saudáveis, dos laços de companheirismo e da valorização do espaço escolar como ambiente da comunidade e que portanto, precisa ser preservado. Estudos como os evidenciados nesta Monografia, constataram que as escolas onde há menos depredação, menos danos ao espaço físico, não são aquelas mais vigiadas, com mais aparato repressivo, mas aquelas onde a comunidade, os alunos, seus familiares e a vizinhança sentem-se partícipes, envolvidos e acolhidos pelos profissionais e, portanto, contribuem para cuidar e proteger. Apontou-se que o envolvimento das famílias é fundamental no processo. Mas como trazer as famílias para a escola, para discutir sobre assuntos como violência? É necessário exercitar formas de “chamamento” que rompa com a mera consulta para aumentar taxas, para pedir contribuições para festas, em reuniões demoradas e pouco objetivas que, de fato, mais afastam do que aproximam as famílias. Do ponto de vista individual, também pouco contribui chamar as famílias dos “bagunceiros”, dos alunos “que dão trabalho” somente quando o problema já está instalado e agravado. Chamar os responsáveis unicamente para “dar bronca” afasta e mascara a solução dos problemas pois, em geral, ocorre um “jogo de empurra”: a família culpa a escola e a escola culpa a família “que não participa, não cuida dos filhos”. Assim, não admitem, nem se responsabilizam pelo fracasso no aprendizado e pelo aumento da violência nas escolas, o que somente tem agravado o problema. Demonstrou-se ser imprescindível que haja, por parte dos sistemas de ensino, o entendimento de que os profissionais que estão inseridos na escola não têm o condão de resolver todos os problemas da sociedade, ou seja: não há como resolver a fome dos alunos apenas com a merenda, se os pais não ganharem suficientemente para que esses alunos também se alimentem bem em casa. De maneira semelhante, não há como resolver problemas de saúde apenas com uma palestra. Portanto há a necessidade de aliar-se o trabalho de outros profissionais das áreas de saúde, serviço social, psicologia e é claro, do direito, para que a escola receba o respaldo teórico e científico necessários para o planejamento e desenvolvimento de ações, no sentido de prevenir e combater a violência escolar. Acrescente-se que o estabelecimento de parcerias com a comunidade no enfrentamento da violência escolar é fundamental nesse processo, que obviamente não é instantâneo nem pode ser aligeirado. Necessita ser construído com capacidade de mediação, além de elevadas doses de paciência e bom senso, o que afinal, é imprescindível quando trabalha-se com pessoas que têm suas limitações, seus problemas, inclusive em ouvir o outro e respeitar as opiniões alheias. Nessa direção, propiciar o diálogo, favorecer o protagonismo juvenil, conhecer a legislação e dela se valer em todas as possíveis situações, dentre outras, são práticas que, ao serem efetivadas nas escolas com certeza contribuirão para o enfrentamento da violência e suas manifestações no contexto escolar. Todavia, ações isoladas pouco efeito surtirão se não estiverem vinculadas ao comprometimento político que garanta melhores condições de trabalho, salários condizentes que valorizem os profissionais da educação em seu exercício, principalmente no ensino básico. Somente dessa forma poderão esses profissionais encontrar motivação inclusive para estudar mais, para conhecerem sobre a legislação pertinente. Dessa maneira estar-se-ia contribuindo na busca da cidadania tão almejada em nossa sociedade. Foi o que também constatou-se na coleta de dados realizada nas escolas, pois embora reconheçam a necessidade de maiores estudos, da precariedade dos conhecimentos sobre a legislação, concernente inclusive ao Estatuto da Criança e do Adolescente, os profissionais responderam no Questionário que “gostariam de estudar mais sobre a legislação, mas não têm tempo fora do horário escolar.”212 Com a sobrecarga de trabalho e jornadas em várias escolas essa é uma dificuldade presente, contudo não totalmente impeditiva de que se efetive reuniões de estudo, o que sugere-se seja organizado pelas equipes diretivas das escolas, para que ocorra dentro dos horários de trabalho dos profissionais, no âmbito da formação em serviço, já garantida pela Lei 9.394/96. Enfim, esses encaminhamentos sugeridos impõe a realização de ações educativas, amplamente entendidas, respaldadas no ordenamento jurídico e pela máxima: para exigir o cumprimento de algo há a necessidade primeira de conhecê-lo.Nesse sentido inclusive, que novas pesquisas, aprofundamentos de estudos, se fazem necessários. Acredita-se contudo, que o trabalho monográfico hora concluído, contribuiu para o entendimento da problemática, pois elucidou diversos aspectos, cujo esforço, no âmbito do estudo universitário, foi significativo. Aliado ao mérito científico, os encaminhamentos concretos sugeridos, constituem-se em iniciativa de proposição que, se efetivados, apontam para o avanço, com a contribuição jurídica, na direção do enfrentamento da violência no contexto escolar. Argumentos suficientes para que se considerem atingidos os objetivos propostos nesta Monografia. 212 Comentário extraído de Questionário utilizado na coleta de dados nas escolas, conforme já elucidado no Capítulo 3 da presente Monografia. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ABRAMOVAY, Miriam. et al. Revelando tramas, descobrindo segredos: violência e convivência nas escolas.Rede de Informação Tecnológica Latino americana-.Brasília: Sec. Estado Ed. Distrito Federal, 2009. ADORNO, Sérgio. Violência um retrato em branco e preto. São Paulo: FDE, 1994, p. 126. ARENDT, Hannah. Sobre a violência. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 2004 AMARAL, Augusto Jobim do. Cartografia à Margem: impasses sobre a violência na contemporaneidade. Revista Sociologia Jurídica. n.9 – Disponível em http:www. ______. Violência e Processo Penal: crítica transdisciplinar sobre a limitação do poder punitivo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008 BARATTA, Alessandro. Direitos humanos: entre a violência estrutural e a violência penal. Fascículos de Ciências Penais. Porto Alegre, n.2, p.44-61, abr./jun. 1993 BENEVIDES, Maria Victoria et al. Respostas populares e violência urbana. In PINHEIRO, Paulo Sérgio. Crime, violência e poder. São Paulo: Brasiliense, 1983. BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. 8ª. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1992. BOURDIEU, Pierre e PASSERON, Jean-Claude. A reprodução: elementos para uma teoria do sistema de ensino. Lisboa, PO, Editorial Vega, 1978. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988.10 ed.atual.São Paulo: RT, 2010. BRASIL. MEC – Ministério da Educação e Cultura. Conselho Escolar como espaço de formação humana, Secretaria de Ed. Básica, Brasília: 2006 - volume 6. ______. Conselho Escolar e a valorização dos trabalhadores em educação, Secretaria de Ed. Básica, 2006 volume 8. BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇAO. Homepage oficial. Apresenta “Temas Transversais” para o ensino fundamentais, dentre outros, disponível em: http://mec.gov.br acesso em 25.09.2010. BRASIL. MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Homepage oficial Apresenta o Mapa da Violência 2011 – os jovens do Brasil, dentre outros. Disponível em http://www.portal.mj.gov.br acesso em 20.03.2011 CALDEIRA, Teresa Pires do Rio. Violência, direitos e cidadania: relações paradoxais. Revista Ciência e Cultura. vol.54 no.1 São Paulo: Jun/Set. 2002 .CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal- parte geral.V. 1 São Paulo:Saraiva, 2007, p. 89. CARRILHA, Ferna nda (et al). Dicionário de latim jurídico. Coimbra-PO: Almedina, 2010. CARVALHO, Ivan Lira de. A violência no Brasil. Disponível em http//www.jfrn.gov.br – Acesso em 14 set. 2009. CARVALHO, Maria de Lourdes. Aumento da violência escolar preocupa parlamentares. Disponível em http://www.al.mt.gov.br/v2008 - Acesso em 13out.09. CERQUEIRA, Daniel & LOBÃO, Waldir. Determinantes da criminalidade:arcabouços teóricos e resultados empíricos. Revista Dados, vol. 47. n. 2 Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro: 2004. CHAUÍ, Marilena. Convite à filosofia. São Paulo: Ática, 1997 ______ O que é ideologia? Coleção Primeiros Passos. 3. ed. São Paulo:Brasiliense, 2004. COSTAS, Ruth. Com medo dos Alunos. Revista Veja, edição, nº 1904, 11/05/2005, p .153 CURY, Munir, AMARAL E SILVA, Antonio Fernando do Amaral e MENDEZ, Emilio Garcia. (coord.) Org. COSTA, Antonio Carlos Gomes da (et al) Estatuto da Criança e do adolescente comentado. – Comentários juridicos e sociais. 5ª. ed. São Paulo, Malheiros Editores, 2002,p. 207. D’AGOSTINI, Sandra Mári Córdova. Adolescente em conflito com a lei...& a realidade! 7ª. ed. Curitiba: Juruá, 2009, p.68. DEMO, Pedro. Metodologia cientifica em ciências sociais. 4ª. ed. São Paulo: Atlas, 2005. DIAS, Maria da Graça dos Santos. A utopia do Direito justo. Disponível em http/www.6.univali.br/seer/index.php/nej/article/download/424/366. Acesso 13 mar.2011. DIMENSTEIN, Gilberto. Cidadão de papel: a infância, a adolescência e os direitos humanos no Brasil. 10ª. ed. São Paulo: Ática, 2009. DOURADO, Luiz Angelo. Raízes neuróticas do crime. Rio de Janeiro: Zahar, 2007, p. ECO, Umberto. Como se faz uma tese. 14ª. ed. São Paulo: Perspectiva, 1996. . ELIAS, Roberto João. Comentários ao Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069, de 13 de julho de 1990). São Paulo: Saraiva, 1994. FALCONI, Romeu. Lineamentos de Direito Penal. 3 ed. São Paulo: Ícone, 2002. ______. Direito Penal: temas ontológicos- Coleção elementos de Direito. São Paulo: Ícone, 2003. FAUSTO, Boris. Controle social e criminalidade em São Paulo. In PINHEIRO, Paulo Sérgio. Crime, violência e poder.(org.) São Paulo, 1983, p. 196. FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão. Teoria do garantismo penal. Trad. Ana Paula Sica e outros. 2ª. ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2006. FERREIRA, Luiz Antoni Miguel. O Estatuto da Criança e do Adolescente e o professor; reflexos na sua formação e atuação. São Paulo, Cortez, 2008. FOUCAULT, Michel. Ciência e Saber: a trajetória da arqueologia de Foucault. Rio de Janeiro, Ed. Graal, 1982 ______. Em defesa da sociedade: resumo dos Cursos do Collège de France (1970-1982). Trad. Andréa Daher. Rio de Janeiro: Zahar, 1997. ______ Vigiar e Punir. (história de violência nas prisões) Trad. de Raquel Ramalhete. 23.ed. Petrópolis: Vozes, 2000. FREIRE,, Isabel P. Perspectivas dos Alunos acerca das Relações de Poder na Sala de Aula Um estudo transversal". In Estrela, A., Barroso, J. & Ferreira, J. A Escola: Um Objecto de estudo. Lisboa: AFIRSE Portuguesa, Faculdade de Psicologia e de ciências da Educação da Universidade de Lisboa, pp. 755-768. GARCIA, Marcos Leite. Uma proposta de visão integral do conceito de direitos fundamentais. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, 46, 31/10/2007/.Disponível em http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id= 2343. Acesso em 04/04/2011. GAUER, Gabriel & Ruth M.C (orgs.) A fenomenologia da violência. Curitiba: Juruá, 2005. GIDDENS, A. As consequências da modernidade. Trad. de Raul Fiker, são Paulo: UNESP, 1991. ______. Para além da esquerda e da direita: o futuro da política radical. Trad.de Álvaro Hattnher. São Paulo: UNESP, 1999. GRAMSCI. Antonio. Os intelectuais e a organização da cultura. Rio de Janeiro, Civilização brasileira, 1989. GUIMARÃES, Deocleciano Torrieri. Dicionário compacto jurídico. 10ª. ed. – São Paulo: Rideel, 2007. HELENO, Camila Teixeira; RIBEIRO, Simone Monteiro (org.) Criança e adolescente: sujeitos de direitos. Belo Horizonte: Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais, 2010. HERKENHOFF,João Baptista. Como aplicar o Direito ( à luz de uma perspectiva axiológica, fenomenológica e sociológico-política) Rio de Janeiro:Forense, 2002. HERNÁNDEZ, Fernando. Metodologia de projetos, o conhecimento é um caleidoscópio. Porto Alegre: Artmed, 2009. ISHIDA, Valter Kenji. Estatuto da criança e do adolescente: doutrina e Jurisprudência. LASSALE, Ferdinand. O que é uma Constituição.Tradução de Hiltomar Martins Oliveira. Belo Horizonte: Ed. Líder, 2002. LIBERATI, Wilson Donizeti. Comentários ao Estatuto da Criança e do Adolescente. 7ª. ed. São Paulo; Malheiros, 2003, p.15. MACCARINI, Carla Moretto, “O Ministério Público como fator de redução de conflitos e a construção da paz social” XVIII Congresso Nacional do Ministério Público – 25 a 28 de novembro de 2009 MAFFESOLI, Michel. A violência totalitária:ensaio de antropologia política. Porto Alegre: Sulina, 2001. ______Dinâmica da violência. São Paulo: Vértice, 1987. ______Tempo das Tribos: O declínio do individualismo nas sociedades de massa. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1998. MARTINS, Dayse Braga. O estado natural de Thomas Hobbes e a necessidade de uma instituição política e jurídica. Jus Navigandi, Teresina, ano 6, n. 51, 1 out. 2001. Disponível em: <http://jus.uol.com.br/revista/texto/2117>. Acesso em: 25 maio 2011. MICHAUD, Y. A Violência. São Paulo, Ática, 1989. MINAYO, Maria Cecilia de Souza (et al.) Fala galera: juventude, violência e cidadania. Rio de Janeiro: Garamond, 1999 MONTAGNER, Ângela Christina Boelhouwer & FONSECA, Dirce Mendes. O contexto fático-juridico dos direitos das crianças e adolescentes no Brasil – Revista Jurídica CESUMAR Mestrado. Vo. 9 n.2 (juho/dez 2009) Maringa : Centro Universitario de Maringá, 2009, pgs 441s-459 MORIN, Edgard. Ciência com consciência. Rio de Janeiro: Ed. Bertrand Brasil, 2009. MOTA, Alice Agnes Spindola. A http//www.artigocientifico.uol.br/ fev.2011. violência nos desenhos animados. Disponível em: br/uploads/artc_1191873605_98.doc. Acesso em 13 MOTTA, Elias de Oliveira. Direito Educacional e educação no século XXI: com comentários à nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Brasília: UNESCO, 1997, p. 83. NEUMAN, Elías. Victimologia: el rol de la victima en los delitos convencionales y no convencionales. 2ª. Ed. Buenos Aires: Ed. Universidad, 1994. (Tradução livre da autora da Monografia) NOGUEIRA, Paulo Lúcio. Estatuto da Criança e do Adolescente comentado. São Paulo: Saraiva, 1991, NOVAES, Regina. Os jovens e hoje: contextos, diferenças e trajetórias. In; ALMEIDA, Mendes de, Maria Isabel (org) Culturas jovens, novos mapas do afeto. Rio de Janeiro, Zahar, 2006. p.105-120 ODALIA, N. O Que é a Violência. 6. ed., São Paulo, Brasiliense, 1991 (Coleção Primeiros Passos, n.º 85), p.12 OLIVEIRA, Isaura de Mello. Reflexões Sobre Justiça e Violência: O Atendimento a familiares de vítimas de crimes fatais. São Paulo: EDUC. Imprensa Oficial do Estado, 2002, p.13. PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: teoria e prática.11ª. ed. Florianópolis: Conceito Editorial Millennium Editora, 2008 ______ Prática da pesquisa jurídica – idéias e ferramentas úteis para o pesquisador do direito. 9ª. ed. Florianópolis, OAB/SC Editora, 2005. PESTANA, Débora Regina. Justiça penal no Brasil contemporâneo: discurso democrático, prática autoritária. São Paulo: Ed. Unesp, 2003, p.218. RISTUM, M. . Violência: uma forma de expressão da escola? São Paulo: Caderno de Filosofia e Psicologia da Educação, v. 2, RIZZINI, Irma. A Assistência à infância na passagem para o século XX - da repressão à reeducação. In Revista Fórum Educacional 02/90 da Fundação Getúlio Vargas, p. 80 ROSSIN, Elizabeth - Intervenções junto as famílias em situação de risco pessoal e social. In: Cadernos caminhos para a cidadania - Série Escolas de Conselhos, nº 1, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul - Campo Grande - MS, 1999 SANTOS, Milton. As cidadanias mutiladas: o preconceito. São Paulo: IMESP, 1997, p.13 SARLET, Ingo Wolfgang, A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003. SELL, Sandro César. Comportamento social e anti-social humano. Florianópolis. Ed. Digital Ijuris, 2006. 1 SILVA, Luiz Antônio Machado. Sociabilidade violenta: por uma interpretação da criminalidade contemporânea. In: RIBEIRO, LUIZ C. Q. (Org.) Metrópolis: entre a coesão e a fragmentação, a cooperação e o conflito. São Paulo, Perseu Abramo, 2004. SHRADER, E. (2000), Methodologies to Measure the Gender Dimensions of Crime and Violence. Washington, DC, World Bank. apud CERQUEIRA, Daniel & LOBÃO, Waldir. Determinantes da criminalidade:arcabouços teóricos e resultados empíricos. Revista Dados, vol. 47. n. 2 Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro: 2004. SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional positivo, Ed. RT, 6ª. ed. 2007. SILVA, Luiz Antônio Machado. Sociabilidade violenta: por uma interpretação da criminalidade contemporânea. In: RIBEIRO, LUIZ C. Q. (Org.) Metrópolis: entre a coesão e a fragmentação, a cooperação e o conflito. São Paulo, Perseu Abramo, 2004. SILVA, Marcio Seligmann, Walter Benjamin – O Estado de exceção: entre o político e o estético. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007 SILVA, M.L. “A racionalização da violência penal e o movimento codificador do século XIX”: o caso brasileiro. In: GAUER, J.C. A fenomenologia da violência. Curitiba: Juruá, 2005, p. 93. SOARES, Luiz Eduardo. Juventude e Violência no Brasil Contemporâneo. In NOVAIS, Regina; Vannuchi. Paulo. Juventude e sociedade (Orgs.). São Paulo. Editora. Fundação Perseu Abramo, 2004, p.130 SOBRAL, Karina Miguel. A punição corporal doméstica de crianças e adolescentes: aspectos do direito interno e do direito estrangeiro. Revista Sintese de Direito Penal e Processual Penal ano II n.12 fev-mar 2002, p.153 SPOSITO, M. P. Um breve balanço da pesquisa sobre violência escolar no Brasil. São Paulo: Educação e Pesquisa, n. 27 (1), 2001, p. 87-103 SUGUIHIRO, Vera Lúcia Tieko. A prática pedagógica dos Conselhos. In: Cadernos caminhos para cidadania - Série Escolas de Conselhos, nº 1, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul - Campo Grande - MS, 1999 TRENTO, Ciro. Pena abaixo do mínimo legal. Porto Alegre: WE Editor, 2003. 2010 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. Centro de Estudos de Criminalidade e Violência Pública. Pesquisa disponível em http//www.crisp.ufmg/vitimização. Acesso em 14 dez. 2010. VELHO, Gilberto. Cidadania e violência. Rio de Janeiro: UFRJ, 2006. VERONESE, Josiane Rose Petry. Os Direitos da Criança e do Adolescente. São Paulo: LTr, 1999. ______. Temas de Direito da Criança e do Adolescente. São Paulo: LTr, 1997, p.97. VIEIRA, C.E. & VERONESE, J.R.P. Limites na educação: sob a perspectiva da Doutrina da Proteção Integral, do Estatuto da Criança e do Adolescente e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.Florianópolis: OAB/SC Editora, 2006 VOLPI JUNIOR, Mario (org.) Adolescentes privados de liberdade: a normativa nacional e internacional & reflexões acerca da responsabilidade penal.2ª. ed. São Paulo, Saraiva, 199 ZAFFARONI, Raùl Eugênio. Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado. 3ªed. são Paulo: Malheiros, 2007 ZAFFARONI, Eugenio Raúl & PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito penal brasileiro, volume 1: parte geral. 6ª . ed. São Paulo. Ed. Revista dos Tribunais, 2006. ZALUAR, Alba. Condomínio do diabo: as classes populares urbanas e a lógica do “ferro”e do fumo. In: Crime, violência e poder. PINHEIRO, Paulo Sérgio (org.). São Paulo: Brasiliense, 1983.
Download