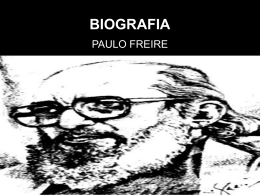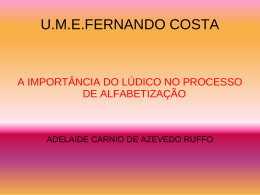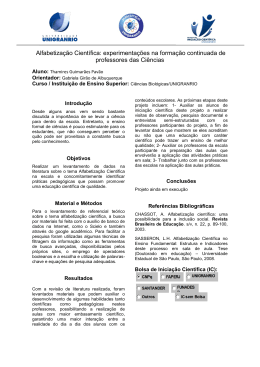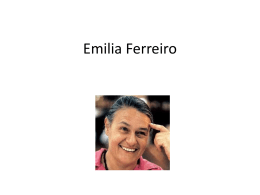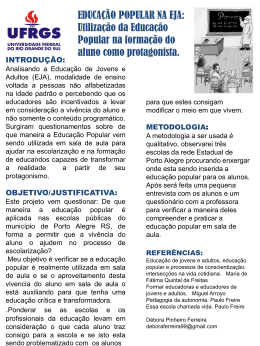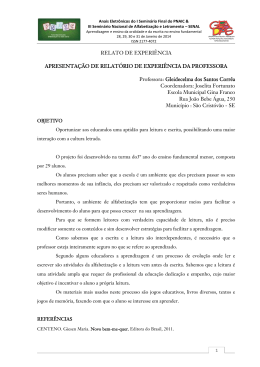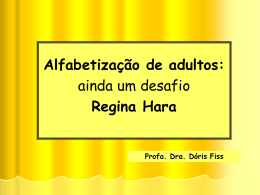Educação e exclusão: Reflexões críticas sobre a educação básica para jovens e adultos no Brasil Marisa Eugênia Melillo Meira A educação básica para adultos é aquela que se destina àqueles que não tiveram acesso ao processo de escolarização em idade própria ou que o tiveram de forma insuficiente. Desde a primeira constituição brasileira promulgada em 1823 já se estabelecia a obrigatoriedade da instrução primária gratuita, extensiva a todos os cidadãos. Esse direito foi reafirmado na Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), na Constituição Federal de 1988 (artigo 208) e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) de 1996. Entretanto, a realidade tem revelado um quadro bem diferente dos ideais de democratização proclamados nos discursos oficiais. Os dados do IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) 1 criado pelo INEP (Instituto Nacional de Estudos e de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) vêm revelando claramente as dificuldades da escola brasileira na consecução de sua tarefa mais primordial: alfabetizar todas as crianças. Esse processo de produção do analfabetismo e do analfabetismo funcional2 só poderá ser superado com condições sociais de igualdade e a garantia da educação básica de qualidade para adultos e crianças de todas as idades. Embora seja evidente que a resolução do problema do analfabetismo não se esgota na oferta de cursos de educação básica para adultos fundamental que se discuta tanto a quantidade quanto a qualidade desta oferta. Nesse trabalho apresentamos uma análise crítica das ações voltadas para a educação de adultos no Brasil, buscando extrair dessa história alguns indicativos que podem contribuir em alguma medida para que essa modalidade educacional supere sua condição de marginalidade. Caminhos e descaminhos da educação para jovens e adultos no Brasil: notas para uma leitura crítica da nossa história 1 Esses dados estão disponíveis no site do INEP: www.inep.gov.br Pode ser considerado analfabeto funcional o indivíduo que mesmo após alguns anos de escolarização não é capaz de utilizar de modo funcional a leitura e a escrita para fazer frente às demandas de seu contexto social, usando-as para continuar aprendendo e se desenvolvendo ao longo da vida (UNESCO, 2008). 2 No Brasil as iniciativas oficiais na área datam de 1870, quando são implantadas as "escolas noturnas" para adultos. Por volta de 1930 passam a receber a designação de "cursos populares noturnos", sendo extintos pela ditadura de Vargas em 1935. Com o processo de redemocratização do país, a partir de 1943 tem início um processo de mobilização em torno da educação de adultos (Paiva, 1973), intensificado com o posicionamento da UNESCO em favor da “educação de massas" que, como destaca Beisiegel (1974), rompeu com a orientação até então predominante que buscava constituir uma rede oficial de ensino primário supletivo por meio do aproveitamento de recursos materiais e humanos das redes estaduais e municipais. Em 1947 o Ministério da Educação e Saúde criou o Serviço de Educação de Adultos que, no mesmo ano, lançou a Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos, com a previsão de implantação de projetos educacionais voltados para o desenvolvimento comunitário de núcleos urbanos no interior do país. Nessa mesma direção foram criadas a Campanha Nacional de Educação Rural (criada em 1952 e extinta em 1953), a Campanha Nacional de Erradicação do Analfabetismo (criada em 1958 e extinta em 1963), a Mobilização Nacional Contra o Analfabetismo e o Programa de Emergência (ambos criados entre 1962 e 1963 e extintos pouco depois). A ação do Estado até esse momento histórico intercalou períodos de quase total omissão com outros, nos quais a educação de adultos foi utilizada como instrumento de sedimentação ou recomposição do poder político dos grupos dominantes, por meio de campanhas de duração limitada e qualidade absolutamente duvidosa. Em março de 1963 foram extintas todas as campanhas. Em contrapartida às ações patrocinadas pelo Estado, a partir da primeira metade da década de 1960, ocorreram alguns movimentos da sociedade civil cuja finalidade era a de contribuir para a transformação social a partir da atividade educativa. Dentre eles se destacaram o Movimento de Educação de Base (MEB), ligado a setores progressistas da Igreja Católica; os Centros Populares de Cultura (CPC), que tiveram origem no Centro Popular de Cultura da União Nacional dos Estudantes e o Movimento de Cultura Popular (MCP). Sob a liderança de Paulo Freire, parte dos integrantes do MCP do Recife, ligados ao Serviço de Extensão da Universidade Federal de Pernambuco, sistematizou um método de alfabetização para adultos que tinha como meta central a conscientização dos educandos3 e que buscava traduzir na prática educativa o compromisso político dos educadores com a transformação da sociedade brasileira. O trabalho desenvolvido em Recife, Angicos, Mossoró e João Pessoa foi considerado um sucesso e em 1963 uma Comissão Nacional de Alfabetização elaborou um plano que previa a utilização do método de Paulo Freire em aproximadamente 20.000 círculos de cultura em todo o país. Entretanto, o golpe militar pôs fim em toda essa mobilização e em abril de 1964 o PNA foi extinto. De todos os grandes movimentos desse período, restou apenas o MEB devido às suas ligações com a CNBB. Entretanto, isto custou uma total reformulação de seus objetivos, metodologia e material didático. Em agosto de 1964, quando da apresentação das novas diretrizes de funcionamento, o MEB já se caracterizava como um programa essencialmente evangelizador. Essas experiências de educação popular gestadas no âmbito da sociedade civil no início da década de 1960 certamente produziram resultados interessantes e significativos. Entretanto, não houve tempo e condições objetivas adequadas para que elas fossem devidamente analisadas e sistematizadas e novamente não foi possível construir avanços significativos que resultassem em uma melhoria do conjunto de ações voltadas para a educação de adultos no país. Em 1966 a União passou a prestar apoio financeiro e político à Cruzada ABC (Ação Básica Cristã), administrada por protestantes e totalmente comprometida com a consolidação do regime. Na tentativa de anular os efeitos ideológicos dos movimentos anteriores, especialmente no Nordeste, as atividades da Cruzada eram financiadas pelo governo militar e por entidades privadas tanto nacionais quanto estrangeiras. Gradativamente a Cruzada foi perdendo prestigio junto ao governo o e acabou por se extinguir progressivamente nos vários Estados entre 1970 e 1971. Em 15 de dezembro de 1967 foi criada a Fundação Movimento Brasileiro de Alfabetização. Para a ditadura militar o Mobral cumpria duas funções importantes: a preparação de mão de obra com um mínimo de escolarização, que na época era requerida pela “euforia” desenvolvimentista, e a constituição de uma organização que 3 O conceito de conscientização sofreu várias modificações na obra de Paulo Freire. Como destacam Haddad (1985), Beisiegel (1982) e Paiva (1980) a princípio Freire partiu de uma posição idealista e nacionalista, típica do final da década de 1950 e só posteriormente sistematizou e explicitou uma posição critica mais definida em relação à necessidade de rompimento com o modo de produção capitalista. poderia se prestar em nível federal, estadual e municipal aos seus objetivos de manipulação ideológica. Alvo constante de críticas ao longo de seus 14 anos de existência, o MOBRAL tornou-se um excelente modelo de como não se deve fazer educação de adultos. A péssima qualidade dos cursos gerou na população uma atitude de desprezo e desconfiança com relação a cursos para adultos que ainda hoje perdura. Em 1985 o MOBRAL foi extinto e em seu lugar criou-se a Fundação Educar, que se manteve em funcionamento até 1990. Após esse período o governo federal deixou de executar diretamente as atividades, passando a desempenhar apenas as funções de repasse de recursos e apoio técnico e pedagógico a ações educativas desenvolvidas pelas instituições do Estado ou da sociedade civil. Essa diretriz de descentralização foi retomada no Programa Alfabetização Solidária (PAS) e no Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA). O PAS fazia parte do projeto Comunidade Solidária, era co-financiado pelo MEC e empresas parceiras e contava com a assessoria pedagógica de universidades públicas e privadas e foi desenvolvido entre 1995 e 2002 nos municípios mais pobres e com os maiores índices de analfabetismo no país. O PRONERA foi implantado pelo INCRA com vistas à ampliação dos níveis de escolarização dos trabalhadores rurais assentados. Em 2001 foi criada a Comissão Nacional de Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos e a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD) do MEC, com o objetivo de reunir a gestão dos programas de apoio aos estados e municípios que, até então, estavam vinculados a diferentes ministérios e secretarias. Desde então foram implantados os seguintes programas: Brasil Alfabetizado4, Fazendo Escola5, Escola de Fábrica6 e o Programa de Integração da Educação Profissional ao ensino médio na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA). A Secretaria Nacional de Juventude criou em 2005 o Programa Nacional de Inclusão de Jovens (PROJOVEM) voltado è elevação da escolaridade e à inclusão digital de jovens entre 18 e 24 anos em municípios com mais de 200.000 habitantes. 4 O Programa Brasil Alfabetizado é desenvolvido em municípios que apresentam taxa de analfabetismo igual ou superior a 25%. Esses municípios recebem apoio técnico para o desenvolvimento das ações do programa, visando garantir a continuidade dos estudos aos alfabetizandos. 5 Esse programa tinha por objetivo suplementar o orçamento de municípios pobres que oferecessem condições de continuidade dos estudos dos alunos egressos do Programa de Alfabetização Solidária. 6 Programa que repassa recursos para abertura de salas em empresas. Cumpre ressaltar que um número significativo de municípios brasileiros atuou de forma direta nessa área. Dada à impossibilidade de abordar todas essas experiências, destacamos o Movimento Alfabetização de Jovens e Adultos (MOVA) 7 implantado por Paulo Freire quando foi secretário de educação do município de São Paulo, entre 1989 e 1992, e que em 1997 se estendeu para o grande ABC; bem como o trabalho desenvolvido pela Divisão Municipal de Educação de Adultos da Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Bauru8, que vem atuando de forma ininterrupta desde 1986. Tais trabalhos podem ser tomados como exemplos importantes da possibilidade de desenvolvimento de programas de boa qualidade, quando se aliam diretrizes claras, recursos suficientes e formação docente continuada. Em 2001 o Conselho Nacional de Educação fixou as Diretrizes Curriculares para a Educação de Jovens e Adultos e no mesmo ano foi instituído o Plano Nacional de Educação para o período 2001-2010, que estabeleceu 26 metas9 ambiciosas em relação à educação de jovens e adultos, entre as quais se destacam: oferecimento das séries iniciais do ensino fundamental para 50% dos jovens e adultos com menos de 04 anos de estudos e a erradicação do analfabetismo e a oferta das séries finais do ensino fundamental para todos que têm menos de 08 anos de estudos até 2011. Análises detalhadas apresentadas Di Pierro (2010) indicam que essas metas não foram alcançadas e que os problemas na área de educação de jovens e adultos ainda permanecem como desafios a serem enfrentados pelas políticas públicas no Brasil. Em defesa de uma escolarização de qualidade para jovens e adultos: alguns indicativos de ação O breve histórico apresentado evidencia muitos impasses e dificuldades, mas ao mesmo tempo indica que já dispomos de um conjunto importante de dados e experiências, do qual podemos extrair alguns dos indicativos necessários à constituição de propostas de ação que sejam capazes de atender os anseios de escolarização da classe trabalhadora e que de fato cumpram seu papel no resgate da dívida social do Estado para com uma parcela significativa da população brasileira. 7 É possível obter informações detalhadas sobre o MOVA no site http://www.forueja.org.br O histórico da Divisão Municipal de Educação de Adultos foi documentado por Ragonesi (1990) e Caserio (2003). 9 Para maiores detalhes pode-se consultar Cury, 2000. 8 Buscando contribuir para a discussão acerca da constituição de propostas de ação que sejam capazes de atender os anseios de escolarização da classe trabalhadora apresentamos três grandes indicativos ético-político-pedagógicos dialeticamente articulados: garantia efetiva de educação básica obrigatória, gratuita e de qualidade para todos os jovens e adultos das camadas populares; formação inicial e continuada, boas condições de trabalho, salários dignos e carreira funcional definida para os educadores de jovens e adultos e a constituição de propostas pedagógicas qualitativamente superiores. 1. Educação básica obrigatória, gratuita e de qualidade para todos os jovens e adultos das camadas populares. A ampliação das oportunidades educacionais e a melhoria da qualidade dos cursos já existentes exige a constituição de projetos bem consolidados e duradouros; a articulação dos governos federal, estadual e municipal, bem como do reconhecimento e apoio às boas iniciativas da sociedade civil; a alocação de recursos suficientes, acompanhada de mecanismos de controle adequados, além da efetiva participação popular no planejamento, execução e avaliação das ações. A efetivação do acesso aos conhecimentos historicamente acumulados representa não apenas a garantia de um direito inalienável de cada cidadão, mas uma condição fundamental para o processo de humanização dos indivíduos. O desenvolvimento do psiquismo humano só é possível por meio da apropriação dos produtos da atividade humana. E, como nos ensina Heller (1977) não é suficiente que os homens se apropriem dos produtos que compõe a genericidade em-si (a linguagem, os instrumentos, objetos e costumes da cultura). É fundamental que também se apropriem das objetivações genéricas para-si: as ciências; a moral; a política; a arte; a filosofia; etc.; o que exige a superação, ainda que de forma momentânea e parcial, da estrutura da vida cotidiana que é marcada por relações e formas de pensamento, sentimento e ação não reflexivos. Entretanto, na sociedade capitalista esta possibilidade não está posta para todos e o resultado é a formação de indivíduos alienados. Nas palavras de Hosller (2003, p.42): “O homem que não se apropriou das esferas não cotidianas da vida social humana, não pode conduzir sua vida, quando assim se fizer necessário, guiado pela razão, pelo espírito crítico da lógica e da reflexão filosófica, pelos conhecimentos filosóficos e científicos produzidos e acumulados ao longo da história, pelas leis da ética e pela sensibilidade estética inerente a todas as formas de arte. Este homem, o indivíduo em-si alienado torna-se forte candidato à ignorância, presa fácil dos obscurantismos, crenças, ilusões e preconceitos de toda a espécie. Em suma, o homem é alienado daquilo que há de mais elevado no ser humano. Inclusive de seu próprio potencial de transformação: de sua capacidade de transformar, de acordo com sua vontade e intenção, tanto a natureza, como a própria sociedade que ajuda a construir”. Concordamos com a proposição de Duarte (1995), no sentido de que, no processo de formação do indivíduo, cabe à educação escolar o papel de atividade mediadora entre a esfera da vida cotidiana e as esferas não cotidianas de objetivação do gênero humano. Ao desempenhar tal função a escola não dá conta de superar a alienação, mas pode fornecer instrumentos importantes na luta pela transformação das relações sociais. 2. Formação inicial e continuada, boas condições de trabalho, salários dignos e carreira funcional definida para os educadores de jovens e adultos. No Brasil temos observado dois padrões principais que sustentam os trabalhos na área: de um lado, propostas que dependem quase exclusivamente de mão de obra voluntária, em geral motivada por questões religiosas ou pelo desejo de envolvimento em processos de militância política, e de outro, trabalhos que contam com professores formados e remunerados, mas que não tiveram o devido preparo para exercer suas funções, sabidamente bastante complexas. Desprovidos da necessária reflexão filosofia crítica e sem acesso a teorias sólidas no âmbito da Pedagogia e da Psicologia os professores acabam "formando-se" na prática por meio da repetição de procedimentos esvaziados de sentido. Desse modo ficam dadas as condições para a constituição de processos educativos alienados e alienantes. Como afirma Duarte (1996), no trabalho educativo a alienação do trabalhador educador também irá gerar alienação do “produto”, ou seja, a formação do indivíduo educando. Nas palavras do autor “Assim, se o trabalho educativo se reduzir para o educador, a um simples meio para a reprodução de sua existência, para a reprodução de sua cotidianidade alienada, esse trabalho não poderá se efetivar enquanto mediação consciente entre o cotidiano do aluno e a atuação desse aluno nas esferas não cotidianas da atividade social. A atividade educativa se transformará, também ela, numa cotidianidade alienada, que se relacionará alienadamente com a reprodução da prática social” (Duarte, 1996, p.56). Isto ocorre porque o processo pedagógico escolar implica não apenas a formação do indivíduo educando, mas também o próprio processo de formação e desenvolvimento do educador. Como lembra Hosller (2003), o educador se humaniza quando o educando se humaniza e isto só ocorre quando se possibilita a apropriação pelos indivíduos das objetivações genéricas para-si e sua formação como individualidade para-si. Para além das técnicas e procedimentos de ensino é preciso articular procesos de formação que permitam que os professores: • Estabeleçam uma relação consciente com seu trabalho, compreendendo seu papel na formação do indivíduo-educando-concreto. Por isto, a escola não pode se reduzir à vida imediata do indivíduo, mas deve conceber como parte de sua concreticidade as possibilidades de vir-a-ser de sua formação (Duarte, 1996, p.51); • Mantenham uma relação consciente e reflexiva para com os processos e fundamentos educacionais, pedagógicos e psicológicos envolvidos em seu trabalho, utilizando as teorias como ferramentas prático-intelectuais (Hosller, 2003, p. 269); • Compreendam que o ensino determina o desenvolvimento psíquico dos alunos e que seu papel é o de ensinar o que eles não são capazes de aprender por si, sendo os mediadores dos conhecimentos científicos, intervindo principalmente na formação dos processos psicológicos superiores (Facci, 2003, p.146). 3. Constituição de propostas pedagógicas qualitativamente superiores Conforme evidencia Saviani (1991, p.21) ¨o trabalho educativo é o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens¨. Neste sentido, colocase a necessidade de se identificar tanto os elementos culturais que precisam ser assimilados pelos indivíduos para que se tornem humanos, quanto as formas mais adequadas de atingir esse objetivo. O trabalho educativo só alcança sua finalidade quando cada indivíduo consegue apropriar-se da humanidade produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens. Para tanto, no trabalho da educação de adultos é preciso atender a pelo menos três exigências: o conhecimento das condições objetivas e subjetivas de vida dos alunos; a seleção de conteúdos, métodos de ensino e materiais didáticos adequados e a constituição de relações humanizadoras com os alunos. Os alunos Quem são e o que fazem os alunos? Como vivenciam o fato de serem analbetos ou pouco escolarizados? Quais são seus interesses e motivações? A resposta a essas questões representa um ponto de partida importante porque pode trazer indicativos sobre as melhores formas de intervenção que garantam o cumprimento da função social da educação de adultos: alfabetizar todos os alunos. Grande parte dos alunos trabalha em funções que produzem grande desgaste físico e cansaço e em ambientes nos quais existe uma carência de determinados estímulos específicos importantes para o aprendizado escolar. O desenvolvimento preponderante da musculatura grossa e o condicionamento da percepção visual a espaços amplos podem levar os trabalhadores braçais a sentirem maioires dificuldades nas aprendizagens escolares. Essas condições objetivas não podem nem devem ser negadas. Os alunos adultos certamente trazem com eles uma grande riqueza de conhecimentos, mas também apresentam certas dificuldades, que devem ser compreendidas como expressões histórico-sociais do tipo de vida e de desenvolvimento que lhes foi possível em condições históricas concretas. A grande maioria já chega aos cursos com uma história de escolarização desestimulante, marcados pelo estigma do fracasso. Além disso, por não entenderem o analfabetismo como um produto social, cuja raizes se encontram nas desigualdades sociais, tendem a incorporar o discurso ideológico da inferioridade dos menos escolarizados, considerando a si próprios como incapazes de aprender. É fundamental ainda considerar que, de modo diverso da criança em idade escolar, o adulto não está “naturalmente” motivado para frequentar a escola. Embora valorizem e manifestem o desejo de ter acesso ao processo de escolarização, o analfabetismo,é muitas vezes, vivenciado pelos adultos como um "estado definitivo", como parte integrante de sua própria identidade social. Tais questões devem ser objeto de atenção contínua pois podem comprometer seriamente a disposição dos alunos em relação ao envolvimento efetivo com o processo de escolarização. Os conteúdos, métodos de ensino e materiais didáticos. “Não é porque um aluno é adulto que ele tem que saber. Ele é adulto, sabe um monte de coisas, mas não sabe ler e escrever. Então o professoro tem que ensinar tudo desde o começo....” (depoimento de D., 38 anos, aluna de um curso de alfabetização de adultos). De acordo com Saviani (1992), os educadores devem buscar nortear sua ação a partir de três objetivos fundamentais: - a identificação das formas mais desenvolvidas em que se exprime o saber objetivo socialmente produzido; a transformação do saber objetivo em saber escolar que possa ser assimilado pelo conjunto dos alunos e a garantia das condições necessárias para que estes não apenas se apropriem do conhecimento, mas ainda elevem seu nível de compreensão sobre a realidade. Na década de 1990 realizamos um estudo (Ragonesi, 1990) com o objetivo de investigar a evasão em cursos de educação de adultos. Os dados obtidos, que nos parecem ainda pertinentes a essa discussão, mesmo decorridas mais de duas décadas, fundamentam parte das questões que analisaremos a seguir. O processo de alfabetização não pode representar uma ruptura com o que os alunos já sabem. Por isto, os conteúdos iniciais precisam ser definidos com base em uma avaliação que permita aos professores direcionarem seu trabalho para aquilo que Vigotski denominou de zona de desenvolvimento proximal dos alunos (Vigotski 1977, 1993).10 Para Vigotski, devemos considerar a existência de dois níveis de desenvolvimento: o nível de desenvolvimento atual ou real e a zona de desenvolvimento próximo, potencial ou proximal. O nível de desenvolvimento real corresponde ao nível de desenvolvimento que foi conseguido como resultado de um processo de desenvolvimento já realizado, ou seja, compreende tudo aquilo que um indivíduo é capaz de fazer sozinho, sem a ajuda de outras pessoas. Vejamos um exemplo. Na sala de aula, um professor alfabetizador atento aos seus alunos pode perceber o nível de desenvolvimento real de seu grupo observando o que cada um é capaz de realizar de maneira independente. Vamos imaginar as seguintes situações: alguns alunos conseguem identificar letras ou sílabas; outros escrevem e leem pequenos textos; outros já são capazes de ler, redigir e interpretar histórias completas. Um grupo consegue identificar os números; outro já é capaz de realizar operações matemáticas. Alguns alunos ainda não escrevem, não leem e não dominam os códigos da matemática, mas são capazes de realizar atividades que envolvam certas noções matemáticas em situações concretas e fazem determinados registros gráficos (rabiscos, letras, desenhos, etc.). Todos estes casos referem-se a atividades que são possíveis em um determinado momento, em função do desenvolvimento que foi efetivado até então. Daí a designação desenvolvimento real. Em síntese, o nível de desenvolvimento real, atual ou efetivo pode ser verificado através de situações nas quais o indivíduo resolve problemas sem nenhum tipo de ajuda. Entretanto, conhecer as capacidades já desenvolvidas não é suficiente para compreender, de forma completa, o desenvolvimento dos alunos. Para Vigotski, temos de, também, nos voltar para a zona de desenvolvimento próximo, a qual abarca tudo aquilo que o indivíduo não faz sozinho, mas é capaz de realizar com ajuda. Essa compreensão acerca do desenvolvimento das capacidades intelectuais é condição primeira e fundamental para que os professores selecionem conteúdos que não 10 O nome do autor sem sido escrito de diferentes modos, tais como Vygotsky, Vygotski e Vigotskii. Neste texto usaremos a grafia Vigotski. se coloquem nem além nem aquém da zona de desenvolvimento próximo dos alunos. (Vigotski, 1993). No que se refere à metodologia, é preciso romper com duas práticas comuns, porém muito ineficientes: a utilização quase que exclusiva da lousa e a repetição de tarefas que envolvem principalmente a cópia de palavras e textos. Além do fato de que uma parte significativa dos alunos costuma apresentar dificuldades no âmbito da coordenação motora fina e coordenação óculo-manual, o que inviabiliza a execução de boa parte das tarefas porpostas em sala, esse tipo de trabalho esvazia e retira o próprio sentido social do conhecimento que se está querendo transmitir. Por esse motivo, não é raro encontar alunos que conseguem, não sem muitas dificuldades, fazer cópias de textos mas que se mostram incapazes de ler e compreender o que escreveram. Nessa mesma direção, é preciso selecionar materiais didáticos adequados a cada grupo de alunos. Conforme aponta Duarte (1986, p. 17) "a compreensão do processo contraditório vivido pelo adulto desescolarizado mostra a necessidade de se desenvolver uma metodologia de ensino que possibilite a real superação-incorporação do conhecimento que ele já adquiriu e não uma metodologia que meramente justaponha ao que o indivíduo já sabe, aquilo que ela não sabe". Em outras palavras, é preciso articular procedimentos de ensino que partam do respeito ao aluno mas que nem por isto deixem de considerar suas dificuldades concretas. As relações sociais Existe uma clara correspondência entre a qualidade das práticas pedagógicas e os diferentes tipos de relações que se estabelecem entre professores e alunos. Isto significa que as relações sociais humanizadoras constituem-se em condições essenciais porque podem favorecer a apropriação do conhecimento e o desenvolvimento das potencialidades humanas de alunos e professores. Ao desempenhar sua função docente o professor não está apenas ensinando determinados conteúdos, mas também, e fundamentalmente, formando indivíduos. Mais do que apenas um processo intersubjetivo, as relações em sala de aula expressam toda uma rede de valores sociais que nem sempre são inteiramente percebidos e desvelados. Nesse sentido, elas podem se constituir tanto em fontes de independência, autonomia, reciprocidade e tomada de consciência, quanto de dependência, dominação, alienação e subalternidade. Entretanto, é preciso destacar que relações interpessoais humanas e humanizadoras não emergem de forma espontânea ou natural no cotidiano das salas de aula, elas precisam ser intencionalmente construídas. Finalmente, ressaltamos ainda cinco aspectos mais diretamente relacionados à organização dos cursos, que embora muito importantes, têm sido muitas vezes negligenciados: • as classes devem funcionar em locais que garantam aos alunos condições adequadas de conforto tais como mesas e carteiras confortáveis, boa iluminação e ventilação; • diariamente os alunos devem receber alimentação de qualidade, preferencialmente antes do início das aulas; • deve-se assegurar transporte para aqueles que moram em locais mais distantes; • a composição das classes deve ser feita em função de critérios bem definidos de forma a se evitar agrupamentos muito heterogêneos. Classes nas quais se encontram alunos de idades e níveis de conhecimentos muito diferentes produzem dificuldades muitas vezes incontornáveis e que acabam muitas vezes resultando em grandes índices de evasão; • Os alunos devem ter oportunidades de ampliar e consolidar as capacidades de leitura, escrita e cálculo, o que pode ser favorecido por meio do acesso a diferentes expressões da cultura humana elaborada (livros, jornais, revistas, filmes, peças de teatro, musica etc.). Considerações Finais “Se podes olhar, vê Se podes ver, repara” José Saramago Embora a humanidade tenha produzido imensas riquezas materiais e culturais, grande parte dos indivíduos continua vivendo em condições de miserabilidade no mundo todo. O analfabetismo é uma expressão viva desse processo de exclusão. O empenho na melhoria dos programas de alfabetização é fundamental já que eles podem garantir aos alunos a primeira condição tanto para a apropriação dos conhecimentos acumulados pela humanidade quanto para o desenvolvimento de uma consciência crítica acerca de sua própria vida e da vida em sociedade. A classe trabalhadora não poderá se constituir em uma força hegemônica se não puder elevar seu nível cultural. Como nos esclarece Saviani (1987) a educação é um instrumento de luta porque é efetivamente o espaço possível de reapropriação, pelos trabalhadores, do saber do qual são continuamente desapropriados pela classe dominante. Embora com uma função social tão importante, a educação de jovens e adultos não tem sido tratada com a seriedade necessária. No Brasil até hoje esse modalidade educacional não chegou a constituir-se em um componente real e efetivo do sistema educacional do país. A ausência de políticas definidas, a escassez de recursos orçamentários e grande índices de evasão nos cursos oferecidos colocam claramente a necessidade de profundas mudanças na área. Entretanto cumpre destacar que tais transformações qualitativas não serão suficientes, se não se articularem com a luta pela transformação da sociedade, já que o direito à educação dos jovens e adultos só pode ser compreendido em suas relações com o conjunto dos direitos humanos e sociais. Como nos ensina Leontiev (1978), a questão do desenvolvimento das máximas possibilidades do homem coloca de forma incisiva o problema de uma organização social equitativa e sensata da vida da sociedade humana que possibilite a cada indivíduo a apropriação das objetivações do progresso histórico e a participação neste processo como um sujeito criador de novas realizações. Referências BEISIEGEL, C. R.. Estado e educação popular – em estudo de caso. São Paulo: Pioneira, 1974. BEISIEGEL, C. R. Política e educação popular: a teoria e a prática de Paulo Freire no Brasil. São Paulo: Ática, 1982. CASERIO, V. M. R. Educação de jovens e adultos: pontos e contrapontos. Bauru: EDUSC, 2003. CURY, C. R. J. Parecer CNE/CEB 11/2000 que dispõe sobre as diretrizes curriculares para a educação de jovens e adultos. Brasília: MEC, CNE, 2000. Disponível em <http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/pceb011¬_00.pdf>. Di PIERRO, M. C. A educação de jovens e adultos no plano acional de educação: avaliação, desafios e perspectivas. Educação e Sociedade, Campinas, v. 31, n. 112, p. 939-959, jul-set. 2010, disponível em http://www.cedes.unicamp.br DUARTE, N. O ensino da matemática na educação de adultos. Cortez Ed/Autores Associados: São Paulo, 1986. DUARTE, N.. A educação escolar e a teoria das esferas de objetivação do gênero humano. Doxa. Revista Paulista de Psicologia e Educação, Ano I, vol. 1, nº 1, p.95114, Araraquara, F.C.L. UNESP, 1995. DUARTE, N. Educação Escolar, Teoria do Cotidiano e a Escola de Vigotski. Campinas, Ed. Autores Associados, 1996. FACCI, M.G.D. Valorização ou esvaziamento do trabalho do professor: um estudo crítico-comparativo da teoria do professor reflexivo, do construtivismo e da Psicologia vigotskiana. Marília, 2003, Tese (doutorado), UNESP. HADDAD, S. Conscientização e alfabetização de adultos. Cadernos de Pesquisa nº 52. São Paulo: Fundação Carlos Chagas, 1985. HARA, R. Alfabetização de adultos: ainda um desafio. São Paulo: CEDI, 1988. HELLER, A. Sociologia de la vida cotidiana. Barcelona, Ediciones Península, 1977. HOSSLER, J. Sedução e modismo na educação: processos de alienação na difusão do ideário construtivista. Tese de Doutorado. Faculdade de Ciências e Letras, UNESPAraraquara. LEONTIEV, A. O desenvolvimento do psiquismo. 3ª ed., Lisboa: Livros Horizonte, 1978. PAIVA, V. P. Educação popular e educação de adultos: contribuição à história da educação brasileira. São Paulo: Loyola, 1973. PAIVA, V. P. Paulo Freire e o nacionalismo desenvolvimentista. Rio de Janeiro Civilização Brasileira, 1980. RAGONESI, M. E. M. M. A educação de adultos: instrumento de exclusão ou democratização? – um estudo sobre a evasão em cursos de educação básica para adultos. Dissertação de Mestrado. Programa de Filosofia da Educação, PUCSP. 1990. UNESCO. Alfabetização de jovens e adultos no Brasil: lições da prática. Brasília: UNESCO, 2008. SARAMAGO, J. Ensaios sobre a cegueira. Companhia das Letras, 1995. SAVIANI, D. Competência política e compromisso técnico ou o pomo da discórdia e o fruto proibido. Revista Educação e Sociedade nº 15, São Paulo: Cortez Ed., 1987. SAVIANI, D. Educação e questões da atualidade. São Paulo, Cortez Ed, 1991. SAVIANI. D. Pedagogia histórico-crítica - primeiras aproximações. 3ª ed., São Paulo, Cortez Ed. / Ed. Autores Associados, 1992. VIGOTSKY, L. S. Aprendizagem e desenvolvimento na idade escolar. In LURIA, LEONTIEV, VIGOTSKY e outros. Psicologia e Pedagogia I: bases psicológicas da aprendizagem e do desenvolvimento. Lisboa: Editorial Estampa, 1977. p. 31-50 VYGOTSKI, L. S. Obras Escogidas II. Conferências sobre Psicologia. Madrid: Centro de Publicaciones del M.E.C. y Visor Distribuciones S.A., 1993.
Download