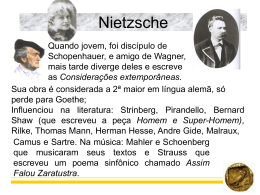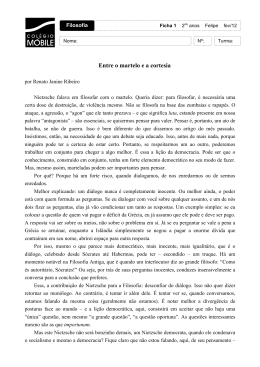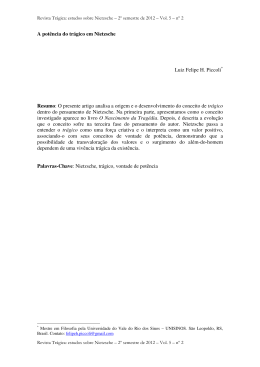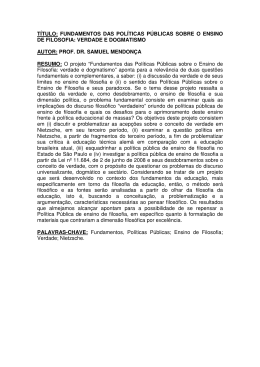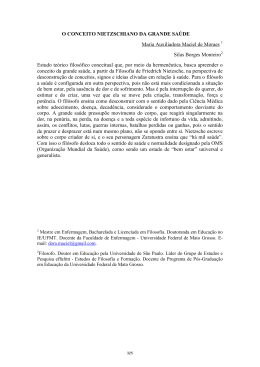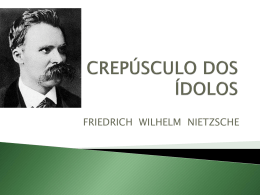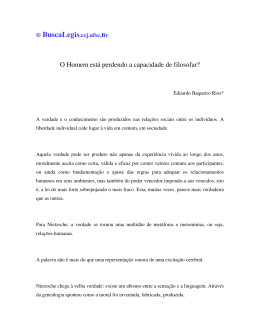1 O corpo entre a linguagem e o silêncio: o caso Nietzsche Gabriel Giannattasioϑ Resumo: Tomando o corpo como uma categoria chave do pensamento, procura-se observar o modo como ele – o corpo – passa a operar na filosofia nietzscheana. Ao mesmo tempo em que se avalia os desdobramentos, que a emergência do corpo opera, nas articulações entre a linguagem e o silêncio. A partir destas considerações iniciais, toma-se, o chamado período delirante da biografia de Nietzsche (1889-1900), não mais como um momento circunstancial a ser esquecido, mas, como uma – dentre tantas perspectivas – manifestação plena de sua obra e de seu ‘tornar-se o que se é’. Palavras-chave: História do pensamento, Nietzsche, corpo, linguagem e silêncio. O corpo: tema perene na história do pensamento. O corpo é um dos problemas perenes na história do pensamento. E, ao longo do tempo, o homem dedicou-lhe diferentes lugares e distintas funções: a ele se vinculam, por exemplo, todas as formas de ascetismo, a querela nas relações entre matéria e espírito e as dimensões da cultura e da linguagem. Contemporaneamente, o conjunto dos saberes criados pelo homem concede-lhe um lugar de destaque na história do pensamento, pois, nele pode estar guardada a chave para os mistérios da vida. Há, entretanto, capítulos à parte no interior desta longevidade histórica do corpo. Capítulos que constituem uma espécie de arqueologia – camadas sedimentadas, mas que se comunicam pelas suas fissuras e em suas zonas fronteiriças – e que podem ser observados, tanto nos seus vasos comunicantes, quanto na sua singularidade. A filosofia nietzscheana é um destes capítulos e o que se pretende reconhecer aqui são as contribuições deste pensar, não só para a história do corpo no Ocidente, mas, também, para um diagnóstico da euforia científica de nosso tempo. Somos testemunhos, ainda uma vez, de um estado de intensificação das ilusões, movido pelas novas possibilidades que a engenharia genética e a micro-biologia ϑ Professor da Universidade Estadual de Londrina (PR). 2 contemporâneas anunciam (Giannattasio:2004). O corpo, ao longo da história humana, foi uma espécie de espectro, ora posto em evidencia, ora estigmatizado. Foi lido, em alguns momentos, como a fortuna, em outros, como a desgraça que devíamos suportar. Objeto da filosofia, da teologia, da história e da ciência, não cansou de assombrar e desafiar todas as formas anunciadas de sua domesticação. O fenômeno com o qual nos deparamos contemporaneamente, nada é que o mais recente esforço formulado pelo conhecimento humano para capturá-lo (Sibilia:2003). À clássica pergunta ‘o que pode o corpo’, apresentaram-se as mais variadas respostas. O ocidente moderno, em particular, oscilou entre dar uma resposta que leva em consideração as forças acumuladas pela cultura e os instrumentos de uma sociedade civilizada, e/ou oferecer, ao dilema, as técnicas de aprimoramento e melhoramento das raças. Se, como aponta Sloterdijk, constitui uma tendência da história cultural do Ocidente o tensionamento entre, por um lado, as forças civilizatórias de amansamento e domesticação e, por outro, as técnicas de aprimoramento e criação seletiva do homem, o humanismo – com seu projeto de amansar e domesticar este homem pela via da educação – estaria superado diante das novas perspectivas que se abrem através das antropotécnicas contemporâneas. E, segundo Sloterdijk, a crise do humanismo está aberta, em função da incapacidade deste último de sustentar, contemporâneamente, o projeto de domesticação do homem através, seja da educação, seja da linguagem. As chamadas antropotécnicas – projeto que nasce a partir do cruzamento entre genética e educação – apresentam-se no horizonte cultural do ocidente como o instrumento mais adequado para esta tarefa de amansamento do homem. E, os investimentos que a ciência contemporânea tem depositado neste projeto são inquestionáveis. Ainda assim, podemos afirmar que está em curso a mais profunda crise do humanismo que se expressa através da difícil sustentação de uma compreensão espiritual do homem. Retornemos à questão formulada por Spinoza, para o qual nós não sabemos o que pode um corpo. Neste sentido, Giacóia afirma que jamais saberemos, pois o corpo ocupa um lugar superior ao da consciência, do espírito e da alma. O corpo é, nas palavras dele, 3 ominoso, o que nos leva a tomá-lo sob a forma do agorento, nefasto, detestável e paradoxal. Ainda assim, é a única expressão do real que nos constitui. É no corpo que testemunhamos os inexoráveis traços, vestígios e marcas do tempo. Ele se transformou, também, no campo de batalha entre o homem e sua finitude, bem como, entre a cultura e o determinismo biológico (Araújo Junior:2006). Uma pluralidade de saberes foram chamados a desempenhar seu papel neste ‘front’, a medicina, a estética, a farmacêutica, a psicanálise, a educação física, cada qual contribuindo com o seu quinhão para fazer do corpo um suporte inexpressivo do tempo: um Dorian Gray que, para além das agruras da vida, seja capaz de manter todo seu frescor físico. Se muitas, dentre as atuais formas de saber, dedicam-se à decifrar esta que é uma das mais importantes questões perenes da humanidade, deve-se reconhecer que este esforço constitui-se como uma antiga obsessão do homem. A partir deste imenso trabalho, é possível enunciar pelo menos três perspectivas distintas que, certamente, fazem-se ver no interior das várias conjunturas históricas testemunhadas pelo homem1, a saber: um movimento de negação do corpo (desde que admitidas as suas tantas variações, pode ser nomeado de ascetismo), um movimento de afirmação da potência explicativa do corpo2 (aqui, também, deve-se pressupor uma pluralidade de perspectivas científicas) e, por fim, um movimento que não é, nem de negação, nem de afirmação de sua potência explicativa, mas que o toma pelo que ele é, última, irredutível, perene e inexplicável presença do animal no humano (poderíamos chamá-lo de uma filosofia trágica do corpo). Não seria estranho se começássemos oferecendo as definições mais usuais dos termos, inclusive para observamos como elas se encontram encarnadas secularmente na mentalidade do homem ordinário. Já que corpo e ascetismo são valores que, na história do pensamento, assumiram uma relação de negação e complementariedade, oferecemos os sentidos de ambos: Corpo: O substantivo corpo vem do latim corpus e corporis. Dagognet (apud Greiner:2005) explica que corpus sempre designou o corpo morto, o cadáver em oposição à alma ou anima. Já na tradição não ocidental, como a indo-iraniana, a palavra corpo teria uma raiz em krp que indicaria a forma, entretanto, diferentemente da matriz grega que usou soma para designar o corpo morto e demas para o corpo vivo, esta não estabelece tal distinção. 4 Teríamos, na conceituação grega, a gestação de toda a tradição ocidental que se habituou a separar o material e o mental, o corpo morto e o corpo vivo. A noção de corpo pode estar associada, ainda, à idéia de sensível, palpável, visível, dotado de forma; em oposição ao inteligível, intocável, etéreo e supra-sensível. Ascetismo. S.m. 1. Prática da ascese. 2. Doutrina que considera a ascese como o essencial da vida moral. 3. Moral que desvaloriza os aspectos corpóreos e sensíveis do homem. Ascese. S.f. Exercício prático que leva à efetiva realização da virtude, à plenitude da vida moral. Ascetismo, s.m. (teol.) Moral fundada no desprezo do corpo e das sensações físicas. Asceta, s.m. ou f. Pessoa devota que se dedica inteiramente aos exercícios espirituais, mortificando o corpo3. Pensar, portanto, na possibilidade da existência de morais que ataquem o ascetismo significa pensar na expressão de um paradoxo ou numa contradição dos termos. Digamos, logo de partida, toda moralidade funda-se na ausência ou, para usar uma expressão de minha preferência, na presença mitigada do corpo. Diríamos, inicialmente, que o universo do ascetismo é constituído por uma pluralidade de possibilidades, cada qual dando um sentido ou um significado particular ao conceito. Teríamos, assim, um ascetismo religioso, um ascetismo filosófico, um ascetismo psicológico, um ascetismo cultural. Sendo que todos eles pressupõem e exigem, em maior ou menor grau, a ausência ou a negação do corpo. Deste ponto de vista, fazer a história do ascetismo significa percorrer a história do corpo pelo avesso, ou se se preferir, pela sua momentânea ausência. As práticas ascéticas têm uma longa história de gestação. Porém, trata-se de um processo nada linear, atravessado por re-significações periódicas, e que foi, permanentemente, testemunha da incômoda presença de seus críticos. Estes últimos assumiram também múltiplas conformações e carregam as marcas de profundos processos de rupturas. Possivelmente, seja o período trágico dos gregos – refiro-me à Grécia présocrática – e ao Renascimento – período que entremeia os primeiros sinais da ruína Aristotélica e a ainda não anunciada aurora do naturalismo moderno de Descartes, Locke e Rousseau – que se configurou como um dos momentos históricos nos quais concebeu-se 5 uma cultura, um pensamento e uma mítica capaz de articular, numa mesma unidade tensionada, cultura e natureza, espírito e corpo (Rosset:1989, p. 126). Antes mesmo do socratismo-platônico e do cristianismo, teríamos no orfismo4 um momento privilegiado no processo de ruptura entre alma e corpo. Apresentam-se os primeiros traços de um irreconciliável antagonismo entre os termos. A essência do orfismo traduz-se na soteriologia (Brandão:1991, p. 202). A soteriologia inaugura uma prática fundada na ascese, ‘jejuns, abstenção de carnes e de ovos, ou, por vezes, de qualquer alimento, castidade no casamento ou até mesmo castidade absoluta, [...] meditação, cânticos, austeridade no vestir e no falar’ (Brandão:1991, p. 208). O orfismo, portanto, é um movimento do pensamento que marca a expressão do ascetismo nos mais diferentes momentos da história do pensamento ocidental: nos pitagóricos, na filosofia socrático-platônica e aristotélica, no judaísmo-cristianismo. O corpo: Nietzsche e o materialismo moderno. O materialismo moderno forneceu uma outra dimensão ao corpo, realizando o grande trabalho no sentido de incorporá-lo ao saber e, mais que isso, em transformá-lo numa categoria explicativa dos mistérios. Este grande esforço do pensamento moderno é profundamente debitário de precursores como Lucrécio5 e os atomistas (Wolff:2005). Toda a natureza, segundo o filósofo e poeta romano, é constituída por corpos e vazio, nada mais! Os corpos são distintos, sua aparência é múltipla, as qualidades são plurais, mas todos são constituídos pela mesma matéria: uma infinidade de partículas minúsculas e fisicamente indivisíveis. Os materialistas atomistas espiritualizam o corpo e sacralizam o átomo como o mais novo sucedâneo laico da alma. Esta vertente do pensamento irá se desdobrar na modernidade e se re-apropriará do corpo de forma duplamente ambígua. Se, de um lado, o materialismo re-propõe e reata as relações entre corpo e pensamento, por outro, alimenta a ilusão de que na matéria encontraríamos a grande matriz explicativa dos mistérios. O corpo seria, então, nossa mais íntima maquinaria e o homem, seu mais novo arquiteto. Mas, para além desta completude harmônica, o homem reinventará seu paroxismo, um misto de modéstia e arrogância: Nós mudamos de método. Tornamo-nos mais modestos em todas as coisas. Já não fazemos descender o homem do espírito, da 6 divindade, colocamo-lo entre os animais. No nosso conceito é o animal mais forte, porque é o mais astuto: a sua espiritualidade é uma conseqüência disso. Por outro lado defendemo-nos contra uma vaidade que aqui também quereria levantar a voz: como se o homem tivesse sido o grande pensamento último da evolução animal. Não é de modo algum a coroa da criação; cada ser encontra-se junto a ele no mesmo grau de perfeição... E, pretendendo isto, vamos demasiado longe; o homem é, relativamente, o mais deficiente dos animais, o mais enfermiço, o que se extraviou dos seus instintos mais perigosamente, certo de que, com tudo isto, é também o animal ‘mais interessante!’. – No que respeita aos animais, Descartes foi o primeiro que teve o admirável atrevimento de considerar o homem como ‘máquina’: toda a nossa fisiologia se esforça em demonstrar esta proposição. (MAI/HHI. ‘Fenômeno e coisa em si') (Nietzsche:2000, p. 25) A filosofia nietzscheana apresenta-se como negação da tradicional separação, realizada pelo pensamento ocidental, entre corpo e espírito. Mas, ao elaborar esta negação, Nietzsche recusa o idealismo espiritual, que submete o corpo ao espírito, assim como, o mecanicismo biológico e explicativo do corpo, o que significa dizer, toda a tradição de leitura do corpo como organismo funcional, tomado como resultado de relações de causa e conseqüência (Blondel:1986, p.280). A primeira sinalização de mudança no método é indicativa. O humanismo inaugurase como um movimento marcado pela modéstia, pois, o homem não só não descende da nobre estirpe dos deuses, como também, não é, na sua origem, superior aos animais – tese que se consagra com o darwinismo no século XIX. Movimento, portanto, de retorno do homem ao originário reino dos animais e de re-integração à natureza – se bem que, sabemos, não permanecemos integrados a ela por muito tempo, nem por um instante. Agora, é a consciência que o torna senhor do reino: aqui se encontram conjugadas a astúcia do homem como animal conhecedor, com a potencial possibilidade aberta de este se constituir num manipulador de si. Este segundo movimento terá uma trajetória próspera na 7 modernidade, substituindo deus, o espírito e a metafísica pelo homem com a sua consciência, seus artefatos e a ciência. O homem se produz, portanto, fazendo-se um animal superior aos animais: um animal decifrador. Nietzsche pontua, o que faz a grandeza do homem é também a sua ruína, e isto, na perspectiva do pensador alemão, torna o homem o mais débil e, contemporaneamente, o mais interessante dos animais, mas, ainda assim, um animal como outro qualquer. Em seguida, Nietzsche afirma a grandeza de Descartes, o primeiro – quem sabe – a reconhecer o homem como máquina, o que significa dizer, a estabelecer um maior e mais estreito parentesco entre a consciência e a fisiologia. O que a tradição do pensamento filosófico ocidental fez desta aproximação é uma outra história: Para praticar a fisiologia com boa consciência, é preciso Ter presente que os órgãos do sentido não são fenômenos no sentido da filosofia idealista: como tais eles não poderiam ser causas! Logo, o sensualismo ao menos como hipótese reguladora, se não como princípio heurístico. – Como? E outros dizem até que o mundo exterior seria obra dos nossos órgãos! Mas então seria o nosso corpo, como parte desse mundo exterior, obra dos nossos órgãos! Mas então seriam os nossos órgãos mesmos – obra de nossos órgãos! Esta é, a meu ver, uma radical reductio ad absurdum [redução ao absurdo]: supondo que o conceito de causa sui [causa em si mesmo] seja algo radicalmente absurdo. Em conseqüência, o mundo exterior não é obra de nossos órgãos - ? (JGB/BM § 16) (Nietzsche:1997, p. 21) Nietzsche volta-se, aqui, para uma das manifestações do materialismo moderno, o sensualismo, e toca num ponto fundamental para a formulação de uma concepção trágica do corpo. Não só o mundo exterior, o real, não deriva de nossos órgãos, como ainda, o nosso corpo mesmo não possui nenhum domínio sobre si mesmo. 8 Por uma filosofia trágica do corpo. Uma filosofia trágica do corpo indica que ele não será tomado, nem numa perspectiva de redução do corpo ao espírito, alma, consciência ou outra entidade metafísica qualquer, e nem como categoria explicativa da natureza, o que significaria submeter a natureza e ele próprio a um sujeito cognoscente, ao homem do conhecimento científico. Tomo de empréstimo alguns argumentos apresentados por Clément Rosset em dois de seus trabalhos, o primeiro, O princípio de crueldade (2002) e, o segundo, A antinatureza, elementos para uma filosofia trágica (1989). O corpo será tomado, também aqui, como uma máscara da natureza. Em seu texto, nascido de sua tese de doutorado e intitulado A anti-natureza, elementos para uma filosofia trágica, Rosset organiza uma espécie de duplo movimento de idéias a partir do tema natureza: 1. Num primeiro movimento – clássico e que conquistou uma certa hegemonia na história do pensamento ocidental – o conceito de natureza foi forjado a partir dos interesses de uma ciência prescritiva e normativa que contribuiu para a criação da ilusão de que as formas de artifício, dentre elas a linguagem, seriam capazes de decifrar o mundo sensível. Que a cópia era expressão da coisa, que a representação era expressão do representado. De que, portanto, o conceito de natureza seria capaz de traduzir fielmente o mundo. 2. Num segundo movimento – marginal e que só circunstancialmente conquistou ares hegemônicos – a natureza foi tomada como potência inapreensível pelo homem. Nesta tradição do pensamento, por mais que a natureza seja o objeto da ciência, a representação construída é tão somente uma pálida e desfigurada lembrança daquilo que insiste em nos escapar. Nascia, assim, a idéia de que todo o conhecimento nada mais é que artifício, de que, portanto, a própria ciência deveria Ter consciência de seu grau de ilusão. Se o corpo é uma das máscaras da natureza, o que pode, então, o corpo? Se, em muitas das dimensões do ascetismo, tentou-se apartar o saber do mundo empírico, sensível 9 – pois se reconhecia nele um mundo do equívoco e do engano – a ciência moderna – e aí o reconhecimento de mérito da filosofia cartesiana – re-introduziu o corpo e a fisiologia, garantindo-lhes legitimidade investigativa. Afirmar, entretanto, que o ato de conhecer é um ato, fundamentalmente, de criação e não de reapresentação, não significa dizer que o real – leia-se aí natureza e corpo – seja uma dimensão que se ofereça ao trabalho do homem como criador. O que, ainda segundo Rosset(2002), caracteriza o real? Há dois importantes valores que o constituem, ele é incognoscível e cruel. A incognoscibilidade do real quer aqui traduzir duas idéias, a primeira, que ele não se deixa capturar – princípio tão antigo quanto os gregos: a verdadeira natureza das coisas gosta de ocultar-se – a Segunda, que o fato do real ser escorregadio e inapreensível não significa dizer que ele é menos real, ou ilusório, ou ainda, sujeito a dominação do homem. Ainda, o real é cruel, pois, por maiores que sejam os esforços lançados pelo homem – esforços para edulcorar, maquiar, mascarar, inventar, criar, idealizar – ele é incapaz de transcendê-lo. Portanto, ainda que imprevisível e incognoscível, o real é uma força presente, imanente e incontornável, e isto lhe confere uma fisionomia cruel. Este é, certamente, um dos maiores dramas humanos. A imprevisibilidade, a incerteza! Não é contra isto tudo que o homem se debate há milênios? O que nos permitiria afirmar que não há nada de mais trágico do que viver. E o corpo é, inegavelmente, a manifestação mais íntima e irrecusável do real. O corpo é, assim, um princípio do real, uma máscara de Dionísio, a expressão do que deveria ser a dimensão mais ‘natural’ do homem. E, ainda assim, ele é um estranho para nós mesmos e nós contribuímos, inegavelmente, no trabalho de torná-lo nossa mais íntima e antípoda sombra. Os momentos ou movimentos históricos que mais se abriram a estes princípios de incerteza foram, também, aqueles que melhor expuseram este homem diante de sua frágil e pálida imagem: a Grécia pré-socrática, os movimentos de pensamento pré-cartesiano, as vanguardas artísticas modernas6 e o nascimento do homem problemático do início do século XX7. Nietzsche, o heróico asceta: o santo, o filósofo e o poeta. Num primeiro movimento da filosofia nietzscheana, o da chamada metafísica do artista, a ascese é evidente e a linguagem, ainda que não a linguagem conceitual e 10 representativa, mas, a poética, metafórica e artística, ocupará o lugar da ausência do corpo8. Mesmo quando a consciência se dá conta de seu alcance de superfície e se reconhece enquanto linguagem artística, ainda assim, o corpo não está lá, ou se está, apresenta-se transfigurado, transtornado, transmutado e fantasiado. Esta idéia levará Nietzsche a se interrogar sobre a força genealógica da ascese e se ela não é condição para a constituição do homem, elemento, portanto, formador do processo de ominização (Rabelo:2002). A partir desta perspectiva não teria havido, na história do homem, um único momento sequer no qual o ascetismo não tenha se feito presente. Mesmo na sua expressão humana mais elevada, nobre, guerreira e aristocrática – como na Grécia de Homero e Arcaica – encontraríamos, lá também, uma incontornável necessidade de justificar a existência: O grego conheceu e sentiu os temores e os horrores do existir: para que lhe fosse possível de algum modo viver, teve de colocar ali, entre ele e a vida, a resplendente criação onírica dos deuses olímpicos. [...] Para poderem viver, tiveram os gregos, levados pela mais profunda necessidade, de criar tais deuses, cujo advento devemos assim de fato nos representar, de modo que, da primitiva teogonia titânica dos terrores, se desenvolvesse, em morosas transições, a teogonia olímpica do júbilo, por meio do impulso da beleza – como rosas a desabrochar da moita espinhosa. De que outra maneira poderia aquele povo tão suscetível ao sensitivo, tão impetuoso no desejo, tão singularmente apto ao sofrimento, suportar a existência, se esta, banhada de uma glória mais alta, não lhe fosse mostrada em suas divindades? (GT/NT § 3)(1992, p.36/7) Notem. Estamos tratando, aqui, da vida que necessita ser justificada. Problema central do processo de ominização. Quem sabe não resida aí o motivo que levou o filósofo alemão, diferentemente do procedimento adotado por uma história da ascese, a não reconhecer no orfismo um momento inaugural da sua gestação? O ascetismo decorreria, 11 pensava Nietzsche, da necessidade de dar um sentido à vida diante do ‘non sense’ e do absurdo que era o viver em sofrimento: Se desconsiderarmos o ideal ascético, o homem, o animal homem, não teve até agora sentido algum. Sua existência sobre a terra não possuía finalidade: ‘para que o homem?’ – era uma pergunta sem resposta; faltava a vontade de homem e de terra; por trás de cada grande destino humano soava, como um refrão, um ainda maior ‘Em vão!’ O ideal ascético significava precisamente isto: que algo faltava, que uma monstruosa lacuna circundava o homem – ele não sabia justificar, explicar, afirmar a si mesmo, ele sofria do problema do seu sentido (GM/GM. III, § 28) (Nietzsche:1998, p. 148/9) Afinal, para que sofrer? O objeto, portanto, não era o sofrimento, mas o seu sentido. Para fazer da vida um fardo suportável, dando um para quê ao sofrimento, é que o ascetismo foi se constituindo, apresentando-se, também, como uma resposta ao niilismo. Já na Segunda Extemporânea, Nietzsche afirmaria: Porque o mundo está aí, porque a humanidade está aí, não deve por enquanto, absolutamente nos preocupar, pois isso seria como se quiséssemos fazer uma piada conosco mesmos: pois a presunção do pequeno verme humano é agora a coisa mais divertida e mais hilariante sobre o palco terrestre. Mas, para que tu, indivíduo, estás aí, eu te pergunto e nenhum de vós nada diz, para justificar, mesmo que a posteriori, o sentido da tua existência, de tal modo que tu mesmo antevejas uma meta, um alvo, um ‘para isso’, um elevado e nobre – não sei de nenhuma meta melhor para a vida do que perecer junto ao que é grandioso e impossível, animae magnae prodigus9 (HL/Co. Ext. II § 9) (Nietzsche:2003, p. 83/4). 12 E, se há algo de grandioso no homem – que o dignifica e o distingue de sua natureza – esta grandeza está intimamente ligada à capacidade de pôr-se a questão: para que estas aí? Questão enobrecedora e, ao mesmo tempo, indicativa de sua ‘doença’, pois, a partir dela, a vida passa a ser avaliada pelo seu sentido. Contudo, é preciso que se diga, Não é a dor que passa a desempenhar um papel inédito no pensamento nietzscheano, ou que o sofrimento vem ocupar um espaço inequívoco na produção simbólica do homem. A dor foi sempre o pano de fundo de toda a criação, ou seja, ela já ocupava o centro da filosofia trágica de Nietzsche. E, se ele retorna à cultura Grega arcaica, é por entender que lá, melhor do que em qualquer outra época, o homem soube dar um sentido artístico e cultural ao seu sofrimento. Retomar as passagens, ao longo dos textos nietzscheanos, desde Da utilidade e desvantagem da história para a vida até a Genealogia da moral – nas quais memória e esquecimento estão intimamente associados ao processo de enfraquecimento do animal em homem – permite-nos identificar os múltiplos sentidos da ascese ao niilismo. A história aparecerá aqui como instrumento de justificação, construção específica de uma linguagem orientada na perspectiva de dar um sentido, uma legitimidade à memória. Corpo: consciência, fisiologia e filosofia em Nietzsche. No Nascimento da tragédia as palavras corpo e ascetismo não aparecem citadas uma única vez. Isto confirma que, no tocante a este período, as relações entre pensamento e corpo não se constituem em temas irrecusáveis da filosofia nietzschenana. Será só com o início da Segunda fase de seu pensamento, que os primeiros indícios da relevância e pertinência do tema começam a dar seus primeiros sinais. Do Humano, demasiado humano, passando por Aurora, o tema vai adquirindo importância até chegar a se constituir em reflexão de abertura da Gaia Ciência. Nesta, Nietzsche fala da gratidão do convalescente, afinal, todo o livro expressa o divertimento após um longo e demorado processo de privação e impotência. A doença a que se refere Nietzsche tem um nome, ela se chama romantismo. Não casualmente, o momento deste reencontro nietzscheano com sua grande saúde é também o momento no qual o corpo passa a assumir papel fundamental em seu pensamento. Mais que isto, é como se Nietzsche tornasse consciente as profundas relações entre saúde e pensamento filosófico, identificando sua obra de juventude a uma 13 espécie declinante de saúde, em analogia a este novo estado inaugural que se abre. A pergunta decisiva que o filósofo apresenta, deverá ser, a partir de agora: ‘foi a doença que inspirou o filósofo?’. Assim, como quem investiga seu próprio movimento filosófico, Nietzsche especula: Num homem são as deficiências que filosofam, num outro as riquezas e forças. O primeiro necessita de sua filosofia, seja como apoio, tranquilização, medicamento, redenção, elevação, alheamento de si; no segundo ela é apenas um formoso luxo, no melhor dos casos a volúpia de uma triunfante gratidão, que afinal tem de se inscrever, com maiúsculas cósmicas, no firmamento dos conceitos (FW/GC § 2) (Nietzsche:2001, p. 10/11). Nietzsche está, sem dúvida alguma, pensando nos seus primeiros textos filosóficos e no romantismo como ‘pensamentos de um convalescente’. Mais que isto, o corpo passa a ser tomado como crivo avaliador do pensamento, pois, o filósofo alemão se interroga, ‘a filosofia, de modo geral, não teria sido apenas uma interpretação do corpo e uma mácompreensão do corpo’ (FW/GC § 2) (Nietzsche:2001, p. 12). Vânia Dutra de Azeredo (1999) afirma que só no livro Aurora aparece claramente o argumento nietzscheano que associa introspecção excessiva do ‘puro espírito’ e degenerescência orgânica, ainda que de uma forma embrionária. Afinal, segundo a autora, é no terceiro período da obra nietzscheana10 que a fisiologia passa a ser concebida como força produtiva de valores: O preconceito do ‘puro espírito’. – Em toda a parte em que predominou a doutrina da pura espiritualidade, ela destruiu, com seus excessos, a força nervosa: ela ensinou a menosprezar, negligenciar ou atormentar o corpo, a desprezar e mortificar o próprio homem por causa de seus instintos; ela gerou almas ensombrecidas, tensas, oprimidas – que acreditavam, além disso, conhecer a causa do seu sentimento de miséria e poder talvez 14 eliminá-lo! “Ela tem de estar no corpo! Ela ainda floresce em demasia!” – desse modo concluíram, enquanto, na verdade, ele elevava protestos e protestos, com suas dores, contra o seu perpétuo escarnecimento. Enfim, um supernervosismo geral e crônico foi a sina daqueles virtuosos espíritos puros: conheceram o prazer apenas na forma do êxtase e de outros precursores da loucura – e o seu sistema atingiu o ápice quando tomou o êxtase como objetivo maior da vida e como gabarito para condenar tudo terreno. (M/A I, ‘O preconceito do puro espírito’) (Nietzsche:2004, p. 37/8) A distância tomada em relação à filosofia de Schopenhauer faz-se evidente, ao mesmo tempo em que indica o processo de demonização do corpo, ou em outras palavras, demonização de uma parte significativa da vida: [...]. Em toda moral ascética o homem venera uma parte de si como Deus, e para isso necessita demonizar a parte restante. (MAI/HHI § 137) (Nietzsche:2000, p. 105/6). Sabe-se que a fantasia sexual é moderada ou quase suprimida pela regularidade das relações sexuais, e inversamente se torna desenfreada e dissoluta com a abstinência ou a desordem nessas relações. A fantasia de muitos santos cristãos foi incomumente obscena; graças à teoria de que esses apetites eram verdadeiros demônios que lhes assolavam o íntimo, não se sentiam muito responsáveis por eles; a este sentimento devemos a franqueza tão instrutiva de suas confissões. [...], a sensualidade teve de ser cada vez mais difamada e estigmatizada, [...] (MAI/HHI § 141) (Nietzsche:2000, p. 108) 15 Aqui se apresenta a sugestiva indicação de se ler a devassidão como criação da santidade e o ascetismo como sombra perene de uma sensualidade extraviada. O momento em que o corpo passa a desempenhar um papel decisivo na filosofia nietzscheana, coincide com o momento de viragem de seu pensamento. Já não mais falamos de uma ‘metafísica de artista’. Inicia-se, aí, uma reversão dos valores e, mais que isto, das relações de dominação entre as forças apolíneas e dionisíacas. Como, então, o corpo se apresenta ao pensamento nietzscheano? O corpo situa-se como ponto de encontro do caos original com a consciência, suporte constitutivo do caosmos. O corpo seria, portanto, fisiologia interpretante, território de negociação entre o caos absoluto do mundo com a simplificação unitária do intelecto. Mas a fisiologia interpretante não é, ainda, a consciência. O homem, tal como todas as criaturas vivas, pensa sem parar, mas, ele não o sabe. O pensamento que se torna consciente transforma a fisiologia interpretante na mais grosseira e superficial expressão do homem, nasce assim a linguagem e os signos de comunicação (Cf. GM/GC. V, ‘Do gênio da espécie’) (Niezsche:2001, p. 247). Há um fosso que aparta o corpo que pensa do pensamento consciente, mas estes, em Nietzsche, não constituem as dimensões daquilo que se tornará consciente e inconsciente. O corpo é o conjunto, a totalidade das percepções, no interior das quais a consciência representa uma pequena parte. O corpo é um mundo subterrâneo de sensações, percepções, pulsões e instintos que na luta interior, constituem a multiplicidade de estados do ‘eu’. Ao se constituir numa expressão rica de sentidos e significados, muito mais extensivo que a consciência, o corpo não se faz dominar, pois é fugidio, avesso às formas de dominação. Submeter o corpo à consciência significaria o mesmo que submetêlo unicamente ao estômago. É no interior destas relações de determinação que opera o conhecimento moderno, desejando submeter, por exemplo, os estados oníricos aos da vigília. A relação, então, entre corpo e consciência pode ser traduzida pela relação entre multiplicidade e unidade: Viver e inventar. – Por mais longe que alguém leve seu autoconhecimento, nada pode ser mais incompleto do que sua imagem da totalidade dos impulsos que constituem seu ser. (M/A II, ‘Viver e inventar’) (Nietzsche:2004, p. 91) 16 A introdução do corpo na filosofia nietzscheana exige de nós um permanente estado de alerta e atenção. Pois, a entrada triunfal dele na cena filosófica constitui-se numa espécie de limite no esforço de transformação dos nossos instintos em animais domésticos. Afinal, é pela consciência que até aqui se desejou estabelecer um controle do animal, seja sobre os outros animais, seja sobre si mesmo. É contra este projeto de domínio ou de auto-domínio que o corpo conspira11. [...] as leis de sua alimentação – Nietzsche se refere à alimentação dos impulsos – permanecem inteiramente desconhecidas para esse alguém. [...] Nossas experiências, como disse, são todas, neste sentido, meios de alimentação, mas distribuídos com mão cega, sem saber quem passa fome e quem está saciado. [...]; se um indivíduo corre, descansa, lê, irrita-se, luta, fala ou exulta, o impulso como que tateia, em sua sede, todo estado em que se acha ele, e, se ali nada encontra para si em geral, tem de esperar e continuar sedento: ainda um momento e ele se debilita, mais alguns dias ou meses de não satisfação e ele murcha, como uma planta sem chuva. Essa crueldade do acaso talvez saltasse aos olhos de maneira ainda mais viva se todos os impulsos fossem radicais como a fome, que não se satisfaz com comida sonhada; mas a maioria dos impulsos, sobretudo os assim chamados ‘morais’, fazem justamente isto – se for permitida a minha conjectura de que nossos sonhos têm precisamente o valor e o sentido de, até certo grau, compensar a casual ausência de ‘alimentação’ durante o dia. Por que o sonho de ontem foi pleno de ternura e lágrimas, o de anteontem foi brincalhão e exuberante, um anterior foi aventureiro e de uma busca sombria e constante? Por que razão nesse desfruto belezas indescritíveis da música, por que pairo no ar e vôo naquele outro, com o enlevo de uma águia, em direção a picos distantes? Tais criações, que dão margem e 17 desafogo aos nossos impulsos de ternura, de humor, de aventura, ou a nosso anseio de música e de montanhas – cada qual terá à mão seus próprios exemplos mais notáveis –: são interpretações de nossos estímulos nervosos durante o sono, interpretações muito livres, muito arbitrárias, de movimentos do sangue e das vísceras, da pressão do braço e das cobertas, dos sons do sino da torre, dos cata-ventos, dos noctívagos e outras coisas assim. Se esse texto, que em geral pouco varia de uma noite para outra, é comentado de maneira tão diversa, se a razão inventiva imagina, hoje e ontem, causas tão diversas para os mesmos estímulos nervosos: o motivo para isso está em que o souffleur [ponto de teatro] dessa razão foi hoje diferente do de ontem – um outro impulso quis satisfazer-se, ocupar-se, exercitar-se, reanimar-se, desafogar-se -, ele estava em sua maré, ontem foi a vez de outro. – A vida de vigília não tem essa liberdade de interpretação que tem a vida que sonha, é menos inventiva e desenfreada – mas devo acrescentar que nossos impulsos, nas horas despertas, igualmente não fazem senão interpretar os estímulos nervosos e, conforme suas necessidades, estabelecer as ‘causas’ deles? que não há diferença essencial entre sonhos e vida desperta? que, mesmo comparando estágios de cultura bem diversos, a liberdade de interpretação desperta, em um, não fica atrás da liberdade do outro em sonhos? que também nossos juízos e valorações morais são apenas imagens e fantasias sobre um processo fisiológico de nós desconhecido, uma espécie de linguagem adquirida para designar certos estímulos nervosos? que tudo isso que chamamos de consciência é um comentário, mais ou menos fantástico, sobre um texto não sabido, talvez não ‘sabível’, porém sentido? (Nietzsche:2004, p. 91/2/3) (M/A II, ‘Viver e inventar’) 18 A relação entre consciência – tomada aqui como o campo constitutivo do domínio, pela linguagem, dos impulsos – e o corpo – entendido como território da manifestação e circulação das energias vitais – manifesta-se obediente às formas de articulação entre o uno e o múltiplo. Há, entretanto, entre estes dois extremos, a formação de outros territórios interpretantes. Sendo a consciência o mais tosco instrumento de interpretação do corpo, na medida em que, ela aboli a luta, o conflito e a disputa que se dá em nossa fisiologia em nome do consenso entre as partes. Assim, afirma o filósofo alemão, os estado oníricos são interpretantes mais autorizados de nosso corpo exatamente porque não nos impõe a tirania do uno. A consciência no seu árduo trabalho de tradução da experiência vital em linguagem comunicável, expressa-se através de sons, signos, sentidos e, finalmente, em conceitos. O corpo, indomado, indomável, na sua mais ‘enlouquecida’ profusão de sentidos, impõe-se como campo desorganizador. Nesta longa agonística, o corpo oferece suporte ao trabalho de interpretação, ainda que ele mesmo não reconheça os sentidos que lhe são debitados: – Tomemos uma experiência trivial. Suponhamos que um dia, passando pelo mercado, notamos que alguém ri de nós: conforme esse ou aquele impulso estiver no auge em nós, este acontecimento significará isso ou aquilo para nós – e, conforme o tipo de pessoa que somos, será um acontecimento bastante diferente. Uma pessoa o toma como uma gota de chuva, outra o afasta de si como um inseto, outra vê aí um motivo para brigar, outra examina sua própria vestimenta, para ver se algo nela dá ensejo ao riso, outra reflete sobre o ridículo em si, outra sente-se bem por haver contribuído, sem o querer, para a alegria e luz de sol que há no mundo – e em cada caso houve a satisfação de um impulso, seja o da irritação, o da vontade de briga, da reflexão ou da benevolência. Esse impulso agarrou o incidente como uma presa: por que justamente ele? Porque estava à espreita, sedento e faminto. [...] – O que são, então, nossas vivências? São muito mais aquilo que nelas pomos do que o que nelas se acha! Ou 19 deveríamos até dizer que nelas não se acha nada? Que viver é inventar? (M/A II, ‘Viver e inventar’) (Nietzsche:2004, p. 93) Por fim, Blondel (1986) reconhece que, ao contrário de se perguntar o que é o corpo, deve-se perguntar o que é interpretar. Pois interpretar é quase um fundamento ontológico na filosofia de Nietzsche. Maior a sua vontade de potência, maior a sua capacidade de assimilação da diferença: temos aí a primeira metáfora interpretativa, a metáfora gastroenterológica, e o corpo é tomado pela sua condição digestiva. O homem forte é capaz de digerir seus atos da mesma forma que está à altura de digerir seus alimentos. Em Nietzsche, o corpo não é uma máquina, mas uma organização política instável, que se assenta num permanente confronto de forças que nunca encontra termo ou equilíbrio: temos aqui a segunda metáfora, a política. Todos os sentidos explicativos criados pelo homem nascem do desejo de dominar, de submeter, e cada sentido possui a sua própria perspectiva, seu fim e suas metas: assim, resumidamente, apresenta-se a terceira metáfora, a filológica. Se há, no entanto, neste que seria o segundo período da filosofia nietzscheana, a recusa explícita de sua metafísica anterior, seu romantismo, há também um novo impedimento à emergência do corpo. A doutrina do eterno retorno – como princípio cosmológico e não mais ético, da forma como tal já se fazia reconhecer, por exemplo, na Segunda Extemporânea – constitui-se numa nova forma de mitigar o corpo, na medida em que ele se vê enredado numa inaugural metafísica: a tese materialista do eterno retorno (Cf. Safranski:2001, p. 213). Nietzsche estava, neste momento de sua biografia intelectual, em busca de um novo paradigma de ciência. Um conhecimento não mais perspectivista, fundado no ‘eu’, nem um conhecimento amparado no altruísmo do ‘tu’: ‘Para além do ‘eu’ e ‘tu’! Sentir cosmicamente’ (Nietzsche apud Safranski: 207). Sentir cosmicamente exige, antes de mais nada, romper com a tradicional divisão da natureza orgânica e inorgânica: desnaturalizar a natureza e, a partir daí, naturalizar o homem. Este é o ponto de partida para este ‘sentir cosmicamente’. Ou seja, se a filosofia nietzscheana libera-se de seu romantismo adolescente, abrindo desta forma novos territórios de expressão do corpo no pensamento, por outro, um 20 novo obstáculo a ele se apresenta: o eterno retorno como princípio cósmico. E ‘este obstáculo’ perpetuar-se-á até o final de sua chamada ‘vida intelectual consciente’. Na passagem do eterno retorno como princípio ético – presente na Segunda Consideração Intempestiva12 – para a doutrina do eterno retorno – da qual Zaratustra é seu principal porta voz13 – encontramos a figura do ‘insensato’. E, se é através da figura do ‘louco’ que Nietzsche anuncia a ‘morte de deus’, será através da imagem de Zaratustra que o corpo se apresenta como o lugar da ‘grande razão’: Quero dizer a minha palavra aos desprezadores do corpo. Não devem, ao meu ver, mudar o que aprenderam ou ensinaram, mas, apenas, dizer adeus ao seu corpo – e, destarte, emudecer. ‘Eu sou corpo e alma’ – assim fala a criança. E por que não se deveria falar como as crianças? Mas o homem já desperto, o sabedor, diz: ‘Eu sou todo corpo e nada além disso; e alma é somente uma palavra para alguma coisa no corpo’. O corpo é uma grande razão, uma multiplicidade com um único sentido, uma guerra e uma paz, um rebanho e um pastor. Instrumento de teu corpo é, também, a tua pequena razão, meu irmão, à qual chamas ‘espírito’, pequeno instrumento e brinquedo da tua grande razão. ‘Eu’ – dizes; e ufanas-te desta palavra. Mas ainda maior – no que não queres acreditar – é o teu corpo e a sua grande razão: esta não diz eu, mas faz o eu (Za/ZA I, ‘Dos desprezadores do corpo’) (Nietzsche:1998, p. 51). Enormes problemas apresentam-se aí! O corpo passa a desempenhar um papel chave e estratégico. A ele estará associada a imagem da ‘grande razão’ e aquilo que o homem ocidental chama de ‘espírito’ articula-se ao corpo como uma espécie de máscara menor. O corpo em Nietzsche é tomado como ponto de partida, reunindo a um só tempo as 21 dimensões do uno e do múltiplo. A consciência, como um raio e um relâmpago, apresentarse-ia como um momento fugaz, uma espécie de instante diante da eternidade. Nietzsche opera uma radical mudança de perspectiva na forma como o cânone tradicional tratou, no ocidente, as relações entre corpo e espírito. Há, no pensador alemão, uma forma muito particular de se apropriar da ‘alma’. Ela não será mais, como gostaria a tradição filosófica judaico-cristã, o lugar privilegiado da unidade, expressão de identificação do ‘eu’ consigo mesmo e de reconciliação das máscaras na identidade do espírito. Da mesma forma como o corpo é constituído por uma infinidade de sentidos e destinos fisiológicos, para cada uma destas metas, há a formação de uma consciência; unidade de organização na pluralidade de sujeitos, esta é a imagem da alma que melhor expressa o corpo como metáfora (http://www.rubedo.psc.br/artigosb/cursnite.htm) Entretanto, isto que dá organização ao corpo, é, ao mesmo tempo, um estado de permanente mutação. A organização obedece a desejos ‘involuntários’ que não se dão a conhecer; são unicamente processos, migrações, e deles conhecemos unicamente seus efeitos de superfície. O que, de certa forma, obriga o pensamento a reavaliar seus propósitos: toda a filosofia é uma espécie de mal-entendido sobre o corpo. É possível fazer filosofia e, ao mesmo tempo, não transformá-la num mal-entendido? O corpo faz filosofia? Corpo: linguagem e filosofia em Nietzsche. Considerando a já consagrada recepção do pensamento nietzscheano – que se limita a organizar o conjunto dos textos do autor em três fases14, sendo que a última destas se concluiria com o chamado ‘colapso mental’ do filósofo alemão em 1889 – gostaria, ainda que momentaneamente, de colocá-la em suspeição. Não reconhecer o silêncio nietzscheano, seus onze últimos anos de existência, como parte integrante de sua obra, não significa oferecer um valor demasiado grande ao trabalho da consciência, das formas consagradas pela linguagem, da obra metódica e reflexiva que em tantos e tantos momentos o próprio Nietzsche suspeitava? Não significa manter intocáveis princípios que, há mais de um século, a própria teoria do conhecimento criticou: ‘onde há loucura, não há obra’15? Para o desenvolvimento de um tal suspeição, há inúmeras passagens da ‘obra lúcida’ do filósofo discípulo de Dioníso. Afinal, ainda que sem filosofia, sem rima e sem métrica, sem prosa e sem verso, sem método e sem escrita, sem deus e sem gramática, há a 22 pluralidade de sentidos de um corpo que nos permite, à luz de seu futuro projetado, interpretar. Podemos até reconhecer em inúmeras destas passagens a voz do ‘profeta’, ainda dominado por aquele daimon que Cristopher Türke (1993) chamou de ‘a loucura sob o domínio e a mania da razão’: O homem louco. – Não ouviram falar daquele homem louco que em plena manhã acendeu uma lanterna e correu ao mercado, e pôs-se a gritar incessantemente: ‘Procuro Deus! Procuro Deus!’?(FW/GC III, ‘O homem louco’) (Nietzsche:2001, p.147) É sob a máscara da insensatez que o mais terrível se anuncia ao homem das trocas fáceis – o homem do mercado – e dentre estes os ateus e materialistas: – E como lá se encontrassem muitos daqueles que não criam em Deus, ele despertou com isto uma grande gargalhada (FW/GC III, ‘O homem louco’) (Nietzsche:2001, p. 147). Pois, nem mesmo o maior dentre seus assassinos, entendeu a grandeza de seu ato: Como conseguimos beber inteiramente o mar? Quem nos deu a esponja para apagar o horizonte? Que fizemos nós, ao desatar a terra de seu sol? Para onde se move ela agora? Para onde nos movemos nós? Para longe de todos os sóis? Não caímos continuamente? Para trás, para os lados, para a frente, em todas as direções? Existem ainda ‘em cima’ e ‘embaixo’? Não vagamos como que através de um nada infinito? Não sentimos na pele o sopro do vácuo? Não se tornou ele mais frio? Não anoitece eternamente? Não temos que acender lanternas de manhã? Não ouvimos o barulho dos coveiros a enterrar Deus? Não sentimos o cheiro da putrefação divina? – também os deuses apodrecem! Deus está morto! (FW/GC III, ‘O homem louco’) (Nietzsche:2001, p. 148) 23 O homem perdeu, com a morte de Deus, o seu centro. Mas ele mesmo não está à altura de entender o seu feito. Possivelmente, o próprio Nietzsche, não estivesse. Teriam que se passar anos para que, no silêncio da máscara do insensato, o devir dionisíaco nietzscheano fosse despertado. Assim, tomar o corpo como a grande razão, constitui, certamente, um paradoxo. O corpo como grande razão nos remete ao perigoso terreno do subsolo que deveria permanecer oculto, pois, ele inaugura uma espécie de autocracia do crime; aqui não há organização que se sustente, não há regime possível, não há previsibilidade, não há controle, não há lógica, não há sistema, não há linguagem. Quem, por exemplo, já experimentou traduzir em linguagem a experiência de seu próprio corpo? Não é isto o que nos é exigido numa consulta médica? Interpretamos sem conseguirmos nos livrar da impressão de havermos cometido alguma espécie de traição. Um sentimento de frustração originado da infidelidade e, ao mesmo tempo, uma conformação de que não poderíamos ter feito diferente. Não há razão capaz de suportar tamanha desmesura e, ao mesmo tempo, os apontamentos deste subsolo: ‘e por vezes a própria loucura é a máscara que esconde um saber fatal e demasiado seguro’ (Nietzsche apud Deleuze:1990, p. 82) Nietzsche, também ele, acreditou, por um instante, nos ouvidos do mercado. Mas por que sob a máscara do louco se anuncia ‘a morte de Deus’? Justamente sob a máscara que anos mais tarde ele próprio deveria carregar? E, pouco a pouco, as ilusões foram se partindo. O ‘véu de Maia’ foi se desfazendo: a arte e a cultura, a moral, a ética, o homem, os ídolos, a linguagem e a gramática. Restou, por fim, a mais poderosa de todas as máscaras, mas, ao mesmo tempo, a de menor poder simbólico para o homem gregário, surda, informulável e inaudita, a máscara de Dioniso. Mas a potência do dionisíaco acompanhou, como uma sombra, uma a uma, as auroras nietzscheanas. É possível perceber os vestígios de sua presença, constante, perene. Em Aurora, ela se faz ver sob a máscara do crepúsculo, de algo que se encontra na iminência de seu silêncio, até que ele encontre seu próprio silêncio: Dentro do grande silêncio. – Aqui está o mar, aqui podemos esquecer a cidade. Os seus sinos ainda tocam neste momento a Ave Maria – esse ruído sombrio e tolo, porém doce, no cruzamento do 24 dia com a noite –, mas apenas por mais um instante! Agora tudo se cala! O mar se estende pálido e cintilante, não pode falar. O céu traz seu eterno e silencioso espetáculo vespertino em cores rubras, verdes e amarelas, não pode falar. As pequenas falésias e recifes que entram no mar, como que buscando o local mais solitário, nenhum deles pode falar. Essa mudez enorme, que subitamente nos toma, é bela e aterradora, diante dela o coração se inflama. – Oh, a hipocrisia dessa muda beleza! Como poderia falar bem, e mal também, se apenas quisesse! Sua língua atada e a sofredora ventura em seu rosto são uma perfídia, querem zombar da nossa simpatia! – Pois seja! Não me envergonho de ser a zombaria de tais poderes. Mas tenho compaixão de você, natureza, porque tem de silenciar, ainda quando é apenas sua malícia que lhe prende a língua: sim, tenho compaixão de você por sua malícia! – Ah, faz-se ainda mais silêncio, e novamente se inflama meu coração: apavora-se ante uma nova verdade, também não pode falar, ele próprio zomba juntamente, se a boca exclama algo nessa beleza, ele próprio desfruta sua doce maldade em silenciar. A fala, e até o pensamento, tornam-se para mim odiosos: não escuto o erro, a ilusão, o espírito delirante a rir por trás da (sic) cada palavra? Não tenho que zombar de minha compaixão? Zombar de minha zombaria? – Oh, mar! Oh, noite! Vocês são maus instrutores! Ensinam o ser humano a parar de ser humano! Deve ele entregarse a vocês? Deve tornar-se, como são agora, pálido, brilhante, mudo, imenso, repousando em si mesmo? Elevado sobre si mesmo? (M/A V, ‘Dentro do grande silêncio’) (Nietzsche:2004, p. 221/2) Era preciso tempo. O mesmo tempo que o ‘louco’ concede aos seus contemporâneos, ele também, generosamente, concede-o ao próprio Nietzsche. Mas, de 25 todo modo, não é assim que os contemporâneos descrevem Nietzsche após 1889: pálido, imenso, mudo, repousando em si mesmo? O que, até aqui, a recepção do pensamento nietzscheano tem feito – raras exceções16 – nada mais é do que valorizar a saúde como potência niveladora do eu, entendendo a doença como singularidade exacerbada: Nietzsche, doente, é único, sua doença é um escândalo que nenhum pensamento gregário pode explicar ou admitir (Dias:2002, p. 265). A linguagem como símbolo social investe o corpo de sentidos, ato de criação, mas também de dominação17. Há uma dimensão e uma potência do inaudito que precede a linguagem e se manifesta, surda e inominavelmente, para tudo aquilo que ela ainda não foi criada. Não casualmente chamamos este hiato, este intervalo ocupado por um grande silêncio de loucura: ‘o informulável é a doença do pensamento’ (Lévi-Strauss apud Kehl:2003, p. 247) e, ao mesmo tempo, a mais plena manifestação do existir. E, sintomaticamente, o corpo nietzscheano adoeceu. Mas, se falamos do padecimento do corpo nietzscheano, assim procedemos por adotarmos uma dada perspectiva: olhar o dionisíaco a partir das lentes do apolíneo, olhar a barbárie pela civilização, olhar a loucura pela sanidade, olhar o trágico pelo otimismo ou pessimismo, olhar o corpo pela consciência, olhar o silêncio pela linguagem. Há uma vontade de redenção que inspira os canonizadores do pensamento nietzscheano. E, se nos propomos a falar sob inspiração de um outro ponto de vista, só podemos fazê-lo adotando aquele que foi o método caro ao filósofo alemão: a transvaloração dos valores e a possibilidade de experimentação de outras perspectivas. Seria, de partida, necessário admitir a possibilidade de um quarto período ‘produtivo’ da obra nietzscheana, período este que se inauguraria em 1889 e se estenderia até 1900. As cartas que anunciam a ‘loucura’ nietzscheana18 são a expressão do fluxo migratório da vida e da existência como permanente vadiar, através delas Nietzsche oferece fisionomia à idéia do eterno retorno do diferente. As missivas inauguram, ainda, o período do triunfo do corpo e a filosofia se cala definitivamente: a morte da linguagem traduz o triunfo desta grande razão, não mais uma razão mitigada, envergonhada, mas uma razão que adquire a potência do divino e se faz assim em potência dominante. O ‘tornar-se’ nietzscheano indica um movimento em direção a, uma superação de si e do humano, da existência nas formas que configuram o homem: o homem se faz deus, um deus de si e para 26 si. As analogias com os livros dos hebreus são múltiplas, a começar pela etimologia da palavra deus. Deus – criador – nasce por afirmação: ‘eu sou aquele que sou’. O homem – criatura – pelo contrário ‘é aquele que não é’. E deus – na ordem dos livros que traduz a cronologia de sua biografia – também se cala: gênesis, a destruição e vingança e, por fim, o silêncio. O silêncio, nas palavras do filósofo, ensina o ser humano a parar de ser humano! O processo de constituição daquele que será o silêncio final e derradeiro de Deus – eu sou aquele que sou – articula-se ao esforço do filósofo em criar uma filosofia que seja capaz de transcender a condição humana – num movimento de superação desta condição – tornando-se o que se é – superando assim aquilo que nos mantém atados ao último homem: a linguagem, o verbo, a gramática e o comunicável. A linguagem aparece articulada ao homem gregário (Mosé:2005), pois, se no momento de seu nascimento o som traduz o espanto, a euforia, a experiência original, única e absolutamente individualizada, ele deve rapidamente se transmutar em palavra e esta em conceito. O homem faz da linguagem o instrumento necessário para pôr-se em acordo rápido e, em meio ao perigo, evitar os desentendimentos (JGB/BM IX, ‘O que é, afinal, a vulgaridade?’ (Niezsche:1992, p. 182). Em o Crepúsculo dos ídolos Nietzsche afirma: Já não nos apreciamos suficientemente quando nos comunicamos. As nossas experiências genuínas de nenhum modo são loquazes. Não poderiam, ainda que quisessem, comunicar-se, porque lhes falta a palavra. Daquilo para que temos palavras encontramo-nos já também fora. Em todo o falar há um grão de desprezo. A linguagem, parece, inventou-se só para o medíocre, o comum comunicável. Pela linguagem vulgariza-se já quem fala. (GD/CI ‘Incursões de um extemporâneo’ § 26) (Nietzsche:1988, p. 86/7) Poderíamos reconhecer aí um paradoxo que acompanhou permanentemente o filosofar de Nietzsche. O que decididamente lhe faltava, no seu trabalho de destruição da metafísica, era a linguagem apropriada. O que no fundo ele desejava, ainda não estava em condições de formular, afinal, a própria linguagem é metafísica: 27 Nossos mais arraigados valores metafísicos são exatamente aqueles dos quais nós nos livramos mais dificilmente, supondo que sejamos capazes de nos livrar – estes valores que se incorporaram à língua e às categorias gramaticais e se tornaram mesmo indispensáveis, a ponto, que parece que nós deveríamos deixar de pensar se renunciássemos a esta metafísica19 (Nietzsche apud Blondel:1986, p. 276). Aqui se entende, com toda a clareza, a idéia nietzscheana de que Deus, por maiores os esforços realizados para assassiná-lo, sobrevive em sua, quase, indestrutível fortaleza: a gramática. A linguagem é, ela mesma, metafísica, incapaz de traduzir o passado, o presente e o vir-a-ser e, por fim, confissão de nossa ignorância maior: a linguagem nasce para dar conta do que permanece desconhecido. Nietzsche insistirá naquele que poderá ser seu esforço maior. De um lado, reconhecendo as limitações da linguagem em seu trabalho de criação do homem gregário, de outro, na possibilidade de transformá-la em potência criativa e inaugural de vida. No limite, o corpo é, muito provavelmente, a verdade da linguagem (Blondel:1986, p. 278). Assim poderia ser enunciada esta nova expressão do paradoxo. Nela, não é a linguagem que detém a verdade sobre o corpo, pelo contrário, é o corpo que detém a verdade da linguagem. Os instrumentos da linguagem não são capazes de anunciá-la, assim, as palavras estariam a serviço das funções fisiológicas, porém, jamais esgotariam estas últimas. O problema das palavras e da linguagem persiste e se constitui numa constante em sua obra: Somente enquanto criadores! – Eis algo que me exigiu e sempre continua a exigir um grande esforço: compreender que importa muito mais como as coisas se chamam do que aquilo que são. A reputação, o nome e a aparência, o peso e a medida habitual de uma coisa, o modo como é vista – quase sempre uma arbitrariedade e um erro em sua origem, jogados sobre as coisas com uma roupagem totalmente estranhas à sua natureza e mesmo 28 à sua pele –, mediante a crença que as pessoas neles tiveram, incrementada de geração em geração, gradualmente se enraizaram e encravaram na coisa, por assim dizer, tornando-se o seu próprio corpo: a aparência inicial termina quase sempre por tornar-se essência e atua como essência! Que tolo acharia que basta apontar essa origem e esse nebuloso manto de ilusão para destruir o mundo tido por essencial, a chamada ‘realidade’? Somente enquanto criadores podemos destruir! – Mas não esqueçamos também isto: basta criar novos nomes, avaliações e probabilidades para, a longo prazo, criar novas ‘coisas’(FW/GC II, ‘Somente enquanto criadores’) (Nietzsche:2001, p. 96). Mesmo na criação, a linguagem denuncia suas limitações. Diante do impasse, a única solução poderia ser o silêncio e, certamente, será sobre ele que recairá a ‘escolha’ do último período produtivo da obra nietzscheana. O silêncio será tomado como um elemento precioso, mesmo quando o filósofo escreve. Como se o corpo se manifestasse nas pausas, nas suspensões, no riso que trai a sentença, na galhofa que denuncia a sisudez, numa lágrima que escorre por um não sei o quê. Na biografia de Nietzsche, Curt Paul Janz (1985) refere-se à polêmica em torno do ‘colapso mental’ do filósofo alemão. Uma das perspectivas deste debate – que tem na figura de Julius Kaftan seu mais eminente representante – afirma que a ‘doença mental’ nietzscheana decorre da incapacidade deste de superar o conflito interior aberto com o anúncio da ‘morte de deus’ e que se desenvolveu num anti-cristianismo posterior. Este mesmo argumento aparece, com outra roupagem, inúmeras vezes quando o que está em jogo é o pensamento nietzscheano: o senso comum – e aqui me refiro a uma espécie particular de senso comum, o senso comum acadêmico – olha com desconfiança todo pensamento que se funda e se inspira na filosofia de Nietzsche. Como se a simples inspiração trouxesse riscos para aquele que nela se apóia. Como se seu ulterior destino fosse a própria confirmação do equívoco filosófico: a decorrência de uma espécie de crime do pensamento. Gostaria de sustentar um elemento da tese aqui esboçada, mas, invertendo seus pressupostos. 29 Sim, há no ‘colapso mental’ nietzscheano, uma manifestação de seu pensamento filosófico. Seu silêncio, sua ‘doença mental’, sua ‘loucura’, seu ‘castigo’ é parte de sua obra, e não um momento a ser esquecido. Trata-se do momento mais contundente da presença do corpo e, em Nietzsche, os testemunhos médicos o afirmam, não se trata de uma morte vegetativa. O que resta é a inquietante presença do corpo carregada pela multiplicidade de sentidos que o atravessam. Mas um corpo que não quer mais comunicar! A tragédia nietzscheana, segundo Rosa Maria Dias, é que: ele preferiu tornar-se louco a encontrar um equivalente para a loucura. [...] O delírio como perda da identidade, a loucura como esmaecimento da razão não marcam o desmascaramento de Nietzsche, mais sua realização suprema (Dias:2002, p. 267). The body between language and silence: Nietzsche’s case Abstract: Taking the body as a key category of the thought, it is intended to observe the way it starts to perform in the nietzschean philosophy. The developments that the emergence of the body operates in the articulations between language and silence are also evaluated. Based on these initial considerations, the so-called delirious period of Nietzsche’s existence (1889-1900) is taken not as a circumstantial moment to be forgotten, but as – among so many perspectives – a full manifestation of his work and his ‘becoming what one really is’. Key words: History of thought, Nietzsche, body, language and silence. 30 Notas 1 O que foi alterado em cada conjuntura, não foi a presença e a ausência de cada uma destas respostas, mas a predominância de uma sobre as outras. Ou seja, os termos do problema mantiveram-se, ocorrendo unicamente uma alteração das relações de força entre eles. 2 Devo, a título de esclarecimento preliminar, chamar a atenção para o fato de que mesmo no campo de teoria afirmadora e explicativa do corpo, encontraremos, paradoxalmente, uma manifestação muito particular do ascetismo, se é que uma certa dose de ascetismo não é condição das mais rudimentares formas de vida civilizada (Rabelo:2002). 3 Para as várias definições utilizadas em meu texto e para avaliar outras tantas transformações etimológicas dos termos, indico o trabalho de Rodrigo Bueno (2002), Nietzsche e os ascetismos. 4 Pode-se dizer que o ‘orfismo’ manifesta seus traços característicos já desde o século VI a.C.. Nascido do mito de Orfeu, a concepção do orfismo estabelece os pressupostos míticos de uma origem divina e imortal da alma, que se conserva, mesmo diante de sua nova configuração terrena, como uma alma agora encarnada. 5 Titus Lucretius Carus, poeta romano do século I a.C., deixou um longo poema inacabado chamado Da Natureza e é considerado um filósofo da escola epicurista. 6 Assim, a crise de representação que se abate sobre a figuração do corpo na virada do século XIX para o XX, incorpora esta problematização da consciência diante do corpo (Moraes:2002). Consultar o trabalho de história das idéias de Franklin Baumer, O Pensamento Europeu Moderno, dos séculos XVII ao XX (Baumer:1990). 7 8 Nietzsche afirma, já em Verdade e mentira num sentido extra-moral, um texto póstumo e portador de idéias seminais como reconhece o próprio autor: O que sabe propriamente o homem sobre si mesmo! Sim, seria ele sequer capaz de alguma vez perceber-se completamente, como se estivesse em uma vitrina iluminada? Não lhe cala a natureza quase tudo, mesmo sobre seu corpo, para mantê-lo à parte das circunvoluções dos intestinos, do fluxo rápido das correntes sanguíneas, das intricadas vibrações das fibras, exilado e trancado em uma consciência orgulhosa, charlatã! (WL/VM § 1) (Nietzsche:1978, p. 46) 9 Que sacrifica a sua vida. 10 Nota-se que o livro Gaia Ciência encontra-se, na biografia intelectual de Nietzsche, na fronteira, na zona de passagem do segundo para o terceiro período de sua obra. 11 Adotando como referência o ensaio de Volnei E. dos Santos, Por uma filosofia da distância (2006), poderíamos tomar a figura do Espírito livre, criada por Nietzsche, no processo radical de sua constituição e de seu tornar-se. Assim, o Espírito livre, inicialmente inspirado na figura do homem Schopenhauer, poderia ter conhecido sua última metáfora na chamada ‘loucura dionisíaca’. 12 No texto em que tece considerações sobre o pensamento histórico no século XIX e na Alemanha, em particular, Nietzsche parte de uma formulação decisiva para a construção de seu diagnóstico, diz ele: ‘Quem perguntar a seus conhecidos se eles desejariam atravessar uma vez mais os últimos dez ou vinte anos de suas vidas perceberá, com facilidade, qual deles está preparado para aquele ponto de vista supra-histórico: com certeza, todos responderão “não”!, mas eles irão fundamentar diversamente este “não”! (HL/Co. Ext II, § 1) (Nietzsche:2003, p. 14) 13 Se a ‘morte de deus’ é um peso que Zaratustra deve suportar, a doutrina do eterno retorno está destinada a ser seu lenitivo (Franck:2005). Se esta é uma interpretação corrente entre os comentadores da obra nietzscheana é preciso que se diga que há outras. Existem os que consideram o eterrno retorno como expressão máxima da morte de deus, dentre estes, destacaria Pierre Klossovski ‘Nietzsche e o círculo vicioso’ e Gilles Deleuze ‘Nietzsche e a filosofia’. 14 Há, no processo de recepção da obra nietzscheana, uma divisão desta em três fases: a primeira situar-se-ia entre os anos de 1870 a 1876 e reúne os textos que se inauguram com o Nascimento da Tragédia e se estende até as Considerações Extemporâneas, a segunda, abrange os anos de 1876 a 1882 e se inicia com o Humano, demasiado Humano até Gaia Ciência, a terceira, percorre os anos de 1882 a 1889 e se inaugura com Assim falou Zaratustra até o chamado ‘colapso mental’ em janeiro de 1889. Esta periodização tem um efeito didático poderoso, ao mesmo tempo, permite organizar o pensamento em torno de temas ou eixos temáticos fundamentais, mas uma tal divisão permanece sendo objeto de debate entre os comentadores, pois, trata-se de uma operação que visa sistematizar um pensamento avesso aos sistemas: ‘não sou limitado o bastante para um sistema – nem mesmo para meu sistema [...]’ (Nietzsche apud Marton:2000, p. 192) 31 15 Se tomássemos a idéia formulada por Foucault (1992), da morte do autor e da obra, tal como a expressa em O que é um autor?, seríamos obrigados a reconhecer que no ponto em que se instaura uma pluralidades de eus, neste ponto, não teríamos obra, na medida em que, se o autor produz um pensamento uno, a obra é o suporte de manifestação desta unidade. Deste ponto de vista, a obra não comporta a multiplicidade de perspectivas, o conceito não foi criado para um tal destino. Mas, se assim é, Nietzsche não é produtor de obra, do começo ao fim de sua produção. Desde, pelo menos, o final do século XIX e início do XX tem-se apontado – tese esta sustentada de forma mais enfática pela nascente psicanálise – para a idéia de que onde há loucura também há obra (Cf. Dantas:2002) Das duas uma, ou a idéia de obra – preso à sua gênese platônica e publicizada ao povo através do método de exegese cristã – não se aplica ao pensamento nietzscheano, ou o conceito se abre a re-significações e pode ser empregado na interpretação de escritores como Nietzsche. 16 Dentre estas exceções, citaria o trabalho inaugural de Pierre Klossowski Nietzsche e o circulo vicioso (2000). 17 A revolução linguística nos indicou que a linguagem é produtora do homem. À pergunta, o que precede a linguagem, tem como estratégia, exigir o reconhecimento da expressão simbólica na origem de tudo que diz respeito ao homem. A perspectiva trágica nietzscheana, dando um passo aquém, situa o problema no campo do paradoxo. Afirmar a linguagem como produtora do homem requer oferecer uma solução ao paradoxo, como se para aquém deste momento nada pudesse ser afirmado. Do ponto de vista do homem do conhecimento, a expressão simbólica, a linguagem é seu fardo constitutivo. Mas admitindo que a existência é paradoxal, pode-se afirmar que um real e um animal – ambos incognocíveis – também encontram-se na origem do homem simbólico. 18 Neste período de sua vida, Nietzsche dialoga com seus próximos através de cartas breves pelas quais assume múltiplas personalidades re-significando figuras afamadas ou infames da história, desde Buda, Jesus Cristo, Voltaire e Napoleão, até Prado e Lesseps: O que é desagradável e constrange a minha modéstia é que todos os nomes da história, no fundo, sou eu (Nietzsche apud Dias:2002, p. 265). 19 Notre plus vieux fonds métaphysique est celui dont nous nous débarrasserons en dernier lieu, à supposer que nous réussissions à nous em débarrasser – ce fonds qui s’est incorpore à la langue et aux catégories grammaticales et s’est rendu à ce point indispensable qu’il semble que nous devrions cesser de penser, si nous renoncions à cette métaphysique. 32 Referências bibliográficas 1. ARAÚJO JUNIOR, José Carlos. A metamorfose encarnada: travestimento em Londrina (1970-1980). Dissertação de Mestrado. Campinas:Unicamp, 2006. 2. AZEVEDO, Vânia Dutra. ‘O ideal ascético e a filosofia: confluências fisiológicas’. In: Revista Humanas, número 2, setembro de 1999. Londrina:Eduel, 1999. 3. BAUMER, Franklin Le Van. O Pensamento Europeu Moderno. Trad. Maria Manuela Alberty (2 volumes). Lisboa:Edições 70, 1990. 4. BLONDEL, Eric. Nietzsche, le corps et la culture. Paris:Presses Universitarires de France, 1986. 5. BRANDÃO, Junito de Souza. Mitologia Grega. Volume II. Petrópolis:Vozes, 1991. 6. DANTAS, Marta. ‘Os filhos de Dioniso: arte e loucura no pensamento de Jean Dubuffet’ in: Os rastros do trágico. (Org. Volnei E. dos Santos). Londrina:Eduel, 2002. 7. DELEUZE, Gilles. Nietzsche e a filosofia. Tradução de Antonio M. Magalhães. Porto (Portugal):Rés, s/d. 8. _______________. Nietzsche. Tradução Alberto Campos. Lisboa (Portugal):Edições 70, 1990. 9. DIAS, Rosa. ‘Pierre Klossowski e a euforia de Nietzsche em Turim’ in: Nietzsche e Deleuze: que pode o corpo. (Orgs. LINS, Daniel & GADELHA, Sylvio) Rio de Janeiro:Relume Dumará, 2002. 10. FOUCAULT, Michel. O que é um autor? Trad. José A. Bragança de Miranda & António Fernando Cascais. Lisboa:Passagens, 1992. 11. FRANCK, Didier. ‘As mortes de Deus’. Tradução Alexandre Filordi de Carvalho, in: Cadernos Nietzsche 19:7-42, 2005. 12. GIACOIA JUNIOR, Oswaldo. ‘Corpos em fabricação’ in: Revista Natureza Humana 5(1): 175-202, jan-jun. 2003. 13. ________________________. ‘5 aulas sobre Nietzsche’ in: http://www.rubedo.psc.br/artigosb/cursnite.htm 14. GIANNATTASIO, Gabriel. Próxima parada: o haras humano. Londrina:Atritoart, 2004. 15. GREINER, Christine. O corpo: pistas para estudos indisciplinares. São Paulo:Annablume, 2005. 33 16. JANZ, Curt Paul. Nietzsche. Biographie. Tomo III. Lês dernières années, la maladie. Traduit de l’allemand par Pierre Rusch et Michel Vallois. Paris:Gallimard, 1985. 17. KLOSSOWSKI, Pierre. Nietzsche e o circulo vicioso. Tradução Hortência S. Lencastre. Rio de Janeiro:Pazulin, 2000. 18. MARTON, Scarlett. Extravagâncias: ensaios sobre a filosofia de Nietzsche. São Paulo:Discurso Editorial/Editora Unijuí, 2000. 19. MOSÉ, Viviane. Nietzsche e a grande política da linguagem. Rio de Janeiro:Civilização Brasileira, 2005. 20. _____________. Crepúsculo dos ídolos ou como se filosofa com o martelo. Tradução Paulo César de Souza. São Paulo:Companhia das Letras, 2006. 21. _____________. Gaia Ciência. Tradução Paulo César de Souza. São Paulo:Companhia das Letras, 2001. 22. _____________. Genealogia da moral. Tradução Paulo César de Souza. São Paulo:Companhia das Letras, 1998. 23. _____________. Segunda consideração intempestiva: da utilidade e desvantagem da história para a vida. Tradução Marco Antônio Casanova. Rio de Janeiro:Relume Dumará, 2003. 24. ______________. Assim falou Zaratustra: um livro para todos e para ninguém. Tradução Mário da Silva. Rio de Janeiro:Bertrand Brasil, 1998. 25. ______________. Humano, demasiado humano: um livro para espíritos livres. Tradução Paulo César de Souza. São Paulo:Companhia das Letras, 2000. 26. ______________. Aurora. Tradução Paulo César de Souza. São Paulo:Companhia das Letras, 2004. 27. ______________. O nascimento da tragédia ou Helenismo e Pessimismo. Tradução J. Guinzburg. São Paulo:Companhia das Letras, 1992. 28. ______________. Além do bem e do mal: prelúdio a uma filosofia do futuro. Tradução Paulo César de Souza. São Paulo:Companhia das Letras, 1992. 29. NOVAES, Adauto (org). O homem máquina: a ciência manipula o corpo. São Paulo:Companhia das Letras, 2003. 30. RABELO, Rodrigo. Nietzsche e os ascetismos. Mimeografado. Londrina:Universidade Estadual de Londrina, 2002. 34 31. ROSSET, Clement. O princípio de crueldade. Tradução José Thomaz Brum. Rio de Janeiro:Rocco, 2002. 32. ________________. A anti-natureza: elementos para uma filosofia trágica. Tradução Getulio Puell. Rio de janeiro:Espaço e Tempo, 1989. 33. SAFRANSKI, Rüdiger. Nietzsche: biografia de uma tragédia. Tradução de Lya Luft. São Paulo:Geração editorial, 2001. 34. SANTOS, Volnei Edson. Por uma filosofia da distância. Londrina:mimeografado, 2006. 35. SIBILIA, Paula. O homem pós-orgânico, corpo, subjetividade e tecnologias digitais. Rio de Janeiro:Relume Dumará, 2003. 36. TÜRCKE, Christoph. Nietzsche e a mania da razão. Trad. Antonio C. P. de Lima. Petrópolis:Vozes, 1993. 37. WOLFF, Francis. ‘Tudo é corpo ou vazio’ in: Poetas que pensaram o mundo (Org. Adauto Novaes). São Paulo:Companhia das Letras, 2005.
Baixar