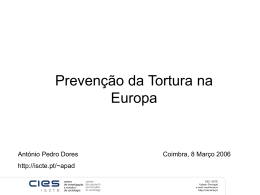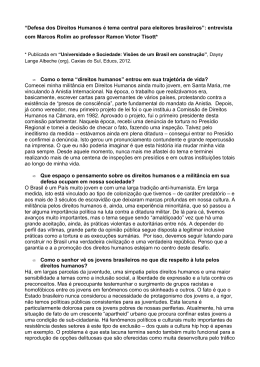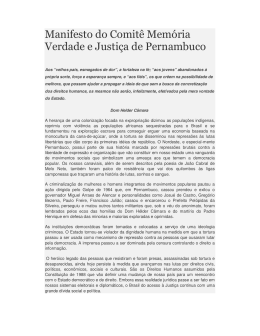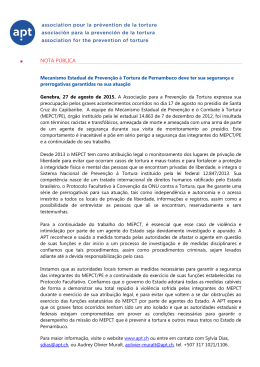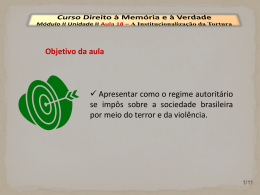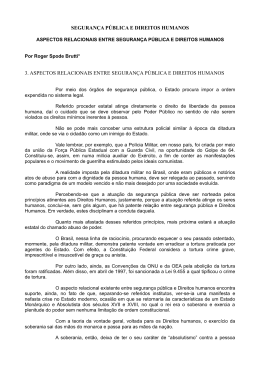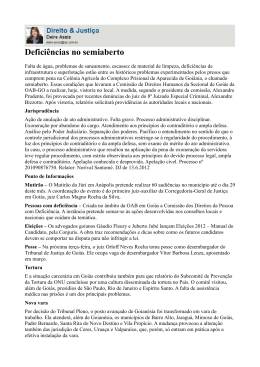Gênero, Militância, Tortura A todas as mulheres que não mais estão entre nós para contar esta e outras histórias. Cecília Mª B. Coimbra* “Lembra daquele tempo Que sentir era A forma mais sábia de saber E a gente nem sabia?.” (Alice Ruiz) Trazer um tempo vivido intensa e ativamente, de forma um tanto frenética, pois tudo nos parecia urgente de ser realizado, sem cair numa espécie de saudosismo conservador, é um desafio. Desafio que aceito correr ao tentar trazer alguns fragmentos de uma história que nunca será somente minha, mas de uma geração que generosamente sonhou, ousou, correu riscos e, como “a peste, foi marcada, massacrada e exterminada. (Uma geração) que, nos anos 60 e 70, apaixonadamente tentou marcar suas vidas não pela “mesmice”, pelo instituído, pela naturalização, mas ao contrário, pela denúncia, pela desmitificação, pela criação de novos espaços” (Coimbra, 1995:I). Esta história compõe-se, portanto, de muitas outras histórias: dos que sobreviveram, dos que sucumbiram e – por que não? – dos que, muitas vezes, aterrorizados, assistiam e/ou passavam ao largo dessas mesmas histórias. Trazer esses tempos de militância – descritos aqui, inicialmente, como um tanto eufóricos e mesmo despreocupados, pois, sem dúvida, acreditávamos e pensávamos poder mudar o mundo e, posteriormente, como tempos sofridos e dolorosos, quando recrudesceu o massacre, o extermínio – é caminhar num fio de navalha, numa “corda bamba”. Esse “equilibrismo” que tentarei exercitar é auxiliado pelas palavras do poeta Paulinho da Viola – quando do lançamento de um documentário sobre sua obra[1] “É uma coisa muito minha ter essa sensação de que todas as coisas que eu vivi, experimentei, senti ou vi estão agora aqui comigo” (Folha de SP). Contar essa história é, sem dúvida, uma tentativa de navegar por outras histórias, diferentes da oficial que nos tem sido apresentada e afirmada como única e verdadeira. Histórias que atravessam e constituem todos nós, mesmo os que não tiveram com aqueles tempos implicações tão intensas ou que neles não viveram. Gagnebin (1982:26) se refere a essa outra concepção de história quando nos traz o pensamento de Walter Benjamin. Diz ela: “Escrever a história dos vencidos exige a aquisição de uma memória que não consta nos livros da história oficial (...), fazer emergir as esperanças não realizadas (no) passado e inscrever em nosso presente seu apelo por um futuro diferente (...). O esforço (...) é não deixar essa memória escapar, mas zelar pela sua conservação, contribuir na reapropriação desse fragmento de história esquecido pela historiografia dominante.” Assim, há várias maneiras de se narrar a história . Uma visão sempre esquecida é a que tem sido forjada pelos diferentes movimentos populares nas suas lutas cotidianas, nas suas resistências e na sua teimosia em continuar existindo. Essas práticas, muitas vezes, têm recusado as normas pré-estabelecidas, instituídas, procurando criar outras formas de ser, de viver, de se relacionar, outras sensibilidades e percepções. Nessas histórias sempre negadas pela “história oficial”, os segmentos subalternizados não são meros espectadores, como têm sido apresentados, mas produtores dos acontecimentos. Dessa forma, o processo de estruturação da memória coletiva tem se caracterizado como um dos mais sensíveis às disputas e aos confrontos de diferentes grupos sociais. A história que nos tem sido imposta seleciona e ordena os fatos segundo alguns critérios e interesses construindo, com isso, zonas de sombras, silêncios, esquecimentos, repressões e negações. A memória histórica “oficial” tem sido, portanto, um lado perverso de nossa história, produzida pelas práticas dos “vencedores” no sentido de apagar os vestígios que os subalternizados e os opositores em geral têm deixado ao longo de suas experiências de resistência e luta. Essa história “oficial” tem construído distorções e mesmo desconhecimento sobre os embates ocorridos em nosso país, como se os “vencidos” não estivessem presentes no cenário político, apagando até mesmo seus projetos e utopias. Entretanto, apesar desse poderio, essa história não tem conseguido ocultar e mesmo eliminar a produção cotidiana de outras histórias. Apesar dessas estratégias de silenciamento e acobertamento, essas outras histórias vazam, escapam e, de vez em quando, reaparecem, invadindo muitos de nós. Por isso, falar delas é afirmar/fortalecer uma certa memória ignorada, desqualificada, negada. Toda uma geração de jovens estudantes e intelectuais – e ali estava eu – vivemos intensamente o alegre e descontraído início da década de 60[2], continuação do que ficou conhecido como os famosos “anos dourados” – os anos 50 da Bossa Nova, do bem-humorado e sorridente presidente JK[3]. Aqueles tempos caracterizaram-se pela implementação de projetos das chamadas reformas de base e de desenvolvimento nacional, frente ao reordenamento monopolista do capitalismo internacional, o que gerou uma política populista dos governos daquele período[4]. Foi naquele quadro que se fortaleceram diferentes movimentos sociais que se voltaram para a “conscientização popular”. Sem dúvida, aqueles anos estiveram marcados pelos debates em torno do “engajamento” e da “eficácia revolucionária”, onde a tônica era a formação de uma “vanguarda” e seu trabalho de “conscientizar as massas” para que pudessem participar do “processo revolucionário”. A efervescência política, o intenso clima de mobilização e os avanços na modernização, industrialização e urbanização que configuravam aquele período traziam, necessariamente, as preocupações com a participação popular[5]. Ressoavam muito próximos de nós os ecos da vitoriosa Revolução Cubana, que passou a embalar toda uma juventude e grande parte da intelectualidade latino-americana, como o sonho que poderia se tornar realidade. Aqui no Brasil, apesar de toda uma política populista, os grupos dominantes, muitos aliados aos capitais estrangeiros, mostraram-se incapazes de formular uma política autônoma. Daí as pressões que surgiram em diferentes áreas, apesar de muitos desses movimentos serem alimentados pelo próprio governo populista/desenvolvimentista de João Goulart. Foi a época do Centro Popular de Cultura da UNE, dos Cadernos do Povo Brasileiro, de filmes como Cinco Vezes Favela e do então inacabado Cabra Marcado para Morrer. A finalidade era “educar o povão” através da arte. No nordeste, Francisco Julião e as Ligas Camponesas incendiavam com sonhos de liberdade e de reforma agrária os pequenos camponeses da Zona da Mata. Diferentes experiências com alfabetização de adultos eram realizadas, desde “Com Pés Descalços Também se Aprende a Ler”, no Rio Grande do Norte, passando pelo Movimento de Cultura Popular, em Pernambuco até o Programa Nacional de Alfabetização de Paulo Freire, em Pernambuco e Rio de Janeiro. Tratava-se, sem dúvida, da produção de territórios singulares, ainda marcados, muitos deles, pela sizudez, rigidez e stalinismo vigentes no período e que foram radicalizados pela geração de 68. Provavam-se e aprovavam-se novos valores e padrões de comportamento, especialmente entre a juventude e a intelectualidade militante. A participação das mulheres passava a ser gradativamente valorizada, não somente em sua profissionalização, mas principalmente no seu engajamento político, apesar de todos os limites que ainda eram impostos pelos companheiros de militância. Por exemplo, as tarefas reservadas às mulheres na militância, com raríssimas exceções, eram as que sempre foram desempenhadas secularmente por elas. Numa reunião política clandestina que participei (?), minha função era – para disfarçar – cozinhar para os companheiros. Entretanto, apesar de tudo isso, o casamento deixava aos poucos de ser para nós a única perspectiva honrada de independência familiar. Explorávamos novos caminhos onde se tornava fundamental a satisfação pessoal nos mais diferentes relacionamentos, desde a sexualidade até o trabalho. Este deixava de ser mera ocupação, por vezes provisória, para tornarse via legítima de realização pessoal e afirmação da própria independência. A reprodução tornava-se uma opção nos debates travados em torno do direito ao aborto e ao uso da pílula anticoncepcional. “A sexualidade expandia-se para além dos limites do casamento”*6+ e a monogamia teve sua discussão iniciada. O tabu da virgindade caía por terra. As relações entre homens e mulheres eram pensadas de forma um pouco mais igualitária. “Queríamos mudar o mundo, era a nossa questão básica; mais: tínhamos a certeza de que isso ia acontecer (...) Não nos passava pela cabeça que o ser humano pudesse passar seu tempo de vida sobre a terra, alheio aos problemas sociais e políticos; esta era para nós a pior das alienações. Foi assim que, nos anos 60, produziu-se uma arte política, uma cultura voltada para a questão social. Muitos da geração comprometeram suas vidas com a política e seu modo específico de encarar a realidade” (Maciel, op. cit.: 7). O pacto populista entre o governo de João Goulart e os setores populares, além de se fragilizar, começava a se tornar perigoso para a expansão monopolista do capital estrangeiro. Naquele quadro deu-se o golpe militar de 64, quando as forças armadas ocuparam o Estado para servir a tais interesses. Para isso, e como preparação de terreno, uma intensa campanha se desenvolveu desde os anos 50, por meio da qual se construía a figura do comunista como o traidor da pátria. O fantasma do comunismo ameaçava e rondava as famílias brasileiras; era necessário esconjurá-lo, estar sempre alerta para que a pátria, a família e a propriedade continuassem territórios sagrados e intocáveis por tal peste. Não foi por acaso que o golpe de 31 de março de 1964 teve o apoio de significativas parcelas das classes médias que denunciavam a comunização da sociedade brasileira e exigiam um governo forte. E, apesar do golpe e da intensa propaganda anticomunista, das prisões, das cassações, dos primeiros desaparecimentos – em especial, entre operários, marinheiros e camponeses – havia ainda uma grande difusão de toda aquela “postura participante e conscientizadora”, no período que foi do golpe até o Ato Institucional nº 5, de 1968. Ocorriam shows, espetáculos – tudo em circuito fechado – peças de teatro, filmes, até que, em início de 68, as passeatas estudantis tomaram conta das ruas das principais capitais do país, culminando com a famosa Passeata dos Cem Mil, realizada no Rio de Janeiro, em junho do mesmo ano. Em outubro, ocorreu o célebre congresso clandestino da UNE, em Ibiúna (SP), “estourado” pela polícia, quando cerca de 700 estudantes foram presos. As greves operárias, em Contagem e Osasco com a ocupação de algumas empresas pelos trabalhadores, apontavam – segundo algumas leituras da época – para o enfrentamento com o regime. A repressão agia de forma cada vez mais violenta, sendo um de seus aspectos mais agressivos os grupos paramilitares. “Bombas em teatros do Rio e São Paulo, em editoras, jornais, espaços culturais, faculdades (...); seqüestros, espancamentos de artistas e estudantes” (Reis Filho, op cit.:30). A peça Roda Viva foi proibida em todo o território nacional, tento sido denunciado o envolvimento e utilização de uma tropa de elite da Aeronáutica (o PARASAR) na prática de ações criminosas e atos terroristas contra alguns dos opositores do regime. Estava sendo armada a cena para o grande amordaçamento: o golpe dentro do golpe, o Ato Institucional nº 5, de 13 de dezembro de 1968, que encerrou a década de 60 e inaugurou o tempo dos terríveis e dolorosos anos 70. A partir daí, o regime militar consolidou a sua forma mais brutal de atuação através de uma série de medidas como o fortalecimento do aparato repressivo, com base na Doutrina de Segurança Nacional. Dessa forma, estava garantido o desenvolvimento econômico com a crescente internacionalização da economia brasileira e a devida eliminação das “oposições internas”. Silenciava-se e massacrava-se toda e qualquer pessoa e/ou movimento que ousasse levantar a voz: era o terrorismo de Estado instalando-se; a ditadura sem disfarces. A censura tornava-se a cada dia mais feroz e violenta, dificultando e impedindo qualquer circulação e manifestação de caráter um pouco mais crítico. “A televisão passou a ter um nível de eficiência e eficácia internacional, fabricando e sedimentando valores e padrões para “um país que vai prá frente” (Hollanda, op. cit.:125). Muitos passaram a acreditar no “Brasil Grande”, no “progresso”, no “crescimento”, na “modernização”, na “grande potência” que iria ser esse país. Ao lado disso, havia um profundo conformismo político, em que a defesa da ordem, da hierarquia, da disciplina, da submissão eram enfatizados, e onde o medo às autoridades dominava a todos, indo desde questões mais amplas até problemas os mais aparentemente triviais do cotidiano (Velho, 1987). Duas categorias passaram a ser produzidas e muito disseminadas naqueles anos 70, no Brasil: a do subversivo ou terrorista e a do drogado, ligadas à juventude da época (Velho, op. cit.). A primeira era apresentada com conotações de grande periculosidade e violência, visto ser uma ameaça política à ordem vigente; deveria ser identificada, denunciada, controlada e, se necessário, exterminada. Tal categoria vinha acompanhada de outros adjetivos, como:criminoso, ateu, traidor e prostituta para as mulheres, etc., trazendo fortes implicações morais. O subversivo ou terrorista não estava somente contra o regime político, mas contra a religião, a família, a pátria, a moral, a civilização, tornando-se, assim, um anti-social. Estava contaminado por “ideologias exóticas”, por mandatários de fora. No drogado, o aspecto de doença já estava dado, visto ser um ser moralmente nocivo, com hábitos e costumes desviantes. Na época, as drogas foram associadas a um plano externo para minar a juventude, tornando-a presa fácil das “ideologias subversivas”. Aí, juntavam-se drogado e subversivo, o que se tornava perigosíssimo. Essa juventude que ia para “o caminho da subversão e do terrorismo”, onde alguns pegaram em armas para lutar contra o regime, advinha, em sua grande maioria, das camadas médias urbanas, da pequena burguesia, da intelectualidade. Por que se tornavam “terroristas”, negando suas origens de classe? Esta era uma questão que alguns militares se colocavam, em especial após o Congresso de Ibiúna, onde quase 90% dos jovens presos advinham daqueles segmentos. As causas não poderiam estar vinculadas à “crise da família moderna”? Não seriam esses “terroristas” jovens desajustados emocionalmente, advindos de famílias desestruturadas? Para provar essas hipóteses – há muito anunciadas através da mídia acerca dos jovens “inocentes úteis” –, em 1970, foi realizada uma pesquisa entre presos políticos, no Rio de Janeiro, com o apoio de psicólogos contratados para tal fim e que ficou conhecida como “perfil psicológico do terrorista brasileiro”. Através de anamneses, testes objetivos de nível mental e de interesses e testes projetivos de personalidade como o Rorschach e o Rosenzweig, levantou-se a situação familiar e psicológica desses presos, suas militâncias, o que pensavam fazer ao sair da prisão e várias outras questões. As “brilhantes” conclusões dessa pesquisa apresentavam 73% de “indivíduos com dificuldades de relacionamento, escasso interesse humano e social e difícil comunicação; em suma, pessoas difíceis”. Além disso, outras características lhes foram atribuídas: imaturas, desajustadas, inseguras, instáveis[7]. Patologizava-se, assim, aqueles que se lançavam na resistência contra a ditadura militar: eram doentes e necessário se fazia tratá-los. Esta pesquisa mostrou não apenas uma necessidade por parte da repressão de conhecer melhor os militantes políticos e traçar um perfil psicológico daqueles que estavam sendo combatidos, mas fundamentalmente difundir na sociedade, nas famílias de classe média e nas mães desses jovens, em especial, a crença de que seus filhos eram doentes. Elas, em suma, eram as principais responsáveis pelos transtornos que esses jovens traziam para a nação. Ao lado dessas táticas repressivas mais sutis e tão perversas quanto as utilizadas usualmente, os órgãos diretamente vinculadas à repressão se sofisticavam dia a dia. Em 1964 foi criado o Serviço Nacional de Informação, crescendo a tal ponto que se transformou na quarta força armada não uniformizada (Stephan, 1986). De 1967 a 1970 foram estruturados os centros de informações do Exército (CIE), da Aeronáutica (CISA) e da Marinha (CENIMAR), assim como “forças unificadas antiguerrilhas” que receberam financiamentos públicos e privados: os DOICODIs (Destacamento de Operações e Informações/Centro de Operações e Defesa Interna) que, em cada região militar do país, ficavam sob a jurisdição do Comando Regional do Exército. Tais eram seus poderes que uma certa análise política falava da existência de um verdadeiro Estado dentro do Estado. Foi para um desses DOI-CODIs, o do Rio de Janeiro, com sede num quartel da Polícia do Exército, em um subúrbio de classe média, que fui levada com meu companheiro, em agosto de 1970, em pleno governo Médici, um dos mais terríveis daquele período. Falar daqueles três meses e meio em que fiquei detida incomunicável sem ao menos um único banho de sol ou qualquer outro tipo de exercício é falar de uma viagem ao inferno: dos suplícios físicos e psíquicos, dos sentimentos de desamparo, solidão, medo, pânico, abandono, desespero; é falar da “separação entre corpo e mente” (Pellegrino, 1988: 19). “A tortura transforma nosso corpo – aquilo que temos de mais íntimo – em nosso torturador, aliado aos miseráveis que nos torturam. Esta é a monstruosa subversão pretendida pela tortura. Ela nos parte ao meio (...) O corpo na tortura nos aprisiona (...) ele se volta contra nós, na medida em que exige de nós uma capitulação (...) O corpo que é torturado, nos tortura, exigindo de nós que o libertemos da tortura, a qualquer preço. Ele se torna, portanto (...) o portavoz dos torturadores, aliado a estes na sinistra tarefa de nos anular (...), transformandonos em objeto.” A tortura não quer “fazer” falar, ela pretende calar e é justamente essa a terrível situação: através da dor, da humilhação e da degradação tentam transformar-nos em coisa, em objeto. Resistir a isso é um enorme e gigantesco esforço para não perdermos a lucidez, para “não permitir que o torturador penetre (em nossa) alma, (em nosso) espírito, (em nossa) inteligência” (Chauí, 1987:34). Em especial, a tortura perpretrada à mulher é violentamente machista. Inicialmente são os xingamentos, as palavras ofensivas e de baixo calão ditas agressiva e violentamente como forma de anular a pessoa, o ser humano, a mulher, a companheira e a mãe. Logo que sou levada ao DOI-COI/RJ, depois de três dias no DOPS (Departamento de Ordem Política e Social), um pouco antes de ser iniciada a tortura, recebo na cela onde me encontro uma estranha “visita”: Amilcar Lobo*8+ que se diz médico, tira minha pressão e pergunta se sou cardíaca. Ou seja, prepara-me para a tortura... para que esta possa ser mais eficaz... Geralmente, eram as mulheres que recebiam essa “visita”, com o objetivo de terem suas resistências avaliadas para que a repressão pudesse saber até que ponto poderiam agüentar as torturas, sem atrapalhar as informações que precisavam tirar delas. Colocam-me nua e acontecem as primeiras sevicias... Os guardas que me levam, freqüentemente encapuzada, percebem minha fragilidade... constantemente praticam vários abusos sexuais... Os choques elétricos no meu corpo nu e molhado são cada vez mais intensos... E, eu me sinto desintegrar: a bexiga e os esfíncteres sem nenhum controle... “Isso não pode estar acontecendo: é um pesadelo... Eu não estou aqui...”, penso eu. O filhote de jacaré com sua pele gelada e pegajosa percorrendo meu corpo... “E se me colocam a cobra, como estão gritando que farão?”... Perco os sentidos, desmaio... Em outros momentos, sou levada para junto de meu companheiro quando ele está sendo torturado... Seus gritos me acompanham durante dias, semanas, meses, anos... Era muito comum esta tática quando algum casal era preso, além de se tentar jogar um contra o outro em função de informações que pseudamente algum deles teria passado para os torturadores... “Será mesmo que ele falou isso?”... É necessário um esforço muito grande para não sucumbirmos...”Se falou está louco!”... é o meu argumento, repetido à exaustão. Inicialmente me fazem acreditar que nosso filho, de três anos e meio, havia sido entregue ao Juizado de Menores, pois minha mãe e meus irmãos estariam também presos. Foi fácil entrar nessa armadilha, pois vi meus três irmãos no DOI-CODI/RJ; efetivamente, sem nenhuma militância política, foram seqüestrados de suas casas, presos e torturados: tinham uma “terrorista” como irmã... Esta era a causa que justificava todas as atrocidades cometidas... O barulho aterrorizante das chaves nas mãos de algum soldado que vinha abrir alguma cela... “Quem será dessa vez”... Quando passa por minha cela e vai adiante respiro aliviada. Alívio parcial, pois penso: “quem estará indo para a sala roxa dessa vez”?*9+ Esse farfalhar de chaves me acompanha desde então... Às 18:00 horas vêm fazer o “confere” em cada uma das celas: alguns soldados, um oficial – um deles orgulhosamente exibe um anel com uma caveira em cima de duas tíbias, símbolo do famigerado Esquadrão da Morte[10] – e um enorme cão policial que nos fareja... De madrugada, sistematicamente, abrem violenta e estrondosamente as celas e lançam fortes luzes em nossos olhos, ordenando-nos, aos gritos, que nos levantemos, pois um novo “confere” será feito... De novo, o cão policial nos fareja... Nas noites em que não têm “trabalho” para ser feito, algumas equipes de torturadores para “passar o tempo” nos chamam, apenas as mulheres. Nunca sabemos se é para novas sessões de tortura, para alguma acareação ou para um “bate papo”, como eles denominam essas “conversas”. Nelas, alguns deles tentam nos convencer de que as torturas são necessárias e nos perguntam: “vocês falariam alguma coisa se não houvesse essas “pressões”?”... Nesses “batepapos” tentam ainda nos jogar umas contra as outras ao insinuarem sobre alguma de nós: “mas vocês têm certeza da militância dela?” vocês confiam mesmo nela?”... Numa madrugada sou retirada da cela, levada para o pátio, amarrada, algemada e encapuzada... Aos gritos dizem que vou ser executada e levada para ser “desovada” como num “trabalho” do Esquadrão da Morte... Acredito... Naquele momento morro um pouco... Em silêncio, aterrorizada, urino-me... Aos berros, riem e me levam de volta à cela... Parece que nessa noite não têm muito “trabalho” a fazer ... Precisam se ocupar... Algumas mulheres que demonstravam uma maior resistência às torturas eram “premiadas”: sempre estavam sendo chamadas para os “bate-papos” de madrugada e eram utilizadas como cobaias em aulas para novos torturadores[11] Parece que foi ontem... Esta e muitas outras histórias continuam em nós marcadas a ferro e fogo... Fazem parte de nossas vidas... Falar delas é ainda duro e difícil demais... Parece realmente que foi ontem, hoje, agora... Envolvemo-nos, desde então, direta e/ou indiretamente na a luta contra a ditadura de corpo e alma. Foi, sem dúvida a experiência – não só a da tortura, mas a da militância naqueles anos – mais visceral de toda a minha vida e que me marcou para sempre. Nós mulheres que atuamos – na vanguarda ou na retaguarda, não importa – naquele intenso e terrível período, derrubamos muitos tabus, vivemos visceralmente a presença assustadora da morte, a ousadia de desafiar e enfrentar um Estado de terror, a coragem de sonhar e querer transformar esse sonho em realidade. Acreditávamos... Sim, queríamos um outro mundo, outras relações, outras possibilidades... e queremos hoje. É difícil calcular o número daqueles que se opuseram à ditadura após o golpe de 1964, em nosso país. Mais difícil ainda apontar quantas mulheres participaram desse processo. No Projeto Brasil Nunca Mais[12] consta que 884 mulheres foram presas e denunciadas à Justiça Militar à época[13]. Entretanto, acredito que esse número seja bem maior, tendo em vista que muitas presas – como foi o meu caso – não foram levadas à Justiça Militar e muitas que militaram no período não chegaram a ser presas. Além disso, pelo levantamento feito por entidades de direitos humanos publicado no “Dossiê dos Mortos e Desaparecidos Políticos a partir de 1964” (1995) há 24 mulheres mortas e 20 desaparecidas, números que consideramos bastante incompletos ainda. Diante desse quadro, podemos constatar que não foi pequeno o número de mulheres que participou da luta contra o regime militar. Entretanto, os relatos sobre essas experiências são muito poucos. O que existe são livros de terceiros sobre algumas dessas mulheres vivas ou mortas como Iara Iavelberg, Sônia Maria de Moraes Angel Jones, Zuzu Angel, Carmela Pezzuti, algumas guerrilheiras do Araguaia, reportagens e trabalhos acadêmicos sobre algumas delas[14] Entretanto, relatos pessoais das experiências não há nenhum. Foi ao escrever este artigo que me dei conta disso: não existem esses relatos feitos pelas próprias mulheres. Fica a constatação e a certeza de que essas histórias precisam ser contadas. Entretanto, quando se trata de denunciar as atrocidades sofridas, apontar os nomes de alguns dos responsáveis por tais crimes, as mulheres têm se destacado. Especialmente nos grupos de familiares e de direitos humanos o número de mulheres é expressivamente maior. Entendo que por mais perigoso, delicado e doloroso que seja o ato de denunciar, de falar sobre as violações que sofremos, ele é o início de uma caminhada fundamental para que histórica e socialmente possamos conviver com os terríveis efeitos produzidos em nós por tais práticas. A fala, a denúncia, o tornar público, nos retiram do território do segredo, do silêncio, da clandestinidade. Com isso, podemos sair do lugar de vítima fragilizada, despotencializada e ocuparmos o da resistência, da luta, daquele que passa a perceber que seu caso não é um acontecimento isolado; ele se contextualiza, faz parte de outros e sua denúncia, esclarecimento e punição dos responsáveis abre espaço e fortalece novas denúncias, novas investigações. A dimensão coletiva desse caminho se afirma e, com isso, temos a possibilidade de começar a tocar na impunidade[15]; de mostrar que tal quadro – onde as punições nunca acontecem – pode ser mudado, pode ser revertido. Histórica e socialmente a impunidade produz uma dupla violação: além da que foi sofrida – se nenhuma atitude for tomada por parte do afetado e/ou autoridades – a pessoa continua no dia a dia sendo violentada. O desrespeito pela falta de investigação e esclarecimento dos fatos e a falta de punição aos responsáveis significa uma nova violação. Não é por acaso que alguns atendimentos clínicos a pessoas afetadas pela violência institucionalizada articulam-se com a luta contra a impunidade e têm um caráter pedagógico-social[16]. A própria concepção de “superação” dos efeitos produzidos por essas práticas de violação vinculam-se, portanto, às lutas político-sociais, como a luta contra a impunidade e por uma sociedade sem torturas. “Infelizmente setores importante da sociedade não têm a menor idéia de que significa tortura (...) Tortura é uma das práticas mais perversas: é a submissão do sujeito ao lhe ser imposta a certeza da morte. Não uma morte qualquer: é a morte com sofrimento, a morte com muita agonia, é a morte que ocorre bem devagar, porque o desespero deve ser potencializado. O choque elétrico rasga, como golpes, as entranhas do indivíduo e o coração parece que vai explodir. O afogamento, mescla de água e ar, é a consciência da parada cardíaca, a dor dos pulmões que vão encharcando. O “pau de arara”, o cigarro aceso queimando a pele e a carne. Várias horas seguidas e em várias horas do dia, da noite, da madrugada (Depoimento de um ex-preso político). Entretanto , infelizmente esta prática hedionda continua, ainda hoje, ocorrendo em nosso país de forma “sistemática e generalizada”*17+, principalmente para as camadas empobrecidas da população. Bibliografia Utilizada · Almada, I. et alli. Tiradentes – um presídio da ditadura. São Paulo: Scipione Cultural, 1997 · Barros, R. D. B. et alli (orgs.). Clínica e direitos humanos. Rio de Janeiro: Instituto Franco Basaglia/Te Corá, 2002. · Brasil Nunca Mais. Arquidiocese de São Paulo. Petrópolis: Vozes, 1985 · Bueno, A. L. L. Pássaro de fogo no terceiro mundo. Rio de Janeiro, Tese de Doutorado, UFRJ, 1987. · Carvalho, L. M. Mulheres que foram à luta armada. Rio de Janeiro: Ed. Globo, 1998. · Campos Filho, R. P. Guerrilha do Araguaia, a esquerda em armas. Goiânia: Universidade. Federal de Goiás, 1997 · Chauí, M. “A Tortura”. Eloiza, B. (org) I Seminário do Grupo Tortura Nunca Mais. Petrópolis: Vozes, 1987, 28-37 · Coimbra, C.M.B. Guardiães da ordem: uma viagem pelas práticas psi no Brasil do “milagre”. Rio de Janeiro: Oficina do Autor, 1995. · Colling, A. M. A resistência da mulher à ditadura militar no Brasil. Rio de Janeiro: Rosa dos Ventos, 1997. · Costa, A. de O. et alli (orgs). Memória (das mulheres) no exílio. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1980. · Dossiê dos mortos e desaparecidos políticos a partir de 1964. Grupos Tortura Nunca Mais (RJ, SP, PE). Recife: Cia Editôra de Pernambuco · Ferreira, E. F. Xavier. Mulheres – militância e memórias. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1996. · Gagnebin, J. M. Cacos da história. São Paulo: Brasiliense, 1982. · Hollanda, H. B. Impressões de Viagem. Rio de Janeiro, Tese de Doutorado, UFRJ, 1978. · Jornal do Grupo Tortura Nunca Mais/RJ, ano 8, nº 18, dezembro/1994. · Maciel, L. C. Anos 60. Porto Alegre: L&PM, 1987. · Morais, J. L. de. O calvário de Sônia Angel. Rio de Janeiro: MEC Editora, 1994. · Paiva, M. Companheira Carmela. Rio de Janeiro: Mauad, 1996. · Patarra, J. L. Iara – reportagem biográfica. Rio de Janeiro: Rosa dos Ventos, 1992. · Pellegrino, H. “A Tortura Política.” A burrice do Demônio. Rio de Janeiro: Rocco, 1988, 19-21. · Reis Filho, D. A. 1968: a utopia de uma paixão. Rio de Janeiro: Espaço e Tempo, 1988. · Ridente, M. S. “As Mulheres na Política Brasileira: os anos de chumbo”. Tempo Social, Revista de Sociologia da USP, 1990. · Santos, T. C. “A mulher Liberada e a Difusão da Psicanálise”. Figueira, S.A (org.) O Efeito Psi. Rio de Janeiro: Campus, 1988, 103-120. · Schwarz, R. “Cultura e Política, 1964-1969”. O Pai de Família e Outros Estudos. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978, 42 – 89. · Stephan, A. Os militares: da abertura à Nova República. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1986. · Velho, G. Individualismo e Cultura: notas para uma antropologia da sociedade contemporânea. Rio de Janeiro: Jorge Zachar, 1987. · Ventura, M. “Meu mundo e Hoje”. Folha Ilustrada, 01-02, Folha de São Paulo. 08/08/2003. · Ventura, Z. 1968: o ano que não terminou. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1988. * Psicóloga, Professora adjunta da Universidade Federal Fluminense, Pós Doutora em Ciência Política pela USP, Fundadora e atual vice-presidente do Grupo Tortura Nunca Mais/RJ e ExCoordenadora da Comissão Nacional de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia. *1+ Filme “Paulinho da Viola – meu tempo é hoje”, roteiro de Zuenir Ventura, direção de Izabel Jaguaribe, 2003. [2] Sobre o assunto consultar Coimbra (1995), Hollanda (1978), Maciel (1987), Schwartz (1978), Bueno (1987), Ventura (1988), Reis Filho (1988), dentre outros. [3] Juscelino Kubischeck governou de 1956 a 1961 [4] Jânio Quadros em 1961 e João Goulart de 1961 a 1964. [5] Hollanda (op. cit.). [6] Santos. (1988). [7] Sobre o assunto consultar Coimbra, (op cit.). [8] Médico, fazia formação psicanalítica e assessorou os torturadores no DOI-COI/RJ no período de 1970 a 1974. Seu trabalho em “atender” os presos políticos antes, durante e depois das torturas. Com o codinome de Dr. Carneiro, Amílcar Lobo “acompanhava” e fazia parte do terror que se abatia sobre o país sendo peça eficaz em sua engrenagem. Em 1988, teve seu registro de médico cassado pelo Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, o que foi referendado, posteriormente, pelo Conselho Federal. Sobre o assunto consultar Coimbra (1985) [9] A sala de torturas no DOI-CODI/RJ tinha suas paredes pintadas de roxo. Era, pelos presos políticos da época, chamada de “sala roxa”. [10] Surgiu no Rio de Janeiro e em São Paulo, nos anos 50. Eram grupos formados por policiais civis e militares. Fortaleceram-se durante o período ditatorial e eram utilizados como instrumento – segundo a mídia da época – para “diminuir os índices de criminalidade” nos grandes centros urbanos. [11] Caso de uma companheira de cela, Dulce Pandolfi, relatado no Brasil Nunca Mais (1985). [12] Trata-se da microfilmagem de todos os processos que se encontram no Superior Tribunal Militar, no período de 1964 a 1979. Documentação oficial da ditadura é a radiografia mais completa daquele período, contendo 707 processos onde tem-se 7367 pessoas denunciadas perante a Justiça Militar. Projeto coordenado pela Arquidiocese de São Paulo consta de 12 volumes em número restrito sendo que o livro Brasil Nunca Mais (1985) é um resumo desses volumes. [13] Sobre o assunto consultar Carvalho (1992) e Ridenti (1990). [14] Sobre o assunto consultar Patarra (1992); Paiva (1996); Ferreira (1996); Colling (1997); Costa et alli (1980); Almada et alli (1997); Campos Filho (1997) e Moraes (1994), dentre outros. [15] Segundo a interpretação dominante da Lei da Anistia, sancionada em 1978, no governo Figueiredo, pelo que ficou conhecido como “crimes conexos”, todos aqueles que cometeram, em nome da segurança nacional, crimes de lesa humanidade estariam anistiados. Ou seja, em cima dessa interpretação até hoje nenhum torturador do período da ditadura militar foi punido. Ao contrário, continuam sendo premiados e, em muitas ocasiões, têm ocupado cargos de confiança em governos municipais, estaduais e no federal. [16] Desde 1992, funciona junto ao Grupo Tortura Nunca Mais/RJ, seu projeto Clínico-Grupal: uma equipe de psicólogos, psicanalistas, psiquiatras e fisioterapeutas que atende a pessoas atingidas direta e/ou indiretamente pela violência institucionalizada ontem e hoje. Este projeto, além do atendimento, hoje no Rio de Janeiro a 95 pessoas, preocupa-se também com a questão da formação, organizando cursos, oficinas, seminários para se pensar a questão da violência, da clínica e dos direitos humanos. Sobre o assunto consultar Barros et alli (2002). [17] Termos utilizados por Sir Nigel Rodley, relator da ONU para casos de tortura, em sua visita ao Brasil, em agosto de 2001
Download