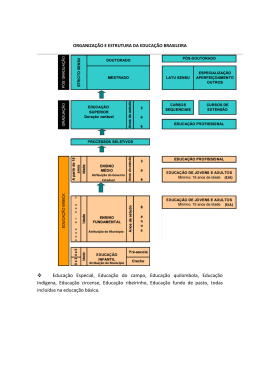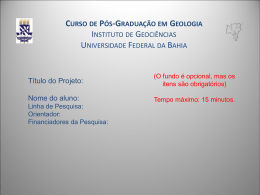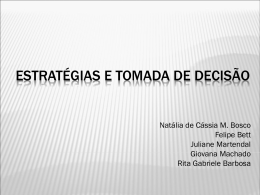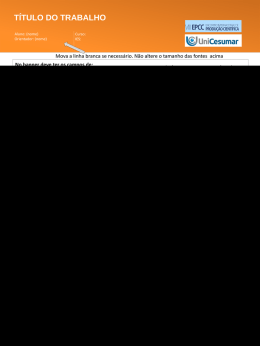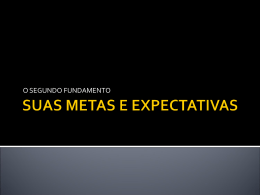Para os Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor Oliveira Ascensão Sobre o conceito e a extensão do sinalagma Maria de Lurdes Pereira Pedro Múrias1 a) Introdução Cada problema de direito privado nascido de um não cumprimento insere-se num de três grupos: problemas relativos à obrigação atingida, problemas relativos às obrigações primárias associadas e problemas de responsabilidade civil. Ficam fora deste esquema poucas questões, como as relativas à cláusula penal stricto sensu ou ao commodum de representação. Dado que os negócios jurídicos e restantes fontes não se limitam a constituir obrigações, o esquema deve ser ampliado, dizendo-se que cada problema resultante de uma perturbação de uma atribuição2 jurídica cabe num de três grupos: problemas da atribuição atingida, problemas das atribuições primárias associadas e problemas de responsabilidade civil. A palavra «atribuição» deve ser aqui entendida como realidade jurídica, e não no sentido fáctico ou económico, por assim dizer, que lhe compete em áreas como a do enriquecimento sem causa. Tem-se em vista um género de que a obrigação é espécie, de modo a abranger outros conteúdos negociais. Este é o esquema da triplicidade dos problemas de «não cumprimento», latissimo sensu, e o seu cerne está em ser imperioso manter devidamente distintos os três problemas, já que as respectivas soluções dependem de fundamentos e tópicos muito distintos. Entre os problemas das atribuições primárias associadas, destacam-se notoriamente os respeitantes ao sinalagma. Em boa verdade, e a um primeiro olhar, dir-se-ia que a triplicidade distinguiria problemas da obrigação atingida, da contraprestação e da responsabilidade civil. É já num esforço de abstracção que nos apercebemos de que os problemas da contraprestação 1 Maria de Lurdes Pereira é assistente da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Pedro Múrias é doutorando da mesma Faculdade, em exclusividade. Agradecimentos académicos a Margarida Lima Rego. 2 Usa-se comummente o conceito mais restrito de «perturbações da obrigação» ou da «prestação», em que se importa o termo germânico Leistungsstörungen, que não consta das fontes. É ainda mais restrito o conceito de «violação do contrato» (breach of contract), usado no common law e na CCVI. Como é sabido, os direitos de matriz inglesa terão alguma vantagem no seu conceito geral de breach, que, pelo menos, evita as conhecidas lacunas dos sistemas de influência germânica. O sistema da CCVI, dos PUC e dos PDEC adoptou-o. Na Modernisierung do BGB, introduziu-se o conceito comparável de Pflichtverletzung (violação dum dever). Cf. §§ 280 e ss. e, por todos, SCHLECHTRIEM, The German Act to Modernize the Law of Obligations in the Context of Common Principles and Structures of the Law of Obligations in Europe, Oxford University Comparative Law Forum, em http://ouclf.iuscomp.org, III/1. Ainda assim, a nova redacção restringiu o papel do conceito, utilizável apenas em sede de responsabilidade civil, por comparação com o projecto da Comissão do Direito das Obrigações (o Diskussionsentwurf), que o levava tb. aos problemas da resolução. Cf. ROLLAND, Das neue Schuldrecht, Beck, Munique, 2002, 4-5, que esclarece os motivos da rejeição de outros conceitos, designadamente o de «não cumprimento» (do art. 7.1.1 PUC), e CANARIS, (org. e intr.) Schuldrechtsmodernisierung 2002, Beck, Munique, 2002, 21-22, 203-213, 374-375, 593 e 759-762. O nosso artigo recorre às abreviaturas correntes e, ainda, a «CCVI», para a Convenção de Viena sobre os Contratos de Compra e Venda Internacional de Mercadorias, de 1981, «PUC», para os Princípios UNIDROIT relativos aos Contratos Comerciais Internacionais, e «PDEC», para os Princípios do Direito Europeu dos Contratos (da Comissão LANDO). Quanto a estes, usamos a versão de 1999 das Partes I e II. São do Código Civil de 1966 os artigos citados apenas pela numeração. 1 constituem apenas, e nas relações sinalagmáticas, um caso particular de uma pergunta mais ampla, a de saber quais os reflexos do não cumprimento nos elementos de um conjunto de efeitos jurídicos em que a obrigação ou outra atribuição se inseria. De toda a maneira, a relação sinalagmática mantém-se como prototípica e merece especial atenção. Em vez de problemas ou efeitos nas atribuições associadas, seria pensável falar de efeitos «no contrato». Não o fazemos porque não aderimos à ambiguidade de usar «contrato» tanto para o acto quanto para a sua eficácia jurídica3 e porque as relações atributivas, mesmo as mais complexas, podem eclodir de diversas fontes.4 Sem embargo, referir-nos-emos aqui e ali ao contrato, por simplicidade. No presente estudo, defendemos que é dogmaticamente útil dar à palavra «sinalagma» uma extensão maior do que a corrente, de modo a abranger a «correspectividade» de quaisquer atribuições, e não só de obrigações.5 A isto, juntamos algumas achegas sobre o conceito de sinalagma e sobre o seu conteúdo. Chamamos, pois, «sinalagmático» — ou, na expressão da lei portuguesa, «bilateral» — a um contrato, v.g., em que se autorize a publicação de uma fotografia a troco da extinção de um débito, apesar de não se incluir neste sinalagma nenhuma obrigação, bem como a um empréstimo a juros, que é, na terminologia corrente, o exemplo mais simples de contrato oneroso não sinalagmático, embora alguma doutrina tenha defendido erradamente a qualificação contrária.6A dação em cumprimento estabelece um sinalagma entre a extinção de uma obriCf. as distinções de OECHSLER, Gerechtigkeit im modernen Austauschvertrag, Mohr Siebeck, Tubinga, 1997, 267-271. A confusão entre o contrato e os seus efeitos era apresentada como paradigmática no texto clássico de HOHFELD, Some fundamental legal conceptions as applied in judicial reasoning, reimp., Yale University Press, New Haven, 1964 (1913-1917), circa nota 19a, agora com trad. port. de M. LIMA REGO (Os Conceitos Jurídicos Fundamentais Aplicados na Argumentação Judicial, FCG, Lisboa, 2008). 4 O que talvez devesse ser mais frequentemente acentuado. SCHLECHTRIEM, German act, III/1, exemplifica com a gestão de negócios. Um bom exemplo, porque pode aí instituir-se um sinalagma (cf. art. 470.º), mas há muitos outros. A maioria das relações pode constituir-se por sentença (cf. art. 830.º), um arrendamento pode resultar especificamente da decisão do art. 1793.º, as doações podem surgir em negócio unilateral (cf. art. 951.º/2), uma sociedade comercial pode ser criada por decretolei, as complexas relações do direito de superfície podem assentar na usucapião (cf. arts. 1528.º e 1530.º e ss.), as promessas públicas podem gerar meios sinalagmas (cf. art. 459.º; sobre o meio sinalagma, cf. a al. c), infra), o achamento atribui o direito a um «prémio» e a reembolsos (cf. art. 1323.º), etc., etc. Os «contratos em especial» nem sempre são feitos por contrato. Cf. OLIVEIRA ASCENSÃO, Teoria geral do direito civil, vol. II, Acções e factos jurídicos, Coimbra Ed., Coimbra, 1999, 27: «Os chamados “contratos em especial” pertencem ao Direito das Obrigações, mas porque o que aí está essencialmente em causa são obrigações em especial, e não o contrato como fonte destas.» O Autor critica a confusão entre obrigação e contrato nas pp. 26-27. As «regulações do dono» também geram relações atributivas não contratuais (cf. P. MÚRIAS, Regulações do dono. Uma fonte de obrigações, nos Estudos em Homenagem à Professora Doutora Isabel de Magalhães Collaço, vol. II, Almedina, Coimbra, 2002, 255293). 5 A terminologia oposta não é só corrente, é claramente dominante. Pondo a hipótese de se redefinir a noção de contrato sinalagmático, ainda que com manutenção da distinção entre onerosidade e sinalagma, dadas a diferente função dos conceitos e, apesar de tudo, a extensão visivelmente maior do de onerosidade, cf. M.ª LURDES PEREIRA, Conceito de prestação e destino da contraprestação, Almedina, Coimbra, 2001, 256-257, n. 668. A aproximação aí tentada destinou-se a facilitar a explicação unitária de certos fenómenos, que aqui se retoma. Uma definição ampla de sinalagma encontra-se ainda em PAIS DE VASCONCELOS (Teoria geral do direito civil, vol. I, Lex, Lisboa, 1999, 195), embora o A. não lhe evidencie as vantagens. Para o uso contrário, cf. ANTUNES VARELA, Ensaio sobre o conceito de modo, Atlântida, Coimbra, 1955, 165-178, e FERREIRA DE ALMEIDA, Texto e enunciado na teoria do negócio jurídico, 2 vols., Almedina, Coimbra, 1992, 527. O sinalagma, no sentido em que a ele nos referimos, corresponde à «função económico-social» de troca, que FERREIRA DE ALMEIDA (Texto, 496-572, esp.te 514-527, mantendo a posição em publicações posteriores) distingue da liberalidade, da cooperação e da garantia. Parece-nos certo, apesar de tudo, que a nossa perspectiva não é a do Autor, como se mostra no fim deste estudo. 6 Erradamente, porque se declarava manter a terminologia tradicional, vendo prestações onde elas não existiam. Sustentou-se que o mutuante ficaria obrigado a uma prestação, o que não aceitamos (cf. M.ª LURDES PEREIRA, Conceito, 260-262). SCHLECHTRIEM, Schuldrecht AT, 11, também aplica o conceito de sinalagma ao mútuo oneroso. Idêntica rejeição suscita a denominada «teoria da troca diferida», que caracteriza o mútuo como uma troca de bens presentes por bens futuros, sendo o 3 2 gação e a aquisição de um direito, mandando naturalmente o art. 838.º que se lhe apliquem regras de um contrato sinalagmático prototípico. Pode suceder que um dos elementos do sinalagma seja a transmissão de uma obrigação ou posição contratual (cf. arts. 578.º, 587.º e 426.º). É inclusive sinalagmático um contrato em que se aliene uma posição contratual desvantajosa, obrigando-se o alienante, em troca, a pagar certa quantia ao adquirente. É ainda sinalagmático o contrato de seguro, embora o sinalagma se estabeleça entre a obrigação de pagar o prémio e a cobertura, e não entre aquela obrigação e a obrigação condicional da seguradora.7 Notemos, por outro lado, que o uso terminológico comum sofre muitas torções. Poucos se lembrariam de dizer, perante a compra e venda de um bem já entregue ao comprador, com o respectivo preço antecipadamente pago, que não se trata de um contrato sinalagmático. No entanto, e salvo ficção, esta compra e venda não gera obrigações. Por comodidade de exposição, usaremos indistintamente os termos «atribuição» e «vinculação», entendendo esta última de modo amplo, equivalente à repercussão da atribuição, em termos de eficácia jurídica, na esfera da parte que a faz. Sinalagmáticos são, pois, todos os negócios com vinculações reciprocamente dependentes, correspondam ou não a obrigações. Não podemos deixar de reconhecer que a sinonímia entre «atribuição» e «vinculação» não é perfeita. A vinculação surge comummente conotada com «obrigação» e há atribuições que não correspondem sequer a qualquer situação jurídica passiva para a parte a que as suporta, embora se concretizem num efeito modificativo, transmissivo ou extintivo de situações jurídicas pré-existentes. Prosseguindo com exemplos de sinalagma, veja-se que pode pagar-se para se prolongar um contrato que de outra forma caducaria, para adiar um termo inicial suspensivo ou até para deixar de ser titular de um direito, seja por meio da sua transmissão, seja da sua extinção. Nestes exemplos, a atribuição não pecuniária faz-se com uma «vinculação» que não corresponde a nenhum efeito jurídico passivo no sentido comum. O alargamento que fazemos no conceito de sinalagma pretende evidenciar que, no essencial, são comuns as coordenadas da solução do problema do reflexo do não cumprimento na atribuição correspectiva (ou «contra-atribuição»), como se verá a seguir. Damos primazia à relação entre as atribuições, por ser ela que explica os aspectos decisivos de regime, e colocamos num plano subalterno a diversidade de estrutura8 dessas atribuições. Em qualquer juro devido como reposição da diferença de valor entre estes bens (cf. SIMÕES PATRÍCIO, Direito do crédito, Lex, Lisboa, 1994, 15-16, 43-45 e 61-63; o A. adere, ao menos parcialmente, à teoria, concluindo que «no crédito (...), do ponto de vista jurídico, é possível distinguir duas contraprestações a cargo do beneficiário: a restituição tantundem (...) e a retribuição dos juros»; cf. ainda do mesmo Autor, Direito Bancário Privado, Quid Juris, Lisboa, 2004, 298-299). A verdade é que a atribuição do mutuante deve ser definida como a cessão temporária de um valor patrimonial que, por o respectivo uso envolver necessariamente actos de disposição, não pode ser juridicamente assegurada através da constituição na esfera do mutuário de um simples direito menor de gozo, exigindo a transmissão inicial da propriedade sobre as coisas mutuadas. Os juros, quando convencionados, ao representarem a contrapartida dessa cessão temporária de bens, são a única contraprestação do negócio. A restituição devida pelo mutuário não é nem no plano económico, nem no plano jurídico, a remuneração, a contrapartida ou a contraprestação da atribuição patrimonial do mutuante. Pelo contrário, serve apenas para delimitá-la no tempo, pondo-lhe termo. 7 Não voltamos a tratar aqui o contrato de seguro, embora este ofereça uma das justificações importantes para a extensão do conceito de sinalagma. O tema é tratado com detenção num estudo para breve de M. LIMA REGO. A doutrina alemã é maioritária na qualificação do seguro como sinalagmático, tendo demorado a concluir que a cobertura não é uma prestação. Cf., p. ex., J. PRÖLSS, em E. PRÖLSS/A. MARTIN, Versicherungsvertragsgesetz, 27.ª ed., Beck, Munique 2004, pp. 78 e 84. 8 ANTUNES VARELA, Ensaio, falava de «estrutura» (v.g., 82 e ss.), de «efeitos do negócio» (v.g., 122) e de «processo técnico-jurídico» (v.g., 150, 166). 3 caso, sublinhemos, trata-se do sentido jurídico do contrato ou de outra fonte do sinalagma, e não de uma sua configuração meramente «económica».9 Como estão em causa atribuições com estruturas distintas, o meio adequado à tutela do sinalagma num contrato puramente obrigacional em casos de não cumprimento pode não ser idêntico ao ajustado a um contrato em que um dos termos da troca não seja uma prestação. P. ex., só um devedor pode invocar a excepção de não cumprimento. Contudo, os elementos comuns a todos os sinalagmas são maioritários. b) Dois exemplos da utilidade do alargamento terminológico A nossa terminologia apresenta vantagens na clarificação de aspectos de regime sem específica consagração legal. Um primeiro exemplo da sua utilidade é o da disciplina da cláusula de reserva de propriedade na compra e venda. A opção terminológica pode justificarse assim: numa compra e venda, o comprador paga pela entrega definitiva da coisa e pela transmissão da propriedade. Entre as obrigações de entrega e de pagamento do preço, a relação é um sinalagma na terminologia corrente. Entre a obrigação de pagamento e a transmissão da propriedade existe uma idêntica «relação de troca». Contudo, é só ao chamarmos «sinalagma» também a esta relação que fazemos apelo a um conjunto de regras e princípios capazes de fundamentar directamente ou por analogia as soluções intuídas. Ao longo desta alínea, referimo-nos exclusivamente às hipóteses comuns em que a transferência da propriedade ocorre com o pagamento do preço, e não aos casos em que se dê com a «verificação de qualquer outro evento», nas palavras do art. 409.º. Esta estipulação negocial que retarda a produção do efeito real — a transmissão do domínio — até ao momento do pagamento do preço visa assegurar, no plano da execução do contrato, a reciprocidade das atribuições. Num contrato sinalagmático puramente obrigacional, o mesmo efeito é conseguido pelo acordo de cumprimento simultâneo, em associação com o art. 428.º. Numa compra e venda com espera de preço e com entrega imediata da coisa, é claro, de nada serve a excepção do não cumprimento. Em relação à transmissão de propriedade, o modo de as partes garantirem o chamado sinalagma funcional consiste em pactuarem a reserva de propriedade. Nestas compras e vendas, a reserva de propriedade é um dispositivo análogo à excepção de não cumprimento. Essa finalidade revela-se em aspectos do enquadramento legal da reserva. Assim, por exemplo, no art. 304.º/3, que concretiza o mesmo princípio presente no art. 430.º: prescrito um dos direitos ligados por um vínculo sinalagmático, o respectivo titular continua a poder exercer a exceptio, do mesmo modo que o vendedor sob reserva de propriedade que deixe prescrever o direito ao preço continua a poder exigir a restituição da coisa. Acima de tudo, a função de salvaguarda do sinalagma tem de ser respeitada na solução 9 Cf. a alínea final deste estudo. 4 de questões de regime que não resultam de forma inequívoca da lei. A cláusula de reserva de propriedade tem de ser acompanhada por uma disciplina adequada, que difere, em vários pormenores, da regulação da condição suspensiva; por isso, não pode ser concebida como condição. Nomeadamente, é-lhe inaplicável o regime de transferência do risco do art. 796.º/3.10 Também nos parece indiscutível a admissibilidade de uma renúncia unilateral à cláusula, que equivale à exigência de cumprimento por um titular da exceptio, não obstante encontrarmos soluções contrárias na doutrina e na jurisprudência. Quanto à legitimidade de uma renúncia à reserva de propriedade por parte do vendedor no caso de falta de pagamento do preço, é esclarecedor e suficiente o confronto com o regime geral do não cumprimento nos restantes contratos sinalagmáticos. Em qualquer contrato sinalagmático, perante o atraso no cumprimento, a parte fiel não se encontra de forma alguma constrangida à opção resolutiva, podendo sempre preferir a execução do acordado (aliás, para resolver tem de converter a mora em não cumprimento definitivo).11 Da mesma forma, numa compra e venda com reserva de domínio, o vendedor tem de continuar a poder escolher o cumprimento integral, executando, se necessário, o património do devedor para obter o pagamento do preço. Se nomear à penhora o bem objecto do negócio, estará a renunciar à reserva de domínio, pelo que a transmissão, parece, operará12. De resto, nem se compreenderia que a estipulação de um remédio destinado a fortalecer a sua posição em caso de incumprimento acabasse afinal por prejudicá-lo. A eventual desvalorização do bem entretanto entregue ao comprador ou outras dificuldades implicam com frequência que a alternativa de fazer executar o contrato seja mais favorável, por comparação com o resultado de um funcionamento da cláusula (com a recuperação do bem acrescida do direito a uma indemnização, mas com dedução do valor actual do bem e ainda da parte do preço já pago, que o vendedor está obrigado a devolver). A vantagem no alargamento da noção de sinalagma pode ser ilustrada por meio de um segundo exemplo. Trata-se de defender a inaplicabilidade do art. 781.º ao mútuo oneroso: a natureza sinalagmática deste contrato é precisamente o argumento central. No mútuo oneroso, os juros são pagamento pela disponibilização do capital durante um certo tempo. Rejeitando a qualificação tradicional da cláusula de reserva como condição suspensiva e, consequentemente, também a aplicabilidade corrente do art. 796.º/3, segunda parte, cf. MENEZES LEITÃO, Direito das obrigações, I, 6.ª ed., Almedina, Coimbra, 2007, 200-202. 11 Mesmo convertendo a mora em não cumprimento definitivo, a parte fiel também não se encontra confinada à resolução do contrato, aspecto que será desenvolvido num outro estudo. 12 No sentido do texto, VASCO LOBO DE XAVIER, Venda a prestações: algumas considerações sobre os artigos 934.º e 935.º do Código Civil, RDES, Ano XXI (1974), 199-266 (216-219), ANA PERALTA, A posição jurídica do comprador na compra e venda com reserva de propriedade, Almedina, Coimbra, 1990, 116, GRAVATO MORAIS, Reserva de propriedade a favor do financiador. Ac. do TRL de 21.2.2002, Cadernos de Direito Privado/6 (2004), 53, bem como os seguintes acórdãos: REv 16/02/1984, CJ LX (1984), I, 293 (implicitamente, pois o acórdão versa sobre a impossibilidade de, uma vez feita a penhora, o exequente-vendedor voltar atrás e valer-se novamente da reserva) RLx 8/06/1998, CJ XXIII (1998), III, 129-131 (130), com voto de vencido de Salazar Casanova, que, porém, se limita a sustentar que a execução deveria ser precedida de cancelamento prévio do registo pelo vendedor exequente. Solução contrária foi acolhida na decisão RLx 21/02/2002, CJ XXVII (2002), I, 112 e ss., com voto de vencido de Urbano Dias, também publicada nos Cadernos de Direito Privado/6 (2004), 43-49. Nos acórdãos RLx 30/04/2002 (CJ XXVII (2002), II, 124-126) e RLx 13/05/2003 (acessível em www.dgsi.pt) recusou-se o prosseguimento da execução apenas por não ter havido cancelamento prévio do registo da reserva e este não caducar com a venda; considerar-se-ia, aparentemente, válida a renúncia unilateral. 10 5 Chamar «sinalagma» à relação entre os juros e o tempo de disponibilidade do capital é invocar não só as regras e princípios próprios do não cumprimento nas relações sinalagmáticas (arts. 428.º, 795.º, 801.º/2, etc.), mas também a ideia geral de «interdependência» entre atribuição e contra-atribuição. Daqui resulta o impedimento de aplicação do art. 781.º ao empréstimo a juros. A orientação contrária, isto é, a aplicação do art. 781.º ao mútuo oneroso, levaria, como veremos, a resultados desconformes com o sinalagma e, por essa razão, insustentáveis. O art. 781.º não pode ser usado para permitir ao mutuante reaver antecipadamente o capital, seja com fundamento em falta de pagamento de uma ou mais prestações periódicas de juros, seja com base na falta de restituição de parcelas de capital também devidas periodicamente,13 seja, por fim, com base nos dois incumprimentos em simultâneo. O mutuante oneroso só pode reaver o capital, nestes casos, através de um meio que, no seu processamento, garanta uma cessação global dos efeitos do contrato de mútuo, e a que a lei deu o nome de resolução (cf. o art. 1150.º). Acresce que o art. 781.º também não faculta ao mutuante, em caso de mora do mutuário, a exigibilidade antecipada14 dos juros, ainda que com observação estrita do prazo de restituição do capital. Esta hipotética pretensão do mutuante não tem pura e simplesmente acolhimento em regra alguma do nosso ordenamento: a menos que as partes o convencionem ou em casos — aliás, raros — de pagamento faseado dos juros depois da restituição do capital, não há vencimento ou exigibilidade antecipada das prestações periódicas de juros no âmbito do contrato de mútuo. Por maioria de razão, um pedido do mutuante que cumule a restituição antecipada do capital com o vencimento antecipado das prestações de juros devidas até ao final, não só não pode fazer-se com apelo ao art. 781.º, pois este é inaplicável ao caso, também não resulta de qualquer outro preceito. A razão última de todas estas conclusões está no carácter sinalagmático do contrato de mútuo oneroso. O art. 781.º não é um preceito apropriado para conceder ao mutuante a faculdade de exigir antecipadamente a restituição do capital, seja por falta de pagamento dos juros periódicos, seja por falta de pagamento de uma ou mais fracções do capital, sempre que este deva ser restituído periodicamente em fracções. Intuitivamente, dir-se-ia ser muito diferente a justificação destas duas afirmações. Porém, não é. Na segunda hipótese assinalada, a exigência antecipada das fracções restantes do capital não pode ocorrer por aplicação do art. 781.º pela razão de o mecanismo deste preceito se limitar a interferir na obrigação de restituir, e não na contraprestação: ele deixaria incólume o direito do mutuante aos juros, apesar de lhe permitir reaver o capital. O resultado seria inaceitável, por ser contrário ao sinalagma, ou seja, por manter o mutuário obrigado aos juros sem receber aquilo de que os juros são pagamento.15 Sublinhe-se que a solução é a oposta no mútuo gratuito. É conhecida a discussão sobre a questão de saber se o art. 781.º estatui a mera exigibilidade antecipada (i.e., o poder de o credor provocar a qualquer momento o vencimento da obrigação) ou, pelo contrário, o vencimento automático da dívida (no primeiro sentido, cf., p. ex., ANTUNES VARELA, Das obrigações em geral, Almedina, Coimbra, vol. II, 7.ª ed., 1997, 53-54; no segundo, GALVÃO TELLES, Direito das obrigações, 7.ª ed., Coimbra Ed., 1997, 270-272). 15 A qualificação da «exigência antecipada» da restituição do capital mutuado em caso de não restituição pelo mutuário (devedor) de uma das parcelas do capital como um caso do art. 781.º pode encontrar-se em GALVÃO TELLES, Obrigações, 225 (embora o autor se refira indistintamente ao mútuo gratuito e ao oneroso) e em PIRES DE LIMA/ANTUNES VARELA, Código Civil anotado, Coimbra Ed., Coimbra, vol. II, 4.ª ed., 1997, 32. O mesmo sucede nas decisões judiciais enumeradas supra, n. 12: 13 14 6 Quanto ao facto de a falta de pagamento dos juros também não poder produzir a exigibilidade antecipada do capital por aplicação do art. 781.º, parece-nos insuficiente dizer que se estaria fora da previsão do preceito, por não se tratar aqui de parcelas de uma mesma prestação. Sempre haveria que ponderar uma extensão da regra, aliás secundada pela sua razão de ser: facultar a exigência imediata da prestação com base no desaparecimento da confiança na solvabilidade ou na vontade de cumprir do devedor. O verdadeiro obstáculo à aplicabilidade do art. 781.º a estes casos coincide com a mesma necessidade de respeitar o sinalagma: o preceito facultaria a exigência antecipada do capital, mas subsistiria o direito do mutuante aos juros. Haveria contraprestação sem prestação. Em qualquer dos casos, a restituição antecipada do capital só pode ser atingida através de um meio que simultaneamente extinga a obrigação de juros a cargo do mutuário. E esse mecanismo é, por opção legal, a resolução (cf. o art. 1150.º).16 Além de não servir para a restituição antecipada do capital em casos de incumprimento do mutuário, o art. 781.º não é base para uma exigência antecipada dos juros pelo mutuante. Ocorrendo falta de pagamento de alguma ou de algumas prestações de juros num contrato de mútuo em que a restituição integral do capital haja de ser feita no final do contrato, o art. 781.º não faculta ao mutuante o vencimento antecipado dos juros posteriores. Aqui, mais do que uma questão de inadequação do específico mecanismo do art. 781.º ao resultado em vista, está em causa a própria inconveniência do efeito, que não é proporcionado por qualquer outra disposição do direito civil português. A razão é que, nas «dívidas liquidáveis em prestações» do art. 781.º, o prazo traduz um adiamento concedido pelo credor ao devedor. E o adiamento só o é quando pagar mais tarde constitua uma atribuição do credor ao devedor, o que tem de resultar da fonte da obrigação — quando se trate de um negócio jurídico, tem de resultar das declarações das partes devidamente interpretadas. Por outras palavras, o art. 781.º visa casos em que a obrigação está «perfeitamente constituída», sendo por isso, à partida, exigível, mas em que a exigibilidade é afastada por uma cláusula negocial específica. Estando em causa um contrato sinalagmático, essa atribuição ao devedor existe sempre que o fraccionamento da prestação por si devida permita que seja feita depois da prestação que visa remunerar. Pelo contrário, a convenção nos termos da qual os juros devam ser pagos em partes ao longo do período de vigência do mútuo não pode ser interpretada como cláusula que concede uma atribuição ao mutuário. Esta estipulação não antecipa nem adia. Apenas estabelece, tanto quanto possível, a concordância temporal na execução das atribuições de ambas as partes no contrato de mútuo, sendo, por isso, um mecanismo negocial que reforça, no plano executivo, o sinalagma. Tal como, na generalidade dos contratos sinalagmáticos, uma prestação não é exigível sem a realização da contraprestação (cf. art. 428.º) e tende a extinguir-se se a contraaí o equívoco é ainda menos compreensível dado que em todas elas se julgou a mora do mutuário na restituição de fracções do capital e simultaneamente dos juros; portanto, hipóteses a que se aplica inequivocamente o art. 1150.º. 16 O art. 1150.º serve literalmente apenas para a falta de pagamento dos juros, mas pode estender-se, sem dificuldade, à falta de restituição de parcelas do capital (não acompanhada de falta de pagamento dos juros), dado tratar-se em qualquer dos casos de uma «resolução não sinalagmática» (cf. mais à frente, no texto correspondente à n. 27). 7 prestação nunca for cumprida (cf. arts. 795.º e 801.º/2), também no mútuo não há lugar ao pagamento de juros quando não chegue a decorrer o correspondente período de disponibilidade do capital e, o que agora mais nos interessa, os juros só são exigíveis, em princípio, à medida que decorre esse tempo correspondente. Como veremos melhor a seguir,17 pode dizer-se que, no sinalagma, a realização da prestação é co-constitutiva do direito à contraprestação. No mútuo oneroso, o decurso do tempo de disponibilidade do capital é coconstitutivo do direito aos juros. A razão profunda da inaplicabilidade do «vencimento antecipado» à obrigação de juros está, assim, em o mútuo oneroso ser um contrato sinalagmático. E é a esta luz que deve ser entendida a fórmula corrente de que o art. 781.º só valeria quando houvesse «uma única obrigação com prestação fraccionada» e não perante uma obrigação com «prestações periódicas» ou uma pluralidade de obrigações distintas sucessivamente emergentes da mesma fonte. A ideia de unidade de obrigação (com prestação dividida), por oposição à de pluralidade de obrigações distintas não é mais do que uma fórmula de síntese dos fenómenos em causa. A afirmação da «natureza» unitária ou plural daquelas obrigações, em si mesma, nada explica, antes tem de ser ela própria explicada, sob pena de «inversão metodológica».18 A reforçar esta conclusão está o facto de não existir nenhum obstáculo formal à constituição de uma obrigação de juros com pagamento integral num só momento desfasado do período de disponibilização do capital: é o caso da cláusula de cobrança «juros à cabeça», em que o pagamento juros ocorre logo após a celebração do negócio, mediante dedução do correspondente valor no capital entregue19. E é também o caso da estipulação inversa que deixe a liquidação da totalidade dos juros para o dia em que acabe de ser devolvido o capital. Nestes exemplos, os juros dão lugar a uma única obrigação de prestação não fraccionada: por que se diz então que, ainda assim, a cláusula de pagamento periódico dos juros origina várias dívidas e não uma só uma, embora de prestação parcelada? A resposta está precisamente na necessidade de transpor para o plano da descrição dos fenómenos a diferença radical existente entre a obrigação de juros com pagamento periódico e outras obrigações de pagamento fraccionado: nos juros remuneratórios, a estipulação de vários pagamentos repartidos no tempo destina-se a pôr de acordo os tempos de execução da atribuição e da contra-atribuição, e não a adiar a execução de uma prestação que, pelo jogo do sinalagma, deveria ter sido cumprida integralmente num momento anterior. É claro que a nossa construção conduz, nalguns casos, à aplicabilidade do art. 781.º ao mútuo oneroso. Ao mesmo tempo, mostra-se que não seria exacta a ideia de a obrigação de Infra, na al. d), na medida em que a teoria da «limitação imanente» tem razão. Não obstante, pode haver «pluralidade de obrigações sucessivas» que não decorra de um sinalagma. Não defendemos que o sinalagma seja o único modo de tornar constitutivo o decurso do tempo. É assim na generalidade das relações duradouras. Por exemplo, se a padaria se obriga a entregar certa quantidade de pão todas as manhãs, durante um ano, o incumprimento numa das manhãs não leva ao «vencimento antecipado» das obrigações de entrega de pão, nem mesmo se o credor se dispuser a pagar de imediato a totalidade do preço respectivo. 19 A prática é vedada nas operações bancárias de crédito, excepto nas que consistam no desconto de letras, extractos de factura e warrants (cf. o art. 5.º/1 e 3 do DL 344/78 de 17 de Novembro, na redacção que lhe foi dada pelo DL n.º 204/87 de 16 de Maio). 17 18 8 juros corresponder sempre a várias dívidas ou ter sempre natureza periódica. Os prazos de cumprimento de obrigações de juros também podem ter o significado de antecipações ou de adiamentos. As cláusulas de liquidação de «juros à cabeça» ou de juros no final são, neste sentido, antecipatórias e protelatórias, respectivamente. No limite, é possível conjugar-se um pagamento faseado com o adiamento: pense-se na convenção em cujos termos os juros devam ser pagos em parcelas depois da restituição do capital. Neste caso, é aplicável o art. 781.º. Por maioria de razão, não pode recorrer-se ao art. 781.º para cumular a exigência antecipada do capital e o vencimento imediato dos juros devidos até ao final. Aqui a contrariedade ao sinalagma seria ainda mais intensa: não se trataria apenas de desfasar temporalmente as atribuições, mas de permitir que uma sobrevivesse sem a outra.20 O mutuante desencadearia o termo da sua atribuição — pedindo a devolução do capital antes do decurso do prazo acordado — e conservaria o direito aos juros relativos a períodos posteriores à efectiva devolução do capital, para mais, exigindo-os antecipadamente. No entanto, contra o que nos parece incontestável, a jurisprudência tem autorizado repetidamente a cumulação do pedido de restituição antecipada do capital com o de pagamento imediato da totalidade dos juros vincendos.21 Nas decisões judiciais em causa, não se trata de conceder ao mutuante o direito a reclamar do mutuário cumulativamente a restituição do capital mutuado e o pagamento de juros remuneratórios vencidos no decurso da acção. Esta exigência seria perfeitamente legítima e conforme com o sinalagma. Após a resolução e até à efectiva entrega do capital são devidos juros remuneratórios, mas estes não têm de corresponder à totalidade dos juros do mútuo e, além disso, vão-se vencendo periodicamente, não incidindo sobre eles juros moratórios desde o início da acção. Nos acórdãos em questão, o teor das decisões é bem diverso: considera-se que a totalidade dos juros do empréstimo se vence logo com o pedido de restituição antecipada. Depois, sobre a soma assim apurada (parcela do capital ainda não restituído acrescida da totalidade dos juros que seriam pagos até ao termo do empréstimo) são contabilizados juros de mora, desde que respeitada a proibição de anatocismo. Esta pretensão não tem cabimento no direito (supletivo) vigente. Conceda-se, porém, que esta corrente jurisprudencial acaba por não chegar, na maioria dos casos, a resultados manifestamente inconvenientes: dada a morosidade dos processos, o É isso que acontece no art. 795.º/2. Porém, não só falha uma analogia com o nosso caso, o art. 795.º/2 ainda dá lugar a alguns descontos, justamente por se ter quebrado o sinalagma. Cf. tb., na n. seguinte, a referência ao art. 1147.º. 21 Cf. RLx 27/05/1997, CJ XXII (1997), t. II, 97-99; RLx 10/02/2000, CJ XXV (2000), t. I, 107-110; RLx 5/02/2002, CJ XXVII, t. I, 98-101; RLx 21/01/2003, CJ XXVIII (2003), t. I, 70-73; RLx 13/05/2003, CJ XXVIII (2003), t. III, 75-78; STJ 08/12/2003, em www.dgsi.pt. No bom sentido surge apenas uma decisão recente do Supremo: STJ 31/03/2004, em www.dgsi.pt (embora o acórdão se limite, neste aspecto, a reproduzir as considerações da decisão recorrida). Na doutrina SIMÕES PATRÍCIO (Direito bancário, 306-307) levanta dúvidas sobre tal prática, mas parece acabar por admiti-la, apenas excluindo a cobrança de juros de mora sobre os juros «antecipadamente vencidos». A correcção do resultado surge com evidência se se comparar o regimedo contrato de locação: numa acção de despejo fundada, v. g., em falta de pagamento das rendas pelo locatário, não podem exigir-se as rendas futuras. No mútuo não pode deixar de valer solução idêntica. Na locação financeira, economicamente ainda mais próxima do mútuo, a proibição de cumulação da devolução do bem com as prestações vincendas é orientação assente na doutrina e jurisprudência (cf. MENEZES CORDEIRO, Manual de direito bancário, 2.ª ed., Almedina, Coimbra, 2001, 607-608). Sublinhe-se finalmente que há uma diferença entre a situação analisada no texto e a regulada no art. 1147.º. Nesta última, é legítima a manutenção do direito aos juros vincendos: a restituição antecipada decorre de decisão discricionária do mutuário. Em caso de falta de pagamento de uma das prestações pelo mutuário, a restituição antecipada é decidida pelo mutuante, que poderia optar pela execução do contrato. Compreende-se, por isso, que perca o direito à contraprestação relativa aos períodos não decorridos. 20 9 capital acaba por ser restituído muito depois do período em que, nos termos do acordo, deveria estar à disposição do mutuário, de tal forma que acaba por não haver lugar a juros dissociados da disponibilidade do capital. Nesta particularidade reside aliás, supomos, a razão da sua sedimentação. Seja como for, temos por inaceitável a solução de se considerarem vencidas toda as prestações de juros devidas até ao final desde a data em que é proposta a acção para recuperação do capital, com o efeito de serem cobrados juros de mora sobre o montante obtido nessa data. As partes do contrato de mútuo podem, é claro, acordar, para o caso de atraso no cumprimento de uma das prestações, o «vencimento imediato» das restantes ainda em dívida. Trata-se de uma estipulação corrente na prática negocial das instituições de crédito. Novamente, a consideração do sinalagma subjacente ao empréstimo remunerado tem relevo na resposta a questões de interpretação, de validade e de regime destas cláusulas. Em primeiro lugar, temos aqui cláusulas resolutivas, qualquer que seja a designação usada pelos contraentes. Se as prestações em causa integrarem simultaneamente a restituição de uma parcela do capital emprestado e o pagamento dos juros relativos ao período em causa, detecta-se um problema interpretativo adicional: há que esclarecer se houve um acordo efectivo quanto à possibilidade de cumular a resolução com a exigência dos juros vincendos. Em caso afirmativo, a cumulação da declaração resolutiva com a manutenção do direito à contraprestação permite qualificar esta última como efeito convencional associado ao não cumprimento. Não deixa de se tratar da contraprestação, mas o facto de ser devida sem a prestação que se destinava a remunerar e de essa subsistência ser estipulada como sanção para o não cumprimento verificado sujeita-a às regras que permitem corrigir a fixação negocial das consequências da violação do dever de prestar. Terão assim aplicação o art. 812.º22 e também, tratando-se de uma cláusula contratual geral, a proibição do art. 19.º/1/c) da LCCG (sancionada com nulidade).23 Cabe agora uma atenuação do que acabamos de dizer. Não deve sobrevalorizar-se a importância do alargamento do conceito de sinalagma na compreensão e fixação do regime dos contratos afectados por essa extensão. A faculdade resolutiva concedida ao mutuante em caso de falta de pagamento dos juros pelo mutuário (cf. o art. 1150.º) é justamente um exemplo de uma regra cujo tratamento pouco ganha com a consideração do sinalagma presente no mútuo oneroso. No essencial, a natureza sinalagmática do mútuo oneroso serve aí apenas para esclarecer que qualquer restituição antecipada do capital por decisão do mutuante fundada em incumprimento do mutuário terá sempre de ser actuada por meio de um mecanismo que assegure a extinção global da relação contratual, com perda do direito aos juros. Daí a escolha da resolução. Mas, em tudo o que ultrapassa esta observação, o sinalagma No sentido de o art. 812.º consagrar um «princípio geral» aplicável a todos os acordos que fixem as consequências no não cumprimento, cf. PINTO MONTEIRO, Cláusula penal e indemnização, Almedina, Coimbra, 1990, 730 e ss. 23 Outras vantagens da opção por um conceito amplo de sinalagma encontram-se, por exemplo, na clarificação da extensão do art. 1150.º a contratos de crédito não típicos, na aplicação da limitação do art. 802.º/2 à resolução por falta de pagamento dos juros ou por não cumprimento da obrigação de restituir o capital e finalmente na compreensão e interpretação do art. 1147.º (sobre tudo isto, cf. M.ª LURDES PEREIRA, Conceito, 256 e ss.). 22 10 é irrelevante para a explicação do art. 1150.º. A resolução do mútuo não dá resposta a um problema de reflexo da prestação na respectiva contraprestação. Não se trata aqui de, em face da falta de cumprimento, autorizar a parte fiel a exonerar-se definitivamente do seu dever de contraprestar. Tão-pouco se trata de permitir reaver a contraprestação já realizada. A eficácia liberatória-recuperatória24 definidora da resolução do art. 801.º não ocorre na resolução do art. 1150.º. A resolução do mútuo não se destina à recuperação da contra-atribuição já realizada pelo mutuante. Faculta, é certo, a restituição do capital, mas isso é produto do vencimento antecipado da obrigação de restituição decorrente da cessação também antecipada do contrato, e não se confunde com a recuperação da contra-atribuição já feita.25 Na parte em que permite ao mutuante pôr cobro, in futurum, à sua atribuição, a resolução do mútuo continua estranha ao sinalagma: a disponibilidade futura do capital não está numa relação de troca com os juros já vencidos e não pagos. De resto, nem pode falar-se aqui em eficácia liberatória em sentido próprio, pois o mutuante a nada se vincula. Finalmente, a resolução «comum» afasta-se também da resolução do mútuo no plano do carácter instantâneo do efeito extintivo: na resolução do art. 801.º/2, a declaração de resolução impede só por si e imediatamente que o contrato produza efeitos futuros; no mútuo, pelo contrário, a mera declaração resolutiva não põe termo à atribuição patrimonial do mutuante, que só ocorre com a restituição; por isso, os juros são devidos enquanto tais até recuperação efectiva do capital (são devidos enquanto juros remuneratórios e não como indemnização, dependente da culpa do devedor).26 A resolução do mútuo não é, pois, uma «resolução sinalagmática». Mas isso não depõe contra o alargamento do conceito de sinalagma. A «resolução não sinalagmática» aparece também na impossibilidade parcial e no cumprimento defeituoso em contratos sinalagmáticos no sentido tradicional, bem como em todas as relações contratuais duradouras.27 A eficácia não automática da declaração resolutiva surge igualmente no contrato de locação, tido por sinalagmático, no sentido tradicional, por uma parte considerável da doutrina. Em suma, as diferenças entre a resolução do art. 1150.º e a resolução do art. 801.º/2 não demonstram a inconveniência de um conceito alargado de sinalagma. Apenas assinalam um limite à sua relevância. É também a esta luz que deve ser analisada a polémica ocorrida na vigência do Código de Seabra acerca da aplicação da chamada «condição resolutiva tácita» ao contrato de mútuo. Discutia-se a possibilidade de o mutuante «exigir do que não houver satisfeito (…) o que pela sua parte prestou», segundo a fórmula do art. 676.º do Código de 1867. GALVÃO TELLES Cf. BRANDÃO PROENÇA, A resolução do contrato no direito civil: do enquadramento e do regime, reimp., Coimbra Ed., Coimbra, 1996 (1982), 64-65 e passim. 25 Repare-se que a resolução do art. 801.º/2 pode, a título eventual e acessório, desencadear a antecipação do vencimento de obrigações de restituir, pois estas têm de ser cumpridas no termo do contrato, qualquer que seja o momento e a forma por que opere a cessação. Em qualquer caso, trata-se de meras sequelas dessa resolução que não a definem como remédio. 26 Assim, M.ª LURDES PEREIRA, Conceito, 260. 27 O tratamento ex professo das resoluções não sinalagmáticas fica para um estudo posterior. 24 11 recusou a aplicação do preceito com o argumento de que o mútuo não era sinalagmático.28 Na verdade, porém, o carácter sinalagmático ou não sinalagmático do mútuo era irrelevante para a solução da questão. A recusa da aplicação do art. 676.º do Código de Seabra ao contrato de mútuo deveria ter-se baseado num ponto de partida substancialmente distinto. A verdade é que aquele preceito previa uma «resolução sinalagmática» e esta, assim estritamente entendida, não é apropriada para facultar ao mutuante a cessação in futurum da atribuição a seu cargo. c) Quase-sinalagmas Em suma, um alargamento do conceito de sinalagma que não o limite a obrigações, antes abranja quaisquer atribuições jurídicas, além de suprimir algumas faltas de coerência da terminologia actual apresenta utilidade efectiva no enquadramento e na solução de questões de regime. No entanto, o problema da extensão da disciplina própria do sinalagma volta a colocar-se perante estruturas atributivas já ligeiramente diferentes do sinalagma, mesmo no sentido amplo em que usamos a palavra. Dada a relativa arbitrariedade das terminologias, também estes casos podiam ser incluídos num conceito de «sinalagma». Não temos nenhuma oposição de princípio a quem queira fazê-lo. Como, porém, estão em causa, não uma ou mais figuras homogéneas, mas antes situações diversificadas a exigir diferentes adaptações de regime, tal como são ou podem ser maiores os afastamentos de regime relativamente à disciplina central do sinalagma, e como, em suma, a redefinição de «sinalagma» de modo a incluir estes casos seria mais complexa, preferimos falar aqui de «quase-sinalagmas». O uso do plural destina-se precisamente a acentuar a heterogeneidade dos casos que temos em vista. Aludimos ao «meio sinalagma» e ao «sinalagma trilateral». Os remédios sinalagmáticos aplicam-se, com modificações, a certos negócios em que, apesar de apenas um dos intervenientes assumir uma atribuição jurídica, esta é assumida para a concretização de uma prestação pelo outro interveniente e limitada a esta concretização. São, pois, estruturas semelhantes a um sinalagma, mas em que só uma pessoa se vincula. A esta estrutura pode dar-se o nome de «meio sinalagma». No meio sinalagma, um dos intervenientes obriga-se a uma prestação ou realiza uma atribuição de outro género se e só se o beneficiário fizer ou deixar de fazer algo e para esse preciso fim, mas sem que este último prometa coisa alguma ou esteja de outra forma vinculado. É o caso da empresa que promete determinada importância a um técnico que lhe apresente dentro de certo prazo um estudo essencial ao seu crescimento, sem o técnico assumir a obrigação de fazê-lo. Pense-se na promessa de alvíssaras e noutros casos do art. 459.º, ou ainda numa disposição testamentária em que o autor da herança deixa um objecto de arte a um coleccionador sob a «condição» de este dar a um GALVÃO TELLES sustentou a inaplicabilidade ao mútuo oneroso da dita «condição resolutiva tácita», alegando que o «contrato de usura não possui estrutura bilateral ou sinalagmática» (Condição resolutiva tácita. O problema dos efeitos, quanto à resolução do contrato, da falta de pagamento dos juros no mútuo retribuído, Jornal do Foro, 1961, 51). 28 12 terceiro o valor da obra estabelecido por um perito.29 Sublinhe-se ser indiferente que o beneficiário esteja ou não determinado ab initio e que o meio sinalagma provenha de um negócio unilateral ou de um contrato. Contudo, não constitui um meio sinalagma toda a atribuição unilateral cuja consumação dependa de uma actuação de outra pessoa sem que esta se obrigue. Não há meio sinalagma se se prometer uma prestação sob condição de que outrem faça ou deixe de fazer algo, mas sem a finalidade de obter essa acção ou omissão.30 P. ex., não há meio sinalagma no caso de se prometer alojar alguém que pretende visitar certa povoação em certo mês, sob condição de ocorrer essa visita. Também não há meio sinalagma num contrato-promessa unilateral simples31 ou numa locação com opção de compra.32 Nestas hipóteses, nem poderá falar-se em prestação ou, mais amplamente, em atribuição a cargo do beneficiário da verdadeira vinculação. Por isso, uma vez não verificada a actuação deste no prazo fixado, a vinculação caduca sem outros efeitos. Nas situações a que chamamos meio sinalagma, a extinção da atribuição não é sempre automática. Sê-lo-á nos casos de impossibilidade da prestação não obrigatória33. Pelo contrário, ocorrendo defeito quantitativo ou qualitativo da prestação do beneficiário, o obrigado 29 Alguns dos exemplos são de ANTUNES VARELA (Ensaio, cit., 169), embora o Autor não os qualifique como meios sinalagmas ou sinalagmas imperfeitos. 30 Veja-se o que se dirá a propósito de o sinalagma pressupor necessariamente que cada obrigação tenha a finalidade (ou função) de vir a realizar-se a prestação da outra, infra, na al. d). 31 Do mesmo modo, o contrato-promessa dito «bilateral» não é, em nosso entender, um contrato sinalagmático, embora a opinião dominante vá em sentido contrário (cf., contudo, M.ª LURDES PEREIRA, Conceito, 260, n. 675, e a bibliografia aí citada). FERREIRA DE ALMEIDA, Texto, 543, n. 229, escreve que a «função económico-social» do contrato-promessa é sempre a do contrato definitivo, solução que temos também por duvidosa, embora o «princípio da equiparação» (cf. art. 410.º/1) aponte para soluções algo favoráveis à tese do autor. Uma maneira intuitiva de mostrar que não há sinalagma no contrato-promessa «bilateral» é compará-lo com um contrato-promessa unilateral remunerado. Aqui, obviamente, há sinalagma, mas salta à vista a diferença de estrutura entre as duas figuras. Mais importante é notar que as partes, no contrato-promessa «bilateral», se obrigam ambas a fazer o mesmo: o contrato definitivo. O contrato definitivo é o resultado definidor de ambas as prestações devidas. No sinalagma, pelo contrário, há atribuições diferentes que se cruzam de uma para a outra parte. No sinalagma obrigacional, para duas prestações há dois resultados distintos. O facto de os promitentes irem ocupar posições diferentes (e porventura sinalagmáticas, se for o caso) no contrato definitivo é irrelevante para a qualificação: ambos se obrigam a celebrar um único contrato, em que ocuparão essas posições diferentes. Também é irrelevante que, no contrato definitivo, possamos discernir uma declaração de cada parte, porque essas declarações têm o mesmo conteúdo, ainda que com palavras diferentes — como «compro» e «vendo», «proponho» e «aceito» ou «levo» e «trazes» —, o que se torna evidente nos contratos por escrito redigidos em termos impessoais, como é comum. O contrato-promessa «bilateral» também não inclui um elemento de finalidade comparável ao dos contratos sinalagmáticos. Nestes, como veremos infra, na al. d), cada vinculação tem por finalidade estipulada a realização da atribuição da contraparte. No contrato-promessa, pelo contrário, ambas as partes estão obrigadas a celebrar o contrato definitivo, que não é, portanto, finalidade dessas obrigações, mas elemento do seu conteúdo (tb. não teria sentido dizer que a finalidade da obrigação do vendedor é a entrega da coisa). Ou, se quisermos forçar a ideia, ambas as obrigações têm a mesma finalidade, o que é próprio das relações de cooperação, e não dos sinalagmas. Por tudo isto, não surpreende que sejam inaplicáveis ao contrato-promessa «bilateral» os arts. 428.º ss. e 795.º, tal como os preceitos sobre redução da contraprestação. Não é sequer inteligível uma aplicação destes dispositivos legais, já que o não cumprimento — total ou parcial, temporário ou definitivo — da obrigação de uma das partes é, necessariamente, um não cumprimento nos mesmos termos da obrigação da outra parte (sem prejuízo de poder ser imputável a só um dos promitentes). As questões resolvidas pela lei nesses locais não chegam a colocar-se. Ao mesmo tempo, a possibilidade de resolução por incumprimento de um contrato-promessa «bilateral» resulta de nem todas as resoluções por incumprimento decorrerem do sinalagma (cf. o que se disse supra, no texto correspondente à n. 27). Além disso, a resolução será ainda viável quando o «princípio da equiparação» a tal conduzir (cf. art. 410.º/1). Aparentemente, o contrato-promessa dito «bilateral» é, em si mesmo, um contrato de cooperação. 32 Mais amplamente, não há, como é evidente, meio sinalagma entre um direito potestativo e a respectiva sujeição. O conjunto é uma única atribuição, quando o for. 33 Por definição, esta impossibilidade é não culposa, visto não haver vinculação. Todavia, não é impossível que a boa fé justifique, nalguns casos, que se fale de culpa, mas aí parece necessário concluir que o meio sinalagma se converte num sinalagma verdadeiro num momento logicamente anterior. 13 poderá optar por manter a sua, ainda que proporcionalmente reduzida. De resto, cremos mesmo que há limites à faculdade de o obrigado resolver o seu vínculo unilateral, faculdade que, à semelhança do que vale para o sinalagma proprio sensu, dependerá de o defeito ser ou não impeditivo da satisfação do seu «interesse».34 Neste ponto particular, não nos parecem existir razões para tratar estas trocas em termos diversos dos que vigoram para aquelas em que ambas as partes se vinculam. Em suma, uma extinção automática independente da medida em que o beneficiário logrou realizar o comportamento por si pressuposto parece ser apropriada aos casos em que o que se vincula age apenas com o fim de fazer a correspondente atribuição, mas não já àqueles em que, diversamente, o fim é obter uma atribuição por parte do beneficiário. Nos primeiros poderemos falar em vinculação condicional. Nos segundos, não há condição, mas «meio sinalagma».35 Um meio sinalagma é-o por apenas um dos sujeitos envolvidos se vincular. Mas os remédios ditos sinalagmáticos não estão reservados a essa parte. O obrigado que, por exemplo, já tenha realizado a sua prestação poderá resolver o negócio se a outra parte não efectuar a prestação visada, ou não a realizar em termos que correspondam ponto por ponto ao estipulado. Em contrapartida, o não vinculado pode lançar mão das regras relativas à redução da contraprestação se, por exemplo, o bem a que tinha direito se deteriorar sem culpa do obrigado (antes da transferência do risco) ou noutros casos de prestação deficiente. Acresce que o meio sinalagma se transforma num sinalagma proprio sensu se e na medida em que o beneficiário realize o que dele era esperado: aí pertence ao sentido do seu acto de prestar o de a atribuição subjacente ser limitada pela da outra parte. As estruturas negociais de que resultem atribuições jurídicas interdependentes a cargo de três pessoas compõem outro dos grupos de casos cujas ligações com o sinalagma «puro» interessa esclarecer. Chamemos-lhe negócios com sinalagma trilateral, sem, contudo, deixar de sublinhar quer a diversidade dos casos abrangidos sob esta referência, quer, também por causa dessa heterogeneidade, o facto de não estarmos perante um alargamento do esquema «clássico» do sinalagma às relações triangulares.36 Cf. arts. 793.º, 802.º, 808.º, etc. Diversamente, ANTUNES VARELA (Ensaio, cit., 171-6) sustenta que os casos que denominamos meio sinalagma constituem «vinculações condicionais» (rectius, atribuições condicionais onerosas), vinculações condicionis implendae causa (expressão justinianeia, v.g., em D. 35.1.62.1 e D. 39.6.8, pr.). O autor sublinha as diferenças entre este tipo de vinculação e o sinalagma — diferenças essas entre as quais se contaria a do efeito resolutivo ipso iure. Como resulta do texto, entendemos que nos casos enunciados não há condição: os problemas resolvem-se com remédios sinalagmáticos, e não com o regime da condição. No direito inglês, a propósito da rescisão pelo obrigado de unilateral contracts e de options, TREITEL (The law of contract, 10.ª ed., Sweet & Maxwell, Londres, 1999, 810-811) afirma que esta rescisão prescinde da demonstração de que a falta da acção ou omissão pressuposta causa um prejuízo sério ao obrigado. Fundamenta-o no facto de a rescisão ser o único meio de defesa do obrigado: este não pode pedir uma indemnização se o beneficiário da promessa não actuar como estipulado. Porém, cremos que esta solução é fruto de uma insuficiente distinção de casos dentro da categoria dos unilateral contracts, pois esta é mais ampla do que a dos negócios com sinalagma unilateral: abarca todas as hipóteses em que alguém promete uma soma em dinheiro (ou determinada acção ou omissão) se outrem, sem o prometer, fizer ou deixar de fazer algo, não se distinguindo consoante a promessa seja ou não assumida com o fim de obter a acção ou omissão do beneficiário (cf. TREITEL, The law of contract, 37 e ss.). 36 A expressão sinalagma trilateral é de HEERMANN, Drittfinanzierte Erwerbsgeschäfte. Entwicklung der Rechtsfigur des trilateralen Synallagmas auf der Grundlage deutscher und U.S.-amerikanischer Rechtsentwicklungen, Mohr Siebeck, Tubinga, 1998, 140 e passim. Para uma identificação de outros casos de sinalagma trilateral, em que se inclui a locação financeira, vide idem, 16-50 e 95-137. 34 35 14 No sinalagma trilateral mais simples, ou mais perfeito, três intervenientes fazem atribuições jurídicas de tal modo interdependentes entre si que cada uma delas se encontra intrinsecamente limitada ao sucesso de uma outra atribuição a cargo de parte diversa da beneficiária da primeira. O sinalagma bilateral corresponde a dois do ut des recíprocos e em que coincidem rigorosamente aquele a quem se «dá» e aquele de quem se pretende «receber», mesmo que esta prestação seja dirigida a terceiro. Neste sinalagma trilateral há três do ut des não recíprocos e cada uma das partes «dá» à outra se a terceira, por seu turno, lhe «der», e para que lhe «dê». Os remédios sinalagmáticos têm aqui uma aplicação adaptada. Supondo uma relação puramente obrigacional, o não cumprimento por uma das partes dará, em regra, ao respectivo credor a possibilidade de, verificados os competentes requisitos, usar esses remédios contra a terceira parte, de quem ele é devedor e relativamente à prestação por ele devida. Acresce que o exercício desses meios de defesa terá, em princípio, um efeito de cascata, i.e., legitimará a terceira parte a exercer um meio de defesa idêntico no que respeita à sua vinculação. Estando A interessado em que B lhe limpe regularmente a casa durante um ano, pretendendo C receber explicações de inglês de A durante um ano e, finalmente, querendo B que C tome conta da sua filha enquanto B trabalha, também durante um ano, A, B e C podem convencionar uma «troca» triangular. Se posteriormente A faltar ao acordado e se recusar definitivamente a dar lições particulares a C, C poderá, por via resolutiva, pôr termo definitivamente à obrigação que tinha para com B, e B, finalmente, por já não ter direito aos serviços de C, poderá deixar de limpar a casa de A. Oferece-nos um exemplo de um negócio com sinalagma trilateral, com inegável interesse prático na economia actual, a compra e venda ou prestação de serviços com financiamento por terceiro sempre que a ligação sinalagmática resulte das declarações das partes.37 O sinalagma trilateral não está, de modo algum, confinado à prévia celebração de um acordo de exclusividade entre financiador e fornecedor exigida pelo art. 12.º/2 do DL n.º 359/91 de 21 de Setembro (Regime Jurídico do Crédito ao Consumo, adiante RCC).38 O sinalagma trilateral, como o sinalagma propriamente dito, faz parte do conteúdo das declarações negociais, pelo que não depende nem é posto em causa por convenções estranhas a uma das partes desse sinalagma, como é o caso do acordo de exclusividade entre financiador e vendedor relativamente ao comprador. Embora uma leitura superficial pudesse induzir à conclusão oposta, o citado art. 12.º/2 do RCC não é uma consagração do sinalagma trilateral. Por outras palavras, não estatui a dependência entre a prestação devida pelo comprador ao financiador e o seu direito à entrega de uma coisa conforme ao contrato de venda. Os termos da admissibilidade de uma recusa Por comodidade passamos a referir-nos apenas à compra e venda, mas as observações que faremos valem indistintamente para quaisquer outros contratos financiados por terceiro. 38 O DL 359/91 de 21 de Setembro já foi alterado pelo DL 101/2000 de 2 de Junho e pelo DL 81/2006 de 3 de Maio, mas sem implicações para a redacção do citado art. 12.º. 37 15 (temporária ou definitiva) de cumprimento do comprador ao financiador com fundamento numa perturbação da compra e venda não integram o horizonte regulativo do preceito.39 O art. 12.º/2 do RCC limita-se a consagrar a responsabilidade subsidiária do financiador pela satisfação de direitos que assistam ao comprador em razão do não cumprimento, lato sensu, da compra e venda. A exigência de uma cláusula de exclusividade entre financiador e fornecedor, bem como o requisito da subsidiariedade da actuação contra o financiador só valem na solução dessa específica questão.40 Aprofundemos a justificação da inaplicabilidade do art. 12.º/2 do RCC às sequelas do sinalagma trilateral. Já se vê que, estando em causa problemas jurídicos tão distintos, não podem ser aglutinados numa disposição que não os separe (o art. 12.º/2 do RCC), que delimite de forma unitária o seu âmbito de aplicação e estabeleça, sem excepção, o requisito da subsidiariedade de uma acção contra o financiador. Na esteira de uma separação tríplice dos problemas jurídicos colocados pelo não cumprimento, embora sem estar exactamente de acordo com essa repartição tripartida41, dir-se-á que estamos perante perguntas inconfundíveis. De um lado, está em causa saber se pode ser autorizada uma atitude «defensiva» do comprador perante o financiador com base numa perturbação da atribuição que lhe é (ou era) devida nos termos da compra e venda celebrada: o comprador invoca o não cumprimento da venda para suspender temporária ou definitivamente o pagamento das prestações devidas ao financiador. Aqui, o postulado de não piorar a posição do comprador financiado relativamente à do comprador a prestações vai constituir simultaneamente o fundamento e o critério da resposta a este problema. De outro lado, está em causa uma actuação «agressiva» do comprador, que pretende exigir ao financiador a satisfação de pretensões, maxime, indemnizatórias decorrentes do contrato de compra e venda. Como, porém, o exercício de semelhantes direitos representa um avantajamento da posição do comprador financiado relativamente à do comprador a prestações, só há que autorizá-lo no universo limitado de casos em que tal tratamento mais favorável se justifique. A inaplicabilidade do art. 12.º/2 do RCC ao primeiro problema é, de resto, confirmada pelo art. 11.º da Directiva 87/102/CEE de 22 de Dezembro de 86: ainda que de forma não inteiramente clara, os dois problemas surgem devidamente apartados nos dois primeiros números deste artigo da Directiva. O 12.º/2 do RCC limitou-se a decalcar o n.º 2 do art. 11.º da Directiva, e o n.º 1 não chegou a ser transposto.42 De modo análogo, os arts. 307.º e 308.º do Anteprojecto do Código do Consumidor também estabelecem as devidas distinções. O art. 307.º trata da suspensão ou recusa de reembolso da quantia mutuada ou utilizada, a qual é autorizada sempre que haja uma unidade económica entre contrato de crédito e o contrato de Neste sentido PAULO DUARTE, Contrato de aquisição na compra e venda financiada, Sub Judice n.º 24 (Janeiro/Março 2003), 51 e ss., ID, A posição jurídica do consumidor na compra e venda financiada: confronto entre o regime em vigor e o Anteprojecto do Código do Consumidor, Estudos de Direito do Consumidor n.º 7, 2005, Centro de Direito do Consumo, 395 e ss.., com argumentação convincente. Porém, ao contrário do sustentado por este autor, não é forçoso considerar-se que existe uma lacuna, dada a extrema variedade de configurações do sinalagma trilateral. Pelo menos, não nos parece haver lacuna exclusiva do direito do consumo. Em sentido oposto, GRAVATO MORAIS considera indistintamente reguladas no art. 12.º/2 do RCC todas as possíveis reacções do comprador contra o financiador em razão do não cumprimento da compra e venda: cf. União de contratos de crédito e de venda para consumo. Efeitos para o financiador do incumprimento pelo vendedor, Almedina, Coimbra, 2004, 136 e ss. e posteriormente ID, União de contratos de crédito e de venda para consumo: situação actual e novos rumos, Estudos de Direito do Consumidor n.º 7, 2005, Centro de Direito do Consumo, 293 e ss. e ID, A unidade económica dos contratos, Sub Judice n.º 36 (Julho/Setembro 2006), 26 e ss. 40 Não estando regulado no art. 12.º/2 do RCC o problema da recusa de cumprimento do comprador perante o financiador com fundamento no não cumprimento, lato sensu, da compra e venda, deixam de fazer sentido as tentativas de interpretar amplamente a exigência de relação de exclusividade que nele se faz, bem como a adaptação do requisito da subsidiariedade àquelas situações. Cf., quanto a estes problemas, GRAVATO MORAIS, União de contratos, 51 e ss. 41 Veja-se o que se dirá abaixo, a propósito de, mesmo existindo sinalagma trilateral, ser inadmissível a exigência ao financiador da restituição das prestações já pagas em caso de resolução pelo comprador do contrato de compra e venda: aqui temos um problema de saber se é possível uma actuação «agressiva» do comprador em relação ao financiador, que, nesta medida, deve ser resolvido em termos idênticos ao do exercício de pretensões indemnizatórias contra o financiador. Simultaneamente, porém, trata-se de um problema respeitante ao sinalagma. 42 Acentuando a falta de transposição do art. 11.º/1 da Directiva, cf. PAULO DUARTE, Contrato de aquisição, 53-58, ID, A posição jurídica, 396-398. 39 16 fornecimento do bem ou serviço (definida no art. 304.º do mesmo anteprojecto) e sempre que o comprador se apoie numa excepção que o legitimaria a recusar ou suspender o pagamento do preço ao fornecedor.43 O art. 308.º, por seu turno, regula a responsabilidade subsidiária do financiador relativamente à satisfação de direitos que ao comprador assistam em virtude do não cumprimento do contrato de fornecimento, o que é autorizado apenas quando exista um acordo prévio de exclusividade entre fornecedor e financiador. Os contratos de fornecimento de bens ou serviços com financiamento de terceiro apresentam complexidade acrescida relativamente a outras manifestações do sinalagma trilateral. Colocam, sobretudo, questões intrincadas no plano da distribuição do risco de insolvência de um dos intervenientes pelos restantes. A desnecessidade de colocar o comprador numa posição melhor do que aquela em que estaria se tivesse celebrado uma compra e venda a prestações deve influenciar a atribuição desse risco, contrariando a solução que decorreria da pura consideração do nexo sinalagmático entre as vinculações assumidas. Pense-se, por exemplo, na decisão do comprador de resolver o contrato de compra e venda com fundamento em incumprimento do vendedor, estando este último insolvente. Cremos que, em tal caso, o comprador pode pôr termo ao financiamento, exonerando-se da obrigação de pagar quaisquer prestações futuras ao financiador. A possibilidade de exigir a restituição do que já pagou, porém, afigura-se de excluir: a pretensão restitutória contra a instituição financiadora resultaria coerentemente da ideia de sinalagma trilateral mas, por comparação com o que sucede na clássica venda a prestações, implicaria um tratamento de favor do comprador com a correspondente oneração integral do financiador quanto à insolvência do vendedor, o que carece de uma justificação adicional.44 A existência de um sinalagma trilateral implica necessariamente que, após o pagamento do preço, o financiador passe a suportar a eventual insuficiência patrimonial do vendedor, caso se venha a tornar necessário exigir a sua restituição. Neste sentido dir-se-á que há uma transferência do risco de insolvência para o financiador por comparação com o regime aplicável à compra e venda financiada sem sinalagma trilateral, ou seja, quando existam contratos autónomos de venda e o de crédito. Em contrapartida, o sinalagma trilateral não integra qualquer transferência do risco de insolvência para o financiador por comparação com a solução aplicável à compra e venda a prestações. O comprador apenas pode aspirar à equiparação jurídica entre a aquisição que faz e a operação economicamente equivalente de compra com diferimento fraccionado do preço. Nada mais do que isto. A distinção rigorosa entre os dois sentidos da transferência do risco de insolvência do vendedor Os artigos 304.º e 307.º do Anteprojecto do Código do Consumidor acompanham de perto as fórmulas dos §§ 358 e 359 BGB. No direito alemão, porém, não se consagra a responsabilidade subsidiária do financiador relativamente a direitos emergentes do não cumprimento da compra e venda, ou seja, não existe um equivalente ao art. 12.º/2 do RCC e ao 308.º do Anteprojecto do Código do Consumidor. 44 Neste sentido aparentemente PAULO DUARTE, Contrato de aquisição, 67, n. 82. Veja-se o tratamento do problema, com desenvolvimentos, em HEERMANN (Drittfinazierte Erwerbsgeschäfte, 272-279) e GRAVATO MORAIS, União de contratos, 197-224. HEERMANN defendeu a repartição igualitária entre comprador e financiador da perda decorrente de não se poder recuperar o montante já entregue ao vendedor, independentemente de intervirem ou não consumidores. O autor reconhece não ser a solução conforme com o mecanismo restituitório sugerido pelo sinalagma trilateral (idem, 273), mas funda-a no facto de, num negócio com sinalagma trilateral, todos os intervenientes retirarem partido do aumento de risco subjacente a este tipo de contrato, de tal modo que teriam de repartir igualitariamente as desvantagens decorrentes de uma concretização desse risco (idem, 278). GRAVATO MORAIS, pelo contrário, conclui pela oneração integral do financiador com o risco de insolvência do vendedor. 43 17 para o financiador poupa-nos a muitos equívocos. Estas relações trilaterais levantam, evidentemente, problemas que não se reconduzem à questão da existência ou não de um sinalagma. Já aludimos à questão de saber se o comprador pode exercer contra o financiador pretensões que, à partida, só poderiam ser actuadas contra o vendedor, como o direito à reparação de defeitos da coisa alienada ou a uma indemnização pelo atraso na entrega da coisa, resolvida no art. 12.º/2 do RCC45. No fundo, as relações triangulares comportam um tratamento dos problemas de acordo com a triplicidade nos mesmos termos que quaisquer relações bilaterais, mas mais complexo em virtude da intervenção de uma terceira parte. Apenas as referimos aqui na medida em que queremos evidenciar que o regime do sinalagma não tem uma aplicação circunscrita ao sinalagma clássico. Apesar das limitações assinaladas, a ideia de sinalagma trilateral apresenta-se como a única capaz de comunicar fielmente o conteúdo das vinculações das partes em negócios deste tipo e, em particular, na compra e venda financiada por terceiro.46 Pelo contrário, é insuficiente e, mais do que isso, equívoco falar em união de contratos, ainda que «intimamente interligados», porventura mediante uma «condição legal» recíproca. A tese da união contratual é vaga — há uma dependência entre o «contrato de crédito» e a venda, mas qual concretamente o conteúdo dessa dependência? — e tem, por isso, de ser concretizada a propósito de cada um dos remédios, não dispensando uma caracterização mais aprofundada do conteúdo das vinculações das partes. É precisamente neste ponto que surge a identificação do nexo sinalagmático.47 A ideia de união contratual é, além disso, incorrecta por fazer corresponder sem mais a promessa do comprador de pagar a totalidade das fracções do preço ao financiador à celebração, consoante os casos, de um mútuo ou de uma abertura de crédito, com a única particularidade de estes contratos incorporarem uma condição em que a perturbação da compra e venda surge como facto futuro e incerto. Não se desconhece que, na generalidade dos casos, são as próprias partes a qualificar o contrato como «mútuo» ou «abertura de crédito». E a própria lei segue esse trilho.48 Mas Cuja solução se mantém, numa formulação melhorada, no art. 308.º do Anteprojecto do Código do Consumidor, mas de justificação bastante questionável. 46 GRAVATO MORAIS (União de contratos, 356-359) nega existir um sinalagma trilateral na venda financiada por terceiro por entender que o financiador não estaria vinculado perante o vendedor, mas antes perante o comprador. A entrega do dinheiro ao vendedor far-se-ia ao abrigo de uma cláusula de mandato para pagamento ou delegação para pagamento. Porém, isso parece-nos incompatível com a solução, admitida pelo A., de ser o financiador a suportar integralmente a insolvência do vendedor. PAULO DUARTE afasta igualmente a ideia de sinalagma trilateral e afirma que a faculdade do comprador de recusar o cumprimento do contrato de crédito com base em não cumprimento da compra e venda «não representa qualquer reconhecimento jurídico-normativo de uma correspondente vontade jurídico-negocial dos sujeitos intervenientes» (Contrato de aquisição, 64, n. 68). PAULO DUARTE considera que o reconhecimento de tal faculdade depende da existência de uma «relação de colaboração planificada» entre fornecedor e financiador, à qual corresponda uma relação suficientemente próxima que permita ao segundo avaliar a fiabilidade patrimonial do primeiro. Alude ainda a uma «assunção do risco» por parte do financiador (idem, 62). Estas considerações, todavia, não são suficientes para fundar os resultados a que o autor chega: coerentemente desenvolvidas, implicariam o reconhecimento daquela faculdade em todas as situações de colaboração planificada e, portanto, mesmo quando o comprador escolhesse o financiador por sua própria iniciativa e com plena autonomia. Acresce que uma «assunção do risco» fundamentaria ainda a exigência ao financiador das indemnizações que o vendedor não pudesse pagar. 47 GRAVATO MORAIS (União de contratos, 398 e ss.) sustenta a tese da união dos dois contratos, por meio de «uma condição (imprópria) ex lege, mas não dispensa considerações de ligação sinalagmática entre as prestações (cf., a título de exemplo, a p. 412). 48 Cf., designadamente, os arts. 8.º/4, e 12.º/1 do RCC, bem como os preceitos indicados na nota seguinte. 45 18 comprador e financiador não acordam reciprocamente a disponibilização de dinheiro contra o pagamento de juros, como é próprio daqueles contratos. Convencionam antes que o preço será pago, em prestações, pelo primeiro ao segundo. Há reflexos disto que não podem deixar de ser reconhecidos pelos próprios defensores da tese da união de contratos. Na venda financiada por terceiro falham as tentativas de afirmar que os meios de defesa de um contrato podem ser actuados com fundamento numa perturbação ocorrida noutro que ao primeiro está unido. Assim, o não cumprimento definitivo da compra e venda em termos que legitimam a resolução não implica a resolução do suposto contrato de crédito, mas apenas o direito do comprador recusar as prestações ainda em dívida ao financiador. Havendo mútuo, o mutuário estaria obrigado restituir a totalidade do capital em caso de extinção. Mas ao comprador de uma compra e venda financiada por terceiro não pode exigir-se que pague a parte restante do preço apesar de não receber a coisa, suportando o risco de insolvência do vendedor.49/50 Em termos similares, a mora do vendedor dá ao comprador o direito de suspender o pagamento das prestações devidas ao financiador. Mas, com isto, o comprador não está a usar um meio de defesa próprio de um contrato de mútuo ou de abertura de crédito, ainda que com fundamento na perturbação ocorrida na venda, pois a obrigação de restituir a quantia emprestada é uma obrigação que não entra no sinalagma daquele tipo de contratos e que, por isso, não pode ser suspensa por causa do incumprimento da outra parte. Num contrato de mútuo ou de abertura de crédito, a mora do dador do crédito, se fosse concebível, apenas tornaria lícita a suspensão do pagamento dos juros. Não pode, finalmente, prescindir-se das considerações ligadas ao sinalagma para chegar às boas soluções, como por vezes se revela de forma patente. Veja-se o regime da redução do montante do financiamento em caso de defeito do bem alienado: se o vendedor entregar espontaneamente ao comprador o valor da diferença entre o preço acordado e o resultante da consideração do defeito, este último tem direito a amortizar a dívida para com o financiador sem quaisquer penalizações, ou seja, sendo recalculado, em função do cumprimento antecipado, o valor das prestações ainda em falta, sem que o financiador mantenha o direito aos juros quantificados com base na totalidade do preço (são inaplicáveis o art. 9.º/4 e 5 do RCC, bem como o art. 1147.º do CC).51 Ou ainda o regime das restituições quando ocorra cessação do financiamento fundada em resolução do contrato de compra e venda: é ao Em certos casos, a lei estatui a resolução do «contrato de crédito» em consequência da resolução da compra e venda: cf. os arts. 8.º/3 e 19.º/3 do DL 143/2001, de 26 de Abril (Contratos Celebrados à Distância), e o art. 16.º/6 do DL 275/93, de 5 de Agosto, com as alterações do DL 180/99, de 22 de Maio, e DL 22/2002 de 31 de Janeiro (Direito Real da Habitação Periódica): resolução ad nutum do contrato de fornecimento de bens ou serviços por iniciativa do adquirente. O art. 306.º do Anteprojecto do Código do Consumidor consagra solução idêntica, mas parece salvaguardar devidamente a posição do adquirente dos bens ou serviços, estabelecendo que o financiador sucede nos direitos e obrigações restituitórios do fornecedor. 50 GRAVATO MORAIS afirma que a resolução da compra e venda permite ao comprador a resolução do contrato de crédito, mas não tem certamente em vista a aplicação do regime da resolução, com os efeitos desfavoráveis que daí adviriam para o comprador. GRAVATO MORAIS sustenta antes o direito do comprador de exigir a restituição das prestações já pagas ao financiador, o que não corresponde à resolução do hipotético contrato de mútuo ou abertura de crédito (cf. União de contratos, 183 e ss. e ID União de contratos: situação actual, 298). 51 GRAVATO MORAIS (União de contratos, 165-166) sustenta, neste caso, a redução do montante do crédito não dependente de amortização por parte do comprador, por entender aplicável o art. 9.º do RCC e considerar, nessa medida, que a amortização penalizaria o comprador. 49 19 financiador, e não ao comprador, que cabe exigir a restituição do montante pago ao vendedor a título de preço.52 Diga-se, por fim, que os sinalagmas trilaterais mais simples que acabámos de descrever não correspondem a um do ut des ut det (ou, em versão completa, um do ut tertio des ut tertius mihi det). O vínculo existente entre as três atribuições jurídicas não consiste em cada uma delas estar limitada pelo sucesso das duas restantes, mas apenas limitada pelo sucesso de uma atribuição a cargo de parte diversa daquela a quem se dirige. Cada uma das partes quer que a outra «dê» a terceiro, mas pretende-o apenas como meio de o terceiro, por seu turno, lhe «dar». Em relação à atribuição dirigida ao terceiro, em vez de interdependência, há indiferença. Não importa a cada um dos intervenientes que a terceira parte fique de mãos vazias, desde que isso não se repercuta na atribuição que lhe é dirigida. Um não cumprimento de uma das prestações do triângulo (no caso de se tratar de uma relação obrigacional) não habilita só por si aquele que não seja credor dela a usar de quaisquer remédios sinalagmáticos com fundamento nesse mesmo não cumprimento. Terá de esperar que a terceira parte, por exemplo, resolva ou reduza, ou seja, terá de esperar que a perturbação se reflicta na prestação a que tem direito para só então resolver ou reduzir a por si devida. A excepção de não cumprimento poderá ser usada, mas sempre com fundamento em a parte não ter recebido ainda a prestação que lhe é devida ou, estando obrigada a cumprir antes, com fundamento o não cumprimento ocorrido gerar um risco sério de não vir a recebê-la (numa solução idêntica à do art. 429.º, embora para um circunstancialismo diverso). Neste último caso, o fundamento do recurso à exceptio nunca é directamente o de a terceira parte, sua devedora, estar ainda de mãos vazias, mas antes o de esse facto aumentar consideravelmente a probabilidade de o exercente não vir a obter o que lhe havia sido prometido.53 É, porém, evidente que há ou pode haver estruturas trilaterais mais complexas, em que o conteúdo do acordo corresponda a um do ut des ut det, ou seja, em que cada uma das partes limite a sua atribuição jurídica ao sucesso das outras duas. Mas mesmo neste caso, as combinações possíveis são múltiplas: o do ut des ut det pode valer apenas para um dos intervenientes, estando os restantes apenas «interessados» na atribuição jurídica que lhes é dirigida. O regime aplicável tem de acompanhar esta variabilidade. d) Conteúdo do sinalagma Um estudo sobre o sinalagma não pode evitar uma incursão no problema de encontrar a formulação ou representação mais adequada do conteúdo das declarações que formam o Chegando a idêntica solução, cf. GRAVATO MORAIS, União de contratos, 212 e ss.. Não tem razão HEERMANN (Drittfinazierte Erwerbsgeschäfte, 119-124 e passim) quando afirma que a generalidade dos negócios aquisitivos financiados por terceiro encerram um do ut des ut det. Na verdade, porém, parece-nos que HEERMANN não usa o do ut des ut det em conformidade com o seu sentido literal, i.e., para designar os casos em que a vinculação é assumida para se obter duas contrapartidas. Negócios com do ut des ut det seriam, na sua definição, aqueles em que cada um dos participantes «procura» obter uma contrapartida para a sua prestação levando o seu credor a prestar a um terceiro, o qual, por causa disso, realiza ao primeiro a prestação por este desejada como contrapartida (idem, 120). 52 53 20 contrato sinalagmático. Essa formulação tem de cumprir duas funções: por um lado, tem de encontrar uma unidade subjacente à variedade infinita de modos de as partes expressarem o sinalagma e de apresentar a respectiva «estrutura semântica»;54 por outro, tem de permitir a fundamentação das disposições legais e das soluções mais ou menos intuídas para os casos difíceis. Mostramos noutro local o significado de uma certa representação do sinalagma para a compreensão de uns quantos aspectos de regime.55 É, pois, indispensável dizer o que é o sinalagma, para além da simples indicação de expressões sinónimas ou quase sinónimas — como «reciprocidade» ou «interdependência» das prestações —, e tem de se fazê-lo de modo a dar argumentos para a solução de problemas jurídicos. De qualquer modo, sublinhe-se não se pretender extrair da fórmula que se acolha a fundamentação de todas as disposições legais próprias dos contratos sinalagmáticos e de todas as soluções de casos não regulados, pois, se o acordo das partes é evidentemente de capital importância, dada a autonomia privada, nada impede que outros princípios venham acudir às partes, em especial à parte fiel. Há pois certas disposições e soluções, embora específicas das relações sinalagmáticas, para cuja fundamentação não é decisiva a resposta ao problema assinalado. A estrutura do sinalagma é sempre um ponto a ter em conta, mas não é suficiente para resolver todas as questões, pela simples razão de que outros princípios, regras e mecanismos jurídicos podem participar relevantemente. Se se cingir a querela ao essencial,56 dir-se-á que se debatem neste domínio fundamentalmente duas teses: a que sustenta que no contrato sinalagmático haveria uma limitação imanente da vinculação assumida por cada uma das partes, traduzida em a prestação ser apenas devida contra ou em troca da contraprestação,57 e a que considera que, pelo contrário, o objecto dos deveres é a prestação sem quaisquer restrições, residindo a particularidade deste Algo não muito distante daquilo a que na linguística (semântica) e na filosofia da linguagem se chama a «forma lógica» da frase, mais ou menos a meio caminho entre a «estrutura de superfície» e a «estrutura profunda». Cf. CHOMSKY, O conhecimento da língua. Sua natureza, origem e uso, Caminho, Lisboa, 1994 (1986), pp. 81 ss. Na terminologia de FERREIRA DE ALMEIDA, procuramos aqui uma análise da «forma canónica» dos negócios sinalagmáticos (cf. Texto, cit., 335 ss.), embora só quanto ao próprio elemento sinalagmático. 55 Cf. o nosso estudo Os direitos de retenção e o sentido da excepção do contrato não cumprido, a publicar em breve. Algumas soluções só se explicam se se tiver em conta que se trata de um meio destinado a fazer valer a limitação imanente das vinculações própria do sinalagma e, portanto, de um instrumento ao serviço da parte na condição de devedora, e não enquanto credora. 56 Para mais pormenores, cf. M.ª LURDES PEREIRA, Conceito, 111-113. As teses da «limitação imanente» e da «estrutura final» não esgotam as formulações possíveis. Muito referida é a tese que reconduz a estipulação sinalagmática a uma condição (cf. mais abaixo no texto). A via de remeter o sinalagma para a «base do negócio» não é sequer uma alternativa: o sinalagma resulta do conteúdo das declarações negociais e não é algo que lhes seja exterior (cf. GERNHUBER, Das Schuldverhältnis. Begründung und Änderungen. Pflichten und Strukturen. Drittwirkungen, Mohr Siebeck, Tubinga, 1989, 313; incluindo, porém, a «base do negócio» no conteúdo contratual, na sequência de SCHMIDT-RIMPLER, cf. MANFRED WOLF, Neue Literatur zum Synallagma, Juristische Analysen, 1969 (Zivilrecht I), 119-129, 125). É também incorrecto dizer-se que o contrato sinalagmático seria composto por duas pretensões de conteúdo não limitado e que, apesar disso, existiria entre ambas uma dependência contratual, sendo o regime fundado numa imposição de equidade ou de justiça (e que LARENZ aponta como sendo a doutrina maioritária: Lehrbuch des Schuldrechts, vol. I, Allgemeiner Teil, 14.ª ed., Beck, Munique, 1987, 205, n. 7): o regime legal tem um fundamento subjectivo, i.e., contratual, e não objectivo. De resto, a remissão para a justiça é uma argumentação vazia. 57 No sentido do texto, TEUBNER, Gegenseitige Vertragsuntreue. Rechtsprechung und Dogmatik zum Ausschluß von Rechten nach eigenem Vertragsbruch, Mohr, Tubinga, 1975, 22, MEINCKE, Rechtsfolgen nachträglicher Unmöglichkeit der Leistung beim gegenseitigen Vertrag, AcP 171 (1971), 19-43, 31, HUBER, Verpflichtungszweck, Vertragsinhalt und Geschäftsgrundlage, JuS 1972, 57-65, 58, LARENZ, Schuldrecht, I, 205-206, e aparentemente ESSER/SCHMIDT, Schuldrecht, Vol. I, Allgemeiner Teil, T. 1, 8.ª ed., Mülller, Heidelberga, 1995, 263-265. Repare-se que a tese da limitação imanente não se confina aos contratos com prestações simultâneas, ao contrário do que algumas das suas formulações sugerem (p. ex., a de LARENZ; no bom sentido, HUBER, ibidem). GERNHUBER designa-a doutrina da «pretensão unitária à troca» (cf. Schuldverhältnis, 330; indica ainda outros defensores idem, 330, n. 3). 54 21 tipo de contratos numa específica «estrutura final imanente» ao contrato, constituída pelo acordo quanto ao «fim de troca».58 A tese da «estrutura final» acusa a tese da «limitação imanente» de uma petição de princípio: envolveria a antecipação de uma «natureza» que só do regime poderia extrair-se59. Porém, sem razão. Na verdade, um contrato é ou não sinalagmático conforme o estipulado. O sinalagma está «no contrato», é uma estipulação, não é uma criação legal a partir do nada. O sinalagma não é sequer um princípio jurídico.60 Quando pensamos no «sinalagma» como instituto, pensamos nas regras que desenvolvem o sinalagma enquanto estipulação.61/62 E aqui, como perante quaisquer outras estipulações negociais, surge como questão prévia e inevitável a de encontrar a representação ou formulação adequada do seu conteúdo. A tese da «estrutura final» não pode negá-lo, nem verdadeiramente o nega: ao afirmar que o contrato sinalagmático se caracteriza por uma específica estrutura final está já a atribuir-lhe determinada «natureza». A «estrutura final» só se distingue da «limitação imanente» da prestação por colher do contrato uma fórmula menos clara da dependência das obrigações. Qual das duas serve melhor as funções acima assinaladas? A tese da «estrutura final» não pode ser acolhida como tal, embora o sinalagma integre necessariamente, como veremos, uma referência ao fim recíproco de obter a contra-atribuição. A tese da limitação imanente, não sendo em si mesma incorrecta, revela-se, porém, incompleta: o que o sinalagma tem de característico é, além da limitação recíproca dos deveres, uma relação de finalidade entre as duas atribuições. Apesar das reservas que normalmente merecem as teses «intermédias» ou de fusão, a verdade é que a estipulação sinalagmática reúne os elementos de finalidade e de dupla dependência. Além disso, cabem apenas algumas precisões. O ponto de partida parece não oferecer discussão: a dependência entre prestação e contraprestação tem de figurar, de algum modo, na regulação instituída pelas partes. À lei cabe desenvolvê-la. Quer dizer, o nexo de execução e de subsistência estabelecido pela lei entre as obrigações sinalagmáticas tem como pressuposto uma relação de interdependência já presente nas declarações. A tese da «estrutura final» parte desta premissa, afirmando que nos contratos sinalagmáticos o «fim» se torna, mediante o acordo das partes, parte integrante do conteúdo negocial.63 Com isto, torna aceitável a redução do sinalagma a um problema de «fim da vinculação»: o «fim de troca», por pertencer ao próprio conteúdo do acordo, situa-se num Neste sentido VAN DEN DAELE, Probleme des gegenseitigen Vertrages. Untersuchungen zur Äquivalenz gegenseitiger Leistungspflichten, Gruyter, Hamburgo 1968, 44-50, MANFRED WOLF, Synallagma, 121-126, e GERNHUBER, Schuldverhältnis, 312-314 e 329-333. 59 Cf. os AA. citados na nota anterior. 60 Embora não haja mal nenhum em falar-se do «princípio do sinalagma» para aludir às regras mais importantes das relações sinalagmáticas ou a uma sua generalização. 61 Não há que procurar um «fundamento objectivo» para estas regras e, muito menos, que reconduzir esse fundamento à «justiça», uma locução vazia para este efeito. A justiça é a conclusão, não um argumento. Cf., porém, GALVÃO TELLES, Obrigações, 458-459, e L. MENEZES LEITÃO, Obrigações, I, 204-205. 62 Note-se que não cabe chamar «sinalagma genético» à estipulação e «sinalagma funcional» às regras. Quer o «sinalagma genético» quer o «funcional» são institutos, o primeiro destinado a problemas originários, o segundo a supervenientes. A terminologia não é inequívoca, mas não vale a pena aumentar a confusão. Cf. GERNHUBER, Schuldverhältnis, 315-317, ESSER/SCHMIDT, Schuldrecht, I/1, 218, ou KLINKE, Causa und genetisches Synallagma, Duncker & Humblot, Berlim, 1983, esp.te 98-9. 63 Acentuando-o, GERNHUBER, Schuldverhältnis, 313. 58 22 plano muito diverso do de outras e variadíssimas finalidades subjectivas que possam estar na base da assunção negocial de um dever, o que explica que as perturbações desse «fim» afectem o destino do dever. Mas, se não se pode considerar incorrecta a ideia de um «acordo quanto ao fim de troca» ou de uma «estrutura final imanente» como característicos dos contratos sinalagmáticos, a verdade é que se revelam insuficientes para explicar cabalmente as soluções legais ou mesmo as expressões correntes que mais explicitamente indicam um sinalagma. Prestar algo em troca de outra coisa envolve uma ideia de «substituição», a ideia de que algo sai se outra coisa entrar. As fórmulas da finalidade são excessivamente vagas, com pouco conteúdo, pois se é certo que expressam algo mais do que o recíproco conhecimento de ambas as partes acerca da finalidade subjectiva com que foram assumidas as respectivas vinculações, acabam por não dizer em que consistem precisamente esse acordo ou estrutura imanentes ao contrato. O vício da tese da estrutura final não está em o sinalagma nada ter a ver com o fim da vinculação, mas em escolher uma fórmula algo indeterminada e pouco intensa, não cumprindo cabalmente a função de permitir a fundamentação de certas soluções legais.64 O único argumento sério da tese da «estrutura final» contra uma «limitação imanente» é o de que deveria ser reservada ao legislador a escolha da «técnica jurídica» adequada para assegurar a dependência entre os dois deveres de prestar. No plano das soluções legislativas, a tese da «limitação imanente» imporia ao credor que pretendesse exercer o seu direito o ónus de alegar ter oferecido pontualmente a sua prestação, o que seria inconveniente. Só uma fórmula vaga e «neutra» como a da «estrutura final» seria compatível com a técnica da excepção do contrato não cumprido, que se revelaria como a solução mais equilibrada.65 O argumento não colhe, pois parte do pressuposto errado de que o modo pelo qual se representa o conteúdo contratual condicionaria o ónus de alegação. Não é verdade: este decide-se em função de ponderações puramente processuais.66 Quanto a outros dispositivos legais do sinalagma que se adeqúem menos a uma «limitação imanente», a tese da estrutura final não vê que não tem de haver uma decorrência simples ou directa entre o estipulado pelas partes e o estatuído pela lei. Por exemplo, a necessidade de declaração de resolução (cf. art. 801.º/2) na impossibilidade culposa resulta da conjugação do sinalagma contratual com as possibilidades Compreende-se, por isso, que ESSER/SCHMIDT, apesar de aparentemente aderirem à tese da limitação imanente (Schuldrecht, I-1, 263-265), incluam a troca nos «fins negociais típico-estruturais» e afirmam que o que caracteriza os contratos sinalagmáticos é a «ligação final recíproca» entre os deveres (idem, 93-95 e 217-218). O carácter excessivamente vago da referência a um «acordo sobre o fim» revela-se também nas dificuldades postas pela interpretação e aplicação da parte final do art. 252.º/1. A doutrina tem sentido a necessidade de precisar o conteúdo do «acordo sobre a essencialidade do motivo». Acresce que tem oscilado entre, por um lado, uma fórmula próxima de uma condição (mas sem seguir o regime desta), fazendo corresponder esse acordo a uma estipulação que torna «a validade do negócio dependente da verificação da circunstância sobre que incidiu o erro», e, por outro lado, a ideia de que um tal acordo pressupõe uma «vontade pura», i. e., não condicional, embora postule que as partes tenham identificado minimamente a configuração e o papel do motivo em causa (no primeiro sentido, C. MOTA PINTO, Teoria geral do direito civil, 3.ª ed., reimp., Coimbra Ed., Coimbra, 1994 (1985), 514515, CASTRO MENDES, Teoria geral do direito civil, vol. II, reimp., AAFDL, Lisboa, 1995 (1979), 138, e P. MOTA PINTO, Declaração tácita e comportamento concludente no negócio jurídico, Almedina, Coimbra, 1995, 353-360; no segundo, MENEZES CORDEIRO, Tratado de direito civil português, 2.ª ed., Almedina, Coimbra, 2000, I (Parte Geral), T. I, 618). 65 Neste sentido, VAN DEN DAELE, Probleme, 44-48, e GERNHUBER, Schuldverhältnis, 330-332. 66 Dito de outra forma, a opção legal pela técnica da excepção, na medida em que fundada em considerações estritamente processuais, não se opõe à tese da «limitação imanente»: assim, LARENZ, Schuldrecht, 205-206. Para justificação das regras de distribuição o ónus da alegação, cf. P. MÚRIAS, Por uma distribuição fundamentada do ónus da prova, Lex, Lisboa, 2001, pp. 35 ss. e 150 ss. 64 23 abertas pela responsabilidade civil do devedor e com a ideia geral de imputação por culpa. Do repúdio da «estrutura final» não resulta imediatamente a aprovação da tese que se lhe contrapôs. O vício da ideia de uma «limitação imanente da vinculação» não está na indeterminação da fórmula achada, mas antes na sua incompletude: além de vinculações reciprocamente limitadas, o sinalagma pressupõe uma relação «substancial», mais concretamente uma relação de finalidade entre as duas atribuições. Cada parte vincula-se para que a vinculação da outra se concretize. Falta esta relação de finalidade num exemplo há pouco apresentado a propósito do meio sinalagma. Se for estipulado que, no caso de A ir a Évora no mês de Agosto, B fica obrigado a alojá-lo, teremos uma simples condição e não um meio sinalagma, precisamente porque falta aqui um «para». Nos termos do contrato, A não vai a Évora para B o alojar (e vincular-se a isso), nem o B se vincula a alojar o A para o A ir a Évora. Em rigor, nem chamaríamos «prestação» à ida de A a Évora. Ou seja, para que chamemos a alguma coisa «meio sinalagma» (e apliquemos o regime correspondente), não basta haver uma obrigação imanentemente limitada pela ocorrência de um comportamento da outra parte. Há exemplos equivalentes com vinculação de ambas as partes. Suponha-se que C e D, membros de um consórcio participante num concurso ou de outra forma interessados num resultado comum, se comprometem um perante o outro a fazer uma apresentação dos seus produtos no mesmo dia. A apresentação é, por hipótese, perante o promotor do concurso ou num local público, para efeitos de publicidade. Juntam ao seu acordo a seguinte cláusula: «Dada a conveniência de dar uma imagem de unidade, cada uma das partes obriga-se a fazer a apresentação estritamente na medida em que a outra parte também a fizer, e ficará desobrigada em caso de incumprimento pela outra parte, sem prejuízo da responsabilidade a que haja lugar». Neste caso, as vinculações estão imanentemente limitadas pelo cumprimento da outra parte, como resulta explicitamente da cláusula. Contudo, não se trata de um sinalagma. Falta a relação de finalidade a que aludimos. Nos termos do contrato,67 nenhuma das partes presta para obter a prestação da outra parte. Antes prestam para obter um terceiro efeito, que é a eventual vitória no concurso ou a publicidade. Este é um contrato «de cooperação» e não um contrato de «troca».68 Já teríamos um sinalagma se, por hipótese, e sempre nos termos do contrato, cada uma das partes suportasse o custo da sua prestação para obter ela própria a prestação da outra. Por exemplo, se cada uma delas quisesse com aquela apresentação obter informações sobre as capacidades e os planos da outra parte, e isto resultasse de alguma forma da interpretação do contrato. Em suma, um sinalagma é uma estipulação (ou determinação) com três elementos: (1) cada parte vincula-se perante a outra parte, ficando esta com «direito»69 à concretização da Que incluem o seu contexto (cf. art. 236.º). Na terminologia de FERREIRA DA ALMEIDA, Texto, I, 533-537. Não dizemos que os contratos de cooperação tenham de ter uma limitação imanente das vinculações. Apenas sustentamos que, mesmo existindo a tal limitação, não passa a haver um sinalagma por causa disso. 69 Quando a atribuição é uma obrigação, há aqui verdadeiramente um direito (o crédito). A terminologia e os conceitos correntes, que aceitamos, não consentem que se fale de um «direito à concretização da atribuição» nos restantes casos. Por exemplo, se a atribuição é a transmissão de um direito (v.g., a propriedade), o transmissário adquire esse direito, mas é claro 67 68 24 atribuição; (2) cada uma das partes vincula-se se e só se a outra vinculação se concretizar (ou seja, há limitação imanente da vinculação); (3) Cada uma das vinculações é estabelecida para que a outra vinculação se concretize (a vinculação tem essa finalidade). Façamos, por fim, duas prevenções. A primeira é a de que falamos em «limitação da vinculação» e não em «limitação da prestação», embora as duas coisas surjam por vezes confundidas na doutrina.70 De facto, não seria aceitável dizer-se que o sinalagma implica uma diversa conformação da prestação devida. A prestação é um elemento da previsão das normas do cumprimento e do não cumprimento e, por isso, uma diversa delimitação da prestação tem implicações sérias nas soluções finais dos problemas jurídicos. Afirmar-se que a contraprestação co-define a prestação a que cada uma das partes está adstrita desembocaria em soluções desajustadas ou inadequadas. O direito da impossibilidade oferece uma boa ilustração destas dificuldades. A ideia de uma «limitação imanente da prestação», quando coerentemente aplicada, levaria a que, sempre que uma das prestações não fosse definitivamente realizada, o dever de contraprestar se extinguisse necessária e automaticamente com fundamento na impossibilidade definitiva da própria contraprestação! E se, antes daquela ocorrência, a «contraprestação» já tivesse sido efectuada (rectius, se tivesse sido executada a parte dela que incumbiria ao respectivo devedor), o não cumprimento definitivo da prestação atribuiria invariavelmente ao credor (enquanto devedor da contraprestação) um direito à restituição do já prestado, com fundamento em repetição do indevido. Apesar de a parcela de actividade da contraprestação que está a cargo do respectivo devedor permanecer inteiramente possível ou até já ter sido cumprida, essa actividade deixaria definitivamente de poder ser qualificada como cumprimento. Ora, é absolutamente notório que a própria lei não assenta na fórmula da co-definição da prestação pela contraprestação, pois se assim fosse o art. 795.º/1 tornava-se desnecessário: o dever de contraprestar extinguir-se-ia por força do próprio art. 790.º. Mas o maior defeito da hipotética fórmula de «limitação imanente da prestação» está na inconveniência dos resultados a que conduziria. Uma extinção necessária e automática do dever de contraprestar ou o direito à restituição daquilo que já se prestou a título de contraprestação em todos os casos em que não se obtenha definitivamente a prestação constitui um regime inadequado e repugnante a todos os sistemas que conhecemos. Em múltiplas situações, a contraprestação tem de subsistir apesar de não se chegar a obter o que prometido pela outra parte. Desde logo, nas hipóteses em que um dos deveres de um contrato sinalagmático se extingue por via diversa do cumprimento (v.g., por compensação ou que não adquire um «direito à transmissão». Pretender o contrário seria configurar «direitos sobre efeitos jurídicos», figura ainda mais estranha e desnecessária do que os «direitos sobre direitos», que a maioria da doutrina recusa (cf. OLIVEIRA ASCENSÃO, Teoria geral do direito civil, vol. III, Relações e situações jurídicas, Coimbra Ed., Coimbra, 2002, 84, ou Direito civil. Reais, 5.ª ed., Coimbra Ed., Coimbra, 1993, 39-41, 478-9). O «direito» a que nos referimos no texto, por comodidade de expressão, é a «competência de aquisição» de TEIXEIRA DE SOUSA, O concurso de títulos de aquisição da prestação, Almedina, Coimbra, 1988, 6174, e é também a «causa justificativa» cuja falta gera pretensões de enriquecimento, vista enquanto posição do enriquecido. Como se sabe, esta «causa justificativa» não tem relação relevante com a discutível figura da «causa» do negócio jurídico. 70 TEUBNER (Gegenseitige Vetragsuntreue, 22) e GERNHUBER (Schuldverhältnis, 330) usam a expressão «limitação imanente da prestação» (GERNHUBER, ibidem, fala ainda de um «direito unitário à troca»). LARENZ (Schuldrecht, 205) diz que a vinculação de cada uma das partes não respeita à «pura prestação» («nicht auf die Leistung schlechthin»), mas à prestação contra a recepção da contraprestação. 25 confusão). É evidente que a extinção não afecta a integridade do dever da contraparte. Depois, tenham-se presentes os casos de não cumprimento definitivo culposo da prestação. Actualmente colhe aceitação generalizada a regra de que, nestas hipóteses, cabe ao credor escolher se realiza ou não a sua contraprestação. A substituição de uma versão pura «teoria da diferença» por uma moderada traduz-se precisamente em reconhecer ao credor o poder de decidir o destino da sua vinculação, recusando-se um efeito extintivo irrevogável. No entanto, havendo limitação imanente da prestação, deveria considerar-se extinta automaticamente sua obrigação, por impossibilidade. A segunda prevenção a fazer é a de que a ideia de uma limitação imanente da vinculação não se confunde com a tese do sinalagma como «condição» ou «dupla condição».71 Dizer que o sinalagma é uma «condição» ou uma «dupla condição» seria sempre insuficiente, pois este supõe, como vimos, além da interdependência das vinculações, uma referência ao fim. Acima de tudo, porém, trata-se de uma afirmação incorrecta se se tomar a expressão no sentido da condição dos arts. 270.º e ss., que é um sentido tradicional. Na verdade, o sinalagma não tem de ocorrer entre atribuições futuras ou incertas (p. ex., quando um bem alienado esteja já em poder do adquirente e a transmissão da propriedade ocorra com o contrato). Acresce que condição e sinalagma têm regimes jurídicos distintos, que dão resposta a problemas jurídicos substanciais também distintos.72 No sinalagma, a «condição» da atribuição de cada uma das partes é a concretização de uma atribuição da outra e, por essa razão, só aí faz sentido conceder a cada uma das partes, no caso de receber uma prestação incompleta, a possibilidade de optar entre reduzir a prestação a seu cargo ou recusá-la integralmente, resolvendo o negócio. E também só no sinalagma surge o problema de estabelecer um limite à resolução fundado na medida de inexecução da prestação, surja ele sob a fórmula da «perda de interesse» do credor, da «violação fundamental» ou qualquer outra de função equiparável. Não havendo contraprestação, o problema de medir o grau da realização do facto condicionante nunca se coloca nos mesmos termos e, em boa verdade, não chega a colocar-se na generalidade dos casos.73 E não se coloca porque não há uma contra-atribuição de uma parte à outra, i.e., uma contra-atribuição a uma parte que seja, de alguma forma, «imputável» à outra parte.74 A tese de BLOMEYER era um pouco mais complexa e assentava na ideia de que o dever de prestar de cada uma das partes estava sob condição suspensiva (de a outra parte prestar ou oferecer a prestação) e simultaneamente sob condição resolutiva (da extinção do dever de prestar da outra). Cf., p. ex., VAN DEN DAELE, Probleme, 42-44 e 50-53. 72 LARENZ (Schuldrecht, I, 205, n. 7) refuta a tese de BLOMEYER porque esta implicaria que, nos negócios sinalagmáticos, as vinculações só surgissem com a prestação da contraparte. A crítica, porém, parece-nos insuficiente, por se cingir à (suposta) estipulação de uma condição suspensiva. 73 Imagine-se que António promete pintar às cores 20 berlindes de Bento, que Bento indicará, por certo preço, e que este contrato fica condicionado suspensivamente ao facto de Bento receber os 20 berlindes, que encomendou a Carlos. Bento tem outros berlindes. Neste caso, a prestação é divisível, a condição também é divisível e uma realização «parcial» do facto condicionante leva a uma redução da prestação de António (haja ou não estipulação das partes). Mas a semelhança formal com o sinalagma acaba aqui. A realização incompleta do facto condicionante leva à redução da prestação, mas não chega nunca a colocar-se o problema de saber se o devedor da prestação reduzida pode preferir a exoneração integral alegando falta justificada de interesse na verificação parcial da condição (cf. o art. 793.º/2), pela simples razão de não se tratar, para ele, de uma atribuição. Na mesma ordem de ideias, parece difícil conceber que a «condição defeituosa» dê lugar a uma redução da prestação. 74 No sinalagma trilateral ou noutros polígonos, parece que esta «imputação» — evidentemente, num sentido positivo da palavra — ainda existe, embora de forma indirecta. 71 26 De tudo isto, resulta que o sinalagma não pode ser tido como um caso particular de uma figura supostamente mais genérica que seria a condição. Tão-pouco pode a condição ser considerada um minus perante o sinalagma, segundo a hipotética fórmula de que a condição não obrigaria e o sinalagma sim. O sinalagma e o quase-sinalagma abrangem trocas em que a contra-atribuição não corresponde a uma obrigação (basta pensar nos efeitos reais e no meio sinalagma).75 O esclarecimento desta diferença entre sinalagma e condição permite não apenas recusar à condição a presença na definição de sinalagma, mas também auxiliar à delimitação recíproca dos âmbitos de aplicação das figuras, maxime no plano da interpretação da lei. A condição não pode ser concebida em termos tão amplos que prejudiquem a aplicação do regime do sinalagma, ainda que com as devidas modificações, nos casos substancialmente adequados. Já vimos que o meio sinalagma inclui um conjunto de casos que convém afastar do direito da condição.76 Acresce que um dos efeitos do alargamento do conceito de sinalagma se traduz precisamente em delimitar de modo negativo o âmbito da condição, tornando o respectivo regime inaplicável à cláusula de reserva de propriedade, como também já vimos. A convenção de reserva de propriedade não só não é uma condição (suspensiva), como também é inexacta a tese compromissória de a considerar uma cláusula resolutiva «mas que se socorre instrumentalmente de uma condição suspensiva do efeito translativo».77 Num passo mais à frente, aprofundando o que separa as duas estipulações, dir-se-á que a razão de a cláusula de reserva de propriedade não ser uma condição não está, contra o que pretende alguma doutrina, em o «facto condicionante» — o pagamento do preço — ser um acto devido e não um simples ónus.78 Tal como essa razão não está na ideia de que a disciplina dos arts. 270.º e ss. só estaria pensada para as «condições totais» e não para aquelas em que apenas da algum ou alguns dos efeitos negociais ficariam dependentes da condição.79 O cerne da diferença reside, diversamente, em o pagamento do preço, o suposto «evento incerto» na reserva de propriedade, constituir uma contra-atribuição e sobretudo na circunstância de o regime da condição não dar resposta aos problemas jurídicos específicos colocados pelos possíveis percalços da contra-atribuição. Assim, mantemos uma distinção rigorosa e, esperamos, profunda — por dizer respeito aos problemas jurídicos a que as regras dão resposta — entre sinalagma e condição, embora porventura à custa de uma definição mais apertada desta última. Por tudo isto, parece-nos também de evitar, na definição do sinalagma, o uso da palavra «condição» ainda que tomada num sentido diferente do dos art. 270.º e ss. Na De resto, a própria condição pode ser obrigatória: p. ex., pode uma prestação ser condicionada, em sentido próprio, à entrega obrigatória pela contraparte dos meios (cf., v.g., art. 1167.º, a)) para a sua realização. 76 Cf. supra, na primeira parte da al. c), a propósito da solução, de ANTUNES VARELA, de sujeitar os casos que designamos como meio sinalagma ao regime da condição. 77 Neste sentido, LIMA PINHEIRO, A cláusula de reserva de propriedade, MacGraw-Hill, Lisboa, 1991, 115. 78 Diversamente, contudo, ANA PERALTA, A posição, 144 e ss., e GABRIELA FIGUEIREDO DIAS, Reserva de propriedade, in Comemorações dos 35 anos do Código Civil e dos 25 anos da reforma de 1977, vol. III (Obrigações), Coimbra Editora, Coimbra, 2007, 428, para quem a cláusula de reserva de propriedade não seria uma condição por o «facto condicionante» – o pagamento do preço – ser um acto devido. Insista-se que a condição pode ser obrigatória, como no exemplo supra, na n. 65. 79 É a tese de ASSUNÇÃO CRISTAS/MARIANA GOUVEIA, Transmissão da propriedade e contrato, Almedina, Coimbra, 2001, 60. 75 27 linguagem corrente, na teoria civil e penal da causalidade e na lógica filosófica, o termo «condição» indica todo o facto de que depende um outro (o «efeito»). A limitação imanente da vinculação é uma «condição» neste sentido genérico, e o conjunto das duas limitações sinalagmáticas é um «bicondicional». Dado o perigo de confusão, temos, contudo, por muito preferível evitar aqui essa terminologia. e) Sinalagma e equivalência Cabe aludir à relação entre os conceitos de sinalagma e de equivalência (entre prestação e contraprestação), agora não no sentido lógico de bicondicionalidade entre proposições, mas no sentido de igualdade de valor entre atribuições. É necessário distinguir, pelo menos, três problemas. Uma, a de saber se o direito da obrigação80 e o direito dos contratos são permeados por uma «justiça material» que se manifeste como «princípio de equivalência» e interfira no que vigora entre as partes. Outra, a de saber se essa equivalência tem uma ligação específica com os contratos sinalagmáticos. A terceira discute se o sinalagma implica uma ideia de equivalência e se esta é, portanto, elemento do sinalagma como estipulação. A primeira resposta, como se sabe, é afirmativa. No nosso direito e seus familiares,81 com antecedentes clássicos e medievais, designadamente nas doutrinas do justo preço e do justo salário, é mais ou menos assente que os negócios jurídicos podem sujeitar-se a um «controlo de conteúdo» e que o próprio conteúdo é já por vezes produto de ponderações substanciais desprendidas do significado imputável à intenção das partes. A justiça procurada não é apenas um complemento das declarações livres, mas também uma concretização de valores como os de equivalência e igualdade, de proporção, de função e fim exteriores ao negócio, de exigibilidade, de protecção dos fracos nas diferenças de poder, de direitos fundamentais e direitos humanos, de «intervenção social» e assim por diante. Não é preciso pensar nas leis do trabalho, do arrendamento, da família ou do consumo. Basta aludir à exigência de equilíbrio na interpretação de negócios jurídicos, à cláusula da boa fé na alteração das circunstâncias ou na integração dos negócios, à remissão para a equidade na determinação do preço não estipulado, ao regime das cláusulas contratuais gerais, ao elemento objectivo da noção de negócio usurário, à proibição de juros excessivos, ao controlo das cláusulas penais e a uma série de regras injuntivas como as que proíbem os pactos comissório e leonino. Equivalência, igualdade e proporção têm aqui um papel importante de que não se duvida. A segunda questão é completamente diferente e, a nosso ver, merece resposta negativa. A procura de «equivalência» (ou igualdade) nas obrigações e noutros deveres não é 80 Quanto ao conceito de «direito da obrigação», cf. P. MÚRIAS, Programa de Direito das Obrigações. Turma da noite. Ano lectivo de 2001-2002, RFDUL XLIII/1, 2002 (2003), 865-902. 81 No mundo do common law, a ideia de equivalência também terá o seu peso argumentativo. Cf. ZAMIR, The Missing Interest: Restoration of the Contractual Equivalence, na Virginia Law Review, vol. 93, 2007, 59-138. Quanto ao lado de cá do Canal da Mancha, cf. a n. seguinte. 28 específica dos contratos sinalagmáticos.82 A associação feita pela doutrina antes sugere uma certa precipitação teórica, talvez por o sinalagma oferecer termos mais visíveis para uma possível equivalência. Em boa hora estabeleceu o art. 237.º 83 que a procura de equilíbrio é devida nos contratos onerosos. Não se esperaria que num empreendimento comum ou numa sociedade faltasse uma intenção jurídica de igualdade com manifestações nos direitos e deveres das partes. As concretizações legais são bem conhecidas (p. ex., art. 985.º), incluindo certamente a proibição do pacto leonino (art. 994.º) e não sendo afastadas na regra mais ampla da proporcionalidade (cf. art. 992.º). Aliás, surgem regras supletivas e «presunções» de igualdade nos lugares paralelos da pluralidade de titulares (cf. arts. 506.º/2, 516.º, 534.º, 944.º/1, 1403.º/2, etc.) e da par condicio creditorum, tal como a igualdade é estatuição em certos casos de conflito difícil de resolver (cf. arts. 1354.º/2, 1371.º, 1375.º/2, etc.). Não se vê que a equivalência ou a igualdade tenham manifestações distintas no sinalagma. Até em relações gratuitas se concebem sem esforço manifestações da procura de equivalência.84 Uma alteração das circunstâncias por acréscimo ou, porventura, decréscimo de custos poderá chamar-se «perturbação da equivalência» quer em contratos sinalagmáticos, quer em relações de sociedade ou associação, quer em doações remuneratórias. E a responsabilidade diminuída do donatário modal (cf. art. 962.º/2) não andará longe de um princípio da «equivalência como limite». O problema é a dificuldade de ver uma distinção entre a equivalência desejada para o sinalagma e a equivalência querida noutras relações ou, bem vistas as coisas, a igualdade como sentido paradigmático da justiça. A equivalência só precisa de termos a que se aplique. Em terceiro lugar, se contemplarmos os mecanismos próprios do sinalagma — pensese na exceptio, na redução do preço ou na caducidade da contraprestação por impossibilidade sem culpa — vemos de imediato que os conceitos de «interdependência» ou de «reciprocidade» seriam bem mais explicativos do que a «equivalência», dispensando-a. As particularidades da redução do preço também não pressupõem um juízo de equivalência, mas Em vários textos, designadamente em Richtiges Recht. Grundzüge einer Rechtsethik, Beck, Munique, 1979, 65-79, na secção dedicada ao «princípio da equivalência nos contratos sinalagmáticos», LARENZ pressupõe esta ligação específica, mas o certo é que o autor não dá argumentos no sentido de a equivalência ter maior relação com os contratos sinalagmáticos do que com outros contratos, desde logo outros contratos onerosos. PAIS DE VASCONCELOS, Contratos atípicos, Almedina, Coimbra, 1995, 417-36, segue de muito perto o escrito de LARENZ, quer nos temas, quer nas conclusões. Mais recentemente, o estudo de OECHSLER, Gerechtigkeit, cit., diz-se dirigido aos contratos de «troca» (Austausch), mas a sua intenção é exactamente discutir as possibilidades de aplicar uma ideia de justiça comutativa de inspiração aristotélica e igualadora, com o seu pendor de «igualdade aritmética» metaforicamente sujeita a uma balança de pratos, a relações que se desviam do sinalagma simples. OECHSLER preocupa-se bastante com as relações multilaterais, mas também com a «coordenação de interesses análoga ao contrato de sociedade», para lá dos casos em que a troca moderna apenas complica um sinalagma comum. Por outro lado, o autor não se cinge aos problemas da equivalência «objectiva» e «subjectiva», nem da igualdade, da paridade ou da reciprocidade, e avança por matérias como as da função e do fim do contrato, do fundamento e teleologia das disposições legais relevantes, da regulação pelo mercado e da análise económica, das esferas de risco, da confiança, da divisão do trabalho, do tipo e da natureza do contrato ou dos naturalia negotii. Cf. logo as pp. da Introdução e, em referência aos exemplos que demos, 54-69, 92-3, 97-101 128-143, 156-160, 183-193, 253-9, 199 ss. e 296 ss. (estas sobre a «natureza do contrato») e 340 ss. (sobre o contrato multilateral). FERREIRA DE ALMEIDA, Texto, p. 528, tb. se opõe a ver-se na «troca» qualquer equivalência, argumentando que aquela «é, em si mesma, formal e neutra». Tal «formalidade», que não nos repugnaria aceitar, não joga bem, no entanto, com o entendimento que o autor tem da «troca» ou do sinalagma e que analisamos a seguir, no texto. 83 Assim também os arts. 685.º CS e 1371.º Codice. 84 OLIVEIRA ASCENSÃO, Onerosidade excessiva por “alteração das circunstâncias”, ROA, 65/III, 2005, 625-648, 635, sublinha a possibilidade de uma alteração de circunstâncias atingir negócios gratuitos. Duvidamos é de que haja no contrato alguma «equação económica querida pelas partes». Cada parte faz a sua «equação», e o decisor confrontado com a onerosidade excessiva observará e ponderará outras. 82 29 sim de proporção. Razão para isto é que o sinalagma não inclui uma estipulação de equivalência, nem pressupõe uma «equivalência subjectiva».85 Acontece por vezes as partes chegarem a um preço porque acordaram que esse é o valor do outro objecto do contrato, talvez até comprometendo-se a tratarem-no como tal. O caso é comum em relações pessoais como as de amizade e em contextos comerciais de movimentação patrimonial que se pretenda «neutra». Mas este é um acordo contingente junto ao sinalagma, não um elemento da própria estipulação sinalagmática. Prova disso é que o acordo contrário pode coexistir com um sinalagma puro. Não há nada de contraditório em dizer-se: «bem sei que vale mais, mas só estou disposto a pagar isto». A contraparte que aceite não faz só por isso uma liberalidade, nem desnatura de outra forma o sinalagma. Também é pouco razoável procurar uma estipulação de equivalência «subjectiva» nos casos em que, à vista de todos, o valor de uma prestação para o credor é manifestamente superior ao da contraprestação. Pense-se na compra de uma peça supostamente barata para uma máquina cara que, sem uma peça do género, teria de ser substituída. Se a peça for difícil de obter, até é de esperar que o vendedor tenha poder negocial para exigir um preço superior ao que exigiria noutras condições. Mas o que não se consegue ver neste contrato é algum sentido de «equivalência». Considerando, por fim, o lado subjectivo propriamente dito da decisão de cada parte, a equivalência também não é uma necessidade, mesmo se a relermos agora como juízo recíproco de superioridade subjectiva da contraprestação relativamente à prestação.86 Veja-se que é normal uma parte ter custos próprios associados à contraprestação, custos fiscais e muitos outros. Simetricamente, a prestação faz frequentemente o devedor esperar vantagens estranhas à outra parte, p. ex., publicidade e treino. Ora, sobra muito pouco como equivalência entre prestações se o que se perde e o que se ganha não corresponde àquilo que se presta e recebe nem tem de ser conhecimento partilhado, e muito menos conteúdo das estipulações das partes. Para mais, estas estipulações são imunes a todo o estado subjectivo que não chegue ao texto negocial nem gere invalidade, de modo que o sinalagma pode concorrer com quaisquer intenções e motivos. Um intuito parcial ou total de liberalidade não cria uma doação sem ser interpretável no contrato. Também a acrasia, a «fraqueza da vontade», produz todos os dias trocas nocivas com pleno esclarecimento dos seus autores. Em suma, pode manifestar-se subjacente a muitos contratos uma intenção normativa de equivalência entre as posições das partes, mas este princípio não é em nada específico dos contratos sinalagmáticos, nem estes têm doutra forma uma ligação juridicamente relevante com uma ideia de equivalência. 85 Conceito que, segundo OECHSLER, loc. cit., 73, devemos a GRÓCIO, embora com forte apoio escolástico, nomeadamente em TOMÁS DE AQUINO. Também lembra OECHSLER, 57, que o consenso é sobretudo devido a que cada uma das partes avalie superiormente a contraprestação. 86 Cf. o final da n. anterior. 30 f) O sinalagma não é uma função económica ou social Não muito distante do tema da relação entre sinalagma e equivalência, surge a questão de saber se o sinalagma será ou corresponderá a uma «função económico-social» ou «função prática» do contrato. Deveríamos considerar outras fontes além do contrato; por simplicidade, referimo-nos apenas a este. Sabidamente, a tese em apreço é admitida por alguns entendimentos da «causa do negócio jurídico», mas pode subsistir sem esse ponto de referência tradicional. Outras «funções económico-sociais» ou «práticas» seriam designadamente a gratuitidade e a cooperação, mas também subespécies destas como a gratuitidade modal e a remuneratória. Pelo menos no que toca ao sinalagma, julgamos que a tese deve ser rejeitada. Não nos incomoda particularmente a ideia de «função», próxima da de finalidade,87 sem prejuízo do que ficou dito sobre a limitação imanente que o sinalagma também é, mas sim os qualificativos que se lhe seguem. Note-se que a questão parece terminológica ou meramente classificatória, não estando à vista divergências nas soluções jurídicas ou nos respectivos fundamentos. Como é evidente, no entanto, a linguagem e as sistematizações de matérias têm ou ameaçam ter reflexos, ainda que imprevistos. Não cabe aqui estudar a «causa» ou a «função económicosocial» do negócio jurídico, mas tão-só acrescentar um ponto de vista à compreensão do sinalagma. O sinalagma não é uma função económico-social nem uma função prática do contrato. É apenas a estipulação pelas partes de que cada atribuição jurídica fica dependente de se realizar a outra atribuição e tem por finalidade essa realização. O sinalagma é, pois, um elemento do negócio, do seu texto ou do seu conteúdo, por vezes autonomamente explicitado em locuções como «em troca de»,88 mas que pode em alternativa estar analiticamente incluído noutras expressões89 ou resultar simplesmente do contexto. Esta conclusão, embora com outras palavras, retira-se de alguma doutrina actual.90 O que nos afasta desses autores é não assumirem a conclusão tão plenamente como poderiam, continuando a ler neste elemento do texto negocial uma relação específica com o lado «prático» ou «económico-social» do negócio, ainda em consonância com outros aspectos de certas versões da teoria da «causa». A estipulação de interdependência e finalidade recíproca das atribuições não é mais nem menos «prática» do que outros elementos do texto negocial, como os objectos e as pessoas. Há um sentido prático ou económico em obrigar-se a fazer uma obra mediante remuneração, mas há um sentido igualmente prático na simples obrigação de fazer a obra e na simples obrigação de pagar certo montante. Os «negócios abstractos» também não têm nada 87 Não é, evidentemente, neste sentido que FERREIRA DE ALMEIDA usa a palavra «função», ao contrário de muitos autores, como BETTI, que tomamos por exemplo. Cf. a seguir, no texto e nas nn. 88 Expressões equivalentes são «como retribuição de», «como pagamento por», as próprias preposições «por» ou «mediante», etc. 89 Como «vender», «alugar», «trocar», «retribuir», etc., que incluem o sentido anterior e a referência às próprias atribuições entre as quais se estabelece o sinalagma. 90 Em especial, FERREIRA DE ALMEIDA, Texto, p. ex., 447-8 e 497, que sublinha muito este aspecto, seguido aqui pelo escrito recente de BRITO P. COELHO, Causa objectiva e motivos individuais no negócio jurídico, in Comemorações dos 35 anos do Código Civil e dos 25 anos da reforma de 1977, vol. II, A parte geral do Código e a teoria geral do direito civil, Coimbra Ed., Coimbra, 2006, na n. 8 das pp. 428-9 e passim. 31 de menos «prático» ou menos «económico-social» do que os «negócios causais». E veja-se ainda que a qualificação de um negócio como «indirecto», que aponta uma certa divergência entre o «prático» e o «jurídico», «típico» ou «nominal», pode respeitar a qualquer aspecto do negócio: tanto a um elemento como o sinalagma ou a onerosidade — p. ex., numa venda por preço simbólico — quanto às pessoas — em toda a interposição real determinada no próprio negócio — quanto às atribuições ou ao objecto destas — p. ex., numa concessão temporária do gozo por tempo superior à vida útil do bem, numa alienação de quotas com o sentido de alienação do património social ou numa constituição de obrigações cujo resultado definidor91 necessariamente se inutilize mas que propiciem outros resultados. O sinalagma não é por vezes explicitado nas declarações das partes, resultando do contexto. Sobressaem nesse contexto os «interesses» das partes que o intérprete consiga divisar. Contudo, nem por isso o sinalagma e figuras paralelas têm uma particular natureza «prática» ou «social». Por um lado, porque não pode confundir-se o meio de expressão com o sentido expresso, tornando-se o contexto, aliás, menos relevante em face de declarações suficientemente cuidadas. Por outro, porque, como é conhecido, os «interesses» das partes contribuem para a identificação ou concretização das próprias obrigações ou outras atribuições.92 Recusamos igualmente ver o sinalagma como um fim do negócio no seu todo. A estipulação sinalagmática inclui a aposição de uma finalidade a cada atribuição — a saber, a realização da atribuição recíproca — mas não ao próprio negócio. É certo que o sinalagma, tal como a estipulação de liberalidade, de cooperação ou outras, dá unidade e autonomia, dá sentido de conjunto à relação atributiva ou, se se quiser, ao negócio.93 Contudo, não dá uma finalidade ao conjunto nem ao negócio, o que seria um passo mais.94 Uma coisa, permita-se a metáfora, é articular, fixar e lubrificar as peças do automóvel; outra coisa é entregá-lo a um ou outro condutor, ou destiná-lo a um ou outro serviço. Na verdade, pode ocorrer num contrato uma indicação de finalidade desse mesmo contrato — p. ex., pode uma locação dizer-se incluída num certo programa de realojamento, uma empreitada concreta num certo contratoquadro ou uma venda numa certa restruturação dum grupo de sociedades95 —, mas a generalidade dos contratos e, sobretudo, o eventual sinalagma neles existente não declara a integração da relação das partes num todo que a transcenda. O sinalagma cria um conjunto, mas não lhe dá um sentido que não seja esse mesmo conjunto, com a sua lógica interna. Tomando agora as palavras directamente no seu alcance comum, a opinião de que o sinalagma corresponderia a uma função económico-social do contrato soa extremamente Sobre o conceito de resultado definidor, cf. o nosso Obrigações de meios, obrigações de resultado e custos da prestação, no prelo. O caso mais evidente é o do art. 767.º/2. Cf. tb. o estudo referido na n. anterior quanto aos «resultados exteriores» da obrigação, que correspondem a «interesses» do credor. Lembrem-se inclusive os arts. 465.º, 575.º, 770.º, 882.º, etc. 93 Como acentua FERREIRA DE ALMEIDA, Texto, 344, 498-500 ou 519-21, e A função económico-social na estrutura do contrato, sep. Estudos em Memória Prof. Dias Marques, Almedina, Coimbra, 2007, 64-66, ao dizer que a «função económico-social» relaciona, sintetiza ou aglutina os restantes elementos do texto negocial. 94 Tese de FERREIRA DE ALMEIDA, loc. cit., e BETTI, Teoria generale del negozio giuridico, reimp. corrigida da 2.ª ed., Ed. Scientifiche Italiane, Nápoles, 1994 (1960; 1.ª ed. de 1943), 180-1, entre muitos outros autores. 95 Fora do sinalagma, será um caso semelhante uma doação para casamento que assim se declare ou que se diga «feita em vista do casamento» (cf. arts. 1753.º e ss.), mas na gratuitidade pura é naturalmente mais difícil distinguir entre finalidades da atribuição e do negócio. 91 92 32 implausível. Não se percebe o que haveria de comum e distintivo, em termos económicosociais, a uma troca de pés de roseira por uma autorização de passagem entre donos de jardins contíguos, a um arrendamento por uma entidade pública com uma renda baixa inserido num projecto de «realojamento social», a um contrato oneroso de prestação de serviços médicos e a uma compra e venda especulativa de valores mobiliários. É certo que, nos dois últimos casos, alguém tenta «ganhar dinheiro» — uma parte num caso, ambas no outro —, mas o mesmo se dirá de alguns contratos de cooperação ou de donativos com fins publicitários, e já não nos exemplos dos jardins e do arrendamento. Os quatro exemplos são de sinalagma, mas o sentido desses contratos na economia e na sociedade é profundamente heterogéneo. A implausibilidade de haver uma função económico-social comum a todos os sinalagmas também resulta dos mecanismos jurídicos sinalagmáticos. Regimes como a caducidade por impossibilidade e a redução da contraprestação são demasiado abstractos para serem emparelhados com um sentido económico. Simetricamente, em grupos ou contextos sociais menos afeiçoados a uma autonomia privada como liberdade individual, negócios gratuitos, ainda que puramente gratuitos, podem assumir papéis económicos idênticos aos que estamos habituados a imputar ao sinalagma.96 Isto, claro, com a ressalva de alguma definição menos esperável de «função económico-social». Mas aí o senão seria a falta de clareza e a má comunicação. Os equívocos e ambiguidades gerados por se identificar o sinalagma como uma «função económico-social» não serão menores do que se se lhe chamar «causa do negócio jurídico», dados os milhentos significados que este termo adquiriu e outras tantas teorias que lhe foram dedicadas.97 Cite-se aqui um clássico da antropologia centrado no direito contratual: MAUSS, Essai sur le don, de 1924 (trad. port. Ensaio sobre a Dádiva, 2001, nas Edições 70). O autor sustentou que, num grande número de sociedades, «as trocas e os contratos se fazem sob a forma de presentes, em teoria voluntários, na realidade oferecidos e entregues por obrigação.» MAUSS perguntava-se ainda se não seria recente, «nos direitos das grandes civilizações», a distinção intensa «herdada das civilizações semítica, grega e romana», entre «a obrigação e a prestação não gratuita, por um lado, e a doação, por outro.» E, de facto, tenta demonstrar esse carácter historicamente recente, alegadamente visível no direito romano mais antigo. FERREIRA DE ALMEIDA, Texto, 524-526, contrapõe o seu conceito de troca à «troca» a que se referem MAUSS e outros depois dele, dizendo que a primeira é «uma relação muito mais precisa entre pessoas que directa e juridicamente se vinculam a propósito de objectos que circulam no tráfego jurídico». A nosso ver, a questão é que a troca de MAUSS é o verdadeiro fenómeno económico-social, enquanto a troca de F. DE ALMEIDA tem de ser explicada em termos internamente jurídicos sem alusão àquele fenómeno. Lembre-se que a «troca» de F. DE ALMEIDA é o «sinalagma» no sentido em que usamos a palavra neste artigo (Texto, 527; cf. supra, n. 5). 97 BETTI, Teoria, 169-191, um dos responsáveis pela «função económico-social» do negócio, tinha como ponto de partida o conceito de causa, que não pretendeu substituir. Sublinhem-se dois aspectos da sua construção. Primeiro, o carácter antiliberal da «função económico-social», que vinha interferir com a liberdade do autor do negócio; depois, na sua enorme extensão — capaz inclusive de distinguir negócios inter vivos e mortis causa (cf. 311-3) e de explicar a simulação (cf. 393-403)... —, o facto de consumir o problema de o «interesse do credor» dever ser «digno de protecção legal». O mal da visão de BETTI não é a sua ligação histórica e mais ou menos ideológica a um totalitarismo (cf., no entanto, BRITO P. COELHO, Causa, n. 43, 444-5). O que nela censuramos é a desejada subordinação da eficácia jurídica da liberdade individual a um interesse colectivo, coisa que, diga-se, BRITO P. COELHO justamente não faz. Em segundo lugar, notemos que BETTI vê a «causa» como fim prático típico, tese que chegou a autores recentes como FERREIRA DE ALMEIDA (Texto, 505-9). Ora, geram-se aqui dificuldades insuperáveis, pois tb. se diz que a «causa» estaria presente de modo «uniforme e constante em todos os negócios concretos» (Teoria, 181). Ser apenas típico mas também omnipresente é uma contradição. Predicados como «típico», «frequente», «normal», etc., só qualificam objectos singulares por relação com uma categoria identificada de outra forma. Se a «função económico-social» está no negócio, então não pode ser apenas uma função típica dessa categoria de negócios. Pensando no nosso tema, é manifesto o absurdo de dizer que um negócio é sinalagmático por ser típico dos negócios sinalagmáticos certa finalidade das partes quando, nesse caso, a finalidade não exista. E a estipulação do sinalagma não inclui no seu significado o estabelecimento de uma relação com o que é típico ou normal. Isto não impede, note-se, que certas categorias tenham apenas elementos típicos (ou «índices», na expressão de PAIS DE VASCONCELOS, Contratos, 113 e ss.), e nenhuns essenciais; essa é outra questão. Em nosso entender, todos estes escolhos resultam da relutância infundada dos autores em admitir a «finalidade» como categoria 96 33 O argumento decisivo contra a qualificação do sinalagma como função económicosocial é o seu carácter normativo,98 interno ao negócio e livre, enquanto estipulação das partes. Na verdade, uma «função económico-social» só mereceria o nome por se referir a uma realidade exterior ao contrato, porventura uma realidade não jurídica ou «metajurídica». Pelo contrário, o sinalagma é estipulado pelas partes, limita um efeito jurídico, a vinculação, e estabelece uma finalidade para cada atribuição estipulada, que, aliás, é a outra atribuição. Isto não se compatibiliza com a exterioridade de uma «função económico-social». Mesmo se a finalidade estabelecida se dirigisse a um facto exterior, no sentido de não devido nos termos contratuais ou independente das acções das partes — o que não sucede com o sinalagma, mas sucede com a doação remuneratória e com muitos contratos de cooperação — ainda se trataria de uma finalidade interna e estritamente jurídica, porque seria a finalidade da própria atribuição. A ideia de uma «função económico-social» é a compreensão do contrato inserido na economia e sociedade.99 Uma estipulação de finalidade, pelo contrário, é a escolha no contrato de um qualquer fim que se incrusta numa das suas atribuições. As partes não determinam que o seu negócio corresponda a certo modelo económico ou social; determinam, sim, que cada atribuição tenha uma específica finalidade por elas livremente eleita: no caso do sinalagma, realizar-se a contra-atribuição. Dir-se-ia ainda que a finalidade é uma ideia de substância que ultrapassaria a formalidade do consenso das partes ou da ocorrência de outra fonte e que, por isso, se traduziria necessariamente num sentido económico, social, afectivo, cultural, etc., subjacente ao contrato, ou numa intenção que o acompanhasse. Esta objecção improcede em todas as perspectivas.100 Em primeiro lugar, o estipulado em nada tem de ser «formal». A estipulação mais simples é de direitos e obrigações, e estes dificilmente serão «formais». Depois, e mais importante, o conceito de finalidade não tem de ser traduzido. A finalidade é um conceito normativo central que, como os restantes, não está confinado por uma redução a conceitos não normativos («económicos», «sociais», etc.) e, provavelmente, nem admitirá tal redução.101 normativa autónoma que pode ser estipulada e não se reduz nem a realidades «sociais», nem a intenções, «típicas» ou não (cf. a seguir, no texto). Quanto ao sinalagma, em especial, supomos ser tb. nocivo não se observar que a sua presença no conteúdo do negócio pode até ser explícita, em fórmulas como «em troca de», de modo que aquele conteúdo, forçosamente, não se limita aos efeitos de constituição, extinção, etc., de situações jurídicas. 98 Usa-se «normativo» com o significado amplo e menos frequente em direito que abrange todos os temas tradicionais do valor, do dever, do sentido e da convenção, i.e., tudo o que depende de «valores» ou «regras». 99 No entanto, FERREIRA DE ALMEIDA, Texto, 508-9 e 513, distingue «função do negócio» e «função no negócio», sendo esta a «função económico-social» a que se refere o autor, i.e., «o elemento, elementos ou síntese de elementos que indiciam finalidades directas», não estando aqui em causa «uma macro-análise dos sistemas sociais». Na p. 513, admite-se como possibilidade «conceber um sistema jurídico em que a projecção social “envolva” o negócio sem se explicitar no seu texto.» A nosso ver, porém, a função «no negócio» prescinde do «económico social» e, se pode «indiciar» finalidades, certamente não se define por aí. Claro que F. DE ALMEIDA sempre teria um problema terminológico relativo a esta «função», de modo a distingui-la da «função eficiente», várias vezes chamada «função jurídica» (que, nos negócios jurídicos, é ou «prometer», ou «instituir», ou extinguir). A solução de lhe chamar «função final» confrontar-se-ia talvez com a relevância de finalidades noutros elementos do texto negocial (cf. 394-5). Não havendo essa possibilidade, mais valeria chamar «função singular» ou «primária» à «eficiente», e, à que nos interessa, «função de conjunto», «função aglutinadora» ou, quiçá, «função da função» ou «metafunção». 100 Mas admitimos como hipótese que tenha estado subjacente a todas as teses da «função económico-social». Encontra-se uma tendência para a «tradução» ou redução de conceitos normativos a conceitos tidos por mais palpáveis (a «sociedade», a «vontade», etc.) em todas as latitudes do pensamento. Cf. a n. seguinte. 101 Este é o problema filosófico geral da redutibilidade dos conceitos normativos a conceitos «naturais», estudado esp.te quanto aos conceitos morais e muito próximo dos temas da derivação de um «dever» a partir de um «ser» ou da «falácia 34 A sua centralidade talvez impeça até a redução a outros conceitos normativos, como os de bem e de devido. Claro que esta normatividade irredutível não impede que se trate de um conceito do dia-a-dia e operacional, nomeadamente em direito: pense-se na relevância da teleologia na interpretação da lei ou na restituição do enriquecimento pela condictio causa data.102 Como muitos outros predicados normativos, a finalidade pode ser estipulada, i.e., pode surgir por efeito directo de um acto de linguagem que tenha por conteúdo esse surgimento. É exactamente como estipulação — ou, mais amplamente, como «determinação» — que a encontramos nos contratos ou noutras fontes e, o que interessa agora, como componente do sinalagma. Logo, a finalidade não subjaz ao negócio, é-lhe «imanente», e não é «sociedade» nem «economia».103 Ainda se tentaria opor que a finalidade estipulada, conquanto normativa, não seria uma figura jurídica, por não implicar directamente quaisquer efeitos jurídicos, i.e., qualquer constituição, transmissão, etc., de situações jurídicas (direitos, obrigações, etc.). Contudo, nada força a que as determinações jurídicas tenham essa natureza directa, podendo os efeitos resultar imediatamente do direito objectivo. A finalidade incluída no sinalagma participa de um todo jurídico, o contrato ou outra fonte, e predica realidades jurídicas,104 as atribuições. Sendo o direito em geral sensível à noção de finalidade, não há como negar a esta o qualificativo aplicável ao meio em que se insere. O sinalagma, portanto, distingue-se de uma improvável função económico-social própria de toda a relação sinalagmática. É, pelo contrário, um elemento plenamente jurídico e interno da relação atributiva, que lhe dá um específico sentido de conjunto e unidade. Analisando-o, temos uma limitação imanente das atribuições jurídicas que inclui um sentido de finalidade recíproca. naturalista». Cf., v.g., o texto introdutório de LENMAN, Moral Naturalism, na Stanford Encyclopedia of Philosophy (http://plato.stanford.edu), e os artigos da mesma enciclopédia aí citados. Lembre-se que a teoria da «natureza das coisas» pretende encontrar justamente uma passagem do «ser» ao dever. Cf. a crítica desenvolvida de CASTANHEIRA NEVES, Questãode-facto — questão-de-direito ou o problema metodológico da juridicidade (ensaio de uma reposição crítica), Almedina, Coimbra, 1967, 693843, mas tb. a defesa por PAIS DE VASCONCELOS, Teoria geral do direito civil. Relatório, supl. RFDUL, Lisboa, 2000, 22-57. Na linha oposta, atente-se que o positivismo jurídico é igualmente uma tese redutivista, ao tentar prender o direito aos «factos» das fontes. No conjunto dos conceitos normativos, o fim (ou, para o caso, a função) é ainda uma realidade institucional. É assim estudada por SEARLE, The construction of social reality, Free Press, Nova Iorque, 1995, 13-43. Para mais algumas indicações sobre a ideia normativa de função, cf. a al. f) da primeira parte de P. MÚRIAS, Um símbolo como bem juridicamente protegido, em NOGUEIRA DE BRITO/P. MÚRIAS, Um sim e um não sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo, Entrelinhas, Lisboa, 2008. 102 Referida no art. 473.º/2, in fine, e também chamada condictio ob rem. Sobre ela, cf. L. MENEZES LEITÃO, O enriquecimento sem causa no direito civil, CCTF (176), CEF, Lisboa, 1996, 518-549. 103 Também não deve confundir-se a finalidade estipulada com uma «função concreta», por oposição à «função típica». A função ou funções que o negócio ou um dos seus efeitos efectivamente desempenhe são quaestiones facti distintas do que nele se determina e, salvo invalidade, se constitui como normativo. 104 Esta é uma parte importante da tese de FERREIRA DE ALMEIDA sobre a «função económico-social». Cf. Texto, 498: «elementos […] de um negócio […] através dos quais se predica o seu conteúdo proposicional». O autor afirma adaptar o «predica» de SEARLE, Speech acts. An essay in the philosophy of language, Cambridge Univ., Cambridge, 1969, mas trata-se de uma adaptação muito modificada, já que SEARLE contrapõe predicação e referência nos moldes comuns (26-33). Melhor do que «predica» talvez fosse «opera sobre». Os «operadores» (ou «conectores») da lógica aplicam-se a frases ou proposições e a predicados, não a objectos; além disso, perfazem uma categoria mais ampla do que os «predicados», o que evitaria uma tomada de posição. Por outro lado, se a «função eficiente» tem natureza «modal» (p. 446), a «função económico-social» tem-na a fortiori, o que de novo pede o termo «operador». A lógica deôntica, geralmente formulada como lógica modal, tb. usa «operadores» (cf. DAVID DUARTE, A norma de legalidade procedimental administrativa, Almedina, Coimbra, 2006, 75-86). Há alguma proximidade entre «operadores deônticos» e «funções eficientes», mas estas são mais complexas: além do sentido correspondente aos operadores deônticos, exprimem o «efeito normativo» e ainda a sua «produção», implicando tb. certas qualidades do acto ou do objecto a que respeitam (cf. esp.te Texto, 464-471). 35
Baixar