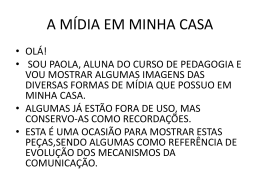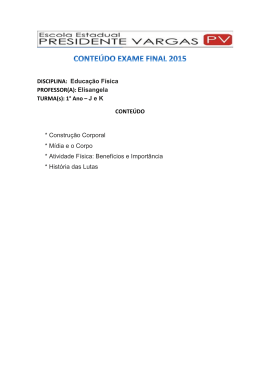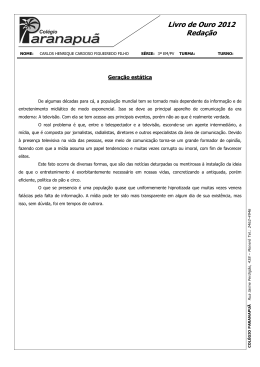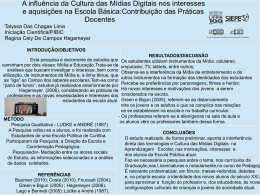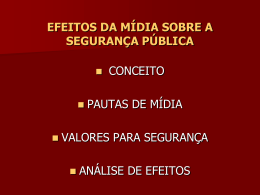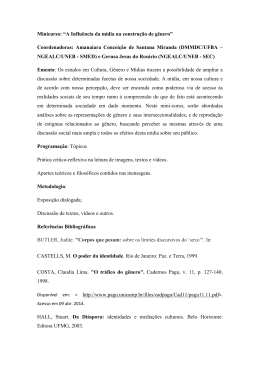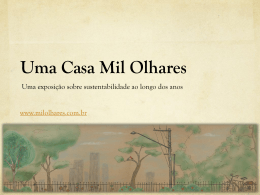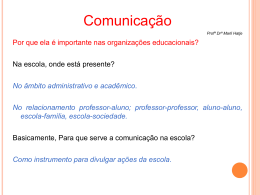Globalização da Comunicação e a conformação da Nova Esfera Pública Maria Célia Furtado Rocha Palavras-chave: GLOBALIZAÇÃO; ESFERA PÚBLICA; INTERNET E MÍDIA Em seu livro Ideologia e Cultura Moderna, no capítulo em que trata da globalização da comunicação, John Thompson (1999) caracteriza esse fenômeno como sendo conduzido principalmente por atividades de conglomerados da comunicação em grande escala no século XX. Esses remontariam à transformação da imprensa no século XIX, num processo que envolveu: • a organização de redes de comunicação em escala global, decorrente em parte do desenvolvimento de novas tecnologias que dissociaram a comunicação do transporte físico das mensagens, destacando-se aqui o desenvolvimento de cabos submarinos pelas potências imperiais europeias; • o estabelecimento de novas agências internacionais, operando com exclusividade em regiões do mundo e • a formação de organizações internacionais interessadas na distribuição do espectro eletromagnético. As redes de cabo submarino se constituíram, segundo ele, um primeiro sistema global no qual a capacidade de transmitir mensagens se separava claramente dos demorados processos de transporte das mesmas. As agências de notícias, por sua vez, tinham como função a coleta e disseminação de notícias e informações em grandes extensões territoriais, que os jornais poderiam distribuir para uma grande audiência; elas tiraram vantagem do sistema telegráfico a cabo.1 O desenvolvimento da capacidade de transmitir informações através de ondas eletromagnéticas dispensou a necessidade de instalação de cabos fixos na terra ou no mar. Isso impulsionou o avanço da globalização da comunicação, juntamente com a emergência das organizações nacionais e 1 Quatro das maiores agências – Reuters, AP, UPI e AFP – continuavam a ser líderes no sistema internacional de coleta e disseminação de notícias e outras informações, desde a Segunda Guerra Mundial, segundo Thompson (1999, p. 140). 1/33 internacionais de administração do espaço das ondas eletromagnéticas (THOMPSON, 1999, p. 142). A partir dos anos 60, a comunicação por transmissão eletromagnética tornou-se verdadeiramente global com o lançamento exitoso dos primeiros satélites de comunicação controlados por terra (p.143). Verifica-se nesse processo de evolução da técnica, que a proliferação dos canais de comunicação e a difusão da informação foram dirigidas desde seu início por empresas de grande porte que vão assumindo feições de conglomerados de comunicação de grande escala. Tais conglomerados, originados do processo de transformação da imprensa no século XIX, formam-se no processo de acumulação e concentração nas indústrias de mídia. No século XX, tipicamente assumem operações de caráter transnacional, alimentando-se de recursos provenientes da indústria financeira e industrial que adquirem ações nos setores de informação e comunicação. Concentramse de modo crescente a partir de fusões, compra e outras formas de crescimento corporativo (THOMPSON, 1999). O quadro a seguir apresenta uma cronologia de eventos que conformaram esse setor, atualizando a evolução tratada por Thompson (1999) no capítulo em questão com o auxílio de informações fornecidas preponderantemente por Asa Briggs e Peter Burke (2006), em seu livro Uma história social da mídia: de Gutenberg à internet, e por outros autores. 2/33 Quadro 1 – Alguns eventos da constituição e reconfiguração da comunicação global 1843 1849 1850 1865 1923 1950 1955 1957 1958 1959 1962 1969 1971 1972 1975 1976 1977 1979 1981 1983 1984 1985 1988 1989 1990 1991 1993 1994 1995 1996 1998 2000 2001 2004 2005 2006 2007 Linha de telégrafo regular entre Washington e Baltimore Berlim e Frankfurt ligadas por telégrafo Cabo submarino (Grã-Bretanha e França) Cabo transatlântico tem sucesso Conversa transatlântica de rádio Primeiros sistemas a cabo Programação comercial de TV (Inglaterra) Rússia lança o Sputnik Criação da ARPA (Agência de Projetos de Pesquisa Avançada) – EUA Advento do circuito integrado Transmissão de TV ao vivo via satélite – EUA Transmissão TV em cores (BBC e ITV) Rupert Murdoch adquire o Sun Sony lança gravadores de videocassete Lançamento dos microprocessadores Desenvolvimento do e-mail (ARPA) Gravadores de videocassete domésticos Fibras óticas Primeira loja de computadores (Los Angeles) Computadores portáteis Cabo de fibra ótica instalado na Califórnia Telefone celular Início da comercialização da Internet Murdoch adquire The Times Videodiscos a laser comercializados Lançamento de CDs (EUA ) Camcorders Estabelecimento da CNN International News Corp. adquire a Century Fox Rede Internacional de Serviços Digitais (ISDN) lançada no Japão Cabo de fibra ótica transatlântico Fusão: Time com Warner Império Berlusconi na Itália Fusão: BSB e Sky (BskyB) Estreia a Web Listagem separada das ações NASDAQ Fundada a Netscape Criação do Yahoo! Fusão: CNN e Time/Warner Inaugurada a TV Al Jazeera Fundação do Google Fusão: American On-Line e Time/Warner Fusão: Disney e Fox O'Reilly e o MediaLive International cunham o termo e enunciam os princípios da Web 2.0 News Corp. compra o site de redes sociais MySpace Google adquire YouTube Apple lança a AppleTV NBC e News Corp. Lançam Hulu.com para competir com o YouTube e com o ITunes (Apple) Google inicia parceria com a Panasonic para lançar tv de alta definição Fontes: Thompson (1999); Briggs e Burke (2006); Castells e Arsenault (2008); Rocha (2009); Volkmer (2003). 3/33 Com o advento da transmissão direta por satélite, da TV a cabo e do videocassete o mercado global dos produtos de mídia sofre uma grande expansão, criam-se novas redes de distribuição internacionais, reforçando tendências verificadas anteriormente no fluxo internacional de tais produtos (THOMPSON, 1999, p. 145-146). Tendo esse pano de fundo, Thompson (1999) sai em busca de uma teoria da globalização da mídia, sem contudo compactuar com a dita teoria do imperialismo cultural que, já numa publicação de Herbert Schiller de 1969 (Mass Communications and American Empire), advogava que a globalização da comunicação se daria a partir da colaboração entre interesses econômicos de grandes corporações internacionais sediadas nos EUA e interesses políticos e militares ocidentais, trazendo como resultado uma nova forma de dependência em função da suposta destruição de culturas tradicionais pela invasão de valores exógenos (p. 148-149). Nesse ponto o autor afirma que a globalização da comunicação não eliminou o caráter localizado da apropriação, que permanece, segundo ele, intrinsecamente contextual e hermenêutico, uma vez que os materiais simbólicos estão submetidos a contextos de recepção e dos recursos à disposição dos receptores. Thompson (1999) insiste inclusive em que a visão de imagens de outros modos de vida seria de fato um meio de julgar criticamente a própria condição de vida. Ele não acredita, portanto, na capacidade de a mídia destruir valores da cultura tradicional de modo determinante: […] a apropriação localizada dos produtos globalizados da mídia é também uma fonte de tensão e de conflito potencial [...] em parte porque os produtos da mídia podem veicular imagens e mensagens que chocam [...] ou não comportam inteiramente, os valores associados a uma maneira de vida tradicional. (THOMPSON, 1999, p. 157) É interessante confrontar a opinião desse autor com aquela veiculada por Marilena Chauí (2006) em seu livro Simulacro e Poder – Uma análise da mídia em que a autora tenta demonstrar como a mídia destrói a esfera pública. Apoiando-se na afirmação de Christopher Lash (1983 apud CHAUÍ, 2006) de que as mass media tornaram irrelevantes as categorias da verdade e falsidade em prol das noções de credibilidade e confiabilidade, ela diz que os fatos cederam lugar a declarações de “personalidades autorizadas”, cujas preferências se transformam em propaganda. Ora, relações sociais e políticas, que são relações mediadas por interesses e direitos regulados pelas 4/33 instituições, pela divisão social de classes e pela separação entre o social e o poder político, passariam então a operar sob a aparência da vida privada (p. 9). Isso teria esvaziado, segundo Chauí, a categoria da opinião pública – definida como expressão no espaço público de uma reflexão individual ou coletiva sobre uma questão concernente ao interesse ou ao direito de uma classe social, de um grupo ou mesmo da maioria. Em lugar da opinião pública, do uso público da razão, se passaria a ter “a manifestação pública de sentimentos” (CHAUÍ, 2006, p. 10). Como vemos, Marilena Chauí tem uma opinião bem mais devastadora do que a de Thompson com relação ao efeito pernicioso da globalização da comunicação sobre a consciência política e sobre a cultura. Aqui ela releva que a fragmentação e a dispersão da produção econômica, sob os efeitos das tecnologias eletrônicas e de informação, implicariam uma reunificação do tempo e do espaço agora de um modo plano e sem profundidade (p. 32). Quanto aos meios de comunicação globalizados, a autora diz: Do ponto de vista econômico, os meios de comunicação são empresas privadas [...]; ou seja, os meios de comunicação são uma indústria (a indústria cultural) regida pelos imperativos do capital. Tanto é assim que, sob a ação da forma econômica neoliberal ou da chamada globalização, a indústria da comunicação passou por profundas mudanças estruturais, pois “num processo nunca visto de fusões e aquisições, companhias globais ganharam posições de domínio da mídia”. (CHAUÍ, 2006, p. 73) Adotando observações de Maria Rita Kehl e Eugênio Bucci em Videologia (2005 apud CHAUÍ, 2006), ela desencarna e desterritorializa os sujeitos do poder – de agora em diante não mais grupos, Estados, partidos, mas simplesmente o próprio capital – vendo o poder midiático como um mecanismo de reprodução automática do modo de produção capitalista, transubstanciado em mero espetáculo (p. 74). Thompson (1999), como vimos, não pensa assim. E embora vá localizar a origem da globalização na expansão do mercantilismo nos século XV e XVI, e verifique os primeiros sinais desse processo nos três séculos subsequentes, ele reafirma as características específicas do fenômeno dizendo que, mais do que atividades transfronteiriças de Estados nacionais, a globalização ocorre realmente na existência de atividades que se dão em uma arena global; são organizadas, planejadas ou coordenadas numa escala global; envolvem algum grau de interação e interdependência entre atividades locais em várias partes do mundo, as quais se 5/33 modelariam umas às outras. Ou seja, globalização implica que a conexão entre diferentes regiões e lugares se tornou sistemática, recíproca em certa medida e de alcance global (THOMPSON, 1999, p. 135). Para desenvolver uma reflexão a partir da leitura dos textos de Thompson (1999) e Chauí (2006), tomaremos três aspectos do pensamentos desses autores. Partindo do que aqui pontuaremos como a forma como um e outro se relacionam com o tema da globalização, levantaremos uma crítica que toma como referência os pensamentos de Saskia Sassen, expostos em seu livro Sociologia de Globalização (2010). Deve-se dizer que esta autora já em sua obra A Cidade Global (2003) 2 defendia uma posição sobre o processo de globalização segundo um ponto de vista que nos parece distinto daquele tomado por Thompson (1999) e muitíssimo distinto daquele de Chauí (2003). É com o ponto de vista de Saskia Sassen que mais nos identificamos. Sua pesquisa, diferentemente da visão de Chauí, busca elucidar as formas como o fenômeno da globalização toca o solo; também se distingue da visão de Thompson que, mesmo assumindo uma visão mais matizada, continua a pensar a atuação das forças econômicas (e políticas) sem muitas contradições entre si, agindo sobre um globo aparentemente repartido e delimitado por fronteiras mais ou menos bem definidas. Isso posto, iremos observar de modo breve a forma como o pensamento de Chauí vem colocar o cidadão na posição de espectador (pelo menos quase) passivo diante de um espetáculo manipulador da consciência, uma fábula que, uma vez urdida pelo capital, se destinaria a ser reproduzida indefinidamente para incutir opiniões e impor comportamentos que beneficiariam a uma parte da sociedade de classes. No caso de Thompson, o indivíduo é mesmo denominado espectador, “esperto” é verdade; embora limitado pelos recursos possibilitados pelo seu próprio contexto, ainda assim é capaz de fazer uma tradução para sua realidade do que lhe é comunicado ao bel-prazer da indústria cultural. Bem, tanto num como no outro caso, o espectador cidadão é ou força solitária ou (talvez modestamente) apoiado pela cultura local/tradicional. A esse respeito, gostaríamos de lembrar a crítica à visão do espetáculo aparentadas com 2 “A categoria cidade global alude a um espaço urbano onde se concentram as funções de comando da economia mundial, nó de localização-chave para as finanças e para as empresas de serviços especializados e lugar de produção das atividades financeiras e de serviços (incluindo a produção de inovações) e mercado para os produtos e as inovações produzidas” (MIGNAQUI, 2008, tradução nossa). 6/33 aquela teorizada por Guy Debord nos anos 1960, no livro A Sociedade do Espetáculo, citada positivamente por Chauí (2006), relativizada por Kellner (2003) e combatida por Silveira (2011), este último com base em estudos antropológicos sobre o ritual espetacular. Utilizaremos o que Silveira (2011) nos ensina para confrontar esse aspecto da visão de Chauí (2006). Lembremos aqui também o momento em que Walter Benjamin (1985), fazendo considerações sobre a obra de Nikolai Leskov em 1936, defende, nos anos 1930, a ideia de que a informação se esvai enquanto o que fica é a história, a narrativa aberta. Ele diz que, com a consolidação da imprensa no alto capitalismo, destaca-se uma nova forma de comunicação: trata-se da informação. Essa aspira a uma verificação imediata, ao contrário do saber que, vindo de longe, de terras estranhas ou de tempos anteriores, possuía uma autoridade válida, mesmo que não fosse controlável pela experiência. É indispensável que a informação seja plausível, o que seria incompatível com o espírito da narrativa (BENJAMIN, 1985). Cada manhã recebemos notícia de todo o mundo, no entanto somos pobres de histórias surpreendentes. A razão é que os fatos já nos chegam acompanhados de explicações […] Metade da arte narrativa está em evitar explicações... O extraordinário e o miraculoso são narrados com a maior exatidão, mas o contexto psicológico da ação não é imposto ao leitor. Ele é livre para interpretar a história como quiser, e com isso o episódio narrado atinge uma amplitude que não existe na informação. (BENJAMIN, 1985, p. 203) Confrontando essa ideia com o pensamento de Chauí sobre a capacidade da mídia em obliterar a consciência do espectador e sobre o domínio do privado sobre a esfera pública, ocorre perguntar se a ideia de testemunho, opinião, mesmo aquela veiculada pela grande mídia (sem falar nas novas mídias que incluem a capacidade de comunicação entre indivíduos em grande escala, praticamente ignoradas por Chauí no texto em análise) não seria, nesta perspectiva, uma forma de fazer permanecer o que se perde com a pura e simples informação, do modo como foi descrita por Walter Benjamin então? Será que onde Chauí vê a destruição da esfera pública não se abriria uma possibilidade de restabelecer a força da narrativa, da interação face a face, com uso de recursos multimidiáticos? Com relação a isso, Chauí (2006) acredita que a multimídia potencializa a mistura de conteúdos, a fragmentação de contextos semânticos, a mistura aleatória de sentidos, 7/33 integrando e submetendo todas as mensagens a um mesmo padrão cognitivo e sensorial, unificando, assim, num único universo digital, manifestações culturais distintas no espaço e no tempo (p. 70-71). Ou seja, a técnica é tida aqui como culturalmente empobrecedora, como algo capaz de destruir a ordem simbólica da cultura: ao potencializar a atopia e a acronia (que, segundo a autora, havia sido a marca da televisão), a multimídia tornaria indistintas a realidade/presença e a ausência/virtualidade, distinção que seria basilar para a formação da ordem simbólica (CHAUÍ, 2006, p. 71-72). Nesse ponto, tomamos algumas observações feitas por Di Felice (2007) ao discorrer sobre a relação do social com a técnica e, portanto, com a mídia. Segundo Di Felice, a “introdução e a difusão de uma nova tecnologia comunicativa remete não somente à criação de um novo território ou de uma nova esfera pública, mas também a algo que transforma as práticas e mesmo o significado do social” (DI FELICE, 2007, p. 3). Di Felice coloca em relevo o pensamento de Joshua Meyrowitz (1985), que, em seu livro No Sense of Place, defendeu que o dinamismo social contemporâneo resultaria de uma hibridação entre mídias, espaços e socialidade (DI FELICE, 2007). na sociedade industrial, o público surge como o resultado de uma produção tecnológica, isto é, enquanto veiculado e revelado pelos jornais, pelos livros e pela mídia, como uma esfera destacada, claramente distinta do universo particular do sujeito. É neste período que surge um social tecnológico, isto é, um social que pode [...] se tornar público [...] somente enquanto mediado por meios, veiculado por artefatos mecânicos e tecnologias comunicativas. […] A revolução industrial, e a consequente revolução eletrônica, além de um sistema produtivo e socioeconômico, deve ser [...] pensada como o começo de uma nova fase da civilização humana marcada por uma nova relação entre tecnologia e pensamento e como o resultado da inédita junção de dois tipos de saberes até então separados, a teoria e a técnica. (DI FELICE, 2007, p. 3) Também nós iremos apreciar, no devido momento, esse pensamento de Meyrowitz (1985) mais de perto. Em seguida, apresentaremos de modo breve alguns resultados do estudo realizado por Manuel Castells e Amelia Arsenault (2008) sobre a estrutura e a dinâmica dos negócios das redes globais multimídia. Nesse estudo, eles demonstram o recente processo de concentração mas também de conformação das mídias tradicionais à realidade trazida 8/33 pela digitalização da informação, que permitiu o aparecimento de novos negócios de mídia baseados em Internet. Eles mostram através do estudo da formação de uma rede global que reúne redes conformadas por companhias de mídia tradicionais e por companhias da Internet que se encontra em curso um verdadeiro processo de imbricação de interesses, dando insumos para uma análise mais aprofundada de como se configura o poder de redes globais em suas interações com o local. O objeto de estudo é por eles submetido a um olhar que desafia a visão mais ou menos linear e mais ou menos isenta de conflitos exposta por Thompson (1999) ou a visão reducionista e de valor binário como a proposta por Chauí (2006), segundo nosso ponto de vista. Finalmente apontaremos com Castells (2008) a emergência de uma nova esfera pública global resultante da apropriação ativa das novas mídias por um público que, para muito além de mero espectador de um espetáculo dissimulado, constitui uma sociedade civil global, utilizando-se desses mesmos meios. É verdade que Thompson, no capítulo em que nos detemos, apenas tocou a análise da grande mídia, enquanto Chauí tratou da informação digital em suas várias formas e possibilidades (multimídia) mas de modo breve. Ainda assim podemos dizer que a leitura desses autores vai em sentido totalmente contrário à visão de Chauí (2006) acerca das implicações das tecnologias digitais sobre a cultura. Ressaltamos que os autores que nos servem de âncora para a apreciação desses pontos de vista, em sua grande maioria, observam os efeitos da emergência das tecnologias digitais nas práticas sociais e econômicas de uma forma muito mais positiva – mesmo Meyrowitz observa as mudanças sociais trazidas pelas mídias eletrônicas, a televisão em particular, escrevendo antes mesmo da existência da Web, já que sua publicação atualizada foi publicada em 1985. 1. Globalização em múltiplas escalas – Atores políticos no contexto digital global Saskia Sassen (2010) se nega a ver a globalização (entendida como a formação do mercado global para o capital, um regime de comércio global e a internacionalização da produção industrial) como um retorno a antigas espacialidades imperiais para 9/33 operações econômicas. Segundo ela, a formação das espacialidades transfronteiriças conformadas pelos sistemas globais de agora implicam a participação necessária dos Estados nacionais. Verificar-se-ia, segundo ela, uma variedade de dinâmicas multiescalares, em que as cidades globais participam de diversos circuitos globais, posicionando-se em diversas geografias transfronteiriças estruturadas. Cidades como Nova York, Londres, Paris, Frankfurt, Zurique, Amsterdã, Los Angeles, Toronto, Sydney e Hong Kong, mas também Bangkok, Taipei, São Paulo e a Cidade do México, fazem parte de uma rede de cidades globais que intensificaram notavelmente, segundo a autora, as transações financeiras, o comércio de serviços e os investimentos entre elas. O papel das novas tecnologias interativas não pode ser ignorado nesse processo. Isso, segundo Sassen (2010), nos convida a uma análise crítica de como conceituamos o local: Por meio das novas tecnologias, uma empresa de serviços financeiros se transforma em um microambiente com alcance global contínuo. E o mesmo se aplica a organizações com poucos recursos ou unidades familiares. Esses microambientes podem ser orientados para outros microambientes muito distantes, desestabilizando a noção de contexto, que costuma ser associada à do local e à noção de que a proximidade física é um dos atributos ou indicadores do local. (SASSEN, 2010, p. 22) O que há de novo nas redes interurbanas atuais é que os principais articuladores dos fluxos transfronteiriços não são apenas sistemas estatais, mas empresas e mercados de operações globais facilitadas por novas políticas e padrões internacionais, como resultado da privatização, da desregulamentação e das novas tecnologias da informação, da abertura de economias nacionais a empresas estrangeiras e da participação crescente de atores nacionais em mercados globais, iniciada na década de 1980 e incrementada nos anos 1990 (SASSEN, 2010). A noção baseada na dualidade global-nacional está portanto em xeque, uma vez que localidades podem interagir diretamente com as redes globais: “processos globais não precisam atravessar as hierarquias de Estados nacionais; eles podem se articular diretamente com certos tipos de localidades e atores locais” (SASSEN, 2010, p. 30). 10/33 Por outro lado, o problema do uso de termos voltados para explicar a globalização através apenas do retraimento da capacidade regulatória do Estado (desregulação e liberalização financeira e comercial) é que eles “somente captam o retraimento do Estado na regulação da economia, mas não registram todas as maneiras em que o Estado participa estabelecendo novas estruturas que promovem a globalização” (SASSEN, 2010, p. 31). O que ocorre é que atores privados, transnacionais e poderosos atuam em relações complexas em grande parte do aparato institucional, instalando uma nova ordem institucional privada no centro de instituições do Estado, com capacidade de privatizar o que antes era público e de desnacionalizar aquelas que antes eram autoridades e agendas nacionais (SASSEN, 2010). Colocando-se contra a presunção do que ela chama de estatismo enraizado que vê correspondência entre território nacional com o nacional, colocando, portanto, o nacional e o não-nacional como condições mutuamente excludentes, Saskia Sassen propõe um ponto de vista que nos parece capaz inclusive de abarcar movimentos sociais e práticas de cidadania participativas como verificamos em várias partes do mundo atualmente: Recuperar o lugar significa recuperar a multiplicidade de presenças nessa paisagem [...] A perda de poder no nível nacional leva à possibilidade para [sic] novas formas de poder e política no nível subnacional. Além disso, até onde o nacional como contentor de processos sociais e poder apresenta rachaduras […], ele abre possibilidades para uma geografia da política que relaciona espaços subnacionais através das fronteiras. As cidades, em primeiro lugar, estão nessa nova geografia. Uma questão que as novas geografias levantam é se estamos assistindo à formação de um novo tipo de política transnacional localizado nessas cidades. (SASSEN, 2010, p. 91) Falando do espaço constituído pelos atores ativos da globalização, incluídas aí as redes de imigrantes, ricos ou pobres, que possibilitam, como diz a autora, a transmigração também de formas culturais e reterritorialização de subculturas “locais”, ela assim o caracteriza: O espaço constituído pela malha mundial de cidades globais, um espaço com novas potencialidades econômicas e políticas, talvez seja um dos espaços mais estratégicos para a formação de novos tipos de políticas, identidades e comunidades, incluindo aquelas transnacionais. Esse é um espaço centrado no lugar, no sentido de que está 11/33 enraizado em locais específicos e estratégicos, e transterritorial, no sentido de que conecta locais que não são geograficamente próximos, mas que são intensamente conectados entre si. (SASSEN, 2010, p. 107) Esse espaço territorialmente localizado mas extremamente conectado 3 seria povoado por classes globais emergentes e envolveria a formação de novas reivindicações centradas em atores transnacionais, possibilitando a constituição de um espaço de novas práticas de cidadania. Assim, mesmo se restringindo as lutas a cenários locais, seus ativistas poderiam fazer parte da sociedade civil global. “Os atores podem incluir setores em desvantagem... que costumam ser invisíveis à política nacional e à sociedade civil nacional, que não são reconhecidos como atores político-cívicos, ou que não são autorizados pelo sistema político formal” (SASSEN, 2010, p. 153). As cidades configurar-se-iam assim, segundo a autora, como espaço concreto para atividades político-cívicas, distinto do espaço altamente formalizado da política nacional e da sociedade civil nacional, e como ambiente de ponta que abriga o espaço parcialmente desterritorializado das redes eletrônicas globais. A Internet de acesso público possibilitando a conexão a baixo custo de atores locais de diferentes países que, por meio dela, expandem esforços anteriormente puramente locais, e passam a compartilhar objetivos comuns com grupos semelhantes de diferentes localidades. Vemos um reconhecimento emergente da globalidade, moldado muitas vezes pelo conhecimento de lutas e desigualdades recorrentes em uma cidade após a outra. Esse conhecimento proporcionado pela mídia global e pela rápida disseminação do uso da internet entre os ativistas funciona como fato e como formação subjetiva. Em minhas viagens observei que essa dimensão subjetiva cada vez mais proporciona que os atores em desvantagem e localizados reconheçam a presença do global nessas cidades e sua participação nele. Assim o global se torna visível [...] (SASSEN, 2010, p.154-155) Dessa maneira, a ideia de contexto relacionada a fronteiras nacionais teria sido desestabilizada tanto pela constituição de uma rede com cerca de 40 cidades (SASSEN, 3 Vale lembrar a menção feita por Nestor Canclini (1997) ao trabalho do antropólogo Roger Rouse (Mexicano, chicano, pochos: la migración mexicana y el espacio social del posmodernismo, 1988), que verificou a existência de frequentes relacionamentos entre os habitantes de Aguililla, município rural de economia declinante, e aqueles que de lá tinham migrado para trabalhar como operários e prestadores de serviços no Vale do Silício, na Califórnia. Os “diversos assentamentos se entrelaçaram com tal força que provavelmente sejam mais bem compreendidos como se formassem uma única comunidade dispersa em uma variedade de lugares” (ROUSE, 1988, apud CANCLINI, 1997). Ele identificou a necessidade de uma cartografia alternativa do espaço social, baseada mais nas noções de “circuito” e “fronteira” (CANCLINI, 1997). 12/33 2010) que se constituiriam como infraestrutura para a reprodução do capital global, quanto pelo espaço digital global, no qual a expansão da Internet pública permitiu a conexão entre atores de localidades distintas, inclusive as periféricas. Isso teria dado ensejo à formação de novos sujeitos políticos, novas formas de cidadania, que as ciências sociais tradicionalmente ancoradas na idéia do nacional como contentor de todas essas manifestações sociais e de poder já não pode dar conta. […] sugiro que o ciberespaço, como a cidade, pode ser um espaço mais concreto para lutas sociais do que aquele do sistema político nacional. Ele se torna um lugar onde atores políticos não formais podem participar da política de um modo que é muito mais difícil em canais institucionais nacionais. O ciberespaço pode acomodar uma ampla variedade de lutas sociais e facilitar a emergência de novos tipos de sujeitos políticos que não precisam passar pelo sistema político formal. (SASSEN, 2010, p. 173) Finalmente, a autora diz ver a rua como local para a formação de novos sujeitos políticos que não precisam passar pelo sistema político formal, enquanto as tecnologias de rede, no atual contexto digital global, fortaleceriam e criariam novos tipos de atividades transfronteiriças entre atores não-estatais, proporcionando uma conexão distinta (e apenas parcialmente digital), chamada alternativamente de sociedade civil global, público global e commons (SASSEN, 2010, p. 172). Para ela isso assinala a possibilidade de um novo tipo de política, centrada em novos tipos de atores políticos: “Não é apenas questão de ter ou não ter poder. Atualmente existem novas bases híbridas a partir das quais agir” (SASSEN, 2010, p. 165). *** Pela posição exposta aqui brevemente, vemos a grande diferença entre a perspectiva proposta pela socióloga Saskia Sassen (2010) e a de Thompson (1999) e, mais ainda, a de Chauí (2006), a primeira assumindo uma ponto de vista mais rico e matizado que os últimos, considerando conflitos de interesses e contradições entre componentes do próprio Estado nacional, as desigualdades na apropriação dos resultados se configurando entre e dentro das cidades como resultado inerente ao fenômeno da globalização, mas também colocando em pauta os movimentos de participação política dos sujeitos. Isso posto, veremos como a ideia das mídias enquanto espetáculo de simulação defendida por Chauí também teria o poder de obscurecer a capacidade de agir desses atores. 13/33 2. Espetáculo e mídia – Arenas para a reinvenção do lugar Em seu artigo “O espetáculo e seu contexto através dos tempos: por uma abordagem multidisciplinar”, publicado em 2011, Renato da Silveira combate a idéia veiculada por Guy Debord em seu livro A cultura do espetáculo, dos anos 1960/70, de que, na nossa sociedade, o espetáculo constitui-se como mundo à parte. Segundo Debord, diz Silveira, “a ordem espetacular teria eliminado qualquer comunicação pessoal direta, mantendo o mundo dividido entre a representação e a realidade” (SILVEIRA, 2011, p. 80). Para Silveira (2011) o rito teria sido frequentemente interpretado como um desdobramento mecânico do mito: assimilado à mise-en-scène, seria considerado como encenação estereotipada sem grande significação social (SILVEIRA, 2011, p. 83). Entretanto, através dos tempos, diz o autor, o rito espetacular foi a própria mídia, o meio de comunicação de massa, tendo o século XX presenciado apenas a constituição de uma espetacularidade eletroeletrônica, que, ganhando novos recursos, desempenhou porém algumas das funções tradicionalmente atribuídas ao rito espetacular. Marilena Chauí (2006) também reconhece que o espetáculo não foi criado pela comunicação de massa. Entretanto, diz ela, a questão que se coloca é o “que sucede ao espetáculo quando capturado, produzido e enviado pelos meios de comunicação de massa” (CHAUÍ, 2006, p. 14). Ela cita muitos exemplos de fatos que teriam sido difundidos de forma espetacular pela grande mídia, como foi o caso da transmissão da cerimônia de casamento do príncipe Charles e Diana. Sobre isso, diz a autora, o “espetáculo não se referia ao acontecimento e sim à encenação do acontecimento, ao seu simulacro” (p. 17), espetáculo produzido na justa medida para ser transmitido pela televisão. Com os meios de comunicação de massa, o espetáculo teria se tornado simulacro transmitido com vistas ao puro entretenimento (p. 22). E, assim, pelo viés da distração e diversão, a indústria cultural teria mesmo se apossado de obras de arte críticas, esvaziando-as do seu sentido primordial, em prol do apassivamento dos sujeitos. Tal é a opinião dessa autora sobre o espetáculo e as mídias de massa. 14/33 Não é assim que pensa Silveira (2011). Mesmo reconhecendo o papel do espetáculo na conservação da ordem, ele pontua que mesmo esse papel teve funções integradoras e de inclusão, e admite que as grandes festas públicas também serviram e servem para “divulgar mensagens eventualmente dissonantes” (SILVEIRA, 2011, p. 104). Assim como transmite, conserva tradições e mantém a ordem, a grande festa pública também seria um dos modos como, através da história humana, o movimento social, inclusive o de conservação, ganhou corpo, organizou sublevações ou motins, transmitiu mensagens subversivas e cultuou imagens proibidas. O autor propõe que abandonemos a perspectiva que toma o “espetáculo em si como uma simples ferramenta de manipulação, para pensá-lo como manifestação institucional da sociedade e como meio de comunicação de massa” (SILVEIRA, 2011, p. 116), pois, assim, ganharíamos mais em abrangência teórico-metodológica. Renato da Silveira (2011) toma portanto um posicionamento totalmente distinto daqueles que vêem apenas intenções e resultados perversos nos espetáculos contemporâneos midiatizados, observando inclusive neles uma forma de expressão daqueles que se encontram numa posição social depreciada. Ele lembra que o espetáculo tem sido revalorizado como modalidade de ativismo político: hoje, com a desmoralização tendencial dos partidos, muitas atividades políticas significativas ganharam um cunho mais cultural, lutas pela cidadania apoiando-se em tradições ritualizadas e costumes locais depreciados pela modernização. É portanto uma temeridade teórica excluir a contraditoriedade do conceito de espetáculo, que pode ser não apenas uma modalidade de militância, pode até mesmo ser, dependendo do contexto, o principal meio de mobilização. (SILVEIRA, 2011, p. 118) É interessante notar como essa afirmação de Renato da Silveira (2011) conflui com o pensamento de Joshua Meyrowitz (1985). Este, ao estudar os efeitos das mídias eletrônicas, em particular a televisão, na cultura americana no século passado, percebeu que essas haviam reorganizado muitos fóruns sociais, tornando possível às pessoas se encontrarem de novas maneiras umas com as outras, à medida em que essas mídias estabeleceram mudanças nas próprias fronteiras das situações sociais. Os novos padrões de comportamento [...] poderiam também conter muitos comportamentos que foram anteriormente considerados inapropriados para “companhias misturadas”. […] Mídias eletrônicas – especialmente a televisão – levaram a uma superposição de muitas esferas sociais anteriormente distintas. (MEYROWITZ, 1985, p. 5, tradução nossa) 15/33 No livro No Sense of Place. The Impact of Electronic Media on Social Behavior, ele pergunta: executam-se papéis para os presentes ou para aqueles que estão assistindo televisão? Mas não vê nisso simulação ou simulacro. Pelo contrário, ele identifica aí a existência de novas situações em que os americanos – cuja sociedade ele estudava – estariam atuando em novas arenas, com novas audiências, tendo acesso uns aos outros, de novas maneiras. É interessante apreciar o pensamento desse autor. No citado livro, ele tenta fazer uma ponte entre a perspectiva dos teóricos da mídia, que tratavam a mídia como ambiente cultural em si mesma, e a perspectiva sociológica que ele denomina situacionista, que trabalha a relação entre “situação social” e papéis sociais – as situações sociais fornecendo o terreno subjacente para nossas figuras de linguagem e ação (p. 23). Dentro de um grupo cultural, regras situacionais e papéis parecem “objetivamente” reais porque as expectativas são freqüentemente compartilhadas. Ao mesmo tempo, as definições de situações não são meramente “subjetivas”; porque elas são reais para a maioria das pessoas dentro da mesma cultura ou grupo, tais sentidos sociais compartilhados têm sido rotulados “intersubjetivos”. Cada situação definida possui regras e papéis específicos [...] Cada definição situacional também prescreve e proscreve diferentes papéis para os diferentes participantes. (MEYROWITZ, 1985, p. 24, tradução nossa) Um dos mais proeminentes autores da abordagem situacionista, com o qual Meyrowitz mais dialoga, é Erwing Goffman, o qual usa a metáfora do drama para descrever a vida social. Goffman vê cada um de nós jogando uma multiplicidade de papéis em diferentes palcos sociais, oferecendo, para cada “audiência”, uma versão um pouco diferente de nós mesmos (MEYROWITZ, 1985, p. 28). Segundo Meyrowitz (1985), Goffman e outros sociólogos tenderam a pensar os papéis sociais em termos de lugares nos quais tais papéis seriam executados. Para o autor as mídias eletrônicas teriam minado a relação tradicional entre configurações físicas e situação social (p. 7). Sobre os relacionamentos entre lugares e situações sociais, ele diz que identidades de grupo têm usualmente sido ligadas ao acesso especial e compartilhado a localizações físicas – indivíduos ganhariam experiências similares estando “isolados conjuntamente” nos mesmos lugares ou em lugares similares. 16/33 A relação entre identidade de grupo e território de grupo está ligada ao tradicional relacionamento entre lugar e acesso à informação. Estar em um grupo – compartilhar sua experiência e informação – significou uma vez estar no lugar apropriado. […] Acesso ao território do grupo foi o primeiro significado de incorporação no grupo. (MEYROWITZ, 1985, p. 57, tradução nossa) Para ele, ao dissociar localização física de situação social, a mídia eletrônica começaria a desfazer distinções entre identidades de grupo existentes, permitindo às pessoas “escaparem” informacionalmente de grupos definidos pelo lugar e permitindo outsiders “invadirem” muitos territórios de grupos sem sequer entrar neles (p. 57). 4 Sendo assim, Meyrowitz (1985) propõe definir situação social como um dado padrão de acesso à informação social, um dado padrão de acesso ao comportamento de outras pessoas, ampliando dessa maneira o estudo de situações para além das interações que ocorrem em configurações fisicamente delimitadas. Desse modo, lugares e mídia ambos fomentariam conjuntos de padrões de interação entre pessoas e conjuntos de padrões de fluxo de informação social (p. 38). A mídia também poderia afetar a hierarquia alterando a acessibilidade a figuras de alto status: deixando de dar suporte ao relacionamento entre isolamento físico e inacessibilidade social, a mídia poderia trabalhar para diminuir papéis de alto status (p. 67). Meyrowitz (1985) coloca a questão do acesso à informação contrapondo o sistema baseado na mídia impressa, que exige a capacidade de ler e escrever para se aceder completamente ao estoque de conhecimento da sociedade, ao sistema menos seletivo e exclusivo da linguagem falada. Quanto a isso, ele diz que as mensagens da mídia eletrônica estão próximas à informação não linear de sons, imagens e ações. 5 4 A esse respeito retomamos Thompson (1999) que, mesmo constatando que os processos de apropriação dos produtos de mídia são transplantados para os conjuntos de práticas localizados que alteram seus significados (p. 156), afirma: “Imagens de outros modos de vida constituem um recurso que os indivíduos têm para julgar criticamente suas próprias condições de vida” (THOMPSON, 1999, p. 157) 5 Aqui vale lembrar a exposição de Renato da Silveira (2003) sobre a teoria da imagem de Pierre Francastel e sua defesa do poder de ordenar e de prefigurar da arte: “A função figurativa é uma categoria do pensamento tão completa quanto outras, e igualmente capaz de elaboração direta […] sem necessidade de transferência e de relação com os sistemas verbais. A função figurativa constitui uma categoria do pensamento imediatamente ligada à ação” (La realité figurative, 1965, citado por Silveira, 2003). 17/33 Para o autor, a televisão tornaria a informação acessível ao espectador médio, ao não exigir a codificação e decodificação complexa exigida pela leitura . A televisão quebraria barreiras entre diferentes campos; favoreceria agrupamentos discretos de informação, mais do que longos argumentos conectados e análises (MEYROWITZ, 1985, p. 79). Segundo ele, diferentemente dos livros, a televisão não poderia ser usada pelas elites para se comunicarem apenas entre e sobre si mesmas (p. 80). A televisão, como um ambiente compartilhado, tenderia a incluir algumas facetas de nossa cultura num fórum público (p. 87), ao qual se poderia assistir como se se estivesse apreciando um evento num parque, embora que num ato privado, sem comprometimento público (p. 83). 6 Ela seria capaz de dar ao espectador um senso de conexão com o mundo lá fora e com outros espectadores (p. 89). Grande parte da significância social da televisão portanto deve residir menos no que está na televisão do que na real existência da televisão como arena compartilhada. Televisão provê a maior percepção simultânea de uma mensagem que a humanidade jamais experimentou. (MEYROWITZ, 1985, p. 90, tradução nossa) O fórum compartilhado da televisão seria, pois, uma arena para a declaração e confirmação da “realidade” dos eventos (p. 90). Protestos contra a guerra do Vietnã, ele diz, se tornaram realidades sociais, não quando os manifestantes tomaram as ruas, mas quando os distúrbios foram vistos na televisão simultaneamente por inúmeras pessoas (p. 91). Para Meyrowitz, portanto, o que quer que seja percebido simultaneamente por muitas pessoas torna-se uma realidade social, pois as pessoas se sentiriam em contato com outras e com o que “está acontecendo” (p. 91). A distinção entre vida pública e privada também teria sido alterada pela mídia eletrônica. Os arquivos de áudio, videotape em crescimento introduzem a pessoa comum na história, simultaneamente eles revelam o que é comum mesmo em nossos líderes. E a “linguagem” desses registros é a expressiva-apresentacional-analógica forma de gestos, sentimentos e experiências. [...] A informalidade de mensagens eletrônicas é aumentada quando o meio é bidirecional e interativo. (MEYROWITZ, 1985, p. 109, tradução nossa) 6 Essa afirmação dá ensejo a uma reflexão sobre o maior poder para a participação do indivíduo providas pelas mídias interativas atuais, permitindo-lhe participar tanto como espectador, e garantindo muitas vezes até mesmo seu anonimato, como comprometer-se pública e ativamente em debates e ações coletivas. 18/33 A natureza viva e em desenvolvimento da maioria das comunicações eletrônicas tornaria mais difícil, e às vezes impossível, separar a experiência pública da experiência privada, diz ele (p. 114). Ela destrói a especialidade do lugar e do tempo (p. 125). Diz o autor que a TV, o rádio e o telefone teriam transformado o que antes eram lugares privados em lugares mais públicos, tornando-os mais acessíveis ao mundo exterior. Por outro lado, sistemas de som pessoais como o walkman da Sony tornaram privados os espaços públicos (MEYROWITZ, 1985, p. 125). Através desses meios aquilo que está acontecendo em qualquer lugar pode acontecer onde quer que nós estejamos. Mas quando estamos em todos os lugares, não estamos também em nenhum lugar em particular. (MEYROWITZ, 1985, p. 125, tradução nossa). Identidade de grupo, socialização e hierarquia, antes dependentes de localizações físicas particulares e das experiências especiais disponíveis nesses lugares teriam, assim, sido alteradas pela mídia eletrônica (p. 125). No que se refere à hierarquia e à relação com o poder formalmente estabelecido ele diz que a perda de controle sobre a direção e a sequência do fluxo de informação teria levado a um “achatamento” do status político (p. 163). A mistura de situações públicas e privadas teria também contribuído para tanto (p. 167). Ele afirma que, em muitos casos, a mídia eletrônica não apenas passa por cima de representantes locais e regionais, mas também do governo nacional (p. 171). Os americanos anteriormente olhavam para seu governo para obter informações sobre outros países. Agora, a maioria da informação internacional alcança o cidadão diretamente. O rádio pode colocar-nos mais próximos dos britânicos porque compartilhamos uma linguagem comum, mas a televisão pode mesmo nos colocar mais próximos dos polos ou dos afegãos. (MEYROWITZ, 1985, p. 171, tradução nossa) O autor diz que, ironicamente, ao passar por cima de hierarquias locais, a mídia eletrônica teria trazido algum tipo de controle local. A mídia eletrônica ultrapassaria, dessa forma, muitos dos antigos canais, enfraquecendo também todo o sistema de hierarquia e autoridade delegada (p. 172). *** Vimos até aqui que, no contexto da globalização, redes transfronteiriças de grupos e pessoas que compartilham objetivos e reivindicações semelhantes têm se constituído, dando voz àqueles não representados no campo da política formal. Assim, um novo 19/33 commons estaria vinculando pessoas de diversas partes do mundo que atuariam em localidades distintas mas sob uma perspectiva semelhante, segundo Sassen (2010). Vimos também com Silveira (2011) como o espetáculo produzido e transmitido pelas mídias de massa também podem contemplar movimentos que contradizem a própria tentativa de manipulação de suas expressões por parte da indústria cultural. Vimos com Thompson (1999) que os contextos de recepção podem alterar o caráter porventura manipulador dessas mensagens. Vimos com Meyrowitz (1985) que o meio realmente cria um novo ambiente e forja uma nova arena pública, mesmo no recesso do mundo privado, aproximando o que está longe – espectadores, contextos sociais, sistemas de informação, bastidores e palco que definem situações e papéis sociais. 7 Em tudo que até aqui vimos, relevamos as circunstâncias em que as mídias têm se mostrado capazes de ser de algum modo apropriadas pelo público para desempenhar um papel socialmente relevante e politicamente participativo. Nesse momento, a pergunta que fazemos é: diante disso, para onde se movem as empresas de comunicação de massa? Quais são suas estratégias de sobrevivência num mundo global, de capital certamente concentrado, mas que também viu entrarem em cena novos sujeitos políticos em meio ao advento de novos negócios e de forças sociais e econômicas que emergiram com a Internet? Falemos um pouco sobre isso. 3. A mass media enredada com a Internet: a rede toca o chão Em 2008, Sara Monaci alertava para a mudança que se processava no mundo Internet. Na primeira fase de seu desenvolvimento, forças sociais, econômicas, culturais e empreendedoras, em sinergia, teriam estabelecido um equilíbrio em que valores e princípios organizativos do movimento open source assumiram papel central (MONACI, 2008). 8 7 Foi um momento de grande dinamismo cultural, social e de É bom lembrar que as mídias aproximaram mas não aboliram ou homogeneizaram posições e lugares. Embora muitas vezes a leitura de Meyrowitz (1985) possa deixar essa impressão, o autor não o afirma. Isso tampouco irá se verificar como injunção do fenômeno da globalização (fenômeno que o autor não tratou). Falando do relacionamento entre o global e o local, seria bom trazer aqui a perspectiva lúcida de Stuart Hall: “A globalização (na forma da especialização flexível e da estratégia de criação de 'nichos' de mercado), na verdade, explora a diferenciação local. Assim, ao invés de pensar no global como substituindo o local seria mais acurado pensar numa nova articulação entre 'o global' e 'o local'” (HALL, 2006, p. 77). 8 Segundo Monaci (2008), os princípios que inspiram as primeiras formas de comunidades virtuais assim como aqueles que ainda hoje animam as conversações na Web através de blogs ou de enciclopédias compartilhadas, podem ser reconduzidos a alguns valores principais: o valor da 20/33 empreendedorismo, diz a autora. O período que se inicia nos anos 80 e se conclui em 1996 é considerado o mais rico e profícuo das inovações tecnológicas [...] Após a segunda metade dos anos 90 a crise econômica se revelou em toda sua dimensão [...] Apesar da quebra da Nova Economia a trintena de anos 1970-2000 representou um período de grandes transformações que, como ilustra Castells (1996), não se limitou ao âmbito científico e tecnológico mas interessou à sociedade como um todo. No interior de um desenvolvimento explosivo, o entrelaçamento entre a cultura da tecno-elite, a da hacker comunitária e a lógica da empresa inovadora teve um papel estratégico. (MONACI, 2008, p. 24, tradução nossa) O período rico e profícuo em termos de inovação tecnológica que se inicia nos anos 80 fecha-se em 1996 com o colapso da NASDAQ, bolsa de valores de empresas de alta tecnologia, com a crise econômica abatendo-se sobre grande número das empresas surgidas na esteira da Nova Economia.9 A Internet, numa segunda fase, irá caracterizar-se pela progressiva privatização do conteúdo e da experiência em rede, por um lado, e pela emergência de uma tendência sustentada na criatividade pessoal, independente e autodidata de milhões de usuários que, através da Internet, experimentam, colaboram, desenvolvem relações e práticas sociais de elaboração e de construção do conhecimento (MONACI, 2008). Emergem então novos atores, caso do Google que, num primeiro momento, se coloca como provedor de serviço – o motor de busca na Web – e passa a colocar-se também como gestor de conteúdo, inserindo-se, dessa forma, no mercado das mídias para além do mercado puramente de tecnologia (MONACI, 2008). Mais recentemente, verificou-se, de acordo com essa autora, tanto a tendência à monopolização do conteúdo e da infra-estrutura tecnológica, quanto a prática dominante da “pesquisa” na Web, na qual o Google joga papel preponderante. Entretanto, segundo ela, para além dos monopólios tecnológicos e midiáticos velhos e novos, delineia-se sempre mais claramente a força do social, identificada hoje, frequentemente, com o uso dos recursos de interação providos pela Web 2.0. Nesta fase, diz Monaci (2008), afirmam-se tendências antagônicas na Rede: de um lado, se comunicação livre e horizontal, a busca autônoma dos próprios interesses, a ideia da comunidade online qual instrumento de organização, ação coletiva e construção de significado (p. 22-23). 9 “No ambiente do Vale do Silício dos anos 70, a estreita correlação ou sinergia entre empreendedores, capitalistas de risco e tecnologias definiu as bases para a nova economia” (MONACI, 2008, p. 24, tradução nossa). 21/33 afirmam os monopólios do conhecimento, as multinacionais da tecnologia e da mídia, enquanto por outro lado emergem experiências sociais que parecem renovar, através de formas expressivas e soluções tecnológicas inéditas, os ideais comunitários e o modelo organizativo do open source (MONACI, 2008, p. 31). Num artigo publicado em 2008, Manuel Castells e Amelia Arsenault, estudando a estrutura e dinâmica dos negócios multimídia globais, mostraram como essas empresas se moveram e como vem se dando o enredamento da Internet com as empresas da grande mídia, na fase mais recente de desenvolvimento da Internet a que Monaci (2008) se referia. Segundo Castells e Arsenault (2008), o processo de globalização, digitalização, networking e diferenciação cultural da mídia induziu a novas formas de organização, produção e distribuição através das quais o negócio multinacional de mídia opera. Mídia transnacional existiu por um século, entre elas as agências de notícia, mas as políticas de desregulamentação aceleradas nos meados dos anos 1990 teriam pavimentado o caminho para o adensamento de conexões entre organizações de mídia transnacionais e locais (ARTZ, 2007, citada por CASTELLS, ARSENAULT, 2008, p. 722). Corroborando a percepção de Stuart Hall (2006) citada em nota no presente trabalho, esses autores dizem que, enquanto capital e produção são globalizados, o conteúdo da mídia é customizado para culturas locais e para uma diversidade de audiências. Sendo assim, globalização e diversificação estariam conjuntamente solidificando a formação de uma rede global de negócios de mídia interconectados. Com a digitalização da informação, os produtos de mídia movem-se fluidamente através de uma variedade de plataformas. Os usuários podem escolher a forma e situação em que consomem tais produtos. Assim, de modo crescente, o espaço de comunicação é consolidado dentro de uma rede de telecomunicações, Internet e mídia de massa. Os conglomerados de mídia e companhias da Internet (Google, Yahoo, Microsoft e Apple) teriam desenvolvido estratégias para assegurar que a Web 2.0 não desestabilizasse a configuração de poder existente. Ao que parece, teriam buscado economias de sinergia entre várias plataformas e produtos. Por outro lado, a Internet e as comunicações sem fio teriam descentralizado a rede de comunicação. Estaríamos assistindo, assim, a 22/33 numa nova forma de comunicação através de redes de “auto-comunicação de massa” (mass self-communication networks), um processo que tem lugar nas redes de comunicação horizontal da web global, que inclui o intercâmbio multimodal de mensagens interativas e documentos de muitos-para-muitos num tempo determinado (p. 710). Os autores defendem que isso é comunicação de massa, uma vez que alcança potencialmente uma audiência global, mas é também auto-comunicação porque indivíduos potencialmente geram seu próprio conteúdo, escolhem a plataforma para sua emissão e jogam um papel ativo no desenho do processo de recepção. Isso aumentaria a autonomia e liberdade de comunicação, mas essa autonomia cultural não levaria necessariamente à autonomia em relação aos negócios da mídia. Castells e Arsenault (2008) dizem que movimentos de integração vertical desse ramo de negócio intensificaram-se nos anos 1980 quando a News Corp. integrou a Century Fox e dizem que esse tipo de integração cresceu muito em razão da capacidade de distribuir produtos através de uma grande quantidade de plataformas, coisa que se tornou pré-requisito para o sucesso de produtos culturais (p. 716). A integração atualmente inclui a Internet: as organizações de mídia movem-se para dentro da Internet enquanto companhias da Internet criam parcerias com essas organizações, num processo de apagamento das fronteiras entre empresas da Internet, da mídia e das telecomunicações. De acordo com Jenkins (2006 citado por CASTELLS, ARSENAULT, 2008, p. 716), a convergência da cultura e a divergência de plataformas criam novas oportunidades para as corporações de mídia, que empacotam e distribuem em outras plataformas aqueles conteúdos que obtiveram sucesso em uma delas. Assim, as barreiras entre “velhas” e “novas” mídias estariam desaparecendo. As organizações de mídia estariam se movendo na direção de novas e dinâmicas formas de entrega de conteúdos customizados.10 Dizem os autores: sob a propriedade da News Corp., o MySpace 10 A palavra convergência define mudanças tecnológicas, industriais, culturais e sociais no modo como as mídias circulam em nossa cultura (JENKINS, 2009, p. 377). Segundo Jenkins (2009), o livro Technologies of Freedom, de 1983, de Ithiel de Sola Pool (MIT), foi provavelmente o primeiro a delinear o poder transformador das indústrias culturais do conceito de convergência: “Um único meio físico – 23/33 desenvolveu um sistema ultra-focado de entrega de anúncios baseado em hábitos de busca (search) (p. 718). Castells e Arsenault (2008) falam, então, que a capacidade de alcançar economias de escala, diversidade de plataformas e customização de conteúdo pelas corporações é determinada por economias de sinergia – economias de tamanho não sendo necessariamente benéficas – para a qual a configuração da rede é crítica. Sinergia, dizem eles, é a chave. Ela está baseada na compatibilidade das redes que se reúnem. São programas e não propriedades que se fundem (merge). “Formas de organização em rede dentro das companhias, mais do que integração horizontal de propriedades, parece ser o modelo de maior sucesso de negócio nos conglomerados multimídia contemporâneos” (CASTELLS, ARSENAULT, 2008, p. 721, tradução nossa). O poder da rede global de organizações de mídia, dizem os autores, envolve muito mais que expansão territorial, concentração de propriedade e diversidade de plataformas – o sucesso depende da capacidade de conectar-se à rede global de comunicação mediada. Processos de produção e distribuição em rede assim como o fluxo global/local solidificam ainda mais essas redes encorajando a adoção de formatos e modelos de produção similares (p. 722). “Redes são consolidadas através de processo de globalização e localização em rede assim como modelos de produção de distribuição em rede” (CASTELLS, ARSENAULT, 2008, p. 722, tradução nossa). Os autores verificaram que companhias globais estavam estabelecendo parcerias e fazendo investimentos cruzados com companhias nacionais, regionais e locais para facilitar a expansão do mercado. Assim, dizem eles, processos de localização e de globalização trabalham lado a lado para expandir a rede global de produção e distribuição (p. 722). Nesse ponto os autores apresentam uma figura que ilustra muito bem as parcerias e os sejam fios, cabos ou ondas – pode transportar serviços que no passado eram oferecidos separadamente. De modo inverso, um serviço que no ano passado era oferecido por um único meio – seja a radiodifusão, a imprensa ou a telefonia – agora pode ser oferecido de várias formas físicas diferentes. Assim, a relação um a um que havia entre um meio de comunicação e seu uso está se corroendo” (POOL, 1983, apud, JENKINS, 2009, p. 37). 24/33 investimentos cruzados estabelecidos por organizações de mídia globais, nacionais e locais de vários tamanhos entre si e com empresas da Internet. Assim eles representam, de modo simplificado, resultados de sua pesquisa demonstrando que as companhias perseguem distintas estratégias, influenciando mas também sofrendo influência das condições nacionais e locais de produção e distribuição (p. 726). Sem esquecer, é verdade, que os programas e conteúdos são customizados para os mercados locais, mas tipicamente segundo formatos padrão popularizados no Ocidente. 11 11 Os autores afirmam que a Viacom teria saído na frente no processo de localização do conteúdo. A MTV (Music Television) que lhe pertence, sendo talvez a plataforma de mídia mais customizada de todas, tem customizações para a Ásia, Oriente Médio, América Latina, África e canais europeus contando com talentos e apresentadores locais (CASTELLS, ARSENAULT, 2008, p. 727). 25/33 Figura 1 – Parcerias e investimentos cruzados entre empresas de mídia e da Internet Fonte: CASTELLS e ARSENAULT (2008). 26/33 O local, entretanto, também influencia o global. Uma evidência disso estaria já no processo de regulação e desregulamentação promovido por Estados nacionais. 12 Também a cultura atuaria como filtro local ao fluxo global de mídia (p. 728). Por outro lado, embora conglomerados multinacionais tenham ajudado a transmitir fórmulas para shows em todo o mundo, esses programas tiveram diversas origens – caso, por exemplo, de Betty La Fea, telenovela colombiana que circulou o mundo, fato que demonstraria que o conteúdo local é passível também de se tornar globalizado, embora que de modo sempre customizado (p. 728-729). A própria indústria de mídia teria mostrado que pode vir a florescer em torno de identidades culturais e políticas locais. Os autores dão exemplos: Al Jazeera – com duas redes de broadcast (em árabe e inglês) e canais de esporte e para as crianças – é subsidiada pelo governo do Qatar, se conecta com outras redes de mídia e tem presença fora do Oriente Médio; a indústria indiana de filmes (Bollywood) evoluiu em grande medida de maneira independente da rede de mídias global e seus filmes são fortemente dependentes da fórmula cultural indiana; a indústria de filmes nigeriana (Nollywood), que está entre as maiores indústrias de filmes em termos internacionais, evoluiu também graças ao menor custo de produção propiciado pelo formato vídeo – formato de mídia não imediatamente negociável fora do mercado local, tendo assim mesmo atraído a atenção de conglomerados multinacionais (CASTELLS, ARSENAULT, 2008). Conglomerados de multimídia são um dos maiores compradores de publicidade. Companhias de publicidade também teriam começado a comprar plataformas de difusão, incluindo empresas especializadas em tecnologias de busca e em publicidade em redes sociais na Internet (CASTELLS, ARSENAULT, 2008). No seu estudo, os autores mostram a tentativa de atores da mídia global de utilizarem a Internet para re-mercantilizar a informação. Mas, dizem eles, YouTube, Facebook, MySpace e outros estarão em pontos críticos entre as redes de mídia, as redes de auto-comunicação de massa autônomas, anunciantes e atores políticos que desejam filtrar e introduzir conteúdos nessas redes (p. 741). “O alcance global do Google, Microsoft, Apple e Yahoo assim como suas numerosas parcerias com companhias regionais de Internet e de mídia mostra que essas empresas não podem ser 12 China e Índia ainda manteriam grande controle sobre as condições de entrada das corporações (CASTELLS, ARSENAULT, 2008). 27/33 consideradas separadamente” (CASTELLS, ARSENAULT, 2008, p. 741, tradução nossa). Elas crescentemente definem a agenda para gigantes da multimídia com pequena capacidade online e controlam nós críticos entre a esfera da mídia e a esfera online (p. 741). Entretanto, continuam os autores, quanto mais os produtos de mídia são produzidos e consumidos online e através de redes sociais e de outros conteúdos gerados pelo usuário online, mais o comportamento do usuário individual joga um papel central na orientação de recursos para a publicidade. 13 Existem redes horizontais de comunicação digital que valorizam autonomia, liberdade individual e auto-identificação. Embora tentando colocar tais redes sob seu controle, as redes globais de negócios devem respeitar as culturas específicas dessas novas mídias, para poder explorar esse grande reservatório de consumidores ativos (CASTELLS, ARSENAULT, 2008, p. 744). Eles não devem reduzir excessivamente a liberdade de expressar-se nos espaços sociais. Eles devem limitar a intromissão na privacidade do usuário. Eles devem ser tolerantes com a cultura do remix e devem adaptar seus modelos de negócio à prática de multitarefa e redes de comunicação sem fio distribuídas. (CASTELLS, ARSENAULT, 2008, p. 744, tradução nossa) Se assim for, e voltando à nossa discussão com o pensamento de Chauí (2006), este fato pode estar sinalizando a incapacidade temporária ou permanente de o capital destruir a esfera pública. Finalmente, e numa perspectiva otimista, os autores admitem que, quanto maior a autonomia comunicativa dos consumidores de mídia, mais eles provavelmente se tornarão cidadãos de mídia, os chamados netizens, em inglês (p. 744). *** Vimos com Sara Monaci (2008) como a concentração do capital se acentuou com a desregulamentação dos mercados dos anos 1990, mas também como a difusão da Internet permitiu a entrada de novos atores adeptos de uma cultura colaborativa inspirada nos princípios da comunidade open source. Tal desenvolvimento baseou-se fortemente em empreendimentos 13 Eles citam os engenhos de busca online que são configurados de acordo com a participação do usuário, ainda que de modo inconsciente, através da popularidade de termos, da relevância de palavras-chave, links para outros sites. Podemos aqui citar também a medida tomada pelo Google em dezembro de 2009 de filtrar informações resultantes da busca de um mesmo termo de acordo com o que considera ser o mais adequado de acordo com escolhas personalizadas para cada usuário (a esse respeito ver o post “Rede: personalização que esconde a informação” no endereço http://www.2i2p.ba.gov.br/artigo/rede-personalizacao-que-esconde-a-informacao). 28/33 que estimularam e ao mesmo tempo se beneficiaram de investimentos em inovação tecnológica no contexto da Nova Economia (MONACI, 2008). Com o trabalho de Castells e Arsenault (2008) pudemos compreender como vem se dando a interconexão entre o negócio da mídia tradicional e os negócios surgidos no mundo Internet, fazendo emergir novos modelos de negócio em rede. Vimos também como os usuários se apropriam das tecnologias interativas para criar/intercambiar conteúdos online, mudando o panorama da indústria cultural. Esses usuários se constituíram inclusive como fornecedores de conteúdo para a grande mídia, que em grande medida publica histórias baseadas em material de segunda-mão providas por novas agências e por press releases, que, de forma dinâmica, atualizam conteúdos (com imagem e vídeo) das versões online da imprensa e dos telejornais (CASTELLS, ARSENAULT, 2008, p. 742). Mais ainda, a grande mídia, até mesmo para controlar e na busca por tornar a informação novamente uma commodity, é obrigada a respeitar a cultura que dá novos usos à tecnologia possibilitando aos indivíduos se comunicarem sem a necessária e determinante mediação das mídias em rede poderosamente interconectadas com redes de finanças, produção, publicidade, tecnologia, pesquisa e política (CASTELLS, ARSAENAULT, 2008, p. 743). Esses indivíduos têm produzido todo tipo de conteúdo e têm desenvolvido aplicações de software destinadas a dar suporte ao debate que se desenrola nessas redes, numa perspectiva de compartilhamento de ideias, opiniões, informações e notícias. Podemos dizer que eles têm dessa maneira ajudado a criar e a popular uma nova esfera pública habitada por atores do que se tem denominado de sociedade civil global, do que trataremos a seguir. 4. Cidadãos em escalas multiplicadas No artigo intitulado “The New Public Sphere: Global Civil Society, Communication Networks, and Global Governance”, Manuel Castells (2008) evidencia a existência de uma sociedade civil global que forma, juntamente com uma rede global de Estados que suplantam e integram os EstadosNação preexistentes, a esfera pública contemporânea, a qual se constitui em torno de sistemas de mídia. O autor diz que o termo sociedade civil é um rótulo genérico que reúne várias formas de organização e ação frequentemente contraditórias e competitivas (p. 83). Entre os componentes 29/33 desse ambiente de organizações, projetos e práticas que nutririam o crescimento da sociedade civil global estariam ONGs cujas ações e objetivos possuem um quadro de referência global ou internacional; 14 também estariam aí os movimentos sociais que almejam controlar o processo de globalização e estão conectados a uma rede global que coordena ações, além do próprio movimento da opinião pública, com suas mobilizações espontâneas ad hoc utilizando-se das redes de comunicação horizontais autônomas (p. 86). A nova esfera pública global dependeria grandemente dos sistemas de meios de comunicação global/local. Aqui jogaria um papel muito importante as redes de comunicação que relacionam muitos-para-muitos (denominadas por Castells de mass self-communication), as quais ignorariam a mídia de massa e freqüentemente escapariam ao controle do governo (p. 90). Segundo ele, o corrente sistema de mídia é local e global ao mesmo tempo. Ele é organizado em torno de um centro formado por grupos de negócios de mídia com alcance global e suas redes (p. 90). Atuando no sistema de mídia, particularmente ao criar eventos que enviam imagens e mensagens poderosas, ativistas transnacionais induzem um debate sobre “o como”, “o porque” e sobre “o quê” da globalização e sobre as escolhas sociais relacionadas. É através da mídia, ambas, mass media e redes de comunicação horizontais, que atores não estatais influenciam a mente das pessoas e promovem mudanças sociais. (CASTELLS, 2008, p. 90, tradução nossa) Cidadãos participariam dessa esfera pública e – pensemos com Sassen (2010) – atuariam em escalas multiplicadas. Assim, a globalização das mídias não teria resultado apenas num aparentemente previsível adormecimento das consciências e dos movimentos sociais. Nos últimos tempos, isso tem sido demonstrado pelos movimentos daqueles excluídos do processo de concentração de riqueza e de poder ensejado em grande medida pela globalização dos mercados, do capital, incluído aí o processo de reconfiguração dos negócios de mídia no cenário de surgimento de novos e inovadores negócios surgidos com a Internet. O cenário descrito por Castells (2008), Castells e Arsenault (2008), Sassen (2010) não parece tão desolador do ponto de vista da formação da esfera pública quanto aquele visto por Chauí (2006). Nem tampouco o espetáculo da mídia parece ter se resumido a mero simulacro, como havia dito Silveira (2011). Acresce que o poder das mídias não deve ser apenas analisado pelo impacto do conteúdo que veicula, mesmo quando seu poder de determinação é relativizado, como fez Thompson (1999) tratando da recepção da grande mídia em contextos locais. 14 Ao que, diz Castells (2008), a maioria dos analistas se referem como uma “sociedade civil global”. 30/33 É preciso considerar a mídia de per si como ambiente capaz de, colocando em contato realidades distintas, potencializar as forças que impelem à mudança da realidade sociopolítica. É preciso pensar na mídia como tecnologia que altera e faz emergir novos espaços sociais – a esfera pública aí incluída. Tratando do que chamam formações digitais, Saskia Sassen e Robert Latham (2005) partem do reconhecimento de que estamos hoje em presença de formações que não existiam anteriormente – formações de variadas escalas que dependem de tecnologias digitais, que cruzam uma variedade de fronteiras (nacionais ou outras), as quais engendrariam uma diversidade de práticas espaciais, organizacionais e de interação. As tecnologias digitais, dizem os autores, seriam centrais para a emergência de novas estruturas de comunicação e informação e para a transformação daquelas existentes; as propriedades técnicas variando de acordo com lógicas sociais. E assim como Meyrowitz (1985) dizia que a televisão deveria ser vista como arena compartilhada capaz de prover a percepção simultânea de uma mensagem, algo que a humanidade jamais havia experimentado até então, também os novos espaços criados pelo uso das tecnologias interativas em rede parecem afetar as formas de participação pública: alteram o equilíbrio das esferas públicas nacionais convencionais possivelmente porque desenham identidades políticas e noções associadas ao estar/não estar conectado, criando talvez, como queria Volkmer (2003), um novo conceito de cidadania. Diante disso, como propõem Latham e Sassen (2005), a busca por compreender essas tecnologias não se pode reduzir aos estudos dos impactos, a quadros de análise focados em termos de variáveis independentes e dependentes. Precisamos, como eles dizem, de novos construtos para construir como objeto de estudo as novas relações sociotécnicas e os novos domínios que se apresentam em configurações que precisam ser tratadas em suas dimensões organizativas, de interação e espaciais, as quais mutuamente se constituem – dimensões essas que achamos poder ser ilustradas hoje, em muitos casos, pelas redes sociais, pela cultura colaborativa e pelo transbordamento de fronteiras identitárias. Devemos tentar construir uma capacidade teórica que possa dar conta de um espaço público cuja expressão digital tem se imbricado com movimentos sociais que acontecem nas ruas das cidades ao tempo em que também estão conectados globalmente. 31/33 Referências 2i2p. Rede: personalização que esconde a informação. <Disponível em http://www.2i2p.ba.gov.br/artigo/rede-personalizacao-que-esconde-a-informacao>. Acesso em 2 dez 2011. BENJAMIN, Walter. O narrador. Considerações sobre a obra de Nikolai Leskov. (1936). In: _________. Magia e técnica, arte e política. Ensaios sobre literatura e história da cultura. Obras Escolhidas, volume 1. Tradução Sérgio Paulo Rouanet. SP: Ed. Brasiliense, 1985. p. 197-221. BRIGGS, Asa; BURKE, Peter. Uma história social da mídia: de Gutenberg à internet. RJ: Zahar, 2006. CANCLINI, Néstor García. Culturas Híbridas - estratégias para entrar e sair da modernidade. Tradução de Ana Regina Lessa e Heloísa Pezza Cintrão. São Paulo: EDUSP, 1997. p.283-350. Dsponível em <http://www.ufrgs.br/cdrom/garcia/garcia.pdf>. Acesso em: <14 ago. 2011> CASTELLS, Manuel. The New Public Sphere: Global Civil Society, Communication Networks, and Global Governance. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 2008. p. 78-93. Disponível em http://ann.sagepub.com/content/616/1/78. Acesso em 12 set. 2011. CASTELLS, Manuel; ARSENAULT, Amelia H. The Structure and Dynamics of Global Multi-Media Business Networks. International Journal of Communication 2, 2008, pp. 707-748. CHAUI, Marilena. Simulacro e poder: Uma análise da mídia. São Paulo: Perseu Abramo, 2006. DI FELICE, Massimo. As formas digitais do social e os novos dinamismos da sociabilidade contemporânea. In: KUNSCH, M e KUNSCH, W. (orgs.). Relações públicas comunitárias – a comunicação em uma perspectiva dialógica e transformadora. São Paulo: Summus Editorial, 2007, pp.29-44. Disponível em <http://www.abrapcorp.org.br/anais2007/trabalhos/gt3/gt3_felice.pdf>. Acesso em 20 out. 2011. HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Tradução Tomaz Tadeu da Silva, Guaracira Lopes Louro. 11 ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2006. JENKINS, Henry. Cultura da convergência. SP: Aleph, 2009. KELLNER, Douglas. A Cultura da mídia e o triunfo do espetáculo. Líbero, ano VI, V. 6, n. 11 p.4-15. LATHAM, Robert; SASSEN, Saskia. Digital Formations: Constructing an Object of Study. In: ______ (eds.). Digital Formations: Information Technology and New Architectures in the Global Realm. New Jersy: Princeton University Press, 2005. MEYROWITZ, Joshua. No Sense of Place. The Impact of Electronic Media on Social Behavior. New York: Oxford University Press, 1985. MIGNAQUI, I. La ciudad global, las redes y la geografia urbana de los Estados glocalizados. Curso Gestión socio-urbana y participación ciudadana en políticas públicas. Clase 2. FLACSO, 2008. MONACI, Sara. La conoscenza on line: logichi e strumenti. Le Bussole, 322. Roma, Carocci editore, 2008. ROCHA, Maria Célia Furtado. Participação e Web 2.0. In: PRODEB. Internet, participação e interatividade. Relatório Técnico Preliminar. Salvador, 30 nov. 2009, p. 60-70. SASSEN, Saskia. Sociologia da Globalização. Tradução Ronaldo Cataldo Costa. Porto Alegre: Artmed, 2010. SILVEIRA, Renato. A ordem visual (Uma introdução à teoria da imagem de Pierre Francastel). In: 32/33 VALVERDE, Monclar (org.). As formas do sentido: estudos em estética da comunicação. Rio de Janeiro: DP&A, 2003. ______. O espetáculo e seu contexto através dos tempos: por uma abordagem multidisciplinar. In: MATOS, Edilene (org.). Arte e Cultura: memória e transgressão. Salvador: EDUFBA, 2011. THOMPSON, John. Ideologia e Cultura moderna. Petrópolis: Vozes, 1999. VOLKMER, Ingrid. The Golbal Nerwork Society and the Global Public Sphere. Journal of Development, March 2003, v. 46, n. 1, pp. 9-16. <Disponível em http://www.palgravejournals.com/development/journal/v46/n1/pdf/1110415a.pdf> Acesso em 5 jan. 2012. 33/33
Download