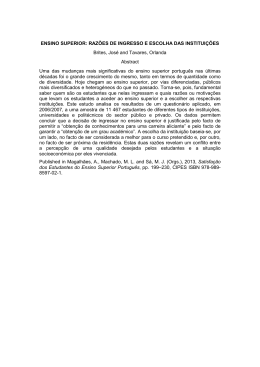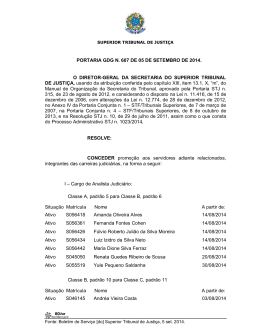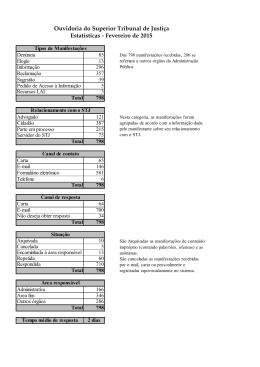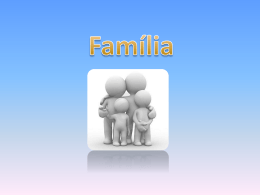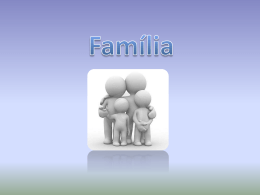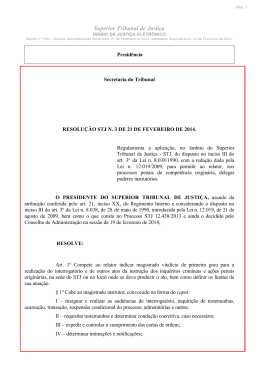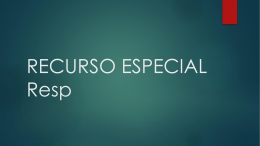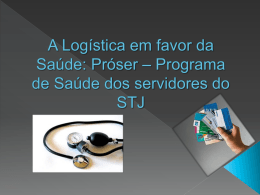Intervenção sobre a reforma dos recursos em processo penal. As ambiguidades do sistema de recursos no CPP – Perspectivas de futuro1. José Manuel Damião da Cunha Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa - Porto 1. Introdução 1. A minha intervenção, neste debate sobre a reforma de recursos em processo penal, tem por título “As ambiguidades do actual sistema de recursos – perspectivas de futuro”; nome também ele ambíguo, mas que, no fundo, corresponde à minha posição face ao actual sistema de recursos, na medida em que, em muitos aspectos, não me revejo nele. Esta minha sensação de desconforto deve-se ainda ao facto de entender que uma reforma do processo (e do processo penal) não deveria começar pelo “topo”, mas sim pela decisão de 1ª instância – a qual deveria ser o ponto de partida para qualquer aprofundamento de reflexão. Por isso, sempre entendi que não são os recursos o tema de reflexão central; pelo contrário, o sistema processual penal deveria ser pensado e construído com base no princípio de que, antes de tudo, existem decisões de que se recorre e a intervenção dos tribunais de recurso deveria depender daquilo que se espera das decisões de 1ª instância. E, neste sentido, os recursos deveriam, antes de tudo, ser actos de sindicância da Boa Administração da Justiça de 1ª instância: no mérito, na legitimidade e nos pressupostos de legitimidade democrática das decisões de 1ª instância. Mas o que se acaba de dizer interessa, agora, pouco. De facto é dos recursos e de uma certa experiência dos recursos que me proponho falar e é sobre eles que pretendo dar o meu contributo. 1 O presente texto corresponde, no essencial, à nossa intervenção oral proferida no âmbito do Debate sobre a Reforma dos Recursos em processo penal. Por isso mesmo, este texto ressente-se do carácter resumido, consequência do tempo disponível para aquela intervenção. Daí que o Autor reconheça poder existir alguma insuficiência de fundamentação e de exposição nalguns pontos. Todavia, tratando-se de um debate, pretendeu-se tão-só dar um contributo, que o Autor espera poder aprofundar e melhor fundamentar noutra oportunidade, no respeito e atenção de todos os outros contributos que foram apresentados, no âmbito deste mesmo debate. Não vou, por isso, “fugir” ao tema. Não me posso esquecer que, por um lado, uma das maiores críticas que se apontou ao CPP, na sua versão original, foi exactamente o da insuficiência dos recursos e, por outro, que os recursos assumem tal importância no discurso processual-penal que até a nossa CRP consagra, no mesmo artigo e duplamente, o direito ao recurso, em processo penal e para o arguido. 2. A minha análise incidirá fundamentalmente num aspecto que é agora focado neste importante relatório sobre os recursos em processo penal; exactamente aquele em que se afirma que se deve aprofundar a orientação, iniciada em 1998, de atribuir às Relações a competência para julgar os recursos de decisões de 1ª instância. Sugerindo-se em seguida, embora por forma não muito peremptória, um conjunto de propostas sobre a repartição de competências entre STJ e Relações. 2. A situação actual. 1. Gostaria, todavia, de salientar que a aplicação e a execução do sistema de recursos após 1998 foi tudo menos pacífica. A menos que se trate de imaginação minha, existiram “questões” (como acho que ainda hoje existem) muito discutidas e controversas (sobretudo dentro dos tribunais de recurso, e em especial no STJ). Valerá a pena relembrar algumas dessas questões, estando convicto de que as dificuldades jurisprudenciais (que a seguir salientarei e exemplificarei) ainda hoje persistem. E creio bem que estas dificuldades resultam, antes de tudo, da própria Lei. No meu entender, podem-se enunciar-se essas questões do seguinte modo: a) O problema do conhecimento dos vícios do art. 410º, nº 2 do CPP (qual o tribunal de recurso competente para deles conhecer); b) Saber se existe um recurso directo, um recurso per saltum ou, como já foi defendido (solução que não é excluída por este Relatório de Avaliação), um regime de opção (entre recorrer para a Relação ou para o STJ, cabendo ao recorrente a escolha). c) E, por último e mais recentemente, o problema da “dupla conforme” e o subsequente acesso ao STJ. 2. Cabe-me, antes mais, esclarecer que as considerações que agora vou proferir não devem ser entendidas como uma qualquer crítica à jurisprudência: qualquer solução (ou talvez melhor, qualquer linha jurisprudencial) tem o seu apoio legal; qualquer delas, de resto, mereceria a qualificação de “solução compreensível”. Quanto a mim, a questão reside exactamente nalguma “ambiguidade legislativa”. 3. O “pecado original” que, no meu entender, levou a alguma perturbação na aplicação prática em matéria de recursos foi o de se ter entendido (creio que quase unanimemente) que a invocação dos vícios da sentença, referidos como fundamentos de recurso no art. 410º, nº2, implicaria a interposição do recurso nas Relações e não “directamente” no STJ. Devo dizer que esta solução, que atribui esta competência às Relações, se me afigura incorrecta, embora possa existir alguma justificação para ela, face à ambiguidade da lei. De facto, parece-me evidente que, tanto o art. 410º, nº2, como o art. 434º do CPP, são expressos e claros em atribuir tal competência ao STJ. O art. 410º, nº2 afirma que, mesmo nos casos em que a lei restrinja a cognição do tribunal de recurso a matéria de direito (é o caso do STJ), o recurso pode ter por fundamentos…; por seu turno, o art. 434º diz que sem prejuízo do disposto do art. do art 410º, nº2 e 3 o recurso interposto para o STJ visa exclusivamente o recurso em matéria de direito. Logo: Fundamentos e poderes de cognição surgem claramente identificados e coordenados, no sentido de que a cognição do STJ abrange todos os hipotéticos fundamentos de recurso e, inversamente, os fundamentos de recurso são todos aqueles que caibam na cognição legal do tribunal de recurso. Não foi esta a orientação – quanto a mim, decorrente dos preceitos indicados e que aponta para a competência do STJ – que prevaleceu. Para isso, contribui uma primeira ambiguidade da lei. De facto, desde logo o art. 430º do CPP atribui às relações a possibilidade de renovação da prova (a que acresce o facto de, no art. 412º, se juntar, em termos de recurso, a impugnação sobre matéria de facto com a renovação da prova), o que justificará a dúvida sobre a interpretação dos preceitos. Julgo que aquilo que terá contribuído decisivamente para a orientação no sentido de atribuir competências às Relações terá sido uma razão, diria, pragmática (mas, do mesmo modo, consequência da “ambiguidade legal”): enquanto a constatação de vícios do art. 410º pelo STJ implicaria o reenvio (ou, melhor, poderia implicar o reenvio, uma vez que esta decisão não é obrigatória), neste caso (ou seja, se o recurso for conhecido pela Relação), existe a possibilidade de se renovar a prova na Relação, com a consequente vantagem de “economia processual”, obviando-se a um eventual reenvio. Daí que se tenha imposto a ideia de que, quando tenha por fundamento os vícios do art. 410º, o recurso deveria ser interposto na Relação, embora, desde logo, se tenha colocado em questão saber como coadunar esta solução com o posterior acesso ao STJ (ou seja, sob que forma este conheceria) ou mesmo a concordância desta orientação com o Acórdão nº 7/95 sobre o conhecimento (oficioso) dos vícios do art. 410º. Digo desde já que discordo das interpretações que, entretanto, foram propostas, as quais, em alguma medida, pretendem legitimar a solução perfilhada. 4. Reconhecendo, embora, que existe uma certa ambiguidade na lei, parece-me que, não só esta orientação não é a melhor, como, de facto, o legislador omitiu (ou, então, talvez supondo a sua existência implícita) uma norma expressa que afirmasse que a renovação de prova, a fazer pela Relação, se referia às decisões do tribunal singular (tal como vigorava na solução original do CPP). Com efeito, a justificação de economia processual não se me afigura convincente, porque a lei não diz que a Relação renova prova, diz tão-só que o pode fazer, se houver razões para crer que aquela permitirá evitar o reenvio (o que quer dizer que as razões de economia processual ficam dependentes da livre decisão/apreciação da Relação). E, com isto, houve uma clara “transferência sub-reptícia” de competências legais (se contra legem ou não, importa agora pouco) – com efeito, a Relação faz (ou pode fazer) exactamente o mesmo que faria o STJ (isto é, reenvia para novo julgamento). Por isso, as razões de economia processual pouco ou nada valeram (assim o julgo, e tenho pena que não existam dados estatísticos quanto às renovações de prova realizadas pela Relações face a decisões dos tribunais colectivos, nestes 7 anos de vigência). 5. Além disso, existe ainda um problema de interpretação da Lei. Por um lado, a renovação da prova parece, às vezes, ser entendida, também por razões de economia processual, como de reprodução de prova documentada; de facto, a renovação da prova é referida, para efeitos de impugnação e transcrição, como da incumbência do recorrente, e, depois, nos arts. 417º, nº 2 al. e) e 430º, fala-se em “renovação da prova e convocação das pessoas”. Independentemente da correcta interpretação que se possa fazer destes artigos, apenas direi que, onde numa sentença se verifiquem vícios de fundamentação (como a contradição entre fundamentação e decisão ou a insuficiência da matéria de facto provada), me parece no mínimo “avisado” (para não dizer imposto) a produção/renovação de prova, de modo a que o tribunal (no caso, a Relação) possa exercer os seus poderes-deveres para sanar e suprir esses erros. Por outro lado, este problema, não de todo irrelevante, é ainda agravado por uma outra consideração: é que, no meu entender, existindo os vícios do art. 410º, a primeira decisão não é válida! E, por isso, qualquer decisão da Relação que, após anulação (total ou parcial), renova a prova, é como se fosse uma primeira decisão, que tem de ser apreciada segundo as regras de uma Revista alargada; assim, se o STJ entender existirem vícios na decisão (consequente à renovação da prova) da Relação, anula e reenvia … não se sabe bem para onde). Desta forma, a renovação da prova (ou, se se quiser, a intervenção da Relação) pode, em vez de ser um “remédio”, tornar-se num outro problema. Creio, de resto, que a renovação de prova, que realisticamente se pode exigir à Relação, é aquela que se refere a casos pouco complexos e quanto a questões mais ou menos concretas (por isso, a realizar em recursos interpostos de decisões do tribunal singular). A solução que manifestamente se imporia hoje, seria, no meu entender, a de voltar ao “ponto de origem” e atribuir a competência para o conhecimento do vícios do art. 410º ao STJ, na medida em que, de uma vez por todas, se tem de reconhecer uma importância fulcral – enquanto pressuposto da legitimidade e validade democrática do próprio exercício da função jurisdicional – à fundamentação da sentença. E não só pelo facto de o “resultado (do processo penal) dever cumprir estes pressupostos, mas essencialmente porque entendo que a uniformização de jurisprudência não se refere só a questões de direito, mas também ao rigor exigido na fundamentação da sentença. E, além disso, aplicar o Direito onde não existem (todos os) factos ou onde eles estão arbitrariamente expostos (como poderá suceder, caso se entenda que o STJ só conhece como tribunal de Revista), é algo que, confesso, não perceber como possa ser admitido, pelo que estou contra a ideia, em qualquer caso, de um recurso de revista “restrita”. 6. Esta orientação, que fez curso, suscitou duas controvérsias posteriores A primeira, quanto à questão de existir, ou não, um recurso per saltum, um recurso directo ou então, como foi defendido, uma opção de recurso. A questão, permitam-me que o diga, acaba por ser irrelevante2. Pois, esta orientação implicou (ou, talvez melhor, agravou uma tendência) que, sobretudo nos casos mais graves, o recorrente tivesse, não juridicamente, mas facticamente um regime de opção, pois que não há qualquer controlo 2 Embora seja evidente que se trata de um recurso directo. sobre a motivação do recurso. Qualquer fundamento é bom (mesmo que evidentemente improcedente) para que o recurso seja conhecido pelo tribunal que o recorrente “escolhe”. E isto nos crimes com pena superior a 8 anos garantiria um “duplo grau de recurso”, por assim dizer, “sem qualquer custo”. A outra controvésia, e porque os recursos acabaram, bem ou mal, por ser quase sempre interpostos na Relação, referiu-se ao problema do acesso, depois de decisão da Relação, ao STJ. Não é difícil compreender que, algo contra-legem, o STJ, embora com formulações muito variáveis (em função da situação processual), se inclinou no sentido de dificultar o acesso à sua cognição (socorrendo-se de conceitos como de confirmação parcial, proibição da reformatio in peius, ne bis in idem, etc.). Deve dizer-se que, mesmo contra lei, esta particular relutância do STJ é perfeitamente compreensível. Pois que, e aqui surge uma outra ambiguidade da lei, percebe-se mal o sentido e função da barreira da “dupla conforme”. De facto, se a Relação é uma instância com autoridade e com capacidade para decidir definitivamente certos processos, porque é que, noutros, a sua intervenção passa a ser uma quase res nullius ? Não só nos casos de processos que julguem crimes com pena superior a 8 anos (em que, mesmo havendo “dupla conforme”, existiria sempre recurso para o STJ), como, imagine-se, quando a Relação dá razão ao recorrente, e este volta a recorrer, o que, segundo a lei, implica a admissibilidade do recurso, pois que a Relação não “confirmou” a decisão. Eis pois uma outra ambiguidade da lei, ambiguidade esta que dificilmente será sanável. Creio que se justificam as particulares resistências do STJ, sobretudo quando se parta do princípio de que as Relações realizam com correcção as suas funções de controlo e censura. Com efeito, ou bem que o STJ é um tribunal de recurso de decisões de 1ª instância ou bem que é um tribunal de controlo de um (outro) tribunal de recurso, em especial quanto à forma como este exerceu os seus poderes (no fundo, a questão é exactamente a de saber o que é que o STJ “censura”). Devo dizer que, se compreendo a difícil tarefa que a solução legal coloca ao STJ, não estou totalmente de acordo com as formas (ou as fórmulas) por que este pretendeu “moralizar” o sistema. Para mim, a existência de um tribunal de recurso que opera, pelo menos, com a mesma amplitude (cognição) que o STJ, não pode ser, por si, fundamento para alterar a lei; deve ser sobretudo motivo para que, no exame preliminar, exista uma mais forte e detida análise dos motivos do recurso – nomeadamente quando haja confirmação da Relação ou o recurso se possa configurar como uma espécie de bis in idem quanto aos seus fundamentos – em ordem a saber se o recurso para o STJ deverá ser rejeitado liminarmente, por manifesta improcedência. Julgo que esta seria, talvez, a opção preferível. Por isso mesmo, também não estou de acordo com a ideia de que o âmbito da cognição (alargada ou não) do STJ dependa de ter havido prévia intervenção da Relação. Existindo um vício do art. 410º nº 2 que ataque a validade da decisão, não posso aceitar que essa decisão “viciada” cumpra os requisitos de validade que a nossa Constituição quis impor à função jurisdicional. O resultado em processo penal, seja-me permitido reiterar, não pode ser arbitrário. De resto, é para mim evidente que a intervenção da Relação não é por si qualquer garantia suficiente para que o STJ conheça exclusivamente da matéria de direito, estando em causa decisões de tribunais colectivos. Com efeito, creio bem que, onde a Relação renove prova (pelo menos, neste caso) ou então modifique a decisão sobre matéria de facto, existe necessariamente uma dever de fundamentação, o que, no meu entender, impõe, no caso de ser admissível o recurso para o STJ, a possibilidade de contestar a própria decisão da Relação, se esta última não cumprir os mesmos requisitos de validade e de legitimidade democrática a que está sujeita qualquer outra decisão com susceptibilidade de ser tornar definitiva. 3. Conclusões Em conclusão, feito este breve balanço, a solução que propenderia a defender, no que toca à repartição orgânica entre STJ e Relações, segue a via inversa daquela que parece fazer curso. Creio que se deveria clarificar que os vícios do art. 410º nº 2, estando em causa decisões do tribunal colectivo, devem, por todas as razões, ser do conhecimento do STJ (mesmo oficiosamente). Admito que dessa cognição se retire o último fundamento – o “erro notório na apreciação da prova” (redução de competência que, estatisticamente, não me parece ser relevante); não porque exista já um mecanismo próprio de reapreciação da valoração da prova; não porque haja dificuldades no controlo desta matéria em Recurso de Revista; mas fundamentalmente porque este controlo, para ser efectivo, pressuporia uma diferente, mas também uma muito mais exigente, fundamentação da sentença em matéria de prova (de valoração da prova) em relação à que, na prática, tem sido usual. E creio que essa imposição, e essa exigência, estaria em contradição (pragmática) com soluções políticas e legislativas que querem diminuir pendências. Só quando o recorrente, em processo-crime realizado perante tribunal colectivo, impugnasse a matéria de facto, provada ou não provada, (o dito recurso em matéria de facto, quanto a mim, é apenas um recurso sobre a valoração/apreciação da prova) é que o recurso seria interposto na Relação, que conheceria em toda a extensão das questões que lhe fossem solicitadas. O posterior recurso para o STJ, naqueles casos em que segundo a lei tal seja admissível, deveria obedecer às regras gerais. Apenas reitero que, neste caso, o STJ não pode, para efeitos de recurso, deixar de ter em consideração que uma outra autoridade já “sindicou” essa decisão, e por isso, quando haja confirmação (plena, isto é, tanto no resultado, como nos fundamentos), só deve admitir a discussão do recurso se subsistir um motivo suficientemente forte para julgar, de novo, a questão submetida a apreciação (desde que, repita-se, as relações realizem com correcção as tarefas que legalmente lhe são cometidas, o que o STJ deverá também controlar). Não existindo impugnação expressa em matéria de facto, o recurso de decisões do tribunal colectivo seria interposto directamente (e não per saltum ou por opção) no STJ. A não ser assim, melhor será acabar-se com a ilusão de que se pode modificar alguma coisa nos recursos e voltar-se à solução hierárquica de percurso até à cúpula. Solução que, porém, não me parece minimamente coadunável com as expectativas comunitárias de uma boa Administração da Justiça e que, quanto a mim, imporia uma reformulação da própria “organização e composição do STJ”. 4. Impugnação da matéria de facto e documentação das declarações prestadas. 1. Uma última observação quanto ao “recurso em matéria de facto”: se já manifestei o meu desconforto perante o actual esquema de recursos, quanto ao dito “recurso em matéria de facto” devo manifestar alguma “resistência”. Não uma resistência à previsão de um recurso sobre a valoração, ou apreciação, da prova feita em 1ª instância (que evidentemente não deve ser excluído) – isto, no meu entender, nada tem a ver com o recurso, tem a ver com a decisão de 1ª instância. É que, para mim, um recurso sobre a valoração e (livre) “apreciação da prova” é, antes de tudo, um recurso de “controlo” da apreciação da prova feita pela tribunal a quo. O que se quer, num recurso de Apelação, é saber se a decisão e a sua base probatória é adequada/válida (em especial em recursos penais, se respeita a garantia da presunção de inocência). E aquilo que deveria servir de objecto ao recurso são as questões que o tribunal decidiu e deliberou – ou seja, os items decisórios referidos nos arts. 368º e 369º (se existe crime, se o agente o cometeu, etc.). O que menos aceito no actual “recurso em matéria de facto” é a sua “origem” processual civil e a sua “conotação” com um processo de “partes”. Mas isto, que traduz uma posição meramente pessoal, embora crítica, não significa, nem poderia significar, uma qualquer tentativa de “subversão” de uma decisão legislativa de um poder soberano, politica e democraticamente legitimado, que quis expressamente prever e regular um certo “recurso em matéria de facto”; ao ponto de, para esse efeito, se ter constitucionalizado um direito ao recurso (que, como toda a gente perceberá, significou constitucionalizar aquilo que estava já na Proposta de Lei ou o que viria a ser depois a Lei). Pelo que, constitucionalmente mas sobretudo pela legitimidade democrática que está subjacente a esta opção, o cumprimento das regras e o assegurar da efectividade deste mesmo recurso é um imperativo de Estado Direito Democrático. 2. Mas, ainda aqui, é fácil ver que também existiram dificuldades de ordem prática – como o demonstra a existência de acordos de fixação de jurisprudência (curiosamente, não sobre o (conteúdo do) recurso, mas sobre os pressupostos de efectividade do recurso: a documentação da audiência ou o problema da transcrição). Gostaria apenas de dar o meu contributo sobre o problema da documentação da audiência, porque creio, sobretudo no que toca às audiências realizadas perante tribunais colegiais, existir alguma má compreensão das suas funções. E julgo que o Acórdão/Jurisprudência nº 5/2002 traduz, em parte, essa incompreensão. Quanto à questão da documentação e nomeadamente à sua omissão quando ela seja devida (no caso do art. 363º do CPP), devo dizer que, tanto do ponto de vista do recurso, como da verdadeira razão de ser da documentação, a solução apresentada pelo STJ (no referido Acórdão) me parece ser pouco coerente, embora se deva reconhecer que este Acórdão terá querido resolver uma questão meramente “circunstancial”. 3. Porém, referirei mais alguns aspectos. Em primeiro lugar, a documentação das declarações prestadas em audiência não serve apenas o recurso em matéria de facto. Antes de tudo, serve o próprio exercício da função jurisdicional, na medida em que, pela documentação das declarações prestadas, em audiências complexas (como sucederá em processos julgados perante tribunais colegiais), se podem conseguir ganhos na Boa Administração da Justiça – para efeitos de conservação de prova, mas também para efeitos de contraditório e de esclarecimento de dúvidas; e serve também como de meio de controlo da regularidade da audiência. Por isso, a documentação das declarações prestadas não pode, no caso de processos realizados perante tribunal colectivo, ser reduzida a um mero problema de direito (subjectivo) de recurso. Antes, deve ser entendida como um verdadeiro imperativo para o próprio Tribunal e não pode estar dependente de “protesto” de parte, sendo, por isso, sanável ou dependente de arguição. Em segundo lugar, a solução defendida pelo Acórdão, mesmo que analisado pela perspectiva exclusiva da garantia de um recurso de facto, ainda mereceria críticas. Por um lado, existe uma certa subversão ao indicar-se, como momento de arguição da irregularidade, o início da audiência de julgamento, estando em causa um pressuposto de efectividade de um recurso – pois que o direito ao recurso não existe em abstracto, depende de uma decisão/sentença e do seu conteúdo e só, neste momento, se concretizam os pressupostos do recurso. Além disso, suscita algumas dificuldades aceitar que seja mais fácil renunciar-se ao recurso (em matéria de facto) em processo julgado perante tribunal colectivo, do que perante tribunal singular (pois que, neste, tem de haver um consenso unânime para não existir “documentação”, enquanto no tribunal colectivo bastaria a ausência de arguição de “um só”!). Como, por fim, suscita também “incómodo” o facto de, nas formas de processo especial, se impor ao tribunal, sob pena de nulidade, o aviso para que, quem tenha legitimidade para recorrer, requeira a documentação da audiência, e nos tribunais colectivos a omissão, sem qualquer advertência, seja considerada uma mera “irregularidade”. Todavia, julgamos que nos processos mais complicados a documentação das declarações prestadas cumpre funções bem mais vastas e mais importantes do que a mera garantia do recurso em matéria de facto. Ao contrário, nos processos menos complexos ou mais céleres talvez que o seu primordial papel seja essa garantia, e, por isso, se possa admitir a renúncia (mesmo antecipada) à documentação (e, logo, ao recurso em matéria de facto), pois que a audiência não se afigurará muito complexa, e o recurso sobre a prova será, até muitas vezes, desnecessário. Por isso mesmo, cremos que, em relação aos processos julgados perante tribunal colectivo (ou, em geral, perante tribunais colegiais), a documentação das declarações corresponde a um imperativo de Boa Administração da Justiça. Mas, exactamente por esta razão, é que discordamos de qualquer tentativa que vá no sentido de, só para se garantir o recurso em matéria de facto, a documentação das declarações prestadas em audiência, caso não existam meios técnicos, ser feita por redacção para acta. Se tal pode garantir o recurso em matéria de facto, o “preço” pode ser o de transformar a audiência numa “luta” pela documentação da prova, perdendo força os princípios (diríamos naturais) que conformam um bom juízo. A menos que se conceda ao tribunal (colegial) a opção, desde que fundamentada, por esta via, demonstrando/fundamentando a pouca complexidade do caso, não nos parece que esta seja uma solução adequada.
Download