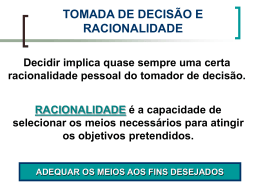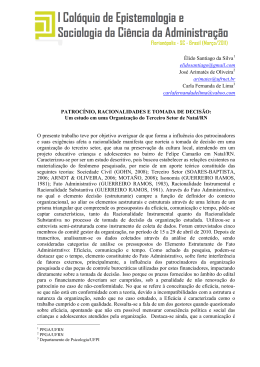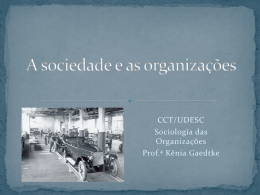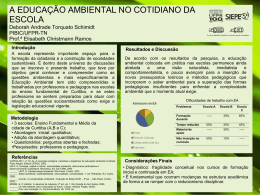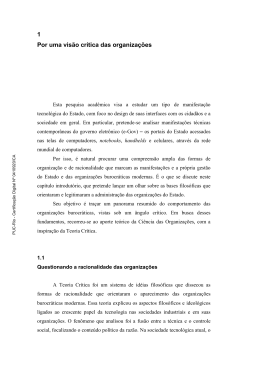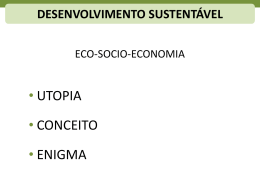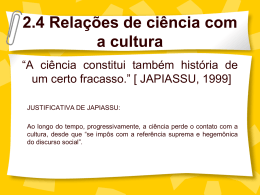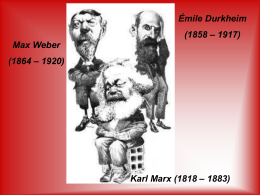1 Cultura e Identidade nas Organizações: Uma Visão Crítica Autoria: Claire Gomes dos Santos Resumo Este trabalho tem por objetivo lançar luz sobre temas controversos nas organizações: falamos aqui, basicamente, de cultura e identidade nas organizações. No momento em que enxergamos um embate numa arena em que estão presentes não apenas a organização, mas também seus membros, ou seja, os que a compõem e que lhe dão vida afinal de contas, temos aí diferentes interesses, muitas vezes divergentes, o que dá margem ao surgimento de conflitos, sejam eles no âmbito da organização ou no âmbito interno do indivíduo. É nesse momento que se faz necessária a introdução da discussão sobre a tentativa de controlar e ordenar as atividades da organização a partir de seus membros, a partir de uma padronização dos indivíduos. Daí, o planejamento e a fabricação de uma determinada “cultura de empresa”, negando a existência de seus membros, ou melhor, realizando-se um exercício de “cegueira voluntária” por parte das organizações. Essa é a posição que toma esse artigo. Introdução Este trabalho tem por objetivo lançar luz sobre temas controversos nas organizações: falamos aqui, basicamente, de cultura e identidade nas organizações. Mas por que controversos? Ora, no momento em que enxergamos um embate numa arena em que estão presentes não apenas a organização, mas também seus membros, ou seja, os que a compõem e que lhe dão vida afinal de contas, temos aí diferentes interesses, muitas vezes divergentes, o que dá vazão ao surgimento de conflitos, sejam eles no âmbito da organização ou no âmbito interno do indivíduo. Para os fins específicos desse trabalho, ateremo-nos mais profundamente ao âmbito da organização. E é nesse momento que se faz necessária a introdução da discussão sobre uma atividade da organização que podemos denominar de tabu, pois não é costume a discussão corrente e franca desse tema: a tentativa de controlar e ordenar as atividades da organização a partir de seus membros, a partir de uma padronização dos indivíduos. Daí, o planejamento e a fabricação de uma chamada “cultura de empresa”. Negase a existência dos membros da organização — ou realiza-se um exercício de cegueira voluntária —, como sujeitos que possuem vontades e idéias próprias, e um histórico individual, para que a aceitação homogeneizante da “cultura” imposta pela organização seja aceita e que seus resultados possam ser apropriados pela organização. Nesse sentido, são gerados diversos problemas decorrentes da negação desses membros como reais entidades construtoras e mantenedoras da organização, a partir da tentativa constante de sua homogeneização. Veremos adiante uma discussão mais aprofundada sobre o tema a partir de questões-chave. A seguir, veremos então uma discussão sobre se é abuso conceitual ou não o uso do termo cultura nas organizações. Ainda sobre cultura, tratamos de responder a uma questão proposta no trabalho que introduz o tema da possibilidade de administração da cultura nas organizações. Para tanto, apresentamos uma visão a favor e outra contra essa possibilidade. Admitimos, no entanto, e novamente, que esse trabalho tem um viés claro de crítica às costumeiras ações tomadas pelas organizações, de forma que a visão a favor da administração da cultura apresenta-se mais como contraponto a fim de ratificar o que se coloca na seção contra a administração da cultura. O próximo assunto levantado nesse trabalho remete à identidade dos indivíduos no âmbito das organizações e fora dele. Também discute-se a 2 possibilidade de crise identitária, e se além de afetar o indivíduo, afetaria também as organizações das quais ele participa. Esse é o cenário constituinte do pano de fundo sobre o qual descortinamos a discussão que segue. Cultura organizacional: abuso conceitual ou não? A partir da leitura de Aktouf (1994), escritor que apresenta uma visão bastante crítica do que é geralmente discutido e apresentado pela corrente predominante (mainstream) dos estudos organizacionais, creio que houve e continua havendo um significativo engano ao se transportar o termo “cultura” para o ambiente das organizações. No momento em que faltam subsídios para que “cultura”, nesse sentido, seja entendida da mesma forma que na gênese do termo, ou seja, na antropologia, não há razão para que o conceito seja aceito relativamente às organizações, visto que é falho em sua transposição para o mundo organizacional. O empréstimo do termo, mas não do que o conceito construído na antropologia carrega, reflete uma apropriação inadequada e inconveniente para a reflexão a ser realizada na teoria organizacional, sendo que, inadvertidamente, essa forma de cultura “transportada” para o mundo das organizações abarca conceitos tais como “mitos”, “heróis”, “símbolos”, “linguagem”, “ritos” e “rituais”. Dado o que foi discutido até o momento, acredito que devemos nos perguntar: mas, afinal, com que intuito as organizações realizariam tal procedimento? Ainda em Aktouf (1994) encontramos algumas explicações que podem satisfazer a esse questionamento, ao menos momentaneamente. Coloca ele que: “uma ‘cultura de empresa’ seria um ‘conjunto de evidências’ ou um ‘conjunto de postulados’ compartilhados pelos membros da organização, dirigentes e empregados. Seria um ‘cimento’ que ‘mantém a organização como um todo’, que lhe confere um ‘sentido’ e engendra ‘sentimento de identidade’ entre seus membros” (Aktouf, 1994, p.43). Faz-se necessário deixar claro, apenas como item informativo, que pelo menos grande parte desses elementos componentes da “cultura organizacional” são decorrência da interpretação norte-americana do modo japonês de administrar, a chamada “gestão participativa”. O termo surgiu na década de setenta nos Estados Unidos como uma tentativa de mobilizar o “fator humano” na produção como forma de responder à concorrência japonesa que se mostrava cada vez mais agressiva. É de chamar a atenção o fato de esse falso discurso humanista ter nascido e se desenvolvido num momento de crise econômica. Incontestavelmente, apresenta-se de forma clara a noção estratégica dos dirigentes das organizações em suscitar o nascimento de uma identificação comum entre os empregados para que daí obtenham um sentimento compartilhado de lealdade e eficácia entre os funcionários com o intuito de perseguir os objetivos por elas definidos, “impondo o seu sistema de representações e de valores aos membros da organização” (Cuche, 1999, p.146). A partir da conceituação de “cultura de empresa” que Aktouf (1994) proporciona, creio que possamos nos ater novamente às funções desse procedimento para as organizações. Primeiramente, é evidente que existe uma autêntica tentativa por parte das organizações no sentido de provocar a criação de uma identidade coletiva comum, com o objetivo primordial de fazer com que seus membros creiam que os objetivos coletivos seriam, de fato, seus interesses pessoais (discutiremos mais adiante e com maior propriedade a questão da identidade). E a manipulação que o uso desses artifícios aparenta só faz com que o termo 3 “cultura organizacional” pareça ainda mais artificial, levando a que se note uma construção forçada de relações entre indivíduos de uma determinada maneira, esta já planejada anteriormente, como os demais elementos que compõem a “cultura da organização”. Em segundo lugar, a transparência de uma racionalidade instrumental embutida na forma com que se “trabalha” a “cultura” numa empresa — como se isso fosse factível, levando em consideração o conceito de cultura no sentido antropológico (onde não há e não se procura o consenso das conceituações: sempre há de ser feita uma escolha nesse sentido) (Smircich, 1983). No sentido usualmente mais utilizado, cultura é um meio que leva a um determinado fim, e para as organizações não haveria outro propósito que não esse ou, pelo menos, não haveria outro objetivo tão relevante quanto esse. Conforme Cuche (1999, p.146), “o uso antropológico mais freqüentemente retido é o mais contestável, o que remete para uma concepção da cultura como relevando de um universo fechado, mais ou menos imutável, caracterizando uma coletividade pretensamente homogênea, de contornos bem delimitados”. É a cultura administrável? Visão contra a administração da cultura Analisando com mais profundidade o primeiro ponto levantado no parágrafo anterior, Prestes Motta (1993) vem ratificar o que já foi abordado. Coloca explicitamente que a organização tem como pretensão influenciar o comportamento de seus membros na tentativa de controlar seu desempenho. O papel da socialização dos valores, dos mitos, enfim, da ideologia da organização ganha papel de destaque nesse sentido, de forma a catalisar o processo. Dizendo mais claramente, há uma tentativa explícita de “produzir formas de comportamento e formas de raciocínio”. O fenômeno contrário, a individuação, vem ocorrer numa tentativa de resistência ao que a organização pretende com a socialização. Essa forma de resistência no local de trabalho serve como forma de obter satisfação pessoal na organização — como a personalização do espaço de trabalho através da decoração, por exemplo (Fischer, 1994). No entanto, esse processo não deixa de despertar certo grau de interesse da organização se o sujeito agir na direção de um “individualismo criativo”, a partir do qual a empresa pode se apropriar de novas idéias. É nesse sentido que Prestes Motta (1993) cita a “administração participativa” como exemplo de organização que aceita e incentiva, muitas vezes, o individualismo criativo com o objetivo de assegurar o controle em relação ao cumprimento das metas da organização, visto esse método ser mais efetivo nesse controle que o tradicional, com hierarquia vertical bem estruturada. Apenas a título de observação, é necessário que se deixe claro que, quando nos referimos a ideologia da organização, por exemplo, de forma alguma estamos corroborando com a reificação da organização. Muito pelo contrário. No momento em que fazemos referência a decisões tomadas pela organização tentamos fazer entender que quem, na verdade, toma as decisões são os dirigentes da organização. Esse ensaio, como já se faz perceber na introdução, é uma crítica à atuação das organizações em âmbito geral, e não uma validação das práticas percebidas e aclamadas na grande maioria dos textos sobre organizações, sejam eles de teoria ou de prática organizacional. Continuando, o segundo ponto já levantado diz respeito à racionalidade instrumental imbricada na manipulação da “cultura organizacional”. Enriquez (1997) discute de forma bastante crítica a questão da ética nas organizações. Inicia abordando o tema do triunfo da 4 racionalidade instrumental no Ocidente. A partir daí descortina a idéia de que os indivíduos, na medida em que são todos dotados de razão, não teriam particularidades entre si, seriam todos iguais (perante à racionalidade instrumental). Não haveria sequer contexto que os diferenciasse. E chama a atenção para que a racionalidade, se for levada à exacerbação, chega ao que podemos denominar de perversão, na medida em que é comum que organizações tratem de subjetividades intrínsecas aos indivíduos de uma maneira racional/funcional, como também a seu favor. Vide o que já foi discutido sobre a “administração participativa”, que incentiva a subjetividade entre os membros da organização visando à funcionalidade que esse método proporciona, e não à união pura e simplesmente de seus membros para relaxamento do estresse diário das atividades da empresa. Ao final desse processo, o estresse é ainda mais majorado, dados alguns depoimentos informais dos quais tenho sido ouvinte nos últimos tempos. Todos fazem alusão a grupos que, ao passarem a responder pelo desempenho da equipe, e não mais por si só, iniciaram um processo de perseguição mútua entre seus pares para que todos mantivessem as metas antes acordadas com a organização. Isso não ocorria no momento anterior, quando cada um respondia apenas por si, o que vem denotar uma vez mais os objetivos que as organizações costumam estabelecer sobre a união e a interação de seus membros. A fim de complementar esse segundo ponto discutido — racionalidade funcional permeada na cultura organizacional —, o que parece ser razoável nos termos de Aktouf (2004, p.209) é que “os teóricos da administração dominante não percebem que a fatores de sucesso profundamente diferentes deve corresponder uma filosofia de gestão e uma concepção do trabalho e do trabalhador igualmente diferente (...). O empregado do ‘fazer mais, mais rápido’ e da obediência passiva não é o empregado capaz de adesão ativa, de vigilância pessoal, de iniciativa e de criatividade a todos os instantes e em todos os níveis.” Ou seja, não há como anular as idiossincrasias de contextos e de indivíduos, uma vez que ao ambientes e os funcionários das organizações jamais serão os mesmos de uma organização para outra, sendo que o mesmo também podemos dizer dos mesmos indivíduos no tempo. A única regra é a mudança, não se pode esperar pela imutabilidade dos contextos e dos sujeitos, até porque ambos se influenciam mutuamente. Como decorrência do mau uso do termo “cultura”, podemos falar ainda que haja mesmo uma manipulação ideológica ao nível organizacional, e é inadmissível que a organização se mostre comparativamente a uma família ou a uma tribo, coisa que muitas o fazem despudoradamente. Visão a favor da administração da cultura Na visão de Pettigrew (1989) as coisas são bastante diferentes do que foi disposto acima. Apesar de o autor realizar tentativas seqüenciais em seu texto com o objetivo de fazer parecer que a cultura não é algo propriamente moldável, ele mesmo se faz a pergunta da questão-título dessa seção e admite que “sim”, a cultura das organizações é administrável, porém “com a maior dificuldade”. Responde mais realisticamente em seguida, dizendo que “a resposta mais acadêmica à pergunta depende do que se entende por cultura organizacional e administração” (Pettigrew, 1989, 145), indo ao encontro do que encontramos em Smircich (1983). Muito embora Pettigrew faça referência a uma gama maior de possíveis escolhas 5 quanto ao conceito de cultura organizacional e administração, o autor já realizara sua escolha ao longo do texto, e não parece apresentar dúvidas quanto a isso. O que está em questão aqui é exatamente o ponto que o autor levantou em seu trabalho: como admitir que a cultura organizacional é administrável, visto que apesar de Pettigrew considerar cultura como sendo uma variável dependente de diversos fatores mensuráveis, existe a maior dificuldade nesse sentido? Referindo-se a processos de mudança estratégica em geral, e não só os relativos à cultura, Pettigrew (1989) acredita que todos — e não só a gerência e a diretoria da empresa—, desempenham sua parte, preparando o momento propício para a mudança, denotando aí um controle objetivo e racional da mudança. Ainda propõe ser mais fácil alterar as manifestações de cultura (estruturas, símbolos, mitos, padrões de recompensa) do que o núcleo de crenças e pressupostos básicos em uma organização (a cultura organizacional em si) embora, para modificar uma cultura, seja necessário atuar em ambos os níveis. Um ponto bastante significativo que Pettigrew (1989) admite é que a maioria das organizações possui uma pluralidade de subculturas — incluem-se aí, portanto, também as contraculturas. Esse ponto especificamente suscita reflexão sobre o assunto, visto que o autor acaba por admitir que existem espaços onde a cultura da organização não alcança, e isso acaba mais uma vez por contradizer o que o autor defendia desde o início: que a cultura é administrável. Um aspecto-chave da mudança é partir na tentativa de modificar as crenças básicas dos principais tomadores de decisão visto que são estes que inibem ou facilitam as mudanças na empresa, denotando que, como já discutimos, a cultura para ser eficaz tem que ser imposta de cima para baixo, embora isso não garanta de forma alguma que alcançará todos os escalões da organização. Dessa forma, costuma-se fazer uso de expedientes tais como recompensas para os que alcançam metas estabelecidas pelas mudanças. Alterações culturais casadas com mudanças estruturais, seguidas por sistemas de premiação aos colaboradores e funcionários, busca e uso de modelos de desempenho, como também treinamento para a introdução da mensagem cultural o mais profundamente possível na organização seria o indicado. E novamente nos encontramos cara a cara com a prescrição e a generalização da racionalidade instrumental, o que já criticamos logo no início desse trabalho. Apesar de não esgotado o tema, mesmo porque esse não era o objetivo desse trabalho, mas apenas lançar luz e participar do debate contemporâneo sobre o alcance da organização na vida de seus “colaboradores”, devemos partir para uma outra faceta da atuação da organização: a identidade. Por isso a questão que segue na próxima seção. Há controvérsia entre identidade organizacional e identidade individual? Identidade e cultura Vemos a partir de Cuche (1999) que o termo “identidade” representa uma nova moda fora do campo das ciências sociais (de acordo com alguns pesquisadores). Usualmente, também existe a tessitura de uma relação direta entre “identidade” e “cultura”. Todavia, há de se estabelecer uma distinção clara entre cultura e identidade, para que possamos tentar desfazer os nós de uma possível confusão conceitual. Pois bem, a cultura (em termos antropológicos, e não como o conceito utilizado pelas organizações) encerra em seu âmago grande parte de processos inconscientes. Já a identidade remete à consciência porque é capaz de estabelecer oposições simbólicas. É nesse sentido que o autor coloca que 6 “No limite, a cultura pode existir sem consciência identitária, ao passo que as estratégias identitárias podem manipular, e inclusivamente modificar, uma cultura que deixará de ter grande coisa em comum com o que antes era” (Cuche, 1999, p.123-124). Existe uma particularidade perversa das organizações em usar o conceito de identidade, afora o uso que dela faz a racionalidade funcional. Estabelecer uma identidade cultural, o que é já faz parte do senso comum no âmbito da organização, implica em tocar também o conceito mais amplo de identidade social. Isto é, sendo resultado de diversas interações entre os indivíduos e seu meio social, a identidade representa a característica de pertencimento de indivíduos a classes sociais, classes sexuais, classes etárias, etc. Não só os indivíduos são dotados de identidade, mas também os grupos aos quais eles pertencem. Portanto, na identidade social estão presentes tanto a inclusão, quanto a exclusão. E é nesse sentido que podemos compreender a perversidade da organização ao incentivar uma cultura organizacional manipulada e manipuladora que desencadeia uma identidade cultural propulsora da diferenciação que a organização deseja entre seus membros. A organização acredita ter o direito de decidir que grupos e que indivíduos são aceitos e quais são renegados, já que fabrica uma identidade preexistente ao indivíduo que venha a fazer parte de seus quadros, com base na pura atribuição de valores que são impostos de cima para baixo. Nas organizações, isso pode vir até mesmo a aumentar a discriminação de grupos já excluídos socialmente. Além disso, entende-se que a identidade (da forma como as organizações costumam entendê-la) não é passível de evolução, dado que nem o indivíduo nem o grupo tem qualquer influência sobre ela. É estática, enraizada e enraizadora dos indivíduos, sempre remetendo-os e ancorando-os a um grupo de origem, não possibilitando a mudança. Não encaram a possibilidade subjetivista que pode haver na construção social de uma identidade, quando na verdade o mais plausível é que a identidade cultural seja pautada pelas representações que os indivíduos possam fazer da realidade social que os cerca. Convém ressaltar, no entanto, que não podemos relegar a construção da identidade ao embate subjetividade versus objetividade. Também devemos considerar a concepção dessa formação que leva em conta que “a construção da identidade faz-se no interior de quadros sociais que determinam a posição dos agentes e, por isso mesmo, orientam as suas representações e as suas escolhas” (Cuche, 1999, p.127). Dessa forma, Cuche (1999) atesta que há certos enraizamentos que podem não determinar objetivamente as escolhas, os gostos e as interpretações dos agentes, mas influenciar de diversas maneiras as práticas sociais dos atores. Nesses mesmos termos, também a abordagem identitária relacional joga mais luz a essa tentativa de interpretação mais realista da questão, fugindo à simplicidade da oposição subjetividade versus objetividade. Teria sido Fredrik Barth (1969) o pioneiro a tratar do tema, discorrendo que é na forma como se dão as relações entre os grupos sociais que devemos entender a formação identitária. Melhor dizendo, não é através da simples diferença cultural que surgem as diferentes identidades: estas surgem a partir das interações entre os grupos e das condutas que esses grupos representam para diferenciarem-se entre si. Dessa forma é que podemos dizer que uma identidade está sempre em constante construção e reconstrução conforme vão se dando as trocas sociais. É da alteridade que se constrói a identidade. Portanto, devemos primeiro reconhecer o outro, o diferente, para então reconhecermos a nós mesmos, como uma identidade dinâmica e multidimensional. 7 Identidade cultural na pós-modernidade: existe crise? Sob o mesmo panorama conceitual, Hall (1998) se mostra bastante explorador do sentido “moderno tardio” de identidade, numa tentativa de investigar qual o caminho a que o homem contemporâneo está sendo levado a desbravar, dada a alegação de que muitos apoios sociais sobre os quais o indivíduo costumava-se ancorar esvaeceram. É deixado claro que o tema discutido não é consenso na comunidade sociológica, tanto por ser recente e mesmo por não haver acordo sobre o conceito de “identidade”, atestando apenas a complexidade e a falta de uma suficiente abordagem sobre o assunto (o que poderemos supor do tratamento dado ao assunto pelas organizações, então!). O que Hall (1998) afirma em certos pontos entra em conflito com o que foi visto em Cuche (1999). Para começar, Hall (1998) se refere a identidades diversas, até contraditórias, num mesmo indivíduo: “A identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente é uma fantasia. Ao invés disso, à medida em que os sistemas de significação e representação cultural se multiplicam, somos confrontados por uma multiplicidade desconcertante e cambiante de identidades possíveis, com cada uma das quais poderíamos nos identificar – ao menos temporariamente” (Hall, 1998, p.13). Hall (1998) concorda com o fato de que estaria havendo o que ele chama de “descentração” das identidades modernas, que eram centradas até então nos preceitos iluministas. Esse seria um ponto bastante importante na diferenciação das sociedades ditas “tradicionais” (que valorizavam símbolos, o passado e suas representações, costurando uma teia de ligação entre o passado, o presente e o futuro, através de atividades recorrentes) e as sociedades ditas “modernas” (onde a mudança dita as regras, e as práticas sociais alteram-se a todo momento). Ainda no início de seu livro, Hall (1998) fala de algo que se aplica perfeitamente às organizações, embora esse não seja seu objetivo: diz que as sociedades modernas tardias são pautadas pela diferença. No entanto, apesar das diferenças, é possível que haja articulação entre as diversas partes, ainda que parcial. Porém, isso somente é possível sob determinadas circunstâncias, uma vez que as identidades estão sempre em constante reestruturação. Esse argumento é, a meu ver, o que as organizações deveriam perseguir, sem esperar prescrições: parar de praticar o que já chamamos anteriormente de “exercício da cegueira voluntária” e tentar enxergar seus membros nas mais diversas dimensões que estes possam apresentar. Seria mais realista, mais ético, mais honesto para com os empregados e para com o próprio futuro da organização, sabendo finalmente que se está pisando em terra firme e não mais vivendo e sustentando uma ilusão. Crise do indivíduo: crise da organização? Abarcando nessa seção tanto cultura como identidade, podemos utilizar um artigo de Dejours (1996) que apresenta certas características do trabalho e do indivíduo no trabalho que nos levam a refletir um pouco mais sobre o tema. Não objetivando que esse trabalho recaia na crítica simplesmente pelo caráter da crítica, Dejours (1996) traz um argumento que nos auxilia nesse sentido: o de que o local de trabalho é um lugar onde se pode cultivar a 8 felicidade, não é obrigatoriamente um local de infelicidade. É claro que, para isso, os trabalhadores costumam utilizar artifícios, tais como os que veremos a seguir. Geralmente é esperado que os objetivos da produção tenham seu foco no mundo exterior à organização, em detrimento das condições de trabalho internas. Mas, afinal: podemos questionar a responsabilidade humana e social da organização? Se sim, que extensão ela alcançaria? Não levando em consideração aqui avaliações psicanalíticas da questão, e voltando aos temas de cultura e identidade, podemos reformular a questão: se a cultura e a identidade organizacional que tentam inculcar nos empregados fossem autênticas, substituiriam elas a cultura e a identidade trazidas pelo sujeito para o interior da organização? Acredito que não substituiriam porque não são autênticas. Como já expusemos, ambas são forjadas no interior da organização para o uso interno à organização. Não há preocupação quanto ao que o indivíduo faça fora das dependências de onde trabalha, visto que é comum que até um colega de trabalho diga a outro que “não se devem misturar as coisas” (referindose à vida pessoal e à vida organizacional). Ora, entender a organização como um objeto reificado já é algo que se pode questionar. Mas ainda propor que o sujeito deixe do lado de fora do trabalho sua identidade e seus problemas, de modo que do lado de dentro da organização só permaneçam os sorrisos e as alegrias, é pedir que seus funcionários desempenhem suas funções de maneira automática e automatizante, levando adiante a ideologia alienante da organização. Daí os artifícios que são colocados em prática pelos funcionários para que seja possível suportar a estrutura por vezes esmagadora presente em algumas organizações. Como já visto com Prestes Motta (1993), a individuação representa uma dessas estratégias na tentativa de obter satisfação pessoal na organização, indo contra a maré da socialização — artifício representativo das necessidades stricto sensu da organização. O sujeito pode agir através do individualismo criativo, embora a organização possa tentar se apropriar de novas idéias que possam surgir. Sobre esse ponto especificamente, quando Prestes Motta (1993) critica a administração participativa, está implicitamente censurando a Administração de Recursos Humanos, uma vez que essa costuma aceitar e incentivar muitas vezes o individualismo criativo com o objetivo de assegurar o controle em relação ao cumprimento das metas da organização. Outro meio escolhido para burlar o controle da organização sobre o funcionário é o cinismo. Fleming e Spicer (2003) falam basicamente sobre a adoção do cinismo como mecanismo de defesa contra a tentativa dos dirigentes de disporem da subjetividade dos trabalhadores, impingindo uma cultura organizacional, com seus símbolos e crenças. Ou seja, fazer com que os trabalhadores se identifiquem com a organização de forma que acreditem que os objetivos da organização são os seus próprios. Muitas vezes os funcionários fingem estar de acordo com as normas — embora não compartilhem efetivamente de seus valores —, e acabam por realizar os objetivos da organização, o que lhes dá apenas uma sensação de liberdade interna (manutenção de sua subjetividade) na medida em que acreditam não estar de acordo com a organização, mas agem como se estivessem. Na realidade, não são autônomos como acreditam ser por ainda praticarem os rituais da organização, ratificando as relações de poder já existentes. A sabotagem também se mostra como uma forma de resistência. Fleming e Spicer (2003) esclarecem que é uma forma de cinismo, visto que o indivíduo finge estar de acordo com as normas — e no geral as executa —, embora seja realizada alguma manobra tal que possa por até em risco sua função na organização. Podemos citar como exemplo um caso 9 recorrente na mídia: uma pessoa qualquer encontra uma barata numa garrafa de refrigerante e processa juridicamente o fabricante. Isso quando não é encontrado um objeto que, de outra forma que não a sabotagem, não poderia estar presente numa fábrica engarrafadora com as mínimas condições de higiene. Retornando a uma questão anterior, podemos questionar a responsabilidade humana e social da organização? Se sim, que extensão alcançaria essa responsabilidade? Apesar de considerar que essa questão não poderá ser de maneira alguma explorada na sua magnitude desejada e necessária, tentaremos fazer um esforço para que esta não termine no vazio. Compartilho da opinião de Dejours (1996) sobre a organização ter tanto dever para com seus membros — seu “capital humano” —, quanto para com o meio-ambiente. Pode parecer estranha a comparação mas, na medida em que ela pode ser responsabilizada pela poluição ambiental que libera, por que não deveria também atuar no combate e na prevenção de sua poluição psíquica e social? É claro que as pessoas trazem felicidades e tristezas de fora para dentro da estrutura da organização. Não se pode aplaudir ou culpar as organizações por isso. Por outro lado, quando as organizações deliberadamente atuam sem se importar se suas ações implicam conseqüências positivas ou negativas nas vidas de seus membros, deixo de acreditar que seu tão aclamado “capital social” tenha tanta importância quanto se diz. E é óbvio que, sendo as organizações locais de onde parte “rica” bibliografia sobre a vida de seus líderes e suas formas de administrar para o sucesso, são nitidamente modelos prescritos na e pela sociedade de como devemos nos comportar para que sejamos congratulados com o maior volume de dinheiro possível. A conclusão só pode ser essa. Mas afinal, corremos contra o quê ou contra quem? Por que a corrida desenfreada da concorrência entre as organizações deve chegar aos lares de seus “colaboradores”? Seria mais efetivo ou mais eficiente subjugá-los a partir de seus lares para que ao chegarem na organização estes já estivessem “programados”, tais como as máquinas compradas para a produção? Talvez estas perguntas e suas possíveis — e pessimistas —, respostas levem a outro trabalho, visto que esse tema não condiz com a pretensão desse ensaio. Porém, são questões pertinentes ao que aqui quisemos abordar, dado o poder manipulador que está por trás da elaboração de culturas de empresa e da criação de identidades inerentes a esse processo. Enfim, de fato não pretendemos “esconjurar” aqui as organizações, visto que elas seguem a racionalidade instrumental com o intuito de alcançar seu objetivo principal: o lucro. Também não desejamos fazer uso desse artigo como peça panfletária. Todavia, não podemos deixar de reconhecer que são pessoas que realizam a função da produção, e que essas estão sujeitas a serem tratadas pela mesma razão instrumental que apenas racionaliza as coisas num sentido de meio/fim. Eticamente falando, esse tipo de racionalidade não pode ser levada a cabo quando se lida com sujeitos, sob pena de mutilar sua subjetividade, afetando sua identidade e, portanto, transformando-os em indivíduos incompletos. Quando uma gama maior de organizações levar em consideração a subjetividade dos indivíduos as organizações poderão, enfim, tornarem-se mais completas e mais coesas. Não haveria sequer o problema da contracultura porque não haveria também a imposição insidiosa de um cultura forjada. Termino aqui esse trabalho com uma frase de efeito de Aktouf (1994), que exprime bem o sentimento impresso nesse trabalho: “Tornar o explorado cúmplice ativo de sua própria exploração é um sonho milenar. Estaríamos aproximando-nos disso?” (Aktouf, 1994, p.79). 10 Sinceramente, acredito que não. E tenho a convicção de que compartilha essa crença comigo uma considerável parte de nossa sociedade, seja essa parcela composta por empregados, dirigentes ou proprietários de organizações. Conclusão Já na ocasião da introdução, foi possível ter acesso ao horizonte que se desejava descobrir nesse artigo: a discussão acerca da existência ou não de cultura e identidade da organização. No decorrer do trabalho, fomos chegando a algumas conclusões. Quais sejam elas: a reafirmação de que o que existe é mais um abuso conceitual sobre o termo “cultura” do que, na verdade, o uso com propósitos louváveis que legitimem o emprego desvirtuado da palavra. Esse “cimento” que mantém unida a organização como um todo, que lhe confere um “sentido” e engendra “sentimento de identidade” entre seus membros, tal qual descreveu Aktouf (1994), nada mais é que o uso que dela tenta fazer a organização na perseguição por uma efetividade que a palavra não pode oferecer, em toda sua potencialidade, afora na antropologia e na etnologia. É o resultado da imaginação, de uma fantasia coletiva, que através de bibliografia especializada — há controvérsias sobre o quão especializada assim ela seja, a chamada “bibliografia de aeroporto” —, é perpetuada. Na seqüência, discutimos sobre a racionalidade funcional que permeia o tratamento da cultura na organização. Não consideramos ser desculpável o uso dessa racionalidade, visto que ela pode desencadear resultados inconseqüentes e incomensuráveis tanto na vida dos membros que trabalham, como na vida dos que mantêm contato com as organizações. Obviamente que temos consciência de que a maneira mais comum e disseminada de exercitar o raciocínio seja através dela, da racionalidade instrumental — meios que levam a determinados fins. Porém, por que quando nos percebemos com uma grande resolução nas mãos recorremos a outros artifícios que não a racionalidade instrumental, pura e simples? Será porque tememos seus resultados já esperadamente catastróficos, em se tratando de assuntos de grande importância? Respondidas as questões propostas ao longo do artigo de forma relativamente satisfatória, temos o compromisso de anunciar — principalmente àqueles que esperam por isso —, que não pretendemos prescrever possíveis soluções para os problemas administrativos que possam aparecer nas mais diversas organizações, como é de praxe relativamente à escrita acadêmica da administração seguidora do mainstream. Falamos sobre “mitos”, “heróis”, “símbolos”, “linguagem”, “ritos” e “rituais”, componentes da cultura proveniente da antropologia de raiz simbólica. Por fim, o que temos como certo é que nós, atores do dia-a-dia, que sustentamos as organizações com consciência de que desempenhamos o verdadeiro papel de “herói” ao suportarmos, sempre, mais um dia de trabalho em que nos é exigida a maior força possível para que aceitemos os “ossos do ofício” que nos são impingidos pelas empresas e pela sociedade em geral: a necessidade de uma mutação identitária e cultural permanente, sob pena de que o reconhecimento de um “eu” essencial, opinador e questionador seja banido do “círculo dos legitimados” na sociedade. É fato que essa não-obrigatoriedade de ter a identidade cravada para sempre na cultura em que se nasceu proporciona certa liberdade. Mas não se estaria fazendo mau uso e mau entendimento dessa liberdade, sobretudo com fins de “desenraizamento” para a imposição de uma cultura mais poderosa sobre os indivíduos, que possa extrair deles ainda mais, sob um controle mais efetivo? Enfim, tomamos a liberdade de prescrever, apenas por um breve momento e por uma boa razão. Mas não às organizações, e sim aos sujeitos que com elas mantêm contato estreito: cuidado! Muito cuidado! 11 Referências Bibliográficas AKTOUF, Omar. O simbolismo e a cultura de empresa: dos abusos conceituais às lições empíricas. In: CHANLAT, Jean-François. O indivíduo nas organizações: dimensões esquecidas. São Paulo: Atlas, v.II, p.39-79, 1994. AKTOUF, Omar. Pós-globalização, administração e racionalidade econômica: a síndrome do avestruz. São Paulo: Atlas, 2004. ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. São Paulo: Martin Claret, 2004. BOURDIEU, Pierre. Cosas dichas. Barcelona: Gedisa Editorial, 2000. BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1998. CUCHE, Denys. A noção de cultura nas ciências sociais. Lisboa: Fim de Século, 1999. DEJOURS, Christophe. Uma nova visão do sofrimento humano nas organizações. In: CHANLAT, Jean-François. O indivíduo nas organizações: dimensões esquecidas. São Paulo: Atlas, v.I, p.149-173, 1996. ENRIQUEZ, Eugène. Os desafios éticos nas organizações modernas. Revista de Administração de Empresas, v.37, n.2, p.5-17, 1997. FISCHER, Gustave-Nicolas. Espaço, identidade e organização. In: CHANLAT, JeanFrançois. O indivíduo nas organizações: dimensões esquecidas. São Paulo: Atlas, v.II, p.81102, 1994. FLEMING, Peter; SPICER, André. Working at a cynical distance: implications for power, subjectivity and resistance. Organization, v.10, n.1, p.157-179, 2003. GUARESCHI, Pedrinho; JOVCHELOVITCH, Sandra (Orgs.). Textos em representações sociais. Petrópolis: Vozes, 4 ed., 1998. HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A, 1998. JOVCHELOVITCH, Sandra. Representações sociais e esfera pública: a construção simbólica dos espaços públicos no Brasil. Petrópolis: Vozes, 2000. MOTTA, Fernando C Prestes. Controle social nas organizações. Revista de Administração de Empresas, v.33, n.5, p.68-87, 1993. MOTTA, Fernando C. Prestes; NETTO, Gustavo L. Campos. A associação contra a hierarquia. Revista de Administração de Empresas, v.34, n.1, p.20-28, 1994. PETTIGREW, Andrew. A cultura das organizações é administrável? In: FLEURY, Maria Teresa; Fischer, Rosa Maria (org). Cultura e poder nas organizações. São Paulo: Atlas, p.145-152 , 1989. SMIRCICH, Linda. Concepts of culture and organizational analysis. Administrative Science Quarterly, v.28, p.339-358, 1983. WEBER, Max. Economia y sociedad. México: Fundo de Cultura Econômica, 1999.
Baixar