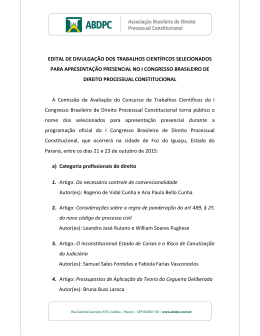Diretor Geral: Ms. Carlos Alberto Portela Diretora Acadêmica: Dra. Ilza Maria Tavares Gualberto Coordenador do Curso de Direito: Dr. Régis André Coordenação Geral da Revista: Dr. Amauri Cesar Alves e Dr. Fabrício Veiga Costa Conselho Editorial: Dr. Amauri César Alves – Doutor em Direito- CV: http://lattes.cnpq.br/3793361325936134 Dr. Carlos Alberto Reis de http://lattes.cnpq.br/9007588247356396 Paula – Doutor em Direito - Dr. Fabrício Veiga Costa – Doutor em Direito - http://lattes.cnpq.br/7152642230889744 Dr. Francis Albert Cotta – Doutor em História - http://lattes.cnpq.br/1511398240326461 Dra. Ilza Maria Tavares Gualberto http://lattes.cnpq.br/6450690336087450 – Doutora em Linguística Dr. Régis André – Doutor em Direito - http://lattes.cnpq.br/7489658090456744 - Apresentação. A falibilidade do conhecimento científico é o pressuposto para a realização da pesquisa como instrumento de investigação dos fenômenos sociais. O inacabamento e a provisoriedade são vistos como os referenciais lógicos para a reflexão cientifica, produto do aprimorado debate de proposições teóricopragmáticas que direcionarão asistemática do 1ºvolume da SENSO CRÍTICO – Revista Jurídica da Fundação Pedro Leopoldo. Estimular a produção cientifica é um dos objetivos da Educação Superior no Brasil. Trata-se de meio legitimo e democrática de produção do conhecimento, superando as amarras de uma ciência dogmática e imune à crítica. O pluralismo e a diversidade social, aliado aos avanços da engenharia genética, a busca pela inclusão social e digital, o desenvolvimento sustentável como uma das prioridades da sociedade contemporânea e os novos paradigmas de entendimento e de compreensão da história e da Ciência do Direito são alguns dos inúmeros critérios que norteiam a divulgação da produção cientifica dos docentes e dos discentes no curso de Direito da Fundação Pedro Leopoldo. O espaço acadêmico deve ser visto como um lócus do debate e do florescimento de idéias inovadoras que permitam aos estudantes e aos profissionais do Direito refletirem sobre todos os dilemas que permeiam as relações humanas na contemporaneidade. A ressemantização jurídica dos espaços público e privado certamente é considerada um dos maiores e mais sérios desafios do século XXI a ser enfrentado pelos pesquisadores, haja vista que a convivência simultânea do individual como coletivo, sem permitir a exclusão ou a sobreposição de direitos, certamente integra o alicerce de toda a reflexão jus filosófica do Estado Democrático de Direito. O profissional do Direito da atualidade não deve estar preparado apenas a reproduziras proposições jurídicas preexistentes, haja vista que o grande desafio que se impõe é pensar o Direito no contexto do dinamismo cultural, religioso, político e social que circunscreve e que integra as relações interpessoais. 3 A ousadia do pesquisador em enfrentar temas e problemáticas cientificas devem ser vistas como o pressuposto da evolucionariedade crítico-epistemológica do conhecimento jurídico, uma vez que o papel das proposições teóricas é norteara reflexão e a compreensão dinâmico-sistematizada do mundo, afim de superar o unilateralismo como a forma mais utilizada de pensar e de refletir. É com imensa satisfação que apresento à comunidade jurídica uma rica coletânea de artigos científicos produzidos por estudantes da graduação, docentes e demais profissionais do Direito, afim de compartilhar todo o conhecimento científico produzido e,com isso, viabilizar a construção de uma via de interlocução com todos os estudiosos dispostos a pensar criticamente a Ciência do Direito. A última seção destina-se a homenagear a contribuição cientifica de juristas consagrados para o desenvolvimento critico-reflexivo do Direito. Quero agradecer todo o apoio e o incentivo do Diretor Geral, Ms. Carlos Alberto Portela; Diretora Acadêmica Dra. Ilza Maria Tavares Gualberto; Coordenador do Curso de Direito Dr. Régis André; professor Dr. Amauri Cesar Alves, que sempre foram muito abertos, solícitos e cientes da importância de um periódico para o curso de bacharelado em Direito. Fabrício Veiga Costa. Doutor em Direito TERCEIRIZAÇÃO INTERNA E REDUNDÂNCIAS: análise crítica para identificação do menor dos males. Prof. Dr. Amauri Cesar Alves1 SUMÁRIO: 1. Introdução; 2. Inconstitucionalidade e desnecessidade da Súmula 331 do TST e do PL 4330/2004, PLC 30/2015; 3. Atividade-fim e Atividade-meio em modelos produtivos fordistas e toyotistas.; 4. Insegurança jurídica? Atividade-fim, atividade-meio, empresa especializada de objeto social único, serviços determinados específicos; 5. Terceirização e Precarização: concubinato necessário no modelo atual; 6. Terceirização e Sindicato: atuação por um mínimo de civilidade na relação triangular; 7. Conclusão; 8. Referências 1.Introdução Diz uma expressão muitíssimo comum que, em diversas situações fáticas, deve-se optar entre os males, elegendo o menor. Aparentemente o intérprete atual das relações terceirizadas terá que se valer do adágio: dos males, o menor... Tal opção se estabelece em decorrência da presença cada vez maior da terceirização no Brasil, bem como das alternativas que estão postas majoritariamente: PL 4330/2004 (PLC 30/2015) que prevê terceirização em todas as atividades do contratante ou a ideia básica fixada na Súmula 331 do TST, que permite a relação trilateral em atividade-meio. O ideal, conforme defende o Prof. Márcio Túlio Viana, seria proibir definitivamente a terceirização interna2, sendo presumível a ilicitude da terceirização externa.3 1 Infelizmente tal compreensão, ainda que fundamentada Doutor e Mestre em Direito pela PUC.Minas. Professor da Fundação Pedro Leopoldo desde 2002. “Na primeira, a empresa se serve de trabalhadores alheios, como se inserisse uma outra dentro de si. É o que acontece, por exemplo, se o capitalista A quer se dedicar apenas á fabricação de parafusos, livrando-se de seu pessoal de limpeza, e então pede a B que lhe forneça esse pessoal. Ou quando um banco contrata uma agência de vigilantes. Note-se, desde logo, que a empresa contratada nada produz ou comercializa – a não ser os próprios trabalhadores.” (VIANA, 2015) 3 “Já na segunda, a empresa faz o movimento inverso, jogando para fora de si não só trabalhadores, como algumas da – ou mesmo todas as – etapas de seu ciclo produtivo, como se se lançasse dentro de outra. É o que ocorre, por exemplo, quando uma fábrica de relógios, que antes fazia relógios inteiros, descarta para outra – em geral, menor – a produção de uma das peças. No limite, pode até se transformar em mera gerenciadora da rede, num movimento inverso ao dos tempos fordistas. É o 2 constitucionalmente, não parece ter o merecido espaço no debate atual. O Congresso Nacional aparentemente concentra o debate entre a terceirização ampla, geral e irrestrita (Câmara dos Deputados) e restrita às atividades-meio do contratante (Senado da República). Aparentemente não haverá discussão sobre a essência da terceirização, que é a discriminação remuneratória que existe entre trabalhadores em igualdade de condições socioeconômicas: o empregado diretamente contratado pelo tomador dos serviços e o trabalhador terceirizado. O presente artigo discutirá a terceirização conforme posta à apreciação do Congresso Nacional e do Poder Judiciário Trabalhista nos dias atuais, cabendo ressaltar, sempre, compreensão civilizatória no sentido do erro que será legalizar a desigualdade injusta. De início a discussão será concentrada na tese civilizatória mais ampla, em perspectiva constitucional, consubstanciada na inconstitucionalidade e desnecessidade tanto da Súmula 331 do TST quanto dos termos elementares do PL 4330/2004 (PLC 30/2015). Em seguida, sabendo que a citada inconstitucionalidade não está em pauta, é necessária a discussão sobre os conceitos de atividade-fim e atividade-meio em modelos produtivos fordistas e toyotistas. Em seguida a crítica necessária àqueles que entendem inviável a distinção entre atividade-fim e atividade-meio, com destaque para os novos termos fixados no PL 4330/2004 (PLC 30/2015), que traz institutos como “empresa especializada de objeto social único” e “serviços determinados específicos”. Também importante, no cenário que se apresenta hoje para o fenômeno da terceirização de serviços, revelar a irmandade umbilical entre terceirização e precarização no Brasil. Por fim proposta de atuação do sindicato para tentar minimizar os prejuízos advindos à classe trabalhadora com a relação terceirizada. A análise será empreendida tendo como parâmetro a terceirização interna, que é aquela que mais precariza, que mais se mostra presente na realidade socioeconômica no Brasil e que em síntese justifica a edição da Súmula 331 do TST e a elaboração do PL 4330/2004 (PLC 30/2015). que alguns vêm chamando de ‘empresa vazia’. Um exemplo é a multinacional italiana Benetton, uma fábrica que não é. Assim, a terceirização pode levar à terciarização.” (VIANA, 2015) A redundância sistêmica no âmbito da discussão atual sobre terceirização se deve ao fato de ser a terceirização interna, por si só, precarizante e discriminatória4, conforme desenvolvimento que seguirá. Não existe terceirização que não seja fraudulenta. Não existe terceirização sem precarização. Não existe terceirização que não considere o trabalhador terceirizado uma mera mercadoria a ser colocada no mercado para fazer a riqueza de contratante (tomador dos serviços) e contratada (interposta). Assim, falar-se em precarização na terceirização é redundância, embora seja possível e necessário optar pelo menor dos males. 2. “Inconstitucionalide” e Desnecessidade da Súmula 331 do TST e do PL 4330/2004, Plc30/2015 O debate atual sobre terceirização é claramente marcado por amplo dissenso, com disputas ferrenhas sobre posições políticas e jurídicas bem marcadas. É claro o antagonismo entre forças neoliberais (aí incluídos partidos políticos, patrões, federações, confederações, sindicatos e principalmente a Força Sindical) e progressistas (partidos políticos, Auditores Fiscais do Trabalho, Magistratura e Ministério Público Trabalhistas, Academia, federações, confederações, sindicatos e principalmente a Central Única dos Trabalhadores). Não obstante o dissenso há aparente consenso, equivocado porém, com relação à necessidade de criação de regra geral regulamentadora da terceirização no país ou da manutenção da Súmula 331 do TST5. Tal consenso decorre de uma suposta ausência de lei geral sobre a matéria. A ideia consensual de vazio normativo teria forçado o TST à edição de sua Súmula 331 que, na prática atual, “regulamenta” o fenômeno sociojurídico, fixando seus limites. Ainda com base em tal consenso a Câmara dos Deputados “votou”6 em 22/04/2015 o texto final do PL 4330/2004, imediatamente enviado ao Senado da 4 “De um lado, porque – se o Direito Civil está em alta – a norma civilista que mais poderia nos ajudar – a que reprime as discriminações – não chega ao ponto de levar o intérprete a concluir (como deveria) que o terceirizado é sempre discriminado. Ou seja: é discriminado pelo simples fato de ser terceirizado, pelo menos quando se trata de terceirização interna.” (VIANA, 2015). 5 Alguns Ministros do TST entendem possível a manutenção da Súmula 331 como suficiente a dirimir situações controvertidas no âmbito do Poder Judiciário Trabalhista. 6 Na verdade a votação mais pareceu um atropelamento daqueles trágicos que são vistos diariamente nas ruas do país. As imagens constrangedoras da votação revelam uma infeliz tendência de arroubos ditatoriais na Câmara dos Deputados. República e lá tramitando sob a referência PLC 30/2015. Não obstante tal percepção consensual, outras leituras são possíveis a respeito da regulamentação da terceirização no Brasil. A primeira é no sentido de que há, sim, regra legal suficientemente abrangente para regular a terceirização: a Lei 6.019/1974. Uma segunda linha é no sentido da aplicação direta e imediata de normas constitucionais (regras e princípios) para fixar os limites (também constitucionais) sobre a terceirização. De início, sempre prioritariamente, a aplicação direta e imediata de princípios constitucionais nas situações triangulares de contratação de trabalho. Partindo do consenso (equivocado) de inexistência de regra geral sobre terceirização deveria o intérprete, sem problemas ou dúvidas, aplicar normas constitucionais para a completa regulação da avença. Nesta esteira, princípios constitucionais como os da dignidade da pessoa humana (C.R., artigo 1º, inciso III), do valor social do trabalho (C.R., artigo 1º, inciso IV), da igualdade ou não-discriminação (C.R., artigo 5º, caput), da vedação ao retrocesso social (C.R., artigo 5º, § 2º), da prevalência dos direitos humanos (C.R., artigo 4º, inciso II), bem como os princípios e regras constitucionais trabalhistas específicos dos artigos 7º, 8º e 9o devem prevalecer também no âmbito das relações terceirizadas. Tais princípios constitucionais constituem normas fundamentais inafastáveis e autoaplicáveis às relações de trabalho. No contexto da normatividade dos princípios e da melhor hermenêutica constitucional é possível a eficácia horizontal dos direitos fundamentais nas relações jurídicas de emprego, sendo então oponíveis os valores constitucionais no âmbito da relação terceirizada independentemente de regulamentação infraconstitucional. É cediço, entretanto, que o Poder Judiciário Trabalhista resiste à aplicação direta e imediata de princípios constitucionais para dirimir situações controvertidas concretas, preferindo a aplicação da legislação infraconstitucional. Se é assim, que se aplique então a regra legal brasileira que trata das relações trabalhistas trilaterais: a Lei 6.019/1974.7 É muito simples. Caso haja necessidade de terceirização deve o contratante (tomador dos serviços) demonstrar necessidade transitória de substituição de pessoal ou, então, necessidade decorrente de acréscimo extraordinário de serviços (Lei 6.019/1974, artigo 2º). Em ambos os casos o prazo máximo da relação triangular será de três meses (Lei 6.019/1974, artigo 10), 7 Permitida também a terceirização de serviços de vigilância, nos termos da Lei 7.102/1983. devendo haver pagamento de salário equitativo8 (Lei 6.019/1974, artigo 12, alínea “a”). Ainda que não exatamente nesta mesma linha interpretativa percebeu a Justiça do Trabalho mineira que as razões para a edição e aplicação da Lei 6.019/1974 se verificam também nos casos de terceirização de trabalho permanente.9 A análise acima desenvolvida privilegia a função normativa ou eficácia direta dos princípios constitucionais.10 Além da função interpretativa os princípios constitucionais atuam também, de modo inequívoco, como instrumento fundamental de interpretação. A eficácia interpretativa dos princípios constitucionais diz respeito à revelação do sentido de uma norma, que deve ser feita “tendo em conta os valores e fins abrigados nos princípios constitucionais” (BARROSO, 2012, p. 343). No que interessa ao cerne do presente item é de se destacar a eficácia negativa dos princípios constitucionais, que implica “a paralisação de qualquer norma ou ato jurídico que esteja em contrariedade com o princípio constitucional” (BARROSO, 2012, p. 344) em análise no caso concreto. Especificamente no que concerne à “inconstitucionalidade”11 da Súmula 331 do TST é possível afirmar que há dois vícios ou situações de contrariedade à norma constitucional. De início o fato de não ser o Tribunal Superior do Trabalho competente para a criação de comandos gerais tendentes à fixação de obrigações ou restrições para os sujeitos da relação empregatícia. Tal competência 8 “remuneração equivalente à percebida pelos empregados da mesma categoria da empresa tomadora. O salário equitativo, resultante deste preceito, é que tem propiciado, ao longo das últimas décadas, a interpretação jurisprudencial e doutrinária construtiva que vem aproximando as vantagens trabalhistas dos temporários do padrão geral dominante no Direito do Trabalho do país.” (DELGADO, 2012) 9 “...se o trabalhador temporário, que normalmente fica na empresa tomadora de serviços por noventa dias (a não ser em virtude de prorrogação expressamente autorizada pelo órgão do MTE), tem assegurado, por preceito legal expresso, tal proteção, não se pode conceber, do ponto de vista lógico e jurídico, que trabalhadores que, como o reclamante, prestaram serviços de forma permanente à empresa tomadora, tenham menos direitos. Inteiramente cabível, portanto, a incidência por analogia daquele preceito legal ao caso dos autos, de resto autorizada expressamente pelo artigo 8º, caput, da CLT.” (TRT, 3ª Região, 5ª Turma, processo RO 00077-2008-140-03-00-6, relator Desembargador José Roberto Freire Pimenta, publicação em 29/11/2008, disponível em www.trt3.jus.br). 10 A eficácia dos princípios é direta quando o “princípio incide sobre a realidade à semelhança de uma regra, pelo enquadramento do fato relevante na proposição jurídica nele contida.” (BARROSO, 2012, p. 342). 11 Tecnicamente sequer seria possível se falar de inconstitucionalidade de súmula, vez que não possui caráter normativo. Embora muitos não percebam ou até compreendam em sentido contrário, súmula de jurisprudência do TST não deve ser compreendida como norma jurídica (geral, abstrata, erga omnes, pro futuro, emanada do Poder Legislativo), não sendo portanto suficiente a fixar o direito de alguém ou a afastá-lo no caso concreto. Trata-se apenas de orientação para decisões de 1º e 2º graus de jurisdição trabalhista, sem força vinculante ou cogente. A jurisprudência consolidada do TST tem natureza jurídica de decisão judicial reiterada e uniforme, de caráter persuasivo e não vinculativo. Inconstitucional é a norma, e não a jurisprudência, ainda que consolidada em súmula. O presente artigo preservará, entretanto, a compreensão ordinária... constitucional cabe ao Poder Legislativo, nos termos dos artigos 48 e seguintes da Constituição da República, observado sempre o princípio consagrado em seu artigo 2º. Sendo assim a Súmula 331 do TST não poderia restringir a aplicação da terceirização às atividades-meio do tomador dos serviços, ainda que na prática tal medida tenha representado, ao longo dos últimos anos, controle civilizatório mínimo do trabalho terceirizado. Em verdade a Súmula 331 do TST não poderia ir além dos permissivos contidos na Lei 6.019/1974, que traz as situações (excepcionais e transitórias) de terceirização lícita no Brasil. Outro ponto, já sinalizado anteriormente, diz respeito à permissão da jurisprudência consolidada de tratamento desigual entre trabalhadores em situação de igualdade substancial, o que fere o disposto no artigo 5º, caput, da Constituição da República. Ora, se o empregado da interposta trabalha no interesse direto e imediato do tomador dos serviços, da mesma forma que seus empregados diretos, então há que se aplicar o princípio constitucional de igualdade, garantindo a todos um mesmo patamar remuneratório. Márcio Túlio Viana, ao defender a isonomia, lembra que tanto o empregado terceirizado quanto o empregado contratado diretamente pela contratante (tomadora dos serviços) trabalham efetivamente na mesma empresa, que é aquela que se beneficia do trabalho de ambos: “Aliás, se trocarmos a forma pelo fundo, notaremos que – em última análise – quem desembolsa o valor que vai custear os salários é o tomador, embora quem os pague seja o fornecedor, depois de descontada a sua parte.”(VIANA, 2012) Possível argumentar, na linha doutrinária de Sebastião Vieira Caixeta, ofensa à Declaração Universal dos Direitos Humanos, em seu artigo 23, inobservância à Convenção 100, da OIT e descumprimento do disposto no artigo 7º, inciso XXXII da Constituição da República (CAIXETA, 2013). Com Gabriela Neves Delgado é possível perceber agressão aos princípios constitucionais fundamentais da dignidade da pessoa humana e da valorização social do trabalho (artigo 1º, incisos III e IV, Constituição da República).12 12 “Sabendo-se que a terceirização é uma modalidade de contrato precário prevista pelo Direito do Trabalho brasileiro e que, por óbvio, fragmenta direitos e piora a infra-estrutura de labor para os empregados terceirizados, é que se pode afirmar, sob o ponto de vista social, que tal fenômeno é uma afronta ao princípio da dignidade do ser humano. Apesar de considerado um processo de otimização de gastos e maximização dos lucros pelas grandes empresas, para o empregado constitui meio de labor que, na maioria das vezes, implica perda de renda efetiva. (...) Já que a terceirização fomenta hipótese de pactuação precária da força de trabalho, evidente concluir que é, por si só, uma afronta ao qualificativo “social” imputado ao trabalho pela Constituição de 1988.” (DELGADO, 2003, p. 175-176). Em análise preliminar, que demandará maior aprofundamento em estudo próprio, é relativamente simples perceber também a desconformidade do disposto no PL 4330/2004 (atualmente em tramitação no Senado da República sob referência PLC 30/2015) com princípios constitucionais elementares, já aqui citados, principalmente aqueles fundamentais previstos no artigo 1º, incisos III e IV, que tratam da dignidade humana e do valor social do trabalho e 5º, caput, que exige igualdade ou não-discriminação. Ora, se o empregado da contratada trabalha no interesse direto e imediato da contratante, da mesma forma que seus empregados diretos, então há de se aplicar o princípio constitucional de igualdade, garantindo a todos um mesmo patamar remuneratório. Aqui o risco de precarização injustificada (inconstitucional) é ainda maior, visto o permissivo de que o contratante terceirize toda e qualquer atividade sua. É de rigor, então, que a agregação sindical (enquadramento sindical) dos empregados diretos e terceirizados seja a mesma, em releitura que se espera possível (e cada vez mais necessária) do disposto no artigo 8º da Constituição da República e no artigo 511 da CLT.13 É possível concluir que a Súmula 331 do TST não está em conformidade com a Constituição da República, por contrariedade ao disposto em seus artigos 48 (e seguintes), 2º e 5º caput, além de ser desnecessária em face do já previsto pela Lei 6.019/1974. Também é imperioso concluir liminarmente, sem prejuízo de maior aprofundamento posterior, que o PL 4330/2004, PLC 30/2015, não está em conformidade com a Constituição da República, por contrariedade ao disposto em seus artigos 1º, incisos III e IV, e 5º caput, além de ser desnecessário em face do já previsto pela Lei 6.019/1974. 3. Atividade-Fim, Atividade-Meio e Especialização na Reestruturação produtiva pósfordista As polêmicas instauradas no Brasil sobre a terceirização e as críticas à Súmula 331 do TST giram também, dentre outros fatores, em torno da possibilidade ou não de se diferenciar atividade-fim e atividade-meio no atual modelo de organização empresarial prevalecente no país. 13 Sobre o tema ver ALVES, Amauri Cesar. Pluralidade Sindical: nova interpretação constitucional e celetista. São Paulo: LTr., 2015. Ainda que seja “inconstitucional” e desnecessária a Súmula 331 do TST, muitos preferem seus termos à regra prevista no PL 4330/2004, atual PLC 30/2015, que não traz qualquer controle civilizatório para as relações triangulares de trabalho. Bem ou mal a jurisprudência consolidada do TST fixou critérios para que haja, validamente, contratação de trabalhadores terceirizados no Brasil, sendo centrais a tal construção os conceitos de atividade-fim e atividade-meio. O TST na prática “regulamentou” a terceirização permanente em atividademeio, entendendo ser possível tal prática desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta na linha do trabalho, ou seja, trabalhador-tomador dos serviços.Neste ponto reside a possibilidade da precarização injusta e excepcional da força produtiva através da terceirização, que será regra se aprovado o texto principal do PLC 30/2015. No que concerne então à Súmula 331 do TST deve o intérprete fazer a distinção entre o que é atividade-meio, e portanto apta à terceirização, e atividadefim, que não permite contratação pela via da interposição. O senso-comum indica que atividade-meio é aquela que não se refere ao objetivo essencial do empreendimento do tomador, ou seja, refere-se às tarefas que não são indispensáveis à realização do objetivo social do contratante. O cerne do presente item não é a interpretação jurídica construída ao longo dos anos pelo Poder judiciário Trabalhista sobre a distinção, mas a possibilidade ou não de se diferenciar atividade-fim e atividade-meio no atual modelo de organização empresarial prevalecente no país.14 O foco é a construção elaborada pela Administração de Empresas e pela Sociologia do Trabalho. A terceirização trabalhista é fenômeno jurídico e social que vem se desenvolvendo gradativa e amplamente no Brasil desde a década de 1970. É fácil verificar no cotidiano das relações produtivas, em todos os ramos de atividade econômica, o trabalho terceirizado. A Administração de Empresas, responsável pelo desenvolvimento inicial da terceirização, conceitua o fenômeno como “um processo de gestão pelo qual se repassam algumas atividades para terceiros – com os quais se estabelece uma relação de parceria – ficando a empresa concentrada apenas em tarefas essencialmente ligadas ao negócio em que atua.”(GIOSA, 1993) 14 Inobstante não tratar o PL 4330/2004(PLC 30/2015) da diferenciação entre atividade-meio e atividade-fim o tema ainda é relevante, vez que há uma pressão consistente para que a discussão seja retomada no Senado Federal. O léxico consagra o termo terceirização com sentido de “forma de organização estrutural que permite a uma empresa transferir a outra suas atividades-meio, proporcionando maior disponibilidade de recursos para sua atividade-fim, reduzindo a estrutura operacional, diminuindo os custos, economizando recursos e desburocratizando a administração.”(HOUAISS, 2009).Ou ainda, a “atribuição a empresas independentes, i.e., a terceiros, de processos auxiliares à atividade principal de uma empresa.” (FERREIRA, 2008).Atenção aos temas e aos termos próprios à Administração de Empresas: “parceria”, “concentração”, “processos auxiliares”. Em tese, então, o objetivo da terceirização parece ser “otimizar”, para usar também um termo deste ramo do saber, a “gestão” de mão-de-obra. Não há, e nem se poderia supor uma declaração em tal sentido, nenhuma referência à redução de custos através da precarização da exploração de trabalho. A Sociologia do Trabalho situa a terceirização de serviços no contexto pósfordista do final do século XX, em que houve a substituição do modelo produtivo taylorista-fordista, cujo padrão é a grande fábrica com produção em massa e em série de produtos, pela especialização flexível, também conhecida como toyotismo. No modelo taylorista-fordista o industrial se ocupa de todo o processo produtivo, controlandotempos, movimentos, técnicas e modos uniformes de produção através de chefias ostensivas. Nada deve escapar ao controle patronal direto. No novo modelo pós-fordista ou toyotista o padrão é a reestruturação da grande fábrica em pequenas e especializadas “unidades de negócio”. A fragmentação da fábrica (sua especialização) fez surgir também alterações na clássica relação bilateral trabalhista. Com as crises econômicas e com o crescimento da concorrência global o mercado não mais absorvia, como antes, a produção em larga escala da fábrica fordista. Era necessário diminuir os custos para não perder lucro e, como soe acontecer, os salários e os empregos sofreram redução sensível. Mas era necessário algo mais. Como não havia um mercado tão receptivo como antes, pois este se revelou mais “exigente”, era necessária, além dos cortes de praxe, uma “reengenharia” para adequar a grande fábrica ao mercado em retração. “Enxugar” a fábrica sem acarretar perda de mercado e muito menos de lucro. Maria da Graça Druck (2001, p. 123) trata da terceirização no Japão, berço do toyotismo, em suas múltiplas faces. Contempla a autora no mínimo quatro relações entre sociedades empresárias: “a)kogaisha – empresa filial; b) kyoryokugaisha– empresa cooperadora; c) kankeigaisha – empresa com a qual se tem relações, empresa coligada; d) shitaukegaisha – empresa subcontratada ou terceirizada.” Não há, neste contexto, uma clara distinção entre atividades (meio e fim) passíveis de terceirização. A citada autora destaca que, no Brasil, o modelo de terceirização é apresentado teoricamente como “possibilidade de crescimento e multiplicação de oportunidades para as pequenas e médias empresas e até mesmo para trabalhadores se transformarem em empresários”. Para o empregador capitalista a terceirização é uma das estratégias para a readequação de suas estruturas para o mercado mais exigente. A tese é a da especialização, da ênfase em sua atividade preponderante, da redução de custos e aumento da lucratividade. Tais teses, ainda que meramente retóricas por ser a redução de custos o ponto central da terceirização, influenciaram diretamente a redação da Súmula 331 do TST e principalmente do PL 4330/2004 (PLC 30/2015). A Súmula 331 do TST se sustenta amplamente e atua diretamente através da distinção entre atividade-fim e atividade-meio. O PL 4330/2004 (PLC 30/2015) se sustenta teoricamente em especialização de atividades15, muito embora permita a terceirização em toda e qualquer atividade da contratante dos serviços. Assim, devem inicialmente a Administração de Empresas e a Sociologia do Trabalho fixar seus contornos conceituais básicos. Jerônimo Leiria, citado por Maria da Graça Druck (2001, p. 132), entende que a terceirização deve ser um chamamento à competitividade para alcançar a modernidade, o que exige qualidade e produtividade. Para o autor citado “tudo o que não é vocação de uma empresa deve ser entregue para especialistas”. Aqui o cerne é a especialização do que não é vocação empresarial direta, ou seja, terceirização de atividades periféricas (atividades-meio). Há hoje, na prática empresarial brasileira, diferentes formas de terceirização de serviços, inclusive em atividades-fim e independentemente do conteúdo da Súmula 331 do TST. No que concerne àsatividades-meio são consideradas aquelas periféricas. São serviços de apoio que permitem à contratante centrar seus esforços empresariais na gestão de seu produto principal (DRUCK, 2001). As atividades-fim são aquelas essenciais à concretização dos objetivos centrais do empreendimento, que reúnem as tarefas necessárias à produção de bens ou serviços no âmbito do contratante. 15 Em tal sentido as regras do artigo 2º, incisos II e III, bem como do artigo 20 do PL 4330/2004, em sua redação final, atual PLC 30/2015 no Senado da República. Na mesma linha a Administração de Empresas deverá contribuir para a conceituação do que seja especialização de atividades, caso aprovado e sancionado como está o texto do PLC 30/2015. A Confederação Nacional da Indústria tem centrado seus esforços argumentativos na ideia de especialização, na certa para negar o principal objetivo da terceirização, que é redução de custos e fragmentação da representação sindical dos trabalhadores.16 Enfim é possível concluir pela possibilidade de se estabelecer diferenciação entre atividade-fim e atividade-meio de uma sociedade empresária contratante (tomadora) de serviços terceirizados. A análise, no plano dos fatos, é até relativamente simples. Sempre que for possível, abstrata e mentalmente, retirar a atividade terceirizada do contexto produtivo do tomador dos serviços e, mesmo assim, vislumbrar o resultado final, então a atividade é meio. Ao contrário, se do exercício de análise abstrata não for possível o resultado final sem a atividade terceirizada, a atividade será fim e, portanto, a terceirização será irregular. O argumento empresarial de que a atividade produtiva é dinâmica, e o que é meio hoje pode ser fim amanhã não é empecilho à diferenciação entre atividade-meio e atividade-fim, nos termos aqui propostos. A análise é sempre do caso concreto, em cada momento e local de terceirização, sendo facilmente aplicável o conceito às mais diversas situações fáticas. Não se trata de conceito fechado, mas, sim, de ideia que se amolda a todos os casos de acordo com a realidade vivenciada. 4. Insegurança jurídica? Atividade-Fim, Atividade-Meio, Empresa Especializade de Objeto Social Único, Serviços Determinados Específicos Um dos principais argumentos dos defensores do Projeto de Lei 4330/2004 enquanto tramitou na Câmara dos Deputados foi existência de insegurança jurídica acarretada tanto pela ausência de norma legal suficientemente abrangente sobre terceirização quanto pela pretensa imprecisão conceitual do disposto no inciso III da 16 A terceirização é uma tendência mundial que objetiva ganhos de especialidade, qualidade, eficiência, produtividade e competitividade. Tudo isso gera riqueza para o país, que por sua vez, cria maiores oportunidades de emprego. Setores como construção civil, nanotecnologia, biotecnologia, naval, mecatrônica, hospitalidade, tecnologia da informação, entre outros, só serão mais eficientes, produtivos e competitivos com a terceirização de serviços especializados. Por exemplo, a construção de um prédio sem especialistas em terraplanagem, concretagem, hidráulica, eletricidade, pintura, etc, por exemplo, não é viável. Os apartamentos ou salas deste prédio ficariam caríssimos se uma só empresa tivesse que comprar todos os equipamentos e contratar diretamente todos os empregados que trabalhariam em apenas uma das várias etapas da obra e no tempo restante ficariam ociosos. Súmula 331 do TST. Tal argumento, equivocado (falso) mas repetido à exaustão para que pudesse convencer, pode ser assim resumido na visão da Confederação Nacional da Indústria: É necessário regulamentar a terceirização, pois não há no ordenamento jurídico nacional normas que tratem especificamente da matéria. Ante a ausência de legislação e diante dos inúmeros conflitos judiciais, o Tribunal Superior do Trabalho, na busca de uma solução para as divergências jurisprudenciais, consolidou entendimento, na sua Súmula 331, no sentido de que a terceirização somente é permitida se ligada à atividade meio da empresa contratante. Contudo, além de não por fim as demandas judiciais, esta certamente não é a solução mais adequada às exigências do mercado moderno. Na prática não é possível diferenciar com precisão a atividade meio da atividade fim de uma empresa. Isso acarreta interpretações diferentes, insegurança e conflitos judiciais. Ainda, que fosse possível esta identificação, na dinâmica empresarial em pouco tempo uma atividade meio pode converter-se em atividade fim e vice versa. (2015)17 As polêmicas instauradas no Brasil sobre terceirização e as críticas à Súmula 331 do TST giram também, dentre outros pontos, em torno da possibilidade ou não de se diferenciar atividade-fim e atividade-meio no atual modelo de organização empresarial aplicado amplamente no país, conforme visto em perspectiva multidisciplinar. Ainda que seja “inconstitucional” e desnecessária a Súmula 331 do TST, repita-se, são preferíveis seus termos à regra geral prevista no PL 4330/2004, atual PLC 30/2015, que não traz qualquer controle civilizatório para as relações triangulares de trabalho. Além de não prever controle civilizatório (igualdade remuneratória) para as terceirizações o PL 4330/2015, conforme aprovado na Câmara dos Deputados, traz outros conceitos jurídicos que em tese poderiam ser vistos como imprecisos e que também poderão ensejar a tão temida “insegurança jurídica”. São eles empresa especializada de objeto social único e serviços determinados específicos. Assim, o temor da insegurança jurídica não se resolve com o texto do PL 4330/2004 (PLC 30/2015). 17 CNI, Disponível em http://www.portaldaindustria.com.br/cni/iniciativas/programas/terceirizacao/2013/06/1,17156/o-quee.html.Acesso em 06 maio 2015. O TST na prática “regulamentou” a terceirização permanente em atividademeio, entendendo ser possível tal prática desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta na linha do trabalho, ou seja, trabalhador-tomador dos serviços. O cerne do presente artigo é a possibilidade ou não de o operador do direito definir, juridicamente, o que vem a ser atividade-fim e atividade-meio. A melhor doutrina e a jurisprudência construída ao longo das últimas décadas já fazem tal distinção com a segurança necessária. O Prof. Maurício Godinho Delgado (2015, p. 489) estabelece juridicamente o conceito de atividade-meio: Por outro lado, atividades-meio são aquelas funções e tarefas empresariais e laborais que não se ajustam ao núcleo da dinâmica empresarial do tomador dos serviços, nem compõem a essência dessa dinâmica ou contribuem para a definição de seu posicionamento no contexto empresarial e econômico mais amplo. São, portanto, atividades periféricas à essência da dinâmica empresarial do tomador dos serviços. São, ilustrativamente, as atividades referidas, originalmente, pelo antigo texto da Lei n. 5.645, de 1970: “transporte, conservação, custódia, operação de elevadores, limpeza e outras assemelhadas.” São também outras atividades meramente instrumentais, de estrito apoio logístico ao empreendimento (serviço de alimentação aos empregados do estabelecimento, etc.). Segue o citado jurista com a conceituação de atividade-fim: Atividades-fim podem ser conceituadas como as funções e tarefas empresariais e laborais que se ajustam ao núcleo da dinâmica empresarial do tomador dos serviços, compondo a essência dessa dinâmica e contribuindo inclusive para a definição de seu posicionamento e classificação no contexto empresarial e econômico. São, portanto, atividades nucleares e definitórias da essência da dinâmica empresarial do tomador dos serviços. (DELGADO, 2015, p. 489). Na mesma linha Sebastião Vieira Caixeta (2013) esclarece, em crítica à ideia de terceirização ampla e irrestrita para qualquer atividade empresarial: Dessa forma, o sistema trabalhista – e a legislação correlata – define que o empregador deve contratar diretamente, ao menos, os empregados que serão responsáveis imediatos pela consecução do empreendimento econômico, ou seja, aqueles alocados na atividadefim da empresa. Trata-se da clássica forma de contratação estabelecida no ordenamento jurídico pátrio, que leva, necessariamente, à conclusão de que a terceirização é sempre excetiva. Há quem entenda (minoritariamente) que toda e qualquer atividade presente na rotina do tomador dos serviços será, para ele, essencial, vez que o capitalista não contrata esforços inúteis. Assim, toda e qualquer atividade terceirizada, ressalvadosos casos do trabalho temporário, da vigilância e da conservação e limpeza, seria irregular. O Prof. Antônio Álvares da Silva, em crítica à dicotomia atividade-fim x atividade-meio defende o seguinte: O fim de toda empresa é o lucro e, para isto, organiza os fatores da produção de tal maneira que, entre o custo e o preço de venda, haja uma margem que se denomina ‘lucro’. Para atingir este fim, tudo o mais seria meio. Note-se que tanto a especialização como o meio se prestam à obtenção de um fim. São parte de um outro serviço que se executa em sentido amplo, maior naturalmente do que a especialização. Especialização e meio, na atividade econômica, são conceitos instrumentais que podem variar de empresa para empresa ou de atividade para atividade. O que é hoje especializado pode tornar-se genérico e o que é fim pode se transformar em meio para a obtenção de um novo fim. Se a discussão for levada para o interior da empresa para, por meio de raciocínio dedutivo, distinguir entre atividade-meio e atividade-fim, ou entre serviços especializados e genéricos, cairemos nas mesmas perplexidades insolúveis, que não podem ser mensuráveis em termos decisórios, a não ser com grande dose de arbítrio e discriminação (SILVA, 2011, p. 77). É possível inferir, entretanto, em uma análise casuística em conformidade com a jurisprudência do TST, que se for possível abstrata e mentalmente retirar a atividade terceirizada do contexto produtivo do tomador dos serviços e, mesmo assim, vislumbrar o resultado final, então a atividade é meio. Ao contrário, se do exercício de análise abstrata não for possível o resultado final sem a atividade terceirizada, a atividade será fim e, portanto, a terceirização será irregular. Sendo assim, somente no caso concreto de cada empreendimento será possível perceber se a atividade é fim ou meio. Eis a jurisprudência: TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. FORMAÇÃO DO VINCULO EMPREGATÍCIO DIRETAMENTE COM O TOMADOR DE SERVIÇOS. A terceirização dos serviços, figura jurídica importante e verdadeira necessidade de sobrevivência das empresas em competitivo mercado, traduz realidade inatacável e não evidencia prática ilegal, por si só. Entretanto, constitui fraude aos princípios norteadores do Direito do Trabalho a dissimulação de intermediação de mão-de-obra sob a forma de contrato de prestação de serviços que tenha por objeto a realização de tarefa ínsita à atividade fim do tomador. Assim é que a terceirização é admitida na contratação de empresa especializada em atividades paralelas ou de suporte, desde que não haja distorção em sua essência e finalidade, com a substituição dos empregados próprios por outros oriundos de empresa interposta. Observando-se, na hipótese, que o empregado oferecido por empresa prestadora se via engajado na atividade essencial do tomador de serviços, participando integrativamente do processo de produção, trata-se, por certo, de intermediação fraudulenta de mão-de-obra, o que autoriza a confirmação da r. sentença recorrida. Recurso a que se nega provimento. (TRT 3ª Região, 4ª Turma, processo n. 00196-2007-088-03-00-0, relator Desembargador Caio Luiz de Almeida Vieira de Melo, publicação em 15/12/2007). É possível e necessário que se fixe, de qualquer modo, presunção de irregularidade da terceirização em atividade-meio, vez que a tutela justrabalhista mais ampla é conferida na relação bilateral, sendo esta o cerne do Direito do Trabalho. Compete então aos interessados na mão-de-obra terceirizada (contratante e contratado) provar sua validade jurídica excepcional.18 Não há, portanto, óbice jurídico, por impossibilidade conceitual, à manutenção da exigência de caracterização de atividade-meio para a validade jurídica das relações terceirizadas no Brasil. 5. Terceirização e Precarização: concubinato necessário no modelo atual A terceirização, em modelos teóricos nacionais e estrangeiros, é estratégia de gestão para melhorar a produtividade empresarial através da especialização de atividades periféricas, o que permite ao gestor dedicar-se ao que é essencial à obtenção do lucro. Na prática nacional e internacional, entretanto, a terceirização é sistema de rebaixamento do preço da mão-de-obra e de fragmentação da organização sindical dos trabalhadores.19 Com a maestria de sempre, fundada na singeleza de suas sábias lições, Márcio Túlio Viana explica: Quanto ao trabalhador terceirizado, não é diferente, sob alguns aspectos, do burro de carga ou do trator que o fazendeiro abastado aluga aos sitiantes vizinhos. Jogado daqui para ali, de lá para cá, é 18 “Em síntese, considerada a autorização restritiva que a ordem jurídica, inclusive constitucional, confere à terceirização – mantendo-a como prática excetiva – as atividades-meio têm de ser conceituadas também restritivamente.” (DELGADO, 2015, p. 490). 19 É simples: pergunte-se a um terceirizado qual é seu objetivo profissional. Em seguida faça a mesma pergunta a um trabalhador empregado não terceirizado. O sonho de um é o pesadelo do outro... ele próprio – e não apenas sua força de trabalho – que se torna objeto do contrato, ainda que dentro de certos limites. Num passe de mágica, e sem perder de todo sua condição humana, o trabalhador se vê transformado em mercadoria. Seu corpo está exposto na vitrine: a empresa tomadora vai às compras para obtê-lo, e de certo modo o pesa, mede e escolhe. (VIANA, 2012) O capitalista necessariamente vive de fazer contas. Um dos principais cálculos cotidianos que o empregador faz diz respeito ao preço da força de trabalho. Não é razoável supor uma relação triangular que não seja, antes de qualquer coisa, economicamente viável para quem produz (contratante) e para quem é mero intermediário de força produtiva (contratado). Perceba-se que necessariamente duas pessoas devem ganhar na relação trilateral: o contratante (tomador dos serviços) e o contratado. Nessa relação econômica trilateral, se dois ganham alguém perde... Não há milagre da multiplicação do dinheiro para todos aqui. Márcio Túlio Viana fala sobre o intermediário, em crítica ácida e consistente: O que esse intermediário quer não é o mesmo que o empresário quer. Ele não utiliza a força-trabalho para produzir bens ou serviços. Não se serve dela como valor de uso, mas como valor de troca. Não a consome: subloca-a. O que ele consome, na verdade, é o próprio trabalhador, na medida em que o utiliza como veículo para ganhar na troca. Em outras palavras, o mercador de homens o utiliza tal como o fabricante usa os seus produtos e todos nós usamos o dinheiro. Por isso, do seu ponto de vista, o que importa é antes a quantidade que a qualidade. Mas como, aos olhos de seu cliente, a qualidade também pesa, o mercador alardeia as virtudes de sua mercadoria – a mesma mercadoria que, ao comprar, ele deprecia, ofertando baixos salários. (...) É verdade que o trabalhador pode aceitar ou não ser negociado. Em teoria, o mercador lida com homens livres. Mas como a liberdade é condicionada pela necessidade, talvez não haja tanta diferença entre ele e o traficante do Brasil-Colônia, que em cima de um caixote, no cais do porto, exibia nos leilões os dentes e os músculos do escravo – não sem antes lamber-lhe o corpo, para sentir sua saúde. (VIANA, 2015). A viabilidade econômica necessariamente vem do rebaixamento do valor da mão-de-obra comparativamente ao custo de um empregado direto. O resto é discurso. Uma pergunta então se impõe, neste ponto: quais os reflexos da terceirização no mundo do trabalho? Maria da Graça Druck (2001, p. 97) explica os objetivos da terceirização no modelo japonês de reestruturação produtiva, que afinal é o berço do sistema triangular de relações no mundo: Trata-se de parte integrante e indispensável do modelo, que precisa preservar este “trabalho sujo” como componente da estrutura produtiva da economia japonesa. É uma das formas de sustentação do “trabalho limpo”, “participativo”, “qualificado” e “estável” das grandes corporações. A subcontratação aparece não só no plano econômico como forma de redução de custos, mas também como estratégia política, à medida que institui um amplo segmento de trabalhadores de “segunda categoria”, que se distanciam dos de “primeira categoria”. Desta forma, contribui, decisivamente, para dissolver qualquer identidade de classe, identidade esta, diga-se de passagem, muito fraca na sociedade japonesa, marcada por uma identidade muito mais corporativa dos trabalhadores, integrados às grandes empresas e que correspondem a 30% da força de trabalho. (DRUCK, 2001, p. 97). A realidade japonesa lembra muito a brasileira. Lembra particularmente o discurso da grande multinacional do vestuário que, surpreendida com trabalho escravo na fabricação de suas roupas defendeu-se dizendo tratar-se de terceirização, pela qual ela não poderia responder... É o trabalho sujo que explora empregados de segunda classe para tentar sustentar uma marca aparentemente limpa. O problema elementar da terceirização é, nos termos expostos por Márcio Túlio Viana (2012), a transformação do trabalhador em mercadoria, inserido que está, quase como objeto, em um contrato de marchandage. O sentimento (ou o não sentir-se nada) do trabalhador terceirizado internamente ao estabelecimento de seu tomador é o aspecto mais relevante a ser considerado: Nas terceirizações internas, pode até acontecer, vez por outra, que ele se sinta exatamente como o tratam: objeto ou animal. No limite, porém, é também possível que nem mesmo o fato de ser convertido – já agora, sem disfarces – em trator ou burro de carga consiga realmente tocá-lo. Sua nova qualidade de mercadoria se espalha de tal maneira em seu corpo e em sua alma que ele já não percebe sua verdadeira condição humana. E, nesse caso, não sentir nada talvez seja ainda pior do que sentir-se coisa.” (VIANA, 2012, p. 205). Assim, “terceirização que não precariza é uma contradição em seus próprios termos” (VIANA, 2012, p. 212). O ponto mais relevante da precarização de mão-de-obra decorrente da terceirização está na desigualdade remuneratória existente entre o trabalhador empregado terceirizado, vinculado juridicamente à interposta (contratada), e o trabalhador empregado diretamente contratado pelo tomador dos serviços (contratante). Tal elemento distintivo precarizante se situa predominantemente no âmbito do Direito Coletivo do Trabalho, embora necessariamente irradie efeitos no plano do contrato individual. A regra geral de fixação da agregação do trabalhador ao seu sindicato se dá por aplicação do conceito de categoria profissional, o que pressupõe, nos termos da lei, similitude de condições de vida oriunda da profissão ou trabalho em comum, em situação de emprego na mesma atividade econômica ou em atividades econômicas similares ou conexas (CLT, artigo 511, § 2º).20 Há, no plano jurídico, distinção entre os sindicatos representativos da categoria dos trabalhadores terceirizados e da categoria dos empregados do tomador. Regra geral o patamar de direitos coletivos sindicais dos terceirizados é bastante inferior àquele percebido pelos empregados do tomador dos serviços. Assim, como regra geral, trabalhadores em uma mesma circunstância fática e que prestam serviços ao mesmo tomador terão conteúdos jurídicos protetivos coletivos diversos, (consequentemente) dada de a multiplicidade sindicatos de empregadores representativos de envolvidos diferentes e categorias profissionais. Possível inferir que para sua própria existência o sindicato representativo dos terceirizados deve oferecer aos seus representados patamar jurídico protetivo inferior àquele estabelecido pelo ente representativo dos empregados do tomador. É que se a “ordem natural” se inverte, a terceirização se inviabiliza economicamente. Se a terceirização se inviabiliza economicamente, deixa de existir, em situações fáticas diversas, o empregador interposto. Se o empregador interposto se extingue o sindicato representativo de tais trabalhadores também necessariamente tem o mesmo destino, dado o critério de agregação sindical por categoria profissional. Se o custo do trabalho do terceirizado (somado ao custo e lucro da interposta) for mais significativo do que aquele dos empregados diretamente contratados, todo o discurso da organização empresarial se esvai, com a transparência da relevância 20 Nova leitura da agregação sindical é possível, conforme ALVES, Amauri Cesar. Pluralidade Sindical: nova interpretação constitucional e trabalhista. São Paulo: LTr., 2015. econômica do modelo trilateral. Infelizmente, então, o sindicato dos trabalhadores terceirizados desempenha, regra geral, papel negativo na engrenagem do sistema precarizante. Em discurso confuso (para dizer o mínimo) proferido em 08/04/2015 o Sr. Deputado Paulo Pereira da Silva, Paulinho da Força Sindical, disse o seguinte em sessão da Câmara: A segunda emenda repara um problema grave. Na medida em que os trabalhadores são terceirizados, com a confusão que é hoje a terceirização, eles saem da categoria a que pertencem. Na medida em que uma empresa terceiriza esse serviço, esse trabalhador perde a convenção coletiva do seu sindicato. Ele até tem os outros direitos, mas a convenção do seu sindicato normalmente é uma convenção melhor. Então, nós fizemos uma alteração no art. 8º, que já foi aceita aqui pelo Relator Arthur Maia. A emenda que muda o art. 8º diz o seguinte: Quando o contrato de prestação de serviços especializados a terceiros se der entre empresas que pertençam à mesma categoria econômica, os empregados da contratada envolvidos no contrato serão representados pelo mesmo sindicato que representa os empregados da contratante, na forma do art. 511 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. Esta emenda é importante porque, quando é terceirizado, o que o trabalhador perde? Na medida em que tem os direitos garantidos na Constituição, como férias, décimo terceiro, Fundo de Garantia, ele perde principalmente a convenção do seu sindicato. Eu quero repetir isso porque é isso que ele perde. Ele deixa de ter esses direitos que estão garantidos na convenção do seu sindicato. Esta emenda repõe esse direito. O trabalhador terceirizado continua na categoria em que estava antes. Portanto, ele não perde mais a convenção, de acordo com o art. 511 da CLT, que determina todas as categorias. (BRASIL, 20015)21 O ouvinte crédulo da sessão legislativa pensou ser este o início do fim da terceirização, ao contrário de ser o começo da precarização desmedida. A fala na Tribuna deixava transparecer que haveria uma única representação para empregados diretos e terceirizados. Se fosse verdadeiro, significaria a inviabilidade econômica da terceirização através da positivação infraconstitucional do princípio da isonomia. Ocorre que, ao final, o texto era patético e não condizia minimamente com as premissas fixadas no discurso do parlamentar. Será que houve uma 21 Câmara dos Deputados, Notas Taquigráficas, Sessão de 08/04/2015, 19:26h., Disponível em: http://www.camara.gov.br/internet/sitaqweb/TextoHTML.asp?etapa=3&nuSessao=064.1.55.O&nuQua rto=164&nuOrador=2&nuInsercao=0&dtHorarioQuarto=19:26&sgFaseSessao=OD%20%20%20%20 %20%20%20%20&Data=08/04/2015&txApelido=PAULO%20PEREIRA%20DA%20SILVA&txEtapa=C om%20reda%C3%A7%C3%A3o%20final). Acesso 10 maio 2015. incompreensão por parte do deputado “sindicalista”, sobre o alcance da regra que leu em Plenário? Na verdade o texto era e é óbvia constatação da desigualdade e da injustiça, ideias que permeiam todo o citado PL 4330/2004 (PLC 30/2015), expressas aqui em seu artigo 8º: Art. 8º Quando o contrato de prestação de serviços especializados a terceiros se der entre empresas que pertençam à mesma categoria econômica, os empregados da contratada envolvidos no contrato serão representados pelo mesmo sindicato que representa os empregados da contratante, na forma do art. 511 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. Será que existe, em tal realidade multifacetada que é a terceirização, uma única coincidência entre atividades econômicas de contratante (tomador dos serviços) e contratada (interposta) neste país? Será que bancos irão contratar outros bancos para terceirizar serviços bancários? Será que indústrias metalúrgicas contratarão outras indústrias metalúrgicas para o fornecimento de mão-de-obra interna ao seu estabelecimento? Não há no artigo 8º do PL 4330/2004 nenhuma novidade em relação à Súmula 331 do TST ou ao disposto classicamente no artigo 511 da CLT. A “emenda” encomendada pelo deputado é inútil.22 A situação de hoje (Súmula 331 do TST) e de amanhã (PLC 30/2015) é simples, embora grave e perversa: o trabalhador empregado do tomador dos serviços (contratante) trabalha lado a lado com o empregado da contratada; ambos são empregados celetistas, mas o primeiro terá patamar remuneratório superior ao do segundo, vez que seus sindicatos são distintos, um mais atuante e comprometido do que o outro. Além de reduzir gastos o tomador dos serviços terceirizados consegue prejudicar sensivelmente a atuação dos sindicatos representativos dos interesses dos seus empregados, pois o fenômeno da terceirização, conforme exposto, fragmenta a classe trabalhadora23 ao permitir e forçar a coexistência de diversos 22 Pouco crível que tenham pretendido as elites autoras do texto apenas repetir o óbvio. Pode ser (o tempo dirá) que se trate de uma estratégia para forçar uma interpretação conservadora (que não é conforme a Constituição da República) contra a estratégia protetiva de aplicação do direito que certamente virá do TST. 23 “... a terceirização também fragmenta por fora e por dentro a classe trabalhadora, neutralizando conflitos coletivos. A própria dissociação entre quem paga e quem dirige ‘tende a separar a reivindicação salarial (...) da contestação da organização do trabalho’. De resto, como já notamos, o terceirizado de hoje pode se tornar o empregado direto amanhã, e vice-versa, o que leva cada um a ambicionar ou a temer o destino do outro”. (VIANA, 2012, p. 210). sindicatos, com patamares remuneratórios também diversos, em um mesmo espaço laborativo. O problema se irradia para todo o Direito do Trabalho, pois este ramo jurídico especializado necessita da existência de um sindicato forte e atuante, com a classe trabalhadora coesa e organizada, para que sua estrutura possa prevalecer sobre os interesses do capital. Sindicatos fracos impõem fragilidades ao Direito do Trabalho. Observe-se ainda que, na prática, a interposição normalmente enseja a contratação de prestação laborativa menos especializada, ao contrário do que defendem os administradores de empresas, pois os salários oferecidos devem ser menores do que aqueles praticados pela tomadora dos serviços, conforme já exposto. A fiscalização da segurança no trabalho tende a não ser tão efetiva, pois a responsável primeira é a interposta empregadora, muitas vezes despreparada ou apressada na realização das suas tarefas. São comuns, então, diversos acidentes envolvendo trabalhadores terceirizados e “quarteirizados”.24 Máquinas e equipamentos de segunda classe, segunda linha e segunda-mão tendem a ser utilizados pelas interpostas, que buscam oferecer sempre serviços mais baratos para os tomadores dos serviços, o que aumenta em consequência o lucro de ambos (VIANA, 2012) em detrimento da segurança do trabalhador. Este é o contexto sóciojurídico básico da terceirização de serviços e que precisa ser compreendido pelos operadores do Direito do Trabalho: trabalhadores em igualdade de situação fática, que desenvolvem seu labor no interesse direto e imediato de um mesmo favorecido, mas com tratamento jurídico diferenciado. 6. Terceirização e Sindicato: atuação por um mínimo de civilidade na relação triangular É necessário, de início, reafirmar que “terceirização que não precarizaé uma contradição em seus próprios termos” (VIANA, 2012, p. 212). Entretanto é ingenuidade supor que o Brasil se verá livre deste mal em curto ou médio prazo, sobretudo se depender da classe política brasileira em geral. Independentemente do resultado da normatização sobre terceirização que virá do Congresso Nacional é (e 24 Não bastasse a terceirização, surgem e se desenvolvem no Brasil fenômenos como a quarteirização e quinteirização. Em ambos os casos há, entre o trabalhador e o tomador dos seus serviços, empresas interpostas (uma, no caso da terceirização, duas, no caso da quarteirização, e três, no caso da quinteirização). será) possível uma nova interpretação do sistema sindical brasileiro, no sentido da possibilidade de igualdade da representação coletiva de trabalhadores terceirizados e empregados diretos do contratante.25 Tal postura, fundamentada constitucionalmente e em consonância com as transformações sociais, econômicas, políticas, normativas e interpretativas havidas nos últimos anos, deverá solucionar (ou pelo menos minimizar) os graves problemas causados pela terceirização no Brasil. Já visto que o ponto mais relevante da precarização de mão-de-obra decorrente da terceirização está na desigualdade remuneratória existente entre o trabalhador empregado terceirizado e o trabalhador empregado diretamente contratado pelo tomador dos serviços (contratante). Tal distinção precarizante se situa predominantemente no âmbito do Direito Coletivo do Trabalho, embora necessariamente irradie efeitos no plano do contrato individual. Os Tribunais Trabalhistas aplicam a regra do artigo 511 da CLT sem uma necessária percepção sobre as evoluções sociais e normativas havidas nos últimos anos, com destaque para a Constituição da República promulgada em 1988.26São hoje distintos os sindicatos representativos da categoria dos trabalhadores terceirizados e da categoria dos empregados do tomador, o que em síntese justifica economicamente a terceirização. Uma releitura do sistema sindical é possível e urgente no Brasil e pode ser feita tanto pela alteração e ampliação do conceito de categoria profissional em um ambiente jurídico de unicidade sindical27 como através do reconhecimento da 25 Tal análise vale também enquanto vigente a Súmula 331 do TST e/ou seus pontos centrais (distinção entre atividade-fim e atividade-meio, diferença de agregação sindical, diferença remuneratória). 26 A CLT, em seu artigo 511, § 2º, define a categoria profissional. Destaque para a expressão “mesma atividade econômica ou em atividades econômicas similares ou conexas.” O ponto de agregação é a vinculação dos trabalhadores a empregadores que tenham atividades econômicas idênticas, similares ou conexas. A regra, então, é a agregação do trabalhador ao sindicato conforme a atividade econômica preponderante do seu empregador. Excepcionalmente contempla a legislação brasileira a agregação através de sindicato organizado por ofício ou profissão. São sindicatos que agregam trabalhadores em virtude de sua profissão, independentemente da atuação econômica do empregador. São os denominados sindicatos de “categoria diferenciada”, como aeronautas, jornalistas, médicos, músicos, etc. Tais trabalhadores serão representados por seus sindicatos específicos independentemente daquilo a que se dedica o seu empregador. 27 As ideias aqui lançadas referentes à ampliação do conceito de categoria profissional também (e melhor) atuam em um contexo de liberdade sindical com pluralidade, mas a análise presente terá em vista o sistema da unicidade. pluralidade sindical. Ambas as possibilidades interpretativas serão aqui apresentadas em síntese.28 Inicialmente os efeitos dos novos contornos da subordinação jurídica nas relações sindicais. Embora a subordinação seja hoje reconhecida como o elemento fático-jurídico mais significativo na distinção entre relações de trabalho sem vínculo empregatício e emprego, não faz referência a CLT aos seus termos no artigo 3º, que fixa “dependência” como requisito para a caracterização da figura do empregado. Assim sendo há espaço interpretativo amplo para que se reconheça a dependênciaprevista na norma básica celetista tanto como subordinação clássica quanto como objetiva, integrativa, reticular ou estrutural. Fato inconteste é, entretanto, que tal debate não tem sido suficientemente estendido ao Direito Coletivo do Trabalho, embora possa haver influência de seus resultados fáticos no âmbito do sindicalismo brasileiro, conforme será visto. A análise é relativamente simples: a relação de emprego clássica se ampliou através dos novos conceitos de subordinação, devendo tal ampliação repercutir positivamente nos critérios de agregação do trabalhador ao sindicato (“enquadramento sindical”). Inicialmente a subordinação objetiva, que antecede às demais perspectivas que são desenvolvidas atualmente no âmbito do Direito do Trabalho como critério distintivo entre trabalho e emprego. Paulo Emílio Ribeiro de Vilhena (1999) já destacava o seguinte em sua obra “Relação de Emprego: estrutura legal e supostos”: A subordinação, elementarmente, parte da atividade, e se concentra na atividade. Seu exercício, porém, implica intercâmbio de condutas, porque essa atividade consuma-se por pessoas que se congregam, que se organizam e que compõem um quadro geral de ordem e de segurança no processo da produção de bens e/ou serviços. (...) Patenteia-se com isso que a integração (ou inserção) na empresa não se dá na pessoa do trabalhador, mas na de sua atividade. Dá-se o acoplamento da atividade do prestador na atividade da empresa. (...) Não se contrata a subordinação, mas a prestação de serviços, que se desenvolve subordinadamente ou não. (...) 28 Sobre o assunto ver ALVES, Amauri Cesar. Pluralidade Sindical: nova interpretação constitucional e celetista. São Paulo: LTr., 2015. Tem-se, pois, conceitualmente, a subordinação como a participação integrativa da atividade do trabalhador na atividade do credor de trabalho. Percebe-se o destaque para a atividade laborativa como essencial para a fixação da subordinação jurídica objetiva, com pouca relevância para as pessoas de empregado e empregador. Ora, se hoje quem desenvolve parte substancial da atividade empresarial na “fábrica-mínima” pode não ser o empregado diretamente por ela contratado, então é importante repensar a ideia de categoria profissional. A subordinação objetiva pode, em diversas situações fáticas, exigir uma nova compreensão da agregação do trabalhador ao sindicato, que não mais considere essencial a figura do empregador, mas, sim, as atividades básicas desenvolvidas por diversos trabalhadores em um mesmo contexto produtivo. A realidade social que ensejou a construção da regra legal celetista de “enquadramento” não é mais a mesma de hoje. Em certo sentido, o empregador tende a perder centralidade no sistema pós-fordista ou de especialização flexível, pois boa parte das atividades essenciais de diversas empresas foi distribuída para outras tantas (terceirizadas), que parcelam as tarefas necessárias à concretização do empreendimento. O trabalho se fragmenta na medida em que as atividades são postas sob a responsabilidade de diversos fornecedores de mão-de-obra (interpostos). Na terceirização o trabalhador não produz diretamente para o seu empregador, mas para um contratante deste (tomador dos serviços), que é quem se apropria, em última análise, da mão-de-obra da pessoa natural. Sendo assim não é mais possível fixar o ponto de agregação do trabalhador ao sindicato (enquadramento sindical) somente pela vinculação a certo tipo de empregador, de acordo com o que ele desenvolve, mas sim, também e principalmente, pela percepção de quem é o destinatário final da atividade entregue, verificada a circunstância fática, in casu, com aplicação do conceito de subordinação objetiva. A similitude de condições de vida oriunda da profissão ou trabalho em comum, em situação de emprego na mesma atividade econômica ou em atividades econômicas similares ou conexas pode ser vista de acordo com o que empreende aquele que fixa a atividade cotidiana do trabalhador, e que dela se vale, em última análise, independentemente de quem seja o empregador direto. Assim, a agregação do trabalhador terceirizado deve se dar conforme a atividade preponderante do tomador dos seus serviços (contratante), destinatário final da atividade entregue, e não de seu empregador formal. Afinal, na terceirização a mão-de-obra é empregada (aplicada) no estabelecimento do tomador dos serviços. A situação de emprego diz respeito à atividade econômica de quem se apropria do trabalho do empregado terceirizado. É também importante neste contexto a ideia de subordinação estrutural. O Professor Maurício Godinho Delgado, com particular acuidade, reformulou recentemente, no sentido da necessária ampliação, seu conceito de subordinação jurídica. Para o citado autor a subordinação pode se revelar no plano dos fatos tanto em sua conformação clássica, que pressupõe ordens diretas quanto ao modo da prestação laborativa, quanto em sua forma estrutural. Estrutural é, finalmente, a subordinação que se expressa pela inserção do trabalhador na dinâmica do tomador de seus serviços, independentemente de receber (ou não) suas ordens diretas, mas acolhendo, estruturalmente, sua dinâmica de organização e funcionamento. Nesta dimensão da subordinação, não importa que o trabalhador se harmoniza (ou não) aos objetivos do empreendimento, nem que receba ordens diretas das específicas chefias deste: o fundamental é que esteja estruturalmente vinculado à dinâmica operativa da atividade do tomador de serviços. (DELGADO, 2011. p. 294). Percebe-se o destaque para a vinculação do trabalhador à dinâmica operativa do tomador de serviços como essencial para a fixação da subordinação jurídica estrutural, com pouca relevância para as pessoas de empregado e empregador. Ora, se hoje quem desenvolve parte substancial da atividade empresarial na “fábrica-mínima” pode não ser o empregado diretamente por ela contratado, pois o modelo não é mais o de estruturação fordista, então é importante repensar a ideia de categoria profissional, repita-se. A subordinação estrutural pode, em diversas situações fáticas, exigir uma nova compreensão da agregação do trabalhador ao sindicato, que não mais considere essencial a figura do empregador e suas ordens diretas, mas, sim, a inserção do trabalhador na dinâmica do tomador dos seus serviços. Não é mais possível fixar a agregação do trabalhador ao sindicato somente pela vinculação a certo tipo de empregador, de acordo com o que este desenvolve, mas sim pela percepção de quem é o destinatário final da atividade entregue, verificada a circunstância fática, in casu, com aplicação do conceito de subordinação estrutural. A similitude de condições de vida oriunda da profissão ou trabalho em comum, em situação de emprego na mesma atividade econômica ou em atividades econômicas similares ou conexas pode ser vista de acordo com quem fixa, estruturalmente, a dinâmica de organização e funcionamento da prestação laborativa entregue. Assim, a agregação do trabalhador terceirizado deve se dar conforme a atividade preponderante do tomador dos seus serviços (contratante), que é quem fixa a dinâmica da prestação laborativa, e não de seu empregador formal. Afinal, na terceirização a mão-de-obra é empregada (aplicada) no estabelecimento do tomador dos serviços. A situação de emprego diz respeito à atividade econômica de quem se apropria do trabalho do empregado terceirizado. Por fim a subordinação reticular e seus reflexos na agregação do trabalhador ao sindicato. Sobre o tema “subordinação reticular”, originalmente proposto por José Eduardo de Resende Chaves Jr., os esclarecimentos de Luiz Otávio Linhares Renault e DárlenPrietsch Medeiros: A expressão subordinação reticular foi originalmente proposta por José Eduardo de Resende Chaves Júnior e Marcus Menezes Barberino Mendes. De acordo com ela, esse pressuposto não poderia mais ser visto apenas sob o prisma jurídico. Indispensável a sua ampliação para o aspecto econômico, visando-se, com ela, a ampliação do alcance das normas trabalhistas. Chaves Júnior explica que a nova organização produtiva concebeu a empresa-rede, que se irradia por meio de um processo de expansão e fragmentação, que, por seu turno, tem necessidade de desenvolver uma nova forma correlata de subordinação: a reticular. Ou seja, o modelo atual apresenta empresas interligadas em rede, que no final dessa cadeia irão beneficiar uma empregadora. A partir daí, tem-se que, havendo subordinação econômica entre a empresa prestadora de serviços e a tomadora, esta seria diretamente responsável pelos empregados daquela, configurando a subordinação estrutural reticular. (RENAULT; MEDEIROS, 2011. p. 183). Percebe-se o destaque para a irradiação de poder econômico de uma empresa sobre outra e, consequentemente, sobre os empregados desta, e não mais na relação formal jurídica bilateral entre empregado e empregador. Ora, se hoje quem desenvolve parte substancial da atividade empresarial na “rede” não é mais empregado diretamente contratado pela empresa tomadora, mas, sim, trabalhador vinculado a empresa prestadora de serviços (terceirizado), então é importante repensar a ideia de categoria profissional. A subordinação reticular pode, em diversas situações fáticas, exigir uma nova compreensão da agregação do trabalhador ao sindicato, que não mais considere essencial a figura do empregador, mas, sim, o aspecto econômico da interligação fática. Enfim, a similitude de condições de vida oriunda da profissão ou trabalho em comum, em situação de emprego na mesma atividade econômica ou em atividades econômicas similares ou conexas pode ser vista de acordo com quem se apropria direta e finalmente, no âmbito da rede de empresas, da prestação laborativa entregue. Assim, a agregação do trabalhador terceirizado deve se dar conforme a atividade preponderante do tomador dos seus serviços (contratante), que é quem se apropria diretamente da prestação laborativa entregue no âmbito da rede de empresas, e não de seu empregador formal. Um óbice à presente linha interpretativa pode ser lançado pelo leitor atento: se trabalhadores terceirizados embora indiretamente contratados são estruturalmente (ou por subordinação reticular, integrativa, objetiva) subordinados ao tomador dos seus serviços (contratante), então são empregados deste, e não de quem é seu empregador formal (contratada). Tal possibilidade está suficientemente contemplada pela doutrina brasileira, sobretudo como decorrente do reconhecimento da “terceirização ilícita”, nos termos da Súmula 331 do TST. Seria então desnecessária qualquer releitura do conceito de categoria profissional para garantir direitos sindicais em isonomia entre trabalhadores terceirizados e empregados diretos. Ocorre que a comprovação jurídica (e judicial) de cada vínculo direto demandaria uma profusão de processos (regra geral individuais), o que nem sempre garante a esperada justiça nos casos concretos. Ademais, tal interpretação ainda depende da aplicação da Súmula 331 do TST, que provavelmente não será mantida por muito tempo. A releitura do conceito de categoria profissional, em consonância com aspectos objetivos da subordinação jurídica, pode levar, imediatamente e sem exclusões injustas, a resultados mais efetivos no plano da igualdade remuneratória, por aplicação das regras autônomas advindas de sindicatos com melhor capacidade negocial coletiva. Ademais, há forçosamente a ampliação da base de representação, que pode, também, concorrer para maior efetividade do ente coletivo obreiro. Por fim a pluralidade sindical, que permitirá à classe trabalhadora a escolha da melhor representação. A liberdade sindical, nos termos preconizados na Convenção 87 da OIT, tem ampla previsão normativa no direito interno brasileiro em âmbito constitucional, inobstante a regra da unicidade prevista no inciso II do artigo 8º da Constituição da República, sendo que sua aplicação e produção de efeitos não depende de regras infraconstitucionais e não se limita ou reduz em decorrência destas.29 Antes de iniciar a análise específica dos efeitos decorrentes da liberdade sindical no âmbito da terceirização é importante ressalvar que os sindicatos brasileiros devem afirmar tal valor na prática, principalmente pela consagração de direitos por criatividade autônoma. Não deve a liberdade sindical com pluralidade significar perdas ou supressão de direitos por intermédio de uma “mais livre” ou “mais ampla” negociação coletiva, que continua restrita à observância ao princípio da adequação setorial negociada.30 Há a necessidade, sempre, de se igualar as forças entre capital e trabalho para que a liberdade sindical plena possa construir e não destruir direitos. Liberdade, por si só, não garante direitos, e deve ser vinculada a instrumentos que possibilitem ao sindicato atuação em igualdade de condições negociais com o capital. Duas são, basicamente, as possibilidades de compreensão da liberdade sindical e, de acordo com cada uma delas, os efeitos jurídicos decorrentes: inconstitucionalidade da norma constitucional do inciso II do artigo 8º ou interpretação restritiva do alcance da unicidade sindical apenas para a revelação do sindicato mais representativo. Ambas as possibilidades interpretativas e seus efeitos práticos no contexto da terceirização serão aqui analisados. Em todas as estratégias o primeiro pressuposto será a maior amplitude do princípio da liberdade sindical, aqui compreendida como direito fundamental do cidadão trabalhador, individual e coletivamente considerado, que garante ao seu ente representativo atuação autônoma face ao Estado e ao empregador, competindo aos representados a definição de seu âmbito de atuação e sua estruturação interna. Também são pressupostos a ratificação dos termos elementares da liberdade sindical por força de 29 Sobre o tema ver ALVES, Amauri Cesar. Pluralidade Sindical: nova interpretação constitucional e celetista. São Paulo: LTr., 2015. 30 O princípio da adequação setorial negociada, com base na doutrina de Maurício Godinho Delgado (2013) oferece um critério de harmonização entre as regras jurídicas oriundas da negociação coletiva e as regras originárias da legislação heterônoma estatal. A pergunta básica é: em que medida as normas autônomas juscoletivas podem se contrapor às normas imperativas estatais? A resposta consagra o princípio. As normas negociadas coletivamente prevalecem sobre as heterônomas se observados dois critérios: 1) quando as normas autônomas implementam um padrão salarial superior ao padrão geral heterônomo; 2) quando as normas autônomas transacionam parcelas de disponibilidade apenas relativa e não de indisponibilidade. Importante destacar que a renúncia a direitos trabalhistas é inaceitável na negociação coletiva. Normas indisponíveis são as constitucionais (nas quais não há ressalva) e as concernentes à saúde e à segurança do trabalhador. tratados internacionais de direitos humanos pelo Brasil e a sua consagração como direito fundamental de consequente aplicabilidade imediata no contexto da normatividade dos princípios constitucionais. Em apertada síntese afirma-se a inconstitucionalidade da regra constitucional do inciso II do artigo 8º em face do disposto em seu caput e inciso I. Para tal compreensão é necessário ter como pressuposto a existência, no seio da Constituição da República, de uma hierarquia normativa, sendo o princípio da liberdade sindical norma jurídica de grau superior à regra da unicidade, resolvendose tal contradição pelo reconhecimento de sua inconstitucionalidade. A regra da unicidade seria norma constitucional meramente formal que, em confronto com a norma constitucional material da liberdade sindical, seria inconstitucional. Também possível argumentar a aplicabilidade direta e imediata do direito fundamental de liberdade sindical, que não pode ser limitado em seu conteúdo essencial mas pode ser ponderado em face da regra da unicidade. A ideia aqui, ao contrário da anterior, é a preservação da integridade do Texto Constitucional. A colisão entre normas constitucionais poderia ser resolvida por ponderação ou por interpretação tópico-sistemática. No primeiro caso, em uma dada situação juscoletiva envolvendo sindicatos o intérprete, por ponderação, poderá restringir o alcance da regra da unicidade (artigo 8º, inciso II, da Constituição da República), pois tal medida limitadora seria adequada, necessária e razoável tendo em vista a importância do interesse consistente em liberdade sindical (artigo 8º, caput e inciso I, da Constituição da República).31 O resultado da limitação da norma constitucional da unicidade será sua aplicação para a definição do sindicato mais representativo em um cenário de pluralidade sindical. No segundo caso a melhor interpretação das normas constitucionais em colisão será sempre a que consagra os princípios em patamar superior às regras, ainda que não possa, neste plano, haver supressão de um pelo outro. Assim, a liberdade sindical, enquanto princípio, prevalece sobre a regra da unicidade, sendo ambas preservadas internamente ao Texto Constitucional, havendo restrição do seu alcance à fixação do sindicato mais representativo. 31 O problema de tal compreensão fundada em ponderação, que parte do pressuposto de não haver hierarquia entre normas constitucionais, é que em outra situação concreta o julgador poderá, em tese, afirmar a unicidade e limitar o direito fundamental de liberdade sindical, desde que tal medida se-lhe afigure proporcional. Tais constatações, qualquer que seja a estratégia interpretativa, exigem uma nova leitura do sistema brasileiro de representação sindical e, especificamente, do modelo jurídico de terceirização adotado no Brasil. O sistema jurídico coletivo sindical brasileiro é o da liberdade sindical ampla, que pressupõe o direito de constituir organizações conforme escolha dos interessados. As normas jurídicas estão consagradas no artigo 2 da Convenção 87 da OIT; na alínea “a” do item 1 do artigo 8º do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, da ONU; e no artigo 8º, caput e inciso I da Constituição da República, não obstando tal compreensão a regra de seu inciso II. Art. 2 – Os trabalhadores e os empregadores, sem distinção de qualquer espécie, terão direito de constituir, sem autorização prévia, organizações de sua escolha, bem como o direito de se filiar a essas organizações, sob a única condição de se conformar com os estatutos das mesmas. (OIT, 2013). a) O direito de toda pessoa de fundar com outras, sindicatos e de filiar-se ao sindicato de escolha, sujeitando-se unicamente aos estatutos da organização interessada, com o objetivo de promover e de proteger seus interesses econômicos e sociais. O exercício desse direito só poderá ser objeto das restrições previstas em lei e que sejam necessárias, em uma sociedade democrática, no interesse da segurança nacional ou da ordem pública, ou para proteger os direitos e as liberdades alheias; (BRASIL, 1992). Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: I - a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical; II - é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município; (BRASIL, 1988). Consequência lógica e jurídica é a inaplicabilidade, tal como hoje fixada, da regra da unicidade sindical no direito brasileiro como restrição à liberdade sindical com pluralidade. É imperativa a releitura, constitucional, das regras celetistas de agregação do trabalhador ao sindicato (“enquadramento sindical”). A regra do artigo 511 da CLT deve ser interpretada à luz do Texto Constitucional democrático de 1988, e não o contrário: Art. 511. É lícita a associação para fins de estudo, defesa e coordenação dos seus interesses econômicos ou profissionais de todos os que, como empregadores, empregados, agentes ou trabalhadores autônomos ou profissionais liberais exerçam, respectivamente, a mesma atividade ou profissão ou atividades ou profissões similares ou conexas. § 1º A solidariedade de interesses econômicos dos que empreendem atividades idênticas, similares ou conexas, constitui o vínculo social básico que se denomina categoria econômica. § 2º A similitude de condições de vida oriunda da profissão ou trabalho em comum, em situação de emprego na mesma atividade econômica ou em atividades econômicas similares ou conexas, compõe a expressão social elementar compreendida como categoria profissional. § 3º Categoria profissional diferenciada é a que se forma dos empregados que exerçam profissões ou funções diferenciadas por força de estatuto profissional especial ou em consequência de condições de vida singulares. § 4º Os limites de identidade, similaridade ou conexidade fixam as dimensões dentro das quais a categoria econômica ou profissional é homogênea e a associação é natural. (BRASIL, 2013). Vale lembrar que a OIT admite que a ordem jurídica de cada país, mantendo observância à Convenção 87, estabeleça conceitos para o agrupamento sindical (por profissão, por ramo, por atividade). É possível, então, criar definições de sistemas de agregação na organização das associações de base (sindicatos) e ainda assim preservar a liberdade sindical preconizada na ordem internacional. (LOGUERCIO, 2000, p. 237). No caso brasileiro as definições constam da CLT em seu artigo 511, em interpretação conforme o disposto no artigo 8º, caput e inciso I da Constituição da República. Possível e necessário implementar, doravante, uma releitura da CLT (artigo 511), à luz deste contexto normativo constitucional de pluralidade sindical, que traz aos empregadores e trabalhadores diversas possibilidades de construção da representação coletiva: atividade, profissão, profissões similares, profissões conexas, profissões ou funções diferenciadas por força de estatuto próprio, empresa, categoria econômica e categoria profissional, competindo aos interessados, inclusive trabalhadores terceirizados, a definição da estrutura sindical pela aplicação dos diversos pontos de agregação. Em verdade, em um modelo de organização sindical plural será mais relevante a atuação do sindicato do que a sua estruturação básica, conforme entende Antônio Álvares da Silva: A forma de organização é assunto que hoje se relega à liberdade sindical, conforme recomendação da Convenção 87 da OIT. O importante é que seja livre para constituir-se e para atuar. Portanto, num regime de pluralismo, onde cada sindicato lutará para adquirir a maior expressividade e representação, importa menos o modo de formação e mais a forma de atuação. Só sobreviverão os que prestarem melhores serviços (SILVA, 1990, p. 34). Assim, aqueles trabalhadores que optarem pela agregação em torno da categoria profissional deverão se inserir em um mesmo contexto de atividade econômica, independentemente de quem seja seu empregador, desde que envolvidos em uma mesma situação socioeconômica básica, aplicável, neste caso, o conceito aqui proposto de categoria profissional. Por categoria profissional, nestes termos, pode-se compreender o critério de agregação do trabalhador ao sindicato cujo núcleo é a prestação laborativa no interesse direto e imediato de um mesmo sujeito que se apropria, direta ou indiretamente, da disposição de trabalho, independentemente de ser ou não empregador. O que se deve compreender, para que se fixe a agregação por categoria profissional, não é mais quem é o empregador. O que se deve buscar é quem se aproveita, essencialmente, da força produtiva entregue. O ponto de agregação decorre de se identificar para quem o trabalho é entregue em essência e não quem é empregador direto. Portanto, todo e qualquer trabalhador (terceirizado ou diretamente contratado) que se insere em um mesmo contexto socioeconômico de prestação laborativa no interesse direto ou indireto daquele que se aproveita de seu trabalho pode optar por constituir representação por categoria profissional idêntica. Importante destacar que não há necessidade de qualquer alteração normativa, constitucional ou infraconstitucional, para que se compreenda tal agregação por categoria profissional, que, na prática, é apenas evolução interpretativa do disposto no artigo 511 da CLT em resposta e em atenção às múltiplas possibilidades de interpretação do disposto no artigo 3º da CLT e à reestruturação produtiva pós-fordista. A “situação de emprego na mesma atividade econômica ou em atividades econômicas similares ou conexas” prevista na CLT significa, hoje, repita-se, não mais agregação por vinculação a um único empregador, mas, sim, pela identificação de quem se aproveita, em essência, da prestação laborativa entregue. É importante destacar, ainda, que a agregação por categoria profissional em tais termos independe da ideia de pluralidade sindical, pois mesmo a atuação interpretativa conservadora atual sobre a vigência do critério de unicidade permite sua aplicação às situações concretas, bastando a ampliação do conceito com nova leitura do artigo 511 da CLT. Márcio Túlio Viana recentemente concluiu de modo parecido com o aqui exposto, embora com fundamentação diferente: Basta lembrar que, quando a CLT fez a categoria profissional corresponder à econômica, foi por concluir que as pessoas que trabalham num mesmo ramo de atividade empresarial se unem por laços de solidariedade. Ora: no caso dos terceirizados que ficam longo tempo na mesma empresa tomadora, esses laços se formam com o pessoal que está ali, e não com os outros terceirizados, que eles nem conhecem. (VIANA, 2015). Em todos e em qualquer dos critérios de agregação não há exclusividade da representação, podendo coexistir, a critério dos trabalhadores, múltiplos sindicatos representativos em uma mesma base e em concorrência. A presente conclusão decorre do cenário de pluralidade sindical possibilitado pela liberdade sindical em decorrência da inconstitucionalidade ou da inaplicabilidade (nos termos atuais) da regra do inciso II do artigo 8º da Constituição da República. Os avanços havidos no Direito, sobretudo no campo dos princípios, bem como as transformações sociais das últimas duas décadas, devem iluminar a interpretação das regras constitucionais e infraconstitucionais sobre as relações sociocoletivas, conforme já exposto. Normas constitucionais insculpidas nos artigos 1º, incisos III e IV; 5º caput e incisos XVII, XXII e XXIII; 7º caput e incisos XVII, XXVI e XXVII; 8º caput e incisos I, II e VI; além dos artigos 170, inciso IV e 193 não podem ser olvidadas pelo intérprete no momento de aplicação da regra trabalhista nos mais diversos contextos de contratação de trabalho terceirizado. 7. Conclusão Visto então que a terceirização é uma estratégia empresarial precarizante aplicada em diversos países capitalistas, com destaque negativo para a atual situação brasileira. Por se referir, em última análise, à relação empregatícia deve a situação ser tratada pelo Direito do Trabalho, com ênfase na centralidade do Texto Constitucional de 1988. A Súmula 331 do TST não está em conformidade com a Constituição da República, pois agride frontalmente o disposto nos artigos 48 (e seguintes), 2º e 5º caput, além de ser desnecessária em face do já previsto pela Lei 6.019/1974. Também é imperioso concluirque o PL 4330/2004 (PLC 30/2015) não está em conformidade com a Constituição da República, por contrariedade ao disposto em seus artigos 1º, incisos III e IV, e 5º caput, além de ser desnecessário em face do já previsto pela Lei 6.019/1974. Não obstante as conclusões supra, é cediço que a situação da terceirização no Brasil não se resolverá em termos de inconstitucionalidade ou desnecessidade de novo regramento. É necessário, então, estabelecer diferenciação entre atividadefim e atividade-meio de uma sociedade empresária contratante (tomadora) de serviços terceirizados. O argumento empresarial de que a atividade produtiva é dinâmica, e o que é meio hoje pode ser fim amanhã não é empecilho à diferenciação entre atividade-meio e atividade-fim, nos termos aqui propostos. A análise é sempre do caso concreto, em cada momento e local de terceirização, sendo facilmente aplicável o conceito às mais diversas situações fáticas. Não se trata de conceito fechado, mas, sim, de ideia que se amolda a todos os casos de acordo com a realidade vivenciada. Infelizmente trabalhadores em igualdade de situação fática, que desenvolvem seu labor no interesse direto e imediato de um mesmo favorecido, recebem hoje e provavelmente no futuro próximo tratamento jurídico injustificadamente diferenciado. Tal situação favorece a precarização da mão-de-obra, não sendo possível reconhecer terceirização que se dê em conformidade com princípios básicos da República. Não sendo esta, entretanto, a conclusão da maioria da doutrina e da jurisprudência é necessária uma estratégia protetiva, que necessariamente partirá de uma melhor atuação dos sindicatos no país. A “situação de emprego na mesma atividade econômica ou em atividades econômicas similares ou conexas” prevista na CLT significa, hoje, repita-se, não mais agregação por vinculação a um único empregador, mas, sim, pela identificação de quem se aproveita, em essência, da prestação laborativa entregue. Os sindicatos são então conclamados a assumir papel de destaque no cenário da terceirização, pois cabe a eles garantir, na prática, dos males o menor. 8. Referências: ALVES, Amauri Cesar. Pluralidade Sindical: nova interpretação constitucional e celetista. São Paulo: LTr., 2015. BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: os conceitos fundamentais e a construção do novo modelo. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. CAIXETA, Sebastião Vieira. “Apontamentos sobre a normatização do instituto da terceirização no Brasil: por uma legislação que evite a barbárie e o aniquilamento do Direito do Trabalho” In REIS, Daniela Murada, MELLO, Roberta Dantas de, COURA, Solange Barbosa de Castro. Trabalho e Justiça Social: Um Tributo a Maurício Godinho Delgado.São Paulo: LTr., 2013. DELGADO, Gabriela Neves. Terceirização: paradoxo do Direito do Trabalho contemporâneo. São Paulo: LTr., 2003. DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 10. ed. São Paulo: LTr., 2011. DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 14. ed. São Paulo: LTr., 2015. DRUCK, Maria da Graça. Terceirização: (des)fordizando a fábrica. São Paulo: Boitempo, 2001. FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Míni Aurélio. 7. ed. Curitiba: Positivo, 2008 GIOSA, L. A. Terceirização: uma abordagem estratégica. São Paulo: Pioneira, 1993, InPERON, Melissa, BOMTEMPO, José Vitor, QUENTAL, Cristiane. Revista de Administração Contemporânea. On-line version, disponível em http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1415-65551998000200006&script=sci_arttext. Acesso em 10 maio 2015. HOUAISS, Antônio. Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2009. RENAULT, Luiz Otávio Linhares, MEDEIROS, DárlenPrietsch. A Subordinação sem Derivações Semânticas.InRENAULT, Luiz Otávio Linhares, CANTELLI, Paula Oliveira, PORTO, Lorena Vasconcelos, NIGRI, Fernanda (orgs.). Parassubordinação: homenagem ao Professor Márcio Túlio Viana. São Paulo: LTr., 2011. SILVA, Antônio Álvares da. Globalização, Terceirização e a Nova Visão do Tema pelo Supremo Tribunal Federal. São Paulo: LTr., 2011. VIANA, Márcio Túlio. A terceirização revisitada: algumas críticas e sugestões para um novo tratamento da matéria. Revista do Tribunal Superior do Trabalho, v. 78, p. 198-224, 2012. VIANA, Márcio Túlio. Para entender a terceirização. (no prelo). 2015. VILHENA, Paulo Emílio Ribeiro de. Relação de Emprego: estrutura legal e supostos.2. ed. São Paulo: Ltr., 1999. IMPARCIALIDADE DO JUÍZO E A CONSCIÊNCIA DO JULGADOR NO ATO DE DECIDIR Fabrício Veiga Costa32 SUMÁRIO:1- Introdução; 2- A dogmática como fundamento da norma jurídica posta e pressuposta frente à liberdade do decididor no ato de julgar: uma breve revisitação da historicidade da atuação do magistrado no ato de julgar; 3- A construção de um modelo de processo autocrático; 4O processo como instituição constitucionalizada no Estado Democrático de Direito; 5Releitura critica do principio da imparcialidade como corolário da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais; 6- Um estudo de caso da Portaria 09/2011 da Comarca de Santo Antônio do Monte; 7Conclusão; Referências. 1. Introdução A liberdade do dedicidor julgar nos ditames de sua consciência e subjetividade, visando absolutizar e perpetuar a ideologia da justiça e da paz social é mero reflexo de um concepção autocrática e de um modelo de processo que se desenvolve a partir do entendimento teórico de que a jurisdição é uma atividade pessoal do magistrado, cuja legitimação decorre de argumentos e de fundamentos pressupostos que coincidem com a sacralização e a divinização da pessoa do julgador. A construção de todo o pensamento teórico concernente, especificamente, ao processo e a jurisdição encontra-se diretamente vinculado à autoridade do juiz, pessoa dotada, no entendimento da maioria dos estudiosos, de 32 Doutor em Direito Processual pela Pucminas. Mestre em Direito Processual pela Pucminas; Especialista em Direito Processual e Especialista em Direito de Família pela Pucminas. Bacharel em Direito pela Universidade Federal de Uberlândia. Advogado militante nas comarcas de Belo Horizonte e Pará de Minas. Professor da graduação em Direito da Faculdade de Pará de Minas; Faculdade Pedro Leopoldo e Faculdade Pitágoras Unidade Divinópolis. Professor da pós-graduação lato sensu em Direito Processual do Instituto de Educação Continuada da Pucminas. Membro do Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Relator da Comissão de Ética e Disciplina da OAB/MG- Belo Horizonte. Membro do Grupo de Estudos Metodológicos da Universidade Federal de Uberlândia –GEM/UFU. Email: [email protected]. uma sabedoria inata capaz de diluir e solucionar os conflitos de interesses a partir de sua percepção individual, pressuposta e inata sobre o que é o justo. O maior desafio da Filosofia e da Ciência do Direito é compreender a amplitude polissêmica, dicotômica e, muitas vezes, vazia sobre o justo sem incorrer na clássica armadilha da utilização da subjetividade e da consciência como referenciais para explicar a justiça. É exatamente nessa realidade utilitarista e pragmática que se encontra inserida a sociedade cognominada pós-moderna, mas que ao mesmo tempo convive com a universalização de ideologias pautadas na irracionalidade e na subjetividade daquele que decidirá. O que propõe a presente pesquisa é demonstrar a necessidade de os estudiosos apresentarem proposições teóricas construídas a partir da Hermenêutica Constitucional Democrática, que representa o contraponto da discricionariedade do juiz, cujo referencial são juízos axiologizantes e de equidade. A imparcialidade do juízo não pode trazer no seu bojo a ideologização de neutralidade do juiz, até porque, no momento de decidir o julgador obrigatoriamente tem que se posicionar e não agir com neutralidade. O que é preciso compreender inicialmente é que imparcialidade é um principio corolário da obrigatoriedade de fundamentação jurídico-constitucional de todos os atos processuais, ou seja, consiste na superação da prevalência de argumentos metajurídicos e subjetivos como referenciais para decidir o caso concreto. Mesmo sabendo-se que o julgador é uma pessoa que sofre influência da sociedade, dos costumes e da cultura onde se encontra inserido, sabe-se que a leitura mais coerente e adequada com a processualidade democrática é aquela que privilegia a argumentação, a interpretação e a leitura jurídica das pretensões deduzidas em juízo, em detrimento da utilização da emoção, do mito do justo e da tradição de que o juiz é o sujeito legitimado a distribuir a justiça entre aquelas pessoas envolvidas em determinado conflito de interesses. É nesse contexto que se pretende demonstrar que a consciência do julgador não pode ser o norte a reger e a conduzir a construção da decisão judicial. No momento em que uma pretensão é levada ao Judiciário a última expectativa do jurisdicionado deve ser aquela referente à opinião ou à visão subjetiva do julgador sobre um determinado caso concreto. O direito de ação no Estado Democrático materializa-se na oportunidade que o jurisdicionado tem de não se submeter a uma jurisdição sacerdotal, de poder discutir efetivamente as questões de fato e de direito que integram o mérito da pretensão deduzida em juízo e, acima de tudo, obter um provimento discursivamente construído pelas partes interessadas a partir de um debate que se desenvolve mediante critérios objetivamente jurídicos, em que a subjetividade do julgador fica para segundo plano, devendo prevalece a Hermenêutica Constitucional como referencial para a análise da pretensão deduzida. A crítica jurídica é o parâmetro para a apresentação de proposições teóricodemocráticas, cujo propósito é viabilizar a superação de um modo de pensar o direito a partir de valores, ideologias, subjetividade e argumentações pressupostas. É necessário a ressemantização do discurso jurídico, para construir uma Hermenêutica em que seja viável efetivamente pensar o direito na perspectiva epistemológica, buscando-se superar o dogmatismo jurídico, considerado o referencial para a perpetuação daquela concepção positivista, taxonômica e engessada através da qual o máximo que o julgador consegue desenvolver é a reprodução do Direito decorrente de sua subjetividade e da mera adequação do fato à norma juridica. O provimento final deverá ser reflexo da ampla discursividade das questões de fato e de direito que integram o mérito processual, cuja construção deverá decorrer do exercício do contraditório, da ampla defesa, da isonomia processual, do devido processo legal e da obrigatoriedade de fundamentação jurídica coerente com a pretensão deduzida. Os limites de atuação dos magistrados são definidos pelo principio da legalidade, o que implica dizer que constitui dever do julgador apreciar e se posicionar juridicamente sobre todas as questões suscitadas pelas partes no âmbito processual. Todas as vezes que o magistrado se esquiva, fica inerte ou se omite quanto à análise jurídica de uma ou mais questões fático-jurídicas trazidas pelas partes no processo haverá a configuração do cerceamento de defesa, tendo em vista constituir seu dever a análise jurídica de tudo o que for alegado e tiver relação direta ou indireta com a pretensão deduzida em juízo. 2. A dogmática como fundamento da norma jurídica posta e pressuposta frente á liberdade do dedicidor no ato de julgar: uma breve revisitação da historicidade da atuação do magistrado no ato de julgar A consciência do juiz na tradição européia é um tema que permeia toda a história da humanidade. Esse breve resgate histórico nos permite compreender a formação do pensamento ideológico vigente de que a figura do juiz se equipara à de entidades divinizadas. Sob o ponto de vista cronológico, é historicamente difícil situar o surgimento do juiz oriental, de forma a expor linearmente o desenvolvimento de sua função, tendo em vista que durante os períodos antigos da história o poder de julgar pertenceu, durante muito tempo, aos chefes de família (LAFONT, 2010, p. 25-26). No período do Direito Romano “a consciência do juiz constitui, em geral, um dado estrutural da ontologia do direito e, inversamente, o direito é o testemunho da consciência moral” (TOUYA, 2010, p. 59). No período medieval verifica-se que a consciência do juiz é, antes de tudo, cristã, tendo em vista que tem deveres para com Deus, o Juiz supremo e modelo para os juizes terrenos (CARBASSE, 2010, p. 80). No período da Idade Moderna o juiz passa a exercer suas atribuições de modo livre, vinculando-se à norma jurídica se considerá-la justa, podendo, inclusive, violála em nome de um principio moral ou religioso que ele considere superior (SCHIOPPA, 2010, p. 113). Especificamente na França do século XVI o ato de julgar se equiparava a uma função divina, visto que o pensamento jurídico da época encontrava-se diretamente impregnado pelos preceitos advindos das Sagradas Escrituras (THIREAU, 2010, p. 157). Ainda no século XVI os magistrados franceses permanecem fiéis à tradição cristã e à voz de Deus (ZAGAMÉ, 2010, p. 185). O século XIX caracteriza-se pela superação do pensamento sistemático legado pelo jusnaturalismo e o advento do racionalismo jurídico, que culminou com a positivação do direito escrito emanado de um poder constituído responsável pela sistematização da norma jurídica a partir de regras costumeiras. Trata-se de um direito posto pelo legislador no contexto de um Estado absolutista, que refletia claramente a ideologia de perpetuação da autoridade estatal mediante a pulverização da proclamação da universalização dos direitos à igualdade e liberdade (FERRAZ JUNIOR, 2003, p. 72-73). Sob o ponto de vista crítico, pode-se afirmar que o direito proposto pelo Estado Liberal é de cunho essencialmente individualista e que no contexto processual representou significativa contribuição teórica para a construção de um modelo de processo através do qual o juiz obrigatoriamente se colocava em posição hierarquicamente superior às partes, exercendo a jurisdição como uma atividade pessoal voltada à distribuição da justiça e da paz social entre as pessoas envolvidas direta ou indiretamente em conflitos de interesses. O juiz do século XIX começa a ser visto com o sujeito dotado de uma percepção inata de justiça e, por isso, utiliza essa sua sabedoria sacerdotal no ato de interpretação e de aplicação da lei. É por isso que se pode afirmar que “o juiz do século XIX não trata a fundamentação de suas decisões de maneira tão fria quanto seu antecessor” (BEIGNIER, 2010, p. 327). Com o advento do positivismo jurídico verifica-se na atuação do juiz do século XIX a tendência de adequação do fato a norma, ou seja, “o juiz do século XIX tem por missão aplicar estritamente a vontade legisladora (A) que ele chegará, às vezes, a elucidar por referências aos métodos tradicionais de interpretação da lei (B)” (BEIGNIER, 2010, p. 329). O que se pode depreender desse período da história da humanidade é que a aplicação do direito ao caso concreto ficou um tanto engessada pelas proposições juspositivistas perpetradas pelo legislador. A atuação dos magistrados em adequar o caso concreto à letra fria da lei retirava qualquer possibilidade das partes em obter um provimento jurisdicional suficiente a levar em consideração as peculiaridades fáticas e os desdobramentos jurídicos específicos da pretensão deduzida em juízo. Em 1868, o jurista alemão OskarvönBülow, autor da Teoria das Exceções e dos Pressupostos Processuais, e considerado precursor do Movimento do Direito Livre (LEAL, 2008, p. 45), propõe que o processo é uma relação jurídica33 entre pessoas (juiz, autor e réu) em que o juiz é considerado o intérprete especializado da lei, exerce a jurisdição como uma atividade pessoal e se coloca hierarquicamente em posição superior às partes envolvidas no conflito de interesses. A jurisdição era vista como o poder-dever do juiz dizer o direito no caso concreto, ressaltando-se que dizer o direito poderia consistir em adequar o fato à norma; deixar de aplicar a norma se considerá-la injusta ou criar a norma mais adequada ao caso concreto. A atividade jurisdicional não se submetia a qualquer tipo de controle, tendo em vista que o julgador detinha ampla liberdade no ato de decidir, haja vista que o seu compromisso era garantir às partes uma decisão judicial 33 Essa relação jurídica processual, a própria essência do processo, diversamente do que ocorre com as demais relações jurídicas, caminha gradualmente, encontrando-se emcontínuo movimento. Enquanto as relações jurídicas de direito privado – que constituem o objeto da atividade judicial – aparecem apenas quando já concluídas; a relação processual é percebida desde a origem e concluise por meio de um contrato de direito público pelo qual o juiz assume a obrigação de decidir (declarar e atuar o direito deduzido em juízo), e as partes se obrigam a submeter-se ao resultado dessa atividade (AGUIAR; COSTA; SOUZA; TEIXEIRA, 2005, p. 23). justa. Nesse contexto, sabe-se que o principio da imparcialidade estava intrinsecamente relacionado com o conceito de justiça subjetivamente definido pelo juiz no ato de julgar. É a partir da obra de Bülow que se identifica a proliferação do dogma da jurisdição enquanto atividade pessoal do julgador34, o que certamente levou o jurista mineiro Ernane Fidelis dos Santos afirmar que “para assegurar a imparcialidade do Juiz, é ele dotado de completa independência, a ponto de não ficar sujeito, no julgamento, a nenhuma autoridade superior. No exercício da jurisdição o juiz é soberano. Não há nada que a ele se sobreponha. Nem a própria lei” (STRECK, 2012, p. 35). Isso evidencia claramente que a atividade jurisdicional não se submete a qualquer tipo de controle, tendo em vista que “depois de tantos anos, os juízes aprendem como moldar seu sentimento aos fatos trazidos nos autos e ao ordenamento jurídico em vigor. Primeiro se tem a solução, depois se busca a lei para fundamentá-la” (STRECK, 2012, p. 35). Está impregnada entre os juristas a clássica ideologia de que o juiz é um ser humano que no ato de decidir deve levar em consideração suas convicções pessoais com o condão de conseguir construir uma decisão justa. Dessa forma, abandona-se o projeto de construção de uma Hermenêutica Constitucional como referencial teórico e objetivo para as decisões para utilizar como referenciais no ato de julgar a justiça, a criatividade e a sensibilidade do juiz. Nesse sentido se posiciona Lídia Reis de Almeida Prado ao afirmar que “A restrição do Direito à norma – de caráter abstrato e geral – não consegue conviver com a nova lei de justiça, que implica uma grande confiança no poder criativo do julgador, de quem se espera uma sensibilidade muito refinada para lidar com o sempre mutante contexto social” (2010, p. 88). Admitir que um julgador decida a partir de sua criatividade e senso de justiça é uma forma clara de reconhecer e legitimar a violação do principio da segurança 34 Para além da operacionalidade stricto sensu, a doutrina indica o caminho para a interpretação, colocando a consciência ou a convicção pessoal como norteadores do juiz, perfectibilizando essa “metodologia” de vários modos. E isso “aparecerá” de várias maneiras, como na direta aposta na: a) interpretação como ato de vontade do juiz ou no adágio “sentença como sentire”; b) interpretação como fruto da subjetividade judicial; c) interpretação como produto da consciência do julgador; b) crença de que o juiz deve fazer a “ponderação de valores” a partir de seus “valores”; e) razoabilidade e/ou proporcionalidade como ato voluntarista do julgador; f) crença de que “os casos difíceis se resolvem discricionariamente”; g) cisão estrutural entre regras e princípios, em que estes proporciona (ria) uma “abertura se sentido” que deverá ser preenchida e/ou reproduzida pelo intérprete (STRECK, 2012, p. 33). jurídica. Ou seja, no momento em que o jurisdicionado é surpreendido com uma decisão decorrente das convicções pessoais (e não das percepções jurídicoconstitucionais) do julgador acerca do caso concreto, certamente é violado no que tange a proteção de seus próprios Direitos. Assim, o judiciário passa a ser visto como um recinto em que nem sempre os direitos dos jurisdicionados são protegidos. A proteção jurídica dos direitos das partes, nesse contexto, fica absolutamente condicionada às convicções pessoais, às crenças e a forte carga de subjetividade do julgador quando da análise do caso concreto. Nesse contexto teórico, a sentença ou qualquer decisão judicial é vista como um ato de vontade solitária do julgador, do decisionismo, do solipsismo, ou seja, o principio da imparcialidade fica reduzido ao juízo da autoridade de quem decide, algo que contraria absolutamente a Hermenêutica Constitucional , considerada um ramo da Filosofia do Direito que tem como escopo trazer maior objetividade, racionalidade e critérios científicos no ato de pensar o Direito e de definir os critérios mais adequados constitucionalmente para a análise das pretensões deduzidas em juízo sob o prisma da processualidade democrática. A reprodução desse modelo ontológico é a forma mais clara de conferir discricionariedade ao juiz no ato de decidir, tendo como referencial o paradigma epistemológico da filosofia da consciência “que se faz presente no imaginário dos juristas” e umbilicalmente vinculado ao sujeito solipsista, produto e reflexo direto do positivismo jurídico” (STRECK, 2012, p. 57). Importante ressaltar que a critica que se faz à discricionariedade do juiz no ato de julgar não representa uma proibição de interpretar o direito a ser aplicado ao caso concreto. A compreensão do principio da imparcialidade sob o viés democrático pressupõe a definição de critérios lógicos, constitucionalizados, jurídicolegais e objetivos de ver, analisar, interpretar, compreender e apreciar as peculiaridades vinculadas a cada pretensão deduzida em juízo. O principio da imparcialidade nada mais é do que a parcialidade do juízo vista como corolário da obrigatoriedade de fundamentação jurídica das decisões judiciais. Trata-se da superação da subjetividade do julgador pela Hermenêutica Constitucional Democrática dos Direitos Fundamentais. Para Lênio Luiz Streck “[...] o drama da discricionariedade que critico reside no fato de que esta transforma os juízes em legisladores. E, para, além disso, esse poder discricionário propicia a criação do próprio objeto do conhecimento, típica manifestação do positivismo” (2012, p. 93). A intensa carga axiológica e metajurídica no ato de julgar são questões que ultrapassam a esfera do debate jurídico justamente pelo fato do respectivo tema não ser, na maioria das vezes, objeto de compreensão a partir da Hermenêutica Constitucional, considerada como referencial teórico para a implementação dos Direitos Fundamentais no Estado Democrático. A própria etimologia da palavra sentença relaciona-se diretamente ao sentimento do juiz no ato de decidir35. Para LuisRecasénsSiche, citado por Lídia Reis de Almeida Prado, “”[...] na produção do julgado, destaca-se o papel do sentimento do juiz, cuja importância fica evidenciada pela etimologia da palavra sentença, que vem de sentire, isto é, experimentar uma emoção, uma intuição emocional” (2010, p. 18). A intuição como critério regente das decisões judiciais traz no seu bojo a significação de que o jurisdicionado encontra-se em absoluta condição de subserviência ao subjetivismo do julgador. Nesse mesmo sentido, Joaquim Dualde afirma que “[...] torna-se necessário que o juiz utilize a sensibilidade e a intuição como método de penetrar na realidade, corrigindo as desfigurações advindas da busca do conhecimento através de conceitos” (PRADO, 2010, p. 19). Tais entendimentos perpetrados pelos estudiosos ora mencionados denotam claramente que os julgadores são vistos como pessoas pressupostamente dotadas de uma sabedoria inata, de natureza divino-sacerdotal, com a responsabilidade de assegurar às partes uma decisão justa, produto de seu sentimento e subjetividade. Seriam os magistrados pessoas escolhidas por entidades míticas para fazer valer a justiça entre os homens? No Brasil, o jurista Miguel Reale, ao propor sua Teoria Tridimensional do Direito, enfatiza a necessidade da humanidade do juiz na implementação da justiça, uma vez que os juízos valorativos (subjetividade do julgador) devem ser vistos como os referenciais lógicos do magistrado no ato de julgar (PRADO, 2010, p. 22-23). Esses autores certamente contribuem para a mitologização da figura do juiz como entidade divinizada e garantidora da justiça aos jurisdicionados, reforçando 35 O juiz aplica a lei em sua alma e consciência. Essa fórmula sacramental e ritualizada encerra uma conotação mística, e encontra suas raízes na história. Possui, igualmente, uma conotação moral, uma vez que, segundo a opinião comum, ela significa que continuamos a nos dirigir ao juiz para lhe pedir que pronuncie o bem e o mal (COULON, 2010, p. 387). substancialmente a autoridade e a autocracia daquele sujeito responsável por decidir. O próprio uso da toda traz simbolicamente o exercício do poder e da autoridade do juiz no ato de decidir, conforme preceitua Joseph Campbell: “Quando o juiz adentra ao recinto de um tribunal e todos se levantam não estão se levantando para o individuo, mas para a toga que ele veste e para o papel que ele vai desempenhar”. Nesse mesmo sentido sabe-se que “quando se torna juiz um homem deixa de ser o que era e passa a ser o representante de uma função eterna [...]. As pessoas percebem que estão diante de uma personalidade mitológica” (1993, p. 12). Dotados de uma potencialidade inata de pensar, sentir, agir e decidir de forma justa, esse arquétipo de juiz ideologicamente construído para representar o poder do Estado vem corroborar o fenômeno do mito da autoridade, da subordinação da massa de jurisdicionados e de perpetuação da estabilidade social tão idealizada. Os símbolos da Deusa da Justiça, da toga, da retórica, do uso habilidoso da palavra, da intervenção estatal nas liberdades individuais são todos exemplos que visam demonstrar o poder do Estado materializado na pessoa do juiz, sujeito legitimado a representá-lo, distribuir a justiça entre os homens e, se necessário for, utilizar-se da força como forma de garantir a manutenção da autoridade e do poder. Para esses estudiosos a sensibilidade e a criatividade do juiz é uma forma legitima para assegurar a justiça e a democracia de suas decisões. Considerando-se que o Estado Democrático de Direito tem como um dos seus pilares o sistema participativo, o principio da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, da isonomia processual, do devido processo legal, a obrigatoriedade de fundamentação jurídica das decisões judiciais e o dever de implementação dos Direitos Fundamentais previstos no plano constituinte e instituinte, pode-se afirmar que os respectivos argumentos e proposições são de natureza peremptória e pautada em juízos a priori, além de serem absolutamente contrários às proposições teóricas utilizadas como referencial para entender o que é o Estado Democrático de Direito. Tal critica cientifica justifica-se no sentido de que a jurisdição constitucional não pode ser vista como uma atividade pessoal do julgador, tendo em vista que está constantemente sujeita à ampla e irrestrita fiscalidade, sempre que o julgador fizer prevalecer sua subjetividade e emoção em detrimento da construção participada e discursiva do provimento final, produto de critérios objetivamente jurídicos e decorrentes da Hermenêutica Constitucional. O processo visto como uma instituição constitucionalizada e lócus da ampla discursividade e fiscalidade da atuação jurisdicional deve ser compreendido como um recinto de formação participada do mérito processual por todos os interessados no provimento final. Por isso, a decisão final não pode ser reflexo de meras conjecturas metafísicas, metajurídicas e axiológicas, e nem do decisionismo pautado na ideológica concepção de justiça decorrente do pessoalismo do julgador. A imparcialidade do juízo (não do juiz enquanto pessoa, haja vista que a jurisdição no Estado Democrático de Direito não é uma atividade pessoal do julgador) é a garantia assegurada ao jurisdicionado de que sua pretensão será objetivamente apreciada a partir de argumentos e fundamentos de ordem jurídicoconstitucional. 3. A construção de um modelo de processo autocrático. A partir dos séculos XVIII e XIX são desenhados de forma mais clara e evidente os contornos de um modelo de processo decorrente de raízes contratuais, ou seja, a relação processual “se constituía pela contratual aceitação prévia dos contendores em acatar a decisão do juiz” (LEAL, 2009, p. 77). Em 1850 Savigny sistematizou a Teoria do Processo como quase-contrato “[...] porque a parte que ingressava em juízo já consentia que a decisão lhe fosse favorável ou desfavorável, ocorrendo um nexo entre o autor e o juiz, ainda que o réu não aderisse espontaneamente ao debate” (LEAL, 2009, P. 78). A duas primeiras teorias do processo tem gênese no direito privado e são de natureza contratualista. Deixam clara a concepção autocrática de processo, uma vez que as partes são colocadas em absoluta posição de subserviência em relação ao julgador. Na verdade são obrigadas a se submeterem às determinações impostas pelo decididor. Em 1868 o jurista alemão Oskar Von Bulow, autor da Teoria do Processo como Relação Jurídica, destaca-se no cenário jurídico como o precursor do marco da autonomia do Processo ante ao direito material (LEAL, 2009, p. 78). O processo passa a ser visto como uma relação jurídica entre pessoas, relação essa a qual o julgador é colocado hierarquicamente em posição superior à partes. A validade jurídica da constituição da relação processual decorria da observância dos pressupostos processuais de existência e desenvolvimento do processo. “[..] A relação processual é percebida desde a origem e conclui-se por meio de um contrato de direito público pelo qual o juiz assume a obrigação de decidir (declarar e atuar o direito deduzido em juízo), e as partes se obrigam a submeter-se ao resultado dessa atividade” (AGUIAR; COSTA; SOUZA; TEIXEIRA, 2005, p. 23). No inicio do século XX o jurista italiano Giuseppe Chiovenda teoriza a ação como um direito voltado para garantir às partes interessadas a atuação da vontade concreta da lei, ou seja, “[...] a autonomia e independência da ação torna-se patente nos casos em que a ação tende a um bem impossível de alcançar-se por via da obrigação, só se podendo alcançar através do processo” (PIMENTA; MARQUES; QUEIROZ, VIEIRA, 2004, p. 36). A ação como um direito potestativo materializa-se na premissa de que a mesma “[...] é o poder jurídico de dar vida à condição para a atuação da vontade da lei” (PIMENTA; MARQUES; QUEIROZ, VIEIRA, 2004, p. 27). Nessa seara o processo é compreendido como uma relação jurídica através da qual o magistrado é o responsável por garantir entre as partes a efetivação da atuação da vontade concreta da lei, ou seja, “o processo surge como um instrumento de justiça nas mãos do Estado, não para manifestar a vontade da lei, porquanto essa já se formou antes (legislativamente) da existência do processo, mas, tão somente, certificar-se de qual é esta vontade e executá-la” (PIMENTA; MARQUES; QUEIROZ, VIEIRA, 2004, p. 52). Ainda na primeira metade do século XX Piero Calamandrei sistematiza o processo como uma relação jurídica conduzida diretamente pela autoridade do julgador. Mesmo propondo um modelo de processo em bases dialéticas, a concepção de processo sistematizada por Calamandrei continua reproduzindo um modelo autocrático, através do qual a relação processual é conduzida diretamente pelo julgador e subserviência das partes em se submeterem ao conteúdo do que foi unilateralmente decidido. Importante destacar nesse contexto que “o estabelecimento regular da relação processual entre as partes e perante o juiz decorre da instauração efetiva do contraditório, ou seja, da oportunização ao réu de participar diretamente da dinâmica do processo” (COSTA, 2012, p. 41). Não se pode esquecer nesse contexto que o contraditório em questão é visto na perspectiva formal, ou seja, o magistrado não fica vinculado às alegações das partes no momento em que decide e julga a pretensão deduzida, até porque, sua decisão decorrerá de seu senso inato de justiça e da percepção subjetiva, metajurídica e axiologizante que permeia as peculiaridades do caso concreto. Pautado nas concepções teóricas desenhadas por Bulow e Chiovenda, o jurista italiano Francesco Carnelutti adota a Teoria da Relação Jurídica, “para o qual o processo é visto como um método para a formação ou a aplicação do direito, ou seja, o processo consistiria numa relação jurídica de origem em normas instrumentais que determinariam poderes e sujeições para a solução da lide” (COSTA, 2012, p. 45). A justa composição da lide é o objetivo seguido pelo magistrado no modelo de processo proposto por Carnelutti, ou seja, o julgador tinha o condão de decidir de forma justa, mesmo que para isso tivesse que se vincular ao texto frio da lei; abandonar o texto frio da lei se o considerá-lo injusto ou buscar outras fontes metajurídicas como critério de construção de uma decisão considerada no seu senso subjetivo36 como justa. Fica evidente nesse cenário que o julgador é quem detém absoluta liberdade no ato de julgar, uma vez que a atividade jurisdicional não se submete a qualquer tipo de controle, haja vista que o referencial para considerar uma decisão judicial como legítima juridicamente é que a mesma seja considerada justa por quem a proferiu. Enrico TullioLiebman, jurista italiano erradicado no Brasil a partir da década de quarenta do século XX, propõe um modelo de processo centrado na idéia de relação jurídica através da qual o juiz é visto como o intérprete qualificado da lei. Ou seja, “o processo é uma relação jurídica constituída pelas partes (autor e réu), perante o Judiciário, através da qual o juiz se coloca em posição hierarquicamente superior, excluindo toda e qualquer forma de participação direta ou indireta das partes na construção do mérito processual” (COSTA, 2012, p. 52). O Código de Processo Civil brasileiro de 1973 abocanhou todas as proposições teóricas acima mencionadas e que reproduzem um modelo de processo em que o julgador é o verdadeiro legitimado a conduzir toda a relação processual. Pautado na ideologia do julgamento justo, o juiz tem liberdade para valorar provas e conduzir toda a instrução processual de modo a formar seu convencimento. Ressalta-se que esse convencimento do julgador normalmente materializa a 36 A quase totalidade dos processualistas envolvidos pelo fascínio de argumentos que se desenvolvem em nome da justiça social e de indicações estratégicas de ação, insiste em conceituar o processo como relação jurídica entre pessoas (autor, réu e juiz) impregnando o direito e a jurisdição de subjetividade do juiz, como se ele, mediante sua sensibilidade, pudesse canalizar os sentimentos da nação, colocando os sujeitos de direito como meros expectadores da ordem jurídico-política” (ALMEIDA, 2005, p. 64-65). concepção através da qual a decisão precisa ser justa, mesmo que seja necessário utilizar-se de critérios metajurídicos como referenciais para decidir. Esse é o modelo autocrático37 de processo objeto da respectiva crítica científica, cujo decisionismo decorre da percepção pessoal que o juiz tem acerca do caso concreto, entendimento esse que não se compatibiliza com a processualidade democrática pautada em proposições de cunho jurídico-constitucional. 4. O processo como instituição constitucionalizada no Estado Democrático de Direito. A Constituição brasileira de 198838 trouxe uma proposta teórica de um modelo de processo visto essencialmente como um lócus da formação participada do mérito processual através da atuação direta de todos os interessados juridicamente na pretensão deduzida. Os próprios destinatários do provimento são seus co-autores. O contraditório39 é visto como um princípio constitucional explícito que legitima todos os interessados no direito de argumentação fática e jurídico-legal da questão (ponto controverso) levado ao Judiciário. A implementação do contraditório decorre da obrigatoriedade de o magistrado ter que se posicionar e fundamentar juridicamente toda questão suscitada pelos interessados no provimento. No momento em que o julgador se esquiva ou se omite quanto à apreciação de uma ou mais questões suscitadas pelas partes deixa de assegurar efetivamente o principio do contraditório 37 A concepção do processo como relação jurídica entre as pessoas, desenvolvida por Bülow em 1868, foi aprimorada por Chiovenda, Carnelutti, Liebman e predomina nos códigos e leis processuais. Admite que o processo é um vínculo entre sujeitos (juiz, autor e réu), em que um pode exigir do outro uma determinada prestação, conduta. Segundo esta teoria, o processo instaura a subordinação entre as partes e o juiz (ALMEIDA, 2005, p. 62). 38 A partir daí, a institucionalização do processo efetivada pela Constituição de 1988 determina que o ato judicante não mais pode ser abordado como instrumento posto à disposição do Estado para atingir objetivos metajurídicos por via da atividade solitária do julgador. A justiça não mais é do julgador, mas a do povo (fonte única do Direito), que a faz inserir em leis democraticamente elaboradas. Assim, no plano decisional, o contraditório, referido no art. 5º, LV, da CR/88, deve ser entendido, na atualidade, como principio constitucional que atua como referente inafastável na leitura do Código de Processo Civil e da legislação procedimental no plano infraconstitucional. O contraditório, como componente de uma estrutura jurídico-institucional, passa a impor, per se, modificações à própria idéia de Processo (LEAL, 2002, p. 102-103). 39 Mais do que garantia de participação das partes em simétrica paridade, portando, o contraditório deve efetivamente ser entrelaçado com o princípio (requisito) da fundamentação das decisões de forma a gerar bases argumentativas acerca dos fatos e do direito debatido para a motivação das decisões (LEAL, 2002, p. 105). no caso concreto. O cerceamento de defesa decorre essencialmente desse não enfrentamento de todas ou de parte das questões levadas pelas partes ao Judiciário. A ampla defesa também é um principio constitucional explícito que autoriza o jurisdicionado a produzir todas as provas e a se utilizar de todos os meios de provas suficientemente legítimos e coerentes com o objeto da demanda. Eventual indeferimento do pedido de produção de alguma prova40 especifica deverá ser pautado na fundamentação fática e jurídico-legal da incoerência e desnecessidade de produção da respectiva prova como referencial lógico para o esclarecimento objetivo das questões trazidas a juízo. O cerceamento de defesa fica evidente no momento em que o decididor indefere o pedido de produção de provas pautado na ideologia de que já está convencido acerca dos pontos controversos que integram a pretensão deduzida. A valoração subjetiva pelo julgador das provas produzidas em juízo, absolutamente desvencilhada da racionalidade discursiva, torna a decisão judicial nula e contrária ao texto constitucional. Já o principio do devido processo legal41, também explicitamente previsto no texto constitucional, deverá ser inicialmente compreendido como o direito que o jurisdicionado tem de não ser surpreendido com uma decisão solitariamente proferida pelo magistrado. Trata-se de principio que garante às partes interessadas o direito de serem efetivamente co-autores do provimento jurisdicional, de modo a interferir e participar diretamente da construção discursiva da decisão que é mero reflexo daquilo que foi objeto do debate realizado pelas partes no âmbito processual. A constitucionalização do processo é a forma utilizada para garantir a legitimidade democrática das decisões. A obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais é uma garantia assegurada ao jurisdicionado de que não será 40 Nessa perspectiva, portanto, torna-se patente a obsolescência das abordagens tradicionais a que nos referimos, principalmente quanto à apreciação da prova, porque, como visto, fixam-se somente no fato de que o julgador está adstrito a fundamental racionalmente suas decisões – o que não basta ao novo processo constitucionalizado. A questão de fundo que é deslembrada pela afirmativa de que o juiz é livre para decidir, bastando que motive racionalmente sua decisão, é exatamente da própria racionalidade decisional no Estado Democrático de Direito, porque o juiz, mediante mera indicação de textos legais e de fórmulas de que se utiliza para aplicação das normas ao caso posto extirparia das partes o direito fundamental de construir discursivamente a própria racionalidade decisória (LEAL, 2002, p. 104-105). 41 A viga-mestra do processo constitucional é o devido processo legal, cuja concepção é desenvolvida tomando-se por base os pontos estruturais adiante enumerados, que formaram o devido processo constitucional ou modelo constitucional do processo a) o direito de ação (direito de postular a jurisdição); b) o direito de ampla defesa; c) o direito ao advogado ou ao defensor público; d) o direito ao procedimento desenvolvido em contraditório; e) o direito à produção da prova; f) o direito ao processo sem dilações indevidas; g) o direito a uma decisão proferida por órgão jurisdicional previamente definido no texto constitucional (juízo natural ou juízo constitucional) e fundamentada no ordenamento jurídico vigente (reserva legal); h) o direito aos recursos (DIAS, 2010, p. 92-93). surpreendido por conjecturas subjetivas decorrentes do senso inato de justiça que macula a atividade jurisdicional. Nesse sentido se posiciona Ronaldo Bretas de Carvalho Dias A importância do principio da fundamentação das decisões jurisdicionais é demonstrada ao se constatar sua recepção em enunciados normativos expressos nos ordenamentos jurídicos modernos, quer no plano constitucional, quer no plano infraconstitucional, impondo aos órgãos jurisdicionais do Estado o dever jurídico de motivarem seus pronunciamentos decisórios, visando a afastar o arbítrio judicial, caracterizado por anômalas ou patológicas intromissões de ideologias do julgador na motivação das decisões, de forma incompatível com os princípios que estruturam o Estado Democrático de Direito (2010, p. 125-126). A revisitação teórica do modelo de processo calcado em raízes autocráticas passa diretamente pela constitucionalização do discurso utilizado como referencial para a construção dos provimentos jurisdicionais. Trata-se da forma mais adequada, legítima e coerente de criticar juridicamente o arbítrio do julgador no ato de decidir. A segurança jurídica do jurisdicionado quanto aos provimentos está diretamente vinculada ao direito que o mesmo tem de não ter sua pretensão julgada a partir de argumentos axiologizantes. A Hermenêutica Constitucional deve ser o referencial lógico e jurídico das decisões judiciais, ou seja, o magistrado, a partir de uma análise e apreciação minuciosa de todas as questões trazidas pelas partes deverá encontrar a argumentação jurídico-constitucional mais adequada e condizente com o caso concreto. Submeter o jurisdicionado à subjetividade do decididor é obrigá-lo a ter que suportar a absoluta insegurança jurídica de se ver obrigado a aderir à decisão ora proferida solitariamente pelo magistrado. 5. Releitura crítica do principio da imparcialidade como corolário da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais. Imparcialidade do juízo é o direito que o jurisdicionado tem de que sua pretensão será objetivamente julgada a partir de critérios de cunho jurídicoconstitucional. Ou seja, a imparcialidade não se confunde com a neutralidade. Imparcial é o julgador que se posiciona diante do caso concreto, utilizando-se de fundamentos de natureza constitucional. Neutro é todo aquele juiz que se esquiva de se posicionar quanto ao caso concreto, proferindo uma decisão obscura, que muitas vezes não garante nem nega direitos ao jurisdicionado. A imparcialidade é um principio jurídico que precisa ser revisitado. Agir com imparcialidade é o mesmo que decidir de forma parcial, fundamentando jurídicoconstitucionalmente sua decisão. É por isso que o principio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais é corolário da imparcialidade do juízo. O juiz que decide no Estado Democrático de Direito de forma imparcial é aquele que fundamenta objetivamente seu provimento, encontrando a argumentação jurídicoconstitucional mais pertinente e coerente com as questões de fato inerentes à pretensão deduzida em juízo. O principio da fundamentação das decisões jurisdicional é a garantia constitucional do processo no Estado Democrático de Direito: A importância do principio da fundamentação das decisões jurisdicionais é demonstrada ao se constatar sua recepção em enunciados normativos expressos nos ordenamentos jurídicos modernos, quer no plano constitucional, quer no plano infraconstitucional, impondo aos órgãos jurisdicionais do Estado o dever jurídico de motivarem seus pronunciamentos decisórios, visando a afastar o arbítrio judicial, caracterizado por anômalas ou patológicas intromissões de ideologias do julgador na motivação das decisões, de forma incompatível com os princípios que estruturam o Estado Democrático de Direito (DIAS, 2010, p. 125-126). Como exposto, sabe-se que a fundamentação jurídica das decisões judiciais é uma garantia constitucional assegurada a todo jurisdicionado de que suas pretensões não serão apreciadas a partir de concepções e pressuposições decorrentes da subjetividade e do pessoalismo do julgador. Nesse sentido, a imparcialidade do julgador vincula-se diretamente com a obrigatoriedade de fundamentação jurídico-constitucional de todos os seus atos, levando-se em consideração todas as peculiaridades do caso concreto. O cerceamento de defesa materializa-se quando o contraditório ou a ampla defesa não são oportunizados; quando o julgador oportuniza formalmente o contraditório, concedendo ao jurisdicionado o direito de apresentar suas alegações e simplesmente desconsiderando todas ou parte dessas alegações no momento de decidir; quando o juiz julga com base em critérios subjetivos, metajurídicos, axiológicos e absolutamente contrários às provas dos autos; quando sumariza a cognição e limita o espaço de debate legitimo das questões controversas que integram a pretensão deduzida em juízo. A releitura critica do principio da imparcialidade torna-se juridicamente relevante no momento em que se percebe que quando o magistrado decide de forma pessoal certamente cerceia o direito de defesa das partes, tornando, assim, a decisão ora proferida absolutamente nula. A superação dessa cultura jurídica da valoração do caso concreto pelo julgador passa diretamente pela Hermenêutica Jurídica, considerada o referencial teórico balizador da atividade jurisdicional, de modo que as partes interessadas compreendam e visualizem o provimento final como reflexo da leitura jurídica que o magistrado fez acerca do caso concreto e a partir de todas as alegações e argumentações de cunho fático e jurídico trazidas pelas partes ao processo. O provimento final deve ser conseqüência do debate jurídico da pretensão, ocorrido no âmbito processual, e não mera conseqüência das percepções pessoais do julgador no ato de decidir. 6. Um Estudo de Caso da Portaria 09/2011 da Comarca de Santo Antônio do Monte. No dia 30 de junho de 2011 a juíza de Direito da Comarca de Santo Antônio do Monte, Estado de Minas Gerais, editou a Portaria 09/2011 proibindo a distribuição no Juizado Especial Cível de execuções extrajudiciais e ações de conhecimento (ações de cobrança) cujos valores sejam inferiores a um salário mínimo. A justificativa inicial utilizada como parâmetro pela douta magistrada foi a ausência de efetividade processual no recebimento de valores irrisórios. Os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, economicidade e celeridade processual foram também invocados como argumento para proibir que o Judiciário mineiro fosse transformado em verdadeiro escritório de cobrança com inúmeras execuções e ações de conhecimento de valor irrisório. Importante esclarecer que no mês de março de 2012 a respectiva portaria foi revogada por determinação da Corregedoria do Tribunal de Justiça de Minas Gerais sob o argumento de violação do principio constitucional da inafastabilidade do controle jurisdicional, expressamente previsto no artigo 5º, inciso XXXV da Constituição brasileira de 1988. De forma surpreendente, após a revogação da presente portaria, alguns advogados da Comarca de Santo Antônio do Monte publicaram manifesto de apoio à juíza de Direito responsável pela edição da Portaria 09/2011, momento em que apresentam os seguintes argumentos e justificativas: MANIFESTO DE APOIO À DRA. LORENA TEIXEIRA VAZ DIAS COM RELAÇÃO A PORTARIA Nº 09/2011 OS ADVOGADOS QUE ESTA SUBSCREVEM, militantes na Comarca de Santo Antônio do Monte/MG, vem manifestar total apoio à Portaria da MM. Juíza de Direito, Dra. Lorena Teixeira Vaz Dias, que estipulava valor mínimo para ingresso com ações de cobrança perante o Juizado Especial Cível da Comarca de Santo Antônio do Monte/MG, mas que contudo fora revogada, o que fazem utilizandose deste meio de comunicação: A honrada Comarca de Santo Antônio do Monte, cuja instalação data de 30/03/1892, sempre teve o privilégio de ter uma Justiça célere, seja por causa dos Juízes, Promotores, Serventuários e dos próprios advogados que aqui militam ou já militaram. Dificilmente nesta Comarca um processo tem ou teve seu trâmite além do esperado, ou seja, distribuições ágeis, serventuários promovendo rapidamente os processos, prazos de conclusão para os Juízes rápidos, intervenções do Ministério Público em tempo oportuno. O que foi dito acima permanece sendo uma realidade relativamente aos feitos que tramitam na Justiça Comum. Porém, relativamente ao Juizado Cível, infelizmente já não se pode dizer o mesmo. Desde que a existência do Juizado Cível passou a ser notória nesta Comarca, infelizmente, muitas pessoas passaram a utilizá-lo como um verdadeiro “balcão de cobrança”. Consequentemente, mais e mais ações passaram a tramitar perante o Juizado, especialmente ações de cobrança. E mais, cobranças de R$30,00, R$50,00, R$200,00 e, assim por diante, inundaram o Juizado, ocasionando então a “quebra da tradição” desta Comarca de rapidez na prestação jurisdicional. Como se não bastasse, a maioria destas cobranças ínfimas são destinadas a devedores notórios da Comarca, que ainda que tivessem condições não pagariam o que lhes é cobrado. Assim, uma lei que a princípio foi instituída para imprimir maior agilidade no Judiciário (Lei nº 9.099/95), acabou por fazer efeito inverso, ao menos na Comarca de Santo Antônio do Monte (BRASIL, 2014)42. 42 Disponível https://www.facebook.com/permalink.php?id=121433507954181&story_fbid=245921642172033. Acesso em 25 jun. 2014. em Contrariando toda a lógica jurídica, a legislação infraconstitucional e as normas constitucionais o respectivo manifesto utilizou-se de argumentos de cunho metajurídico com o condão de limitar o acesso à jurisdição aos cidadãos que pretendiam receber legitimamente seus créditos perante o Judiciário. No momento em que houve a negativa da jurisdição, questiona-se: o cidadão que foi proibido de exigir judicialmente um crédito e, em razão disso, foi surpreendido com a prescrição, de quem seria a responsabilidade civil? Esse é um dentre tantos outros questionamentos surgidos em razão dessa negativa de prestação jurisdicional decorrente do exercício arbitrário da jurisdição. Inexistem fundamentos coerentes para justificar a validade jurídica da respectiva Portaria perante o Direito brasileiro, pelos argumentos e justificativas a seguir expostos. A Lei 9009/95, ao instituir os Juizados Especiais Cíveis, em seu artigo 3º, inciso I é clara ao estabelecer que o Juizado Especial Cível tem competência para o processamento e julgamento de causas cíveis de menor complexidade, cujo valor não exceda a quarenta salários mínimos. Pela análise da literalidade do texto legal verifica-se que em momento algum o legislador infraconstitucional estabeleceu um valor mínimo como condição para a propositura de ação de cobrança ou de execução junto ao Juizado Especial Cível. No momento em que a magistrada editou a respectiva Portaria usurpou de sua função, extrapolando o exercício legitimo da jurisdição, ou seja, considerando-se que a atividade típica do julgador é apreciar objetivamente as pretensões deduzidas em juízo não teria, assim, legitimidade para legislar contrariamente ao próprio texto legal. Configura-se, assim, clara violação ao principio constitucional da separação das funções estatais. Certamente a edição da portaria em questão decorre de toda uma tradição historicista que ideologiza a figura mítico-transcendental do magistrado que, no exercício de suas atribuições, pensa, certamente, que sua atividade não se submete a qualquer tipo de controle ou limite imposto pelo texto constitucional e legislação infraconstitucional. Está evidente, no presente caso, a utilização da subjetividade da magistrada no ato em que editou a respectiva portaria, uma vez que tal diploma de cunho legislativo é mero reflexo das percepções pessoais levantadas pela juíza na comarca onde atua. Verifica-se, assim, que a subjetividade do julgador, além de ser critério utilizado nos julgamentos, também é um parâmetro muitas vezes, utilizado para limitar ou retirar do jurisdicionado do direito de amplo acesso à jurisdição. No momento em que a magistrada publicou a portaria em questão certamente se colocou acima do próprio texto constitucional, que é claro e categórico ao estabelecer que o acesso à jurisdição é um Direito Fundamental consagrado expressamente na Constituição brasileira de 1988. A própria edição e aprovação da Lei 9099/95 é reflexo de todo um movimento jurídico, político e social de ampliação e de democratização das vias de acesso ao Judiciário. Reconhecer como válida a presente portaria é contrariar todas essas conquistas jurídicas e legitimar o arbítrio do julgador decorrente de um modelo de processo autocrático. Outro argumento coerente para a crítica jurídica em tela encontra-se no principio da supremacia da constituição e no principio da reserva legal, considerados dois referenciais teóricos para o modelo de processo constitucional. A jurisdição é um Direito Fundamental considerado corolário ao exercício efetivo da cidadania e nesse sentido Luis Roberto Barroso afirma que “por força da supremacia constitucional, nenhum ato jurídico, nenhuma manifestação de vontade pode subsistir validamente se for incompatível com a Lei Fundamental” (2009, p. 165). O processo deve ser visto como uma garantia constitucional do cidadão contra qualquer tipo de abuso praticado no âmbito jurisdicional e nesse sentido Ronaldo Bretas de Carvalho Dias é pontual ao afirmar que “os únicos critérios diretivos para o exercício da função jurisdicional [...] são aqueles ditados pelo principio da permanente vinculação dos atos da jurisdição ao Estado Democrático de Direito” (2010, Pp. 119). Sabe-se que a constitucionalização do processo é a forma mais legitima de superação, pelo menos sob o ponto de vista teórico, do modelo de processo autocrático e centrado na autoridade sacerdotal e decorrente da subjetividade do decididor. 7. Conclusão O modelo autocrático de processo vigente no Brasil, estampado nos Códigos e Legislações Processuais, legitima a atuação soberana do julgador, permitindo-lhe decidir com base em fundamentos de cunho metajurídico, axiologizante e pessoal. É nesse cenário que encontramos a valoração de provas pelos julgadores e a ideologização das decisões justas. A função mítica do juiz é garantir a perpetuação da justiça entre os homens e, para alcançar as cognominadas decisões justas, poderá o julgador decidir exatamente com base no texto literal da lei; julgar contrário ao texto de lei se considerá-lo injusto ou criar a própria lei aplicada ao caso concreto, em caso de lacuna, pautando-se nos costumes, analogias e outras fontes estranhas à Hermenêutica Jurídica. A jurisdição é vista como o sacerdócio da justiça, uma vez que atividade do magistrado não se submete a qualquer tipo de controle, senão àquele decorrente de sua própria consciência e percepção pessoal do caso concreto. Um Estado que legitima a atuação soberana dos magistrados certamente coloca o jurisdicionado em absoluta condição de subserviência aos abusos e arbítrios decorrentes do exercício ilegítimo da jurisdição. Contrapondo-se a todas essas proposições teóricas decorrentes da dogmática jurídica encontramos o modelo de processo pautado nos princípios da supremacia da Constituição, reserva legal, obrigatoriedade da fundamentação das decisões judiciais, contraditório, ampla defesa, direito ao advogado e devido processo legal. Com o advento da Constituição brasileira de 1988 o processo deixa de ser um recinto de perpetuação do arbítrio do julgador e passa a ser visto com um lócus de discursividade da pretensão deduzida por todos os sujeitos juridicamente interessados na construção do provimento final. Da mesma forma a jurisdição passa a ser vista como um Direito Fundamental corolário do exercício da cidadania no Estado Democrático de Direito. Nessa seara torna-se relevante revisitar teoricamente o principio da imparcialidade, ou seja, imparcial é o julgador que decide de forma jurídicoconstitucionalmente parcial o mérito processual da pretensão deduzida. Parcial é o magistrado que profere julgamentos pautados em argumentos metajurídicos e axiológicos, afastando-se da Hermenêutica Constitucional e gerando insegurança jurídica ao jurisdicionado. O juiz imparcial não pode ser confundido com o juiz neutro, até porque, agir com neutralidade é não se posicionar diante do caso concreto enquanto agir com imparcialidade é justamente se posicionar de forma jurídica sobre o caso concreto levado ao Judiciário. Referências AGUIAR, CynaraSilde Mesquita Veloso de; COSTA, Fabrício Veiga; SOUZA, Maria Inês Rodrigues de; TEIXEIRA, Welington Luzia. Processo, Ação e Jurisdição em OskarvönBülow. Estudos Continuados de Teoria do Processo. Coordenador Rosemiro Pereira Leal. v. VI. Porto Alegre: Síntese, 2005. ALMEIDA, Andréa Alves de. Processualidade Jurídica e Legitimidade Normativa.Belo Horizonte: Editora Fórum, 2005. BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição: fundamentos de uma dogmática constitucional transformadora. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. BEIGNIER, Bernard. A consciência do juiz na aplicação da lei no inicio do século XIX: a jurisprudência no tempo da exegese. A consciência do Juiz na Tradição Jurídica Européia. Organizadores: Jean-Marie Carbasse e Laurence DepambourTarride. Belo Horizonte: Livraria Tempus Ltda, 2010. BRASIL. Manifesto de Apoio à Dra. Lorena Teixeira Vaz Dias com relação à Portaria nº 09/2011. Disponível em https://www.facebook.com/permalink.php?id=121433507954181&story_fbid=245921 642172033. Acesso em 25 jun. 2014. CAMPBELL, Joseph; MOYERS, Bill. O poder do mito.São Paulo: Palas Athena, 1993. CARBASSE, Jean-Marie. O juiz entre a lei e a justiça: abordagens medievais. A consciência do Juiz na Tradição Jurídica Européia. Organizadores: Jean-Marie Carbasse e Laurence Depambour-Tarride. Belo Horizonte: Livraria Tempus Ltda, 2010. COSTA, Fabrício Veiga. MÉRITO PROCESSUAL – a formação participada nas ações coletivas. Belo Horizonte: Arraes, 2012. COULON, Jean-Marie. A consciência do juiz hoje. A consciência do Juiz na Tradição Jurídica Européia.Organizadores: Jean-Marie Carbasse e Laurence DepambourTarride. Belo Horizonte: Livraria Tempus Ltda, 2010. DIAS, Ronaldo Bretas de Carvalho. Processo Constitucional e Estado Democrático de Direito. Belo Horizonte; Del Rey, 2010. FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito. Técnica, Decisão, Dominação. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2003. LAFONT, Sophie. O juiz bíblico. A consciência do Juiz na Tradição Jurídica Européia.Organizadores: Jean-Marie Carbasse e Laurence Depambour-Tarride. Belo Horizonte: Livraria Tempus Ltda, 2010. LEAL, André Cordeiro. O Contraditório e a Fundamentação das Decisões no Direito Processual Democrático. Belo Horizonte: Mandamentos, 2002. LEAL, André Cordeiro. Instrumentalidade do Processo em Crise. Belo Horizonte: Mandamentos, 2008. LEAL, Rosemiro Pereira. Teoria Geral do Processo– Primeiros Estudos. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009. PIMENTA, André Patrus Ayres Pimenta; MARQUES, Cláudio Gonçalves; QUEIROZ, Flávia Gonçalves de; VIEIRA, Lara Piau. Processo, Ação e Jurisdição em Chiovenda. Estudos Continuados de Teoria do Processo.Coordenador Rosemiro Pereira Leal. v. V. Porto Alegre: Síntese, 2004. PRADO, Lídia Reis de Almeida. O juiz e a emoção. Aspectos da Lógica da Decisão Judicial. 5. ed. Campinas: Millennium, 2010. SCHIOPPA, Antonio Padoa. Sobre a consciência do juiz no iuscommuneeuropeu. A consciência do Juiz na Tradição Jurídica Européia. Organizadores: Jean-Marie Carbasse e Laurence Depambour-Tarride. Belo Horizonte: Livraria Tempus Ltda, 2010. STRECK, Lenio Luiz. O que é isto – decido conforme minha consciência? 3. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012. THIREAU, Jean-Louis. O bom juiz entre os juristas franceses do século XVI. A consciência do Juiz na Tradição Jurídica Européia.Organizadores: Jean-Marie Carbasse e Laurence Depambour-Tarride. Belo Horizonte: Livraria Tempus Ltda, 2010. TOUYA, José-Javier de Los Mozos. O juiz romano na época clássica. A consciência do Juiz na Tradição Jurídica Européia. Organizadores: Jean-Marie Carbasse e Laurence Depambour-Tarride. Belo Horizonte: Livraria Tempus Ltda, 2010. ZAGAMÉ, Marie-France Renoux. Assegurar a obediência: a consciência do juiz na doutrina judicial no inicio da modernidade. A consciência do Juiz na Tradição Jurídica Européia. Organizadores: Jean-Marie Carbasse e Laurence DepambourTarride. Belo Horizonte: Livraria Tempus Ltda, 2010. O DIREITO À DIFERENÇA: A PERMISSÃO DAS TÉCNICAS DE REPRODUÇÃO ASSISTIDA A CASAIS HOMOSSEXUAIS EM FACE DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA Catarina Araújo Silveira Woyames Pinto43 Gabriela Maciel Lamounier44 SUMÁRIO: 1. Introdução; 2. Os Direitos Fundamentais e a Reprodução Assistida; 3. O planejamento familiar e técnicas de reprodução assistida; 3.1 Modalidades de reprodução assistida; 3.1.1 Inseminação artificial homóloga; 3.1.2 Inseminação artificialheteróloga; 3.1.3 Criopreservação; 3.1.4 Fertilização in vitro; 4. Aspectos jurídicos da reprodução assistida; 4.1 O entendimento da matéria no Brasil; 4.2 O entendimento da matéria em Portugal; 5. Paternidade socioafetiva e paternidade biológica; 6. Conclusão; 7. Referências. 1. Introdução O alargamento dos direitos fundamentais constitucionais aos direitos sociaisfoiuma das dimensões da resposta do Estado Social de Direito à questão social herdada da revolução industrial e às reivindicações de movimentos operários para quem, sobretudo nas difíceis condições econômicas e sociais da época, não havia verdadeira proteção da liberdade e da autonomia do cidadão. As reservas que esta atitude merece nem se dirigem tanto à importação das dúvidas sobre o merecimento constitucional material dos direitos sociais, já que, nesse plano, a discussão fazia e faz todo o sentido. Tais reservas incidem antes sobre a importação não criticamente refletida de conceitos como “o mínimo social”, “a distinção entre direitos sociais originários e derivados” e “o princípio de proibição do retrocesso”, que, tendo uma explicação e 43 Mestra em Direito Internacional Público e Europeu e Doutoranda em Direito Público pela Universidade de Coimbra. 44 Advogada. Professora universitária do Centro Universitário Newton Paiva, da Faculdade Minas Gerais e da Fundação Pedro Leopoldo. Especialista em Direito Processual e Direito Ambiental. Mestra e Doutora em Direito Público pela PUC/MG. fazendo sentido no contexto germânico onde surgiram, perdem função, justificação e interesse dogmático em contextos de Constituição com direitos sociais. Atualmente, o direito da saúde é parte de um conjunto de direitos chamados de direitos sociais, que têm como inspiração o valor da igualdade entre as pessoas. O Estado deve proporcionar às pessoas recursos para uma vida digna, visando melhorar as condições de vida dos hipossuficientes, exercendo, para isso, um controle social. No Brasil, este direito apenas foi reconhecido na Constituição Federal de 1988, antes disso o Estado apenas oferecia atendimento à saúde para trabalhadores com carteira assinada e suas famílias, as outras pessoas tinham acesso a estesserviços como um favor e não como um direito. Durante a Constituinte de 1988 as responsabilidades do Estado são repensadas e promover a saúde de todos passa a ser seu dever. Este artigo não deve ser lido apenas como uma promessa ou uma declaração de intenções, este é um direito fundamental do cidadão que tem aplicação imediata, isto é, pode e deve ser cobrado. Não será abordada a questão econômica, mas sim, a social, tendo em vista um Estado Social que deve, em princípio, ser o garantidor dos direitos dos seus cidadãos. A saúde é um direito de todos por que sem ela não há condições de uma vida digna, e é um dever do Estado por que é financiada pelos impostos que são pagos pela população. Desta forma, para que o direito à saúde seja uma realidade, é preciso que o Estado crie condições de atendimento em postos de saúde, hospitais, programas de prevenção, medicamentos, etc. E, além disto, é preciso que este atendimento seja universal e integral. A criação do SUS (Sistema Único de Saúde) está diretamente relacionada a tomada de responsabilidade por parte do Estado. A ideia do SUS é maior do que simplesmente disponibilizar postos de saúde e hospitais para que as pessoas possam acessar quando necessitarem. A proposta é que seja possível atuar antes disso, através dos agentes de saúde que visitam frequentemente as famílias para se antecipar os problemas e conhecer a realidade de cada família (como por exemplo, o médico da família), encaminhando as pessoas para os equipamentos públicos de saúde quando necessário. Desta forma, organizado com o objetivo de proteger, o SUS deve promover e recuperar a saúde de todos os brasileiros, independente de onde moram, trabalham e quais os seus sintomas. Infelizmente este sistema ainda não está completamente organizado e ainda existem muitas falhas. No entanto, seus direitos estão garantidos pela constituição e devem ser cobrados para que sejam cumpridos. Já em Portugal, nos últimos trinta anos de vigência da Constituição portuguesa de 1976, os direitos sociais e econômicos se tornaram parte integrante do regime democrático-constitucional, discutindo-se, para tal como, e em que medida, estes direitos têm sido objeto de lutas sociais e políticas; e como, e em que medida, estas lutas foram transformando o nosso entendimento desses direitos, designadamente à medida que eles foram sendo reinterpretados e aplicados quer como fundamento de políticas públicas, quer pela jurisprudência do Tribunal Constitucional. Na segunda metade do século, por influências sociais, políticas econômicas, a família passou por modificações acentuadas, contribuindo em grande parte para isto o surgimento de uma nova perspectiva sobre as questões de gênero. A condição feminina foi se modificando e, concomitantemente, houve mudanças também no papel masculino, gerando reformulações na relação conjugal e, naturalmente, na relação pais-filho. Com a emergência de novas tecnologias que passam a fazer parte do cotidiano das pessoas, mais rapidamente novos comportamentos são adquiridos, surgindo novas necessidades e expectativas. Estes e outros fatores vão se agregando e contribuindo para que a estrutura familiar tradicional – pai, mãe e filhos – não seja a única forma de relacionamento familiar, abrindo-se um espaço significativo a outras configurações familiares. Posto isto, a pergunta que tentará ser respondida ao longo deste artigo é: o direito às técnicas de reprodução assistida, direito da saúde, tão importante para uma vida digna, deveria ser garantido a casais homossexuais? Não se pretende fazer um estudo a respeito da discriminação sofrida pelos homossexuais, apesar de ser relevante ao estudo, o que se pretende é demonstrar que se trata de um direito constitucional assegurado a todos, sem distinção. Entende-se que deve haver a discussão de soluções jurídicas para outras formas de entidades familiares e também aqueles que desejam ter filhos sem um companheiro ou companheira, todavia, por uma questão de delimitação temática, somente o acesso a técnicas de reprodução assistida a casais homossexuais será tratada no presente trabalho. 2. Os Direitos Fundamentais e a reprodução assistida Os direitos sociais, assim como os econômicos e culturais são procedentes dos movimentos sociais democratas e visam garantir um padrão mínimo de vida, para que as pessoas possam desenvolver suas potencialidades. (GUERRA, 2013) Na visão de Carlos Henrique Bezerra Leite (2010), esses direitos, pertencentes à segunda dimensão de direitos fundamentais, correspondem aos direitos de inclusão social, uma vez que requerem políticas públicas que efetivem o exercício das condições materiais em busca de uma existência digna. Essa inclusão social, obviamente, abrange os homossexuais. A reprodução assistida é um conjunto de técnicas que possibilitam casais estéreis terem filhos. Por esta técnica, ainda muito rejeitada pela sociedade brasileira, é possível o armazenamento do material genético, a doação de gametas e a fertilização heteróloga. O Biodireito é a disciplina que trata da reprodução assistida e de seus aspectos jurídicos. O Biodireito, que trata dos direitos relativos à genética, hoje é tratado por alguns estudiosos, como disciplina dos direitos fundamentais da quarta dimensão ou geração. Nas palavras de Emanuel Marques, O Biodireito é um novo ramo do Direito que trata da teoria, dos princípios, da legislação e da jurisprudência relativas às normas reguladoras da conduta humana, em face dos avanços da biologia, da biotecnologia e da medicina. O Biodireito concede tratamento ao homem não como ser individual, mas, acima de tudo, como espécie a ser preservada. (MARQUES, 2013) Acílio Rocha (2010) alega que à preservação do patrimônio genético e a não exploração comercial do genoma humano, são direitos de quarta dimensão, decorrentes dos avanços científicos e tecnológicos que permeiam a crescente globalização do mundo. Maria Helena Diniz (2002) esclarece que o Biodireito deve contribuir para o desenvolvimento das ciências da vida, garantindo o respeito à dignidade da pessoa humana.45 3. O planejamento familiar e as técnicas de reprodução assistida 45 O art. 1º, III da Constituição da República Federativa Brasileira de 1988 prevê como fundamento do Estado Democrático de Direito a Dignidade Humana. Em seu livro “Memórias Póstumas de Brás Cubas”, Machado de Assis (2010, p. 03) escreve: “não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado de nossa miséria.” Ou seja, o fato de não poder ter um filho, sempre assombrou tanto pessoas reais como alguns personagens da literatura. A decisão de gerar um filho pode encontrar sérias limitações que, em um primeiro momento, inviabilizam a realização desse desejo, como, por exemplo, a infertilidade. Quem podia imaginar que pessoas estéreis ou que, por questão de orientação sexual, poderiam ter filhos? O que somente acontecia em filmes de ficção científica, passou a ser um tema discutido na sociedade mundial. A tecnologia evoluiu e, estas pessoas, que antes não podiam ter o tão sonhado filho, hoje em dia, podem escolher entre algumas opções: a adoção ou a reprodução artificial ou técnicas de reprodução assistida. Nas palavras de MarillynStrathern, É, aliás, por o fazermos constantemente que estou a levantar esta questão. As novas tecnologias da reprodução são apresentadas como abrindo novas perspectivas ao nível das opções reprodutivas, oferecendo assim uma visão da biologia sob controle de famílias que estão livres para escolher a forma que irão assumir. Por muito fantasiadas que sejam estas imagens das opções futuras, também é verdade que, com a justificação de se alargarem as possibilidade de realização humana, se aperfeiçoam técnicas e se dão conselhos médicos, de tal forma que nos agarramos à esperança de que os seres humanos só poderão beneficiar com a engenharia genética. Por um lado, uma visão fantasiosa de opções, por outro, a realização de decisões concretas: seja qual for a maneira como se encare a questão, podemos agora pensar na procriação como algo que está sujeito a preferências e opções pessoais duma maneira que nunca anteriormente fora possível. A criança é literalmente – e em muitos casos, como é evidente, com grande alegria – a encarnação do acto de optar. (STRATHERN, 2008, p.1013) Com o intuito de extinguir o sofrimento de não poder deixar um legado, existem técnicas de reprodução assistida, solucionando assim, um possível trauma que pode abalar seriamente a vida de uma pessoa ou mesmo, acabar com um casamento ou uma união estável. Contudo, o que se vê, é o direito, que deveria acompanhar o andamento da sociedade, negando a entender essas novas tendências, omitindo-se. A união civil entre pessoas do mesmo sexo não é expressamente regulada no Código Civil brasileiro de 2002. A Comissão Revisora e Elaboradora do Anteprojeto de Código Civil recebeu críticas acerca da omissão. O jurista Miguel Realeafirmou que: Essa matéria não é de Direito Civil, mas sim de Direito Constitucional, porque a Constituição criou a união estável entre homem e mulher. De maneira que, para cunhar-se aquilo que estão querendo, a união estável dos homossexuais, em primeiro lugar seria preciso mudar a Constituição.Não era essa a nossa tarefa e muito menos a do Senado. (REALE, 1999) Outrora considerada como doença ou perversão, o homossexualismo não é visto mais como tal. O sufixo ismo, que significa “doença”, foi retirado e substituído pelo sufixo dade, que designa “modo de ser”, por isso, a denominação Homossexualidade. (BRANDÃO, 2002) Assim, a Organização Mundial de Saúderetirou a homossexualidade de sua lista de doenças mentais (Código Internacional de Doenças – CID-10) por se tratar de um estilo de comportamento, geneticamente prevalente. (MALUF, 2008) Ou seja, a ideia é de que a orientação sexual é, na realidade, uma gama de comportamentos e identidades e não uma condição. A homossexualidade é uma das muitas variações do comportamento humano. Fato é que, a busca pela felicidade levou ao surgimento de novas famílias que florescerem através do afeto, pois o que se deseja é conciliar as vantagens da solidariedade familiar com a liberdade individual. Em opinião contrária, Francisco Muniz alega que: As uniões estáveis de natureza homossexual podem ter relevância jurídica em outros planos e sob outras formas – não como modalidade de casamento ou entidade familiar. E, portanto, à luz do ordenamento jurídico brasileiro, as uniões homossexuais não integram o Direito de Família. (MUNIZ, 1993, p. 232) Contudo, tal opinião não merece tanta atenção, afinal, há que se ter a visão constitucionalista dessas uniões, e não meramente civilista. O Supremo Tribunal Federal,em05 de maio de 2011, na ocasião do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4277 e da Arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 132 reconheceu, por unanimidade, a união estável entre pessoas do mesmo sexo em todo o território nacional, interpretando o artigo 226, §3º da Constituição da República Federativa do Brasil de forma mais ampla. (BRANDÃO, 2002) Portanto, esboçam-se na atualidade novas modalidades de família, mais igualitárias e menos sujeitas às regras e/ouimposições. O que se pretende com a tutela da autonomia no âmbito familiar, é a liberdade do homem e da mulher de escolher como irão reger as suas vidas no núcleo familiar, não podendo ter a sua intimidade afetada, tendo em vista, sempre, que a paternidade seja feita de forma responsável. Os direitos reprodutivos, que pertencem ao conjunto de direitos básicos dos cidadãos, advêm do princípio ou garantia constitucional da dignidade da pessoa humana que estão elencados por direitos individuais do homem e da mulher. A dignidade da pessoa humana é “um valor autônomo e específico inerente aos homens em virtude da sua simples personalidade. Consequentemente a República baseia-se no homem como um sujeito e não como um objeto dos poderes ou relações de domínio.” (CANOTILHO, 2007, p. 59) O planejamento familiar é um dos direitos reprodutivos fundamentais reconhecidos pela Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 226, § 7º, em que institui o planejamento familiar como a base dos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável. O planejamento familiar pode ser conceituado como sendo “um conjunto de ações de regulação da fecundidade que garanta direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal”, de acordo com a Lei nº 9263/96, em seu artigo 2º. Decorre daí a possibilidade de ajuda pelo Estado, através de medidas preventivas e assistenciais, no caso de infertilidade, pois, nem os convênios médicos particulares cobrem os tratamentos necessários para amenizar ou tratar a infertilidade. Não se trata de um controle populacional, mas na ajuda didática as populações menos favorecidas, de seus direitos e de suas possibilidades quando do nascimento de seus filhos. Assim, o planejamento familiar não irá ditar regras sobre o comportamento sexual dos casais e ainda, sobre a quantidade de filhos que um casal pode ou não ter. O planejamento familiar é a livre escolha de um casal, heterossexual ou homossexual,de se organizar como família, da forma que entender. Trata-se de um direito, que deve ser exercido de forma responsável. Como outros direitos sociais garantidos pela Constituição, tanto portuguesa como brasileira, o direito à saúde faz com que o poder público esteja obrigado a oferecer condições ao planejamento, tanto de não haver gravidez indesejadas como auxiliar os que tanto desejam um filho, fonte da sua felicidade. Certo é que o Estado deve garantir meios para que os cidadãos possam se desenvolver livremente, em todos os aspectos da vida, incluindo, dessa forma, os direitos reprodutivos. Nos dizeres de Flávia Piovesan, Vale dizer, a plena observância dos direitos reprodutivos impõem ao Estado um duplo papel. De um lado, demanda políticas públicas voltadas a assegurar a toda e qualquer pessoa um elevado padrão de saúde sexual e reprodutiva,que implica em garantir acesso a informações, meios, recursos, dentre outras medidas. Por outro lado, exige a omissão do Estado em área reservado à decisão livre e responsável dos indivíduos de sua vida sexual e reprodutiva, de forma a vedar a interferência estatal, coerção, discriminação e violência em domínio da liberdade, autonomia e privacidade do indivíduo. (PIOVESAN, 2003, p. 274) Um dos eixos de ação dessa política é a introdução das tecnologias de reprodução assistida no Sistema Único de Saúde, entre elas a inseminação artificial heteróloga ou exogâmicas, cuja aplicação envolve aspectos éticos, morais e também efeitos jurídicos ainda não regulamentados pelo nosso ordenamento. Para um melhor entendimento, há que se destacar as principais modalidades de reprodução assistida. 3.1 Modalidades de Reprodução Assistida Conforme a Organização Mundial de Saúde, infertilidade é a capacidade de um casal conceber após um ano de relacionamento sexual, sem uso de medidas contraceptivas. Dessa forma, os casais que deverão buscar dessas técnicas e que, depois de algum tempo tentando da forma convencional, não obtém sucesso. As pessoas que não possuem problemas graves de infertilidade iniciam um tratamento para melhorar a ovulação ou a produção de sêmen, para somente depois, realizar a inseminação artificial homóloga, que é considerada a mais simples. A reprodução assistida46 é um conjunto de métodos que proporcionam a manipulação de gametas e embriões, com a finalidade de lutar contra a infertilidade humana, com probabilidade de sucesso. (MARQUES, 2013) 3.1.1 Inseminação Artificial Homóloga É a transferência do sêmen (do marido ou companheiro) pelo aparelho genital feminino, substituindo a relação sexual. A fecundação ocorre no interior do corpo da mulher. Neste tipo de inseminação artificial, o material genético pertence ao casal. É utilizada nas situações em que o casal possui fertilidade, mas não é capaz da fecundação por meio do ato sexual. (DIAS, 2011) 3.1.2 Inseminação ArtificialHeteróloga É também conhecida como Inseminação Artificial com Doador. Nesta, o sêmen transferido é objeto de doação. Ocorre nos casos de esterilidade masculina ou em casos de produção independente ou mesmo em caso de mulheres homossexuais. (IDALÓ, 2011) Na utilização desta técnica, observa-se de um lado um doador que se propõe anônimo, oferecendo seus gametas para viabilizar o projeto parental de outrem e no outro extremo, temos uma criança que, embora tenha mãe e pai, ao crescer poderá reclamar o direito de conhecer sua ascendência genética. Tem-se, então, um conflito entre o direito ao conhecimento da ascendência genética e o direito à intimidade e uma nova discussão a respeito do direito de família, todos revolucionados pelos progressos da engenharia genética. 3.1.3 Criopreservação Neste tipo de reprodução assistida, há a doação de sêmen, mas este será utilizado futuramente, em casos de homens que precisam se submeter a tratamentos médicos como quimioterapia, radioterapia, vasectomia, etc. (IDALÓ, 2011) 46 No Brasil, a reprodução assistida é regulamentada pela Resolução nº 1358/92 do Conselho Federal de Medicina. 3.1.4 Fertilização in vitro É a fecundação artificial na qual a fecundação ocorre em laboratório, fora do corpo da mulher. Após a fecundação do espermatozóide e do óvulo, o embrião, agora formado, pode ser transferido para o corpo da mãe, biológica ou não. A fertilização in vitro, requer mais elaboração e trata-se de uma técnica mais cara, pois, tanto os óvulos como os espermatozoides são coletados e fecundados novidro, na proveta, para somente depois serem colocados no útero materno; por isto, o nome de bebê de proveta.47 3.2 A reprodução assistida para os casais homossexuais Existem casos de gestação de substituição, maternidade de substituição ou barriga de aluguel. Esta maternidade pode ser conceituada como sendo um acordo, pelo qual uma mulher gerará o filho de um casal e irá, depois, entregá-lo ao casal, abdicando de qualquer direito sobre a criança que gerou. No caso de casais de homens, é necessário que haja essa prestação de serviço para que o tão sonhado filho seja gerado com o sêmen de um deles e uma doadora de óvulos. Importante ressaltar que deve haver o consentimento de ambas as partes, como bem menciona a Resolução 1358/92 do Conselho Federal de Medicina, no caso brasileiro. Com relação a Portugal, tal prática é proibida e pode ensejar em penalidade civil e penal. Quanto ao ordenamento jurídico português, Vera Lúcia Raposo alega que: (...) não proíbe de forma expressa os contratos de maternidade de substituição. A sua recusa resulta somente de uma certa interpretação da lei. Nesse segundo entendimento, será lícita a celebração de contratos no âmbito do estatuto pessoal, dos quais nasçam direitos e obrigações. Cabe perguntar o que ocorrerá quando ela se negue a comprimir. (RAPOSO, 2005, p. 116) Em relação ao Brasil, a questão tem tomado um rumo diferente. 47 O nascimento do primeiro bebê de proveta (fecundação in vitro) foi o marco histórico da revolução genética. Foi o nascimento de Louise Brown em 1978, em Oldham/Inglaterra. Apesar de não existir, no Brasil, lei que regulamente as técnicas de reprodução assistida, fica a cargo do Conselho Federal de Medicina seu regramento, o qual se dá através da Resolução n. 1.957/2010, em vigor desde 06 de janeiro de 2011. O próprio Conselho considera a infertilidade um problema de saúde que pode sofrer implicações médicas e psicológicas e prevê a possibilidade de casais homossexuais recorrerem às técnicas de reprodução assistida para procriarem, primando pelos princípios da igualdade e da autonomia privada. (CONSELHO FEDERAL DE MEDICNIA, 2010) SegundoMaria Berenice Dias, Também os parceiros homossexuais, a quem a justiça insiste em não admitir a adoção, têm, cada vez mais, feito uso dos métodos modernos de inseminação artificial para constituírem uma família. Assim, as lésbicas utilizam o óvulo de uma que, fertilizado in vitro, é implantado no útero da outra. A parceira que dá a luz não é a mãe biológica, mas acaba sendo ela a mãe registral. Assim, ainda que a criança vá viver em um lar com duas mães, como o vínculo jurídico se estabelece exclusivamente com relação a que procedeu ao registro, trata-se de uma família monoparental. Os gays, igualmente utilizam técnicas reprodutivas para terem um filho. Muitas vezes é colhido esperma de ambos, até para não sanearem quem é o pai da criança que irá nascer. Feira a fecundação em laboratório, faz o par uso do que se chama barriga de aluguel. Ainda que o filho tenha dois pais, o registro do filho é levado a efeito somente por um dos genitores, constituindo-se uma família monoparental. (DIAS, 2011, p. 201-202) É fato que os casais homossexuais têm direito à reprodução. E quando esses casais fazem tal opção e exercem realmente o papel de genitores, há o reconhecimento de uma filiação socioafetiva. Conforme os ensinamentos de César Fiúza (2014), os papéis desempenhados por homens e mulheresem relação aos filhos não correspondem, necessariamente, ao papel que os mesmos exercem em relação ao sexo genital. E mais, os direitos dos casais heterossexuais devem ser estendidos aos casais homossexuais, inclusive o direito de utilizar técnicas de reprodução assistida. (BOMTEMPO, 2015) 4. Paternidade versus ascendência biológica: aspectos jurídicos da reprodução assistida As noções de sexualidade, vida privada, casamento, planejamento familiar, confronta-se com uma evolução da sociedade e dos meios da biologia e da medicina, não constituindo, assim, uma realidade imutável, limitada pelo plano histórico, sociológico ou jurídico. 4.1 O direito à saúde: a reprodução heteróloga como solução para a homoparentalidade O direito à saúde conflui no andar histórico da humanidade em uma perspectiva crescente de agregação de garantias da saúde, mas sempre reduzida e limitada frente aos requerimentos das necessidades humanas de uma saúde plena. Considerar tal confluência de campos tão vastos do conhecimento humano significa refletir sobre a demarcação de um novo campo de construção do conhecimento. Trata-se de considerar o direito e a saúde como disciplinas isoladas e, com o intuito de buscar uma aproximação mais ostensiva entre ambas, gerar fatos e novidades políticoinstitucionais na direção de uma articulação simbólica, capaz de dar respostas práticas na vida concreta porque, o direito à saúde é garantido constitucionalmente, e é, para todos. 4.2 O entendimento da matéria no Brasil Com o advento do Código Civil de 2002, esperavam-se soluções que não surgiram. No artigo 1597, por exemplo, que trata do estabelecimento da filiação, novamente, o problema não foi bem resolvido. Há a dificuldade de se realizar tais técnicas, considerando o desgaste físico e psicológico dos pacientes e até mesmo, o constrangimento, já que, em alguns casos, é necessária a demonstração do amor que o casal tem. (NUNES; SANTOS, 2007) De acordo com o Código Civil brasileiro: Art. 1.597. Presumem-se concebidos na constância do casamento os filhos: I - nascidos cento e oitenta dias, pelo menos, depois de estabelecida a convivência conjugal; II - nascidos nos trezentos dias subsequentes à dissolução da sociedade conjugal, por morte, separação judicial, nulidade e anulação do casamento; III - havidos por fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido o marido; IV - havidos, a qualquer tempo, quando se tratar de embriões excedentários, decorrentes de concepção artificial homóloga; V - havidos por inseminação artificial heteróloga, desde que tenha prévia autorização do marido. (BRASIL, 2002) Tal artigo corresponde ao artigo 1.603 do Projeto na versão de 1975, época em que não havia tanta discussão e preocupação social a respeito das técnicas de reprodução assistida heteróloga, dessa forma, a omissão verificada no texto original sobre os aspectos civis da reprodução assistida – incluindo a modalidade heteróloga. Inclui, assim, os nascidos no casamento os filhos havidos por inseminação artificial, desde que dela tenha conhecimento antecipado e acordado o cônjuge masculino. Com relação ao inciso V, do artigo, presume-se que foi concebido na constância do casamento o filho havido por técnicas de reprodução assistida heteróloga previamente consentida pelo marido. Entende-se forçoso reconhecer que a melhor técnica legislativa seria a de considerar a certeza da paternidade, o que significaria a inconceptibilidade do marido impugnar a paternidade relativamente à criança concebida e nascida da esposa com prévio consentimento. (GAMA, 2003) Contudo, isto só diz respeito a casais heterossexuais. É necessário acabar com a hipocrisia e encarar a realidade. Com o surgimento dos métodos reprodutivos de reprodução assistida e da manipulação genética, o sonho de ter filhos se aproximou da realidade de todos. (DIAS, 2004) A Constituição Federal brasileira, em seu artigo 226, determina ser a família a base da sociedade e tem especial proteção do Estado. (BRASIL, 1988). Assim sendo, o Estado dará respaldo para a formação da família, incentivando o casamento, reconhecendo a união estável como meio de se privilegiar o afeto. A Constituição adotou o pluralismo como um dos fundamentos, o que implica a aceitação de uma multiplicidade das visões de mundo, que acarretam a possibilidade de cada pessoa construir uma concepção própria do que seja bom para si mesmo, até porque, não há mais a visão religiosa que tendia a unificar os mundos individuais, sendo que os valores eram compartilhados e não, diversificados, pois, podia arruinar com a ordem posta. O indivíduo passou a ser importante e a representar algo para a sociedade. Todos, independentemente de seus projetos, têm a mesma valoração para o direito. “Por isso, cada um possui, igualmente, direito de interpretar o que, para si, venha a ser liberdade, bem como suas manifestações e projeções em sua própria vida (...). É essencial que a sociedade e o Estado respeitem as diferenças individuais”. (SALES; TEIXEIRA, 2011, p. 140). Diante das possíveis dificuldades para a concretização da filiação biológica, a utilização de técnicas de reprodução assistida, como a inseminação artificial, a fecundação in vitro e a gestação de substituição, surgem como uma forma de concretizar o tão sonhado desejo de ser pai ou mãe. E o avanço da medicina está aí para fazer com que tal sonho, seja realizado, tendo em vista que a infertilidade humana e as formas biomédicas adquiriram proporções cada vez maiores na atualidade, sendo tema de novas Resoluções do Conselho Federal de Medicina brasileiro, no ano de 2011, de número: 1957/2010 que revogou a Resolução 1352/92, trazendo novos parâmetros deontológicos. (SALES; TEIXEIRA, 2011) Quando se fala em princípios norteadores da reprodução assistida, há princípios do Biodireito e da Bioética, e princípios constitucionais, como, por exemplo, o princípio da dignidade da pessoa humana, da paternidade responsável, do direito à filiação, etc. O princípio da autonomia requer o respeito do profissional da saúde com o paciente, levando em conta os seus valores sociais, éticos e religiosos. Consiste, em síntese, em deixar o paciente atuar sem influência externa, livremente, decorrendo assim, a exigência do livre consentimento informado. Já o princípio da beneficência requer do médico ou geneticista uma maior atenção aos interesses das pessoas envolvidas na prática biomédicas, evitando, quando possível, qualquer dano. O princípio da justiça, na ótica do Biodireito, visa a imparcialidade na distribuição dos riscos e benefícios dos procedimentos, tratando os pacientes como desiguais conforme seus níveis de desigualdade. O ordenamento jurídico brasileiro acolhe os direitos humanos constitucionalmente garantidos como direitos fundamentais como forma de proteção ao princípio da dignidade da pessoa humana. Independente da orientação sexual ou identidade de gênero do casal, os cônjuges e parceiros, firmando o termo de consentimento informado podem fazer uso de técnicas de reprodução assistida. Segundo Maria Berenice Dias (2004), em dezembro de 2008, houve a primeira decisão favorável ao registro dos filhos gêmeos no nome de duas mães que haviam se submetido à técnica de reprodução in vitro. Já os casais masculinos têm filhos mediante a técnica da gravidez por substituição, em que consiste na escolha de uma barriga de aluguel, através da escolha de um doador de sêmen ou podem optar pela escolha do material genético de ambos com o intuito de não sabem, de fato, quem é o pai biológico do filho. E, em 2012 o direito ao duplo registro do filho concebido por inseminação artificial foi reconhecido pela justiça de Pernambuco. (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, 2014) 4.3 O entendimento da matéria em Portugal O artigo 64º da Constituição da República Portuguesa consagra o direito à proteção da saúde, determinando que a Lei Fundamental não limita a questão da saúde à esfera, tão somente, da medicina. Sendo que, o Serviço Nacional de Saúde é fundamental na garantia do direito a esta proteção. (PORTUGAL, 1976) A possibilidade de procriação unilateral, ou seja, advinda de óvulos ou espermatozóides doados por uma pessoa anônima, ignorada, poderia levar a uma mudança radical no conceito de família. Observa-se que no passado havia a certeza absoluta, inquestionável da maternidade e as dúvidas surgiram somente com relação à paternidade. Hoje em dia, com os inovadores procedimentos de procriação artificial, o panorama é completamente diferente. Por isso, torna-se necessária a elaboração de legislação específica e de novos institutos jurídicos, a fim de que não haja um distanciamento entre o ordenamento jurídico e a realidade atual. (COSTA, 2000) Face ao ordenamento jurídico português, a Lei nº 7, de 11 de maio de 2001, adotou “as medidas de proteção das uniões da facto”, não fez depender a qualificação da relação da orientação sexual dos seus membros, tendo como objetivo principal, a equiparação do tratamento dado às relações de convivência homossexual. (PORTUGAL, 2001) No mesmo sentido, a Lei nº 32, de 26 de julho de 2006, veio a reforçar o entendimento de que “sendo de sexo diferente, vivam em condições análogas aos dos cônjuges há pelo menos dois anos”, em seu artigo 6º. E há, dessa forma, equiparação legislativa entre cônjuges e conviventes homossexuais. De acordo com as regras que presidem à atividade interpretativa, deve-se presumir que o legislador consagrou as soluções mais acertadas.(PORTUGAL, 2006) A lei portuguesanº 32, em seu artigo 7º.1 descreve que: “as técnicas de PMA não podem ser utilizadas para conseguir melhorar determinadas características não médicas do nascituro, designadamente, a escolha do sexo.”E também, trata-se de um método que deve ser usado subsidiariamente, seguindo a tendência europeia, e enumerou que, não somente para solucionar casos de infertilidade, mas para ser usado no tratamento de doença grave ou quando do risco de transmissão de doença grave, de doenças de origem genética, infecciosa, etc.(PORTUGAL, 2006) O artigo 3º tende a reforçar os princípios da dignidade humana e da não discriminação, já consagrados pelo Conselho da Europa, na Convenção sobre os Direitos do Homem e a Biomedicina. (RAPOSO; PEREIRA, 2007) As divergências dos tribunais portugueses com relação à matéria tem sido porque não é considerada como uma família, mas sim, mas sim, uma ameaça à instituição familiar. Foi somente em 1999, no caso Salgueiro da Silva Mouta v. Portugal, levado ao Tribunal Europeu do Direito do Homem, que, mesmo ambíguo com relação à matéria, nesse caso concreto, o Tribunal decidiu que o poder parental não poderia ser negado somente pelo fato de ter relação amorosa com pessoa do mesmo sexo. Ao casal homossexual de mulheres, é facilitado o acesso a técnicas de reprodução assistida, visto que somente terão que solicitar um sêmen, de um doador. Contudo, como a maternidade de substituição ainda é vetada, pelo artigo 8º, I da Lei, nos casos em que haja um casal formado por dois homens, ainda é impossível realizar o sonho de ter um filho em Portugal. 5. Mais vale a paternidade socioafetiva do que a biológica? Diante do atual contexto, vem se difundindo a utilização das práticas de reprodução assistida. A fecundação pode ocorrer com material genético do par ou, quando é doado por outra pessoa, chama-se heteróloga e, por isto, é que foi mais amplamente estudada nesse artigo, pois, trata-se da possibilidade de que, casais homossexuais têm de realizar um sonho: constituir família; ou, no termo jurídico: constituição de uma parentalidadesocioafetiva. O critério utilizado usualmente para impedir que casais homossexuais possam participar de medidas de procriação medicamente assistida consiste no fato de que estes não possam criar um filho porque a sociedade irá bani-lo, afinal, é o estranho no ninho, e será sempre taxado pejorativamente. A relação de pai (um pai e uma mãe, duas mães ou dois pais) é fundada na afetividade, no afeto que se fortalece no dia a dia, e não necessariamente na origem biológica. Os laços de afeto e de solidariedade derivam da convivência e não do sangue. Há aí, entre os adeptos de que a constituição da família e do planejamento familiar deva ficar entre casais heterossexuais, uma preocupação com o bem estar da criança. Não há como afirmar que a homoparentalidade irá ser maléfica ao filho do casal, pois esta, não é um fator determinante para o exercício da autoridade parental. 6. Conclusão Com a ousadia pretensiosa dos operadores do Direito, tem-se, sempre, a melhor expectativa, a de que, através de trabalhos de investigação científica, os legisladores fiquem cada vez mais sensíveis ao tema. Os caminhos que foram abertos pela biotecnologia e pela ciência da vida nos últimas décadas levantaram algumas questões éticas e sociais. Tais progressos colocam em voga o problema da necessidade de enquadramento normativo que conjugue-se as grandes expectativas quanto às implicações médicas e o respeito aos princípios éticos fundamentais. Portanto, torna-se imprescindível que os legisladores definam posições concretas e precisas sobre as novas aplicações das técnicas de procriação assistida, pois, a sociedade encontra-se em constante mudança e de certa forma, desarmada legalmente. Proibir que casais homossexuais tenham filhos por inseminação artificial é negar o direito da saúde, um princípio constitucional e também o direito de família àqueles que vivem sob o manto da solidariedade familiar, sobretudo, dos direitos fundamentais, direitos constitucionais. A função do direito é emancipar as pessoas em toda e qualquer situação jurídica em que ela esteja inserida, sendo que tal direito é de todos, sem distinção de orientação sexual. O Brasil tomou uma decisão correta em direção à igualdade e, Portugal está, aos poucos, discutindo leis sobre o assunto. Respeitar o outro e não ter tabus para falar sobre determinados temas. Estamos no caminho certo. O Princípio da Dignidade Humana resume-se no tratamento do ser humano com respeito e dignidade. Contudo, aceitar a reprodução assistida tão-somente para fins ligados à preservação da vida (saudável), não abarca por completo o Princípio da dignidade humana, o qual também encontra-se presente nas técnicas de reprodução assistida utilizadas por casais homossexuais que buscam a formação de uma família. Ainda que haja interferência humana na reprodução natural, é certo que as técnicas de reprodução natural auxiliam na criação da vida e na formação da família. REFERÊNCIAS ASSIS, Machado de. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Rio de Janeiro: Globo Editora, 2010. BOMTEMPO, Tiago Vieira. Utilização das técnicas de reprodução assistida às uniões homoafetivas.Disponível em: www.ambitojuridico.com.br/site/index.php/?n_link=revista. Acesso25 fev 2015. BRANDÃO, Débora Vanessa Caús. Parcerias homossexuais: aspectos jurídicos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso 15 mar 2015. BRASIL. Código Civil de 2002. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm. Acesso 14 mar 2015. CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Constituição da República Portuguesa Anotada. Vol. I. 4.ed.Coimbra: Coimbra Editora, 2007. CONSELHO FEDERAL DE MEDICNIA. Resolução n. 1.957/2010. Disponível em: http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/2010/1957_2010.htm. Acesso 17 mar 2015. COSTA, Anna Guiomar Nascimento Macêdo. A reprodução assistida: aspectos jurídicos de questões polêmicas. Revistas dos Mestrandos em Direito Econômico da UFBA Salvador: UFBA, 2000. DIAS, Maria Berenice. Filiação Homoafeitva.In IV Congresso Brasileiro de Direitos de Família. PEREIRA, Rodrigo da Cunha (coord.). Belo Horizonte: Del Rey, 2004. DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito de Família. 8.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil: Direito de Família. Vol. 5. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. FIUZA, César. Curso de Direto Civil. 17.ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2014. GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. A reprodução assistida heteróloga sob a ótima do Novo Código Civil. Revista dos Tribunais. Rio de Janeiro, v. 817, p.15, 2003. GUERRA, Sidney. Direitos Humanos: curso elementar. São Paulo: Saraiva, 2013. IDALÓ, Marcella Franco Maluf. A reprodução assistida em face ao biodireito e sua hermenêutica constitucional. Revista Jurídica UNIARAXÁ. Araxá, v. 15, n. 14, p. 137-162, 2011. LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Direitos Humanos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus. Casamento inexistente, nulo e anulável. Revista do Advogado. São Paulo. AnoXXVIII, n. 98, p. 68, jul 2008. MARQUES, Emanuel Adilson Gomes. Direito de procriar: a reprodução assistida em face do princípio da dignidade humana. 2013. Disponível em: http://jus.com.br/artigos/29622/direito-de-procriar/2. Acesso 03 mar 2015. MUNIZ, Francisco José Ferreira. A família e a evolução no direito brasileiro. In: TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo (Coord.). Direitos de família e do menor. Belo Horizonte: Del Rey, 1993. NUNES, Lydia Neves Bastos Telles; SANTOS, Natália Batistuci. Os reflexos jurídicos da reprodução assistida heteróloga e post mortem. Revista do Instituto de Pesquisas e Estudos: Divisão Jurídica. São Paulo, v. 41, n 48, 2007. PIOVESAN, Flávia. Temas de direitos humanos. São Paulo: Max Limonad, 2003. PORTUGAL. Constituição da República Portuguesa de 1976. Disponível em: http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx. Acesso 13 fev 2015. PORTUGAL. Lei nº 32 de 2006. Disponível em: http://www.apdi.pt/pdf/LEI%203206%20PMA.pdf. Acesso: 28 mar 2015. PORTUGAL. Lei nº 7 de 2001. Disponível em: http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=901&tabela=leis. Acesso: 28 mar 2015. RAPOSO, Vera Lúcia. De mãe para mãe: questões legais e éticas susctiadas pela maternidade de substituição. Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Centro de Direito Biomédico. Coimbra: Editora Coimbra, 2005. RAPOSO, Vera Lúcia; PEREIRA, André Dias. Primeiras notas sobre a Lei portuguesa de procriação medicamente assistiida (Lei n.º 32/2006. De 26 de julho). Separata de Lex Medicinae: Revista Portuguesa de Direito da Saúde. Coimbra: Coimbra Editora, 2007. REALE, Miguel. O projeto do novo Código Civil (Situação após a aprovação pelo Senado Federal). 2.ed. São Paulo: Saraiva, 1999. ROCHA, Acílio da Silva Estanqueiro. Direitos Humanos e globalização. In: SANTORO, Emílio; BATISTA; Gustavo Barbosa de Mesquita; ZENAIDE, Maria de Nazaré Tavares; TONEGUTTI, Raffaella Greco (orgs). Direitos Humanos em uma época de insegurança.Porto Alegre: Tomo Editorial, 2010. SALES, Ana Amélia Ribeiro; TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado. Reprodução assistida heteróloga: uma escolha pós-moderna no âmbito do planejamento familiar.In: Lex Medicinae.Revista Portuguesa de Direito da Saúde.Coimbra. Coimbra Editora, Ano 8, nº 15, 2011. STRATHERN, Marillyn.Parentesco e novas tecnologias da reprodução. Coimbra: Editora Almedina, 2008. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO. Disponível em: http:// www.tjpe.jus.br/noticias_ascomSY/arquivos/2012_03_05_sentenca_dupla_paternidade.pd f. Acesso: 20 dez 2014. COISA JULGADA E PROCESSO COLETIVO: UMA ANÁLISE DA COISA JULGADA E DO PROCESSO COLETIVO NA PERSPECTIVA DA AÇÃO TEMÁTICA Maria Luisa Costa Magalhães48 SUMÁRIO: 1. Introdução; 2. Aspectos históricos acerca do instituto da coisa julgada; 2.1 Considerações introdutórias; 2.2 Os limites subjetivos da coisa julgada; 2.2.1 Os limites subjetivos da coisa julgada na legislação pátria; 3. A necessidade de reformulação do instituto da coisa julgada para a tutela dos direitos coletivos; 3.1 Da tutela dos interesses individuais à proteção dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos; 3.2 Considerações sobre a coisa julgada secundumeventum litis e o modelo de legitimação ad causam nas ações coletivas; 4. As Ações Coletivas como Ações Temáticas; 5. Conclusão; 6. Referências. 1. ............................................................................................................................. 2. .............................................................................................................................I ntrodução A coisa julgada é instituto processual de função essencialmente prática no mundo jurídico e existe para assegurar estabilidade à tutela jurisdicional dispensada pelo Estado. No entanto, sobre coisa julgada tem se falado em sentidos diversos, não alcançando, até mesmo os mais renomados juristas, base comum para implantar as várias perspectivas sobre o tema. Mais tormentosa, porém, é a análise do instituto da coisa julgada no processo coletivo. Isto porque, em virtude da transformação de uma sociedade individualista para uma sociedade de massas, direitos de outra ordem, coletivos e difusos, passaram a clamar por proteção. Como os institutos processuais foram, fundamentalmente, construídos para atender aos conflitos de interesses individuais, a esfera dessas relações é tradicionalmente satisfeita pelo modelo dualístico de tutela judiciária. 48 Mestre e Doutoranda em Direito Processual pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais Professora do Curso de Graduação em Direito do Instituto Metodista Izabela Hendrix – Professora do Curso de Graduação em Direito da Fundação Pedro Leopoldo FPL. E-mail: mlcmagalhã[email protected]. Em contrapartida, quando se trata de direitos coletivos e difusos, é preciso considerar uma série de relações que, longe de revelarem o interesse de uma única pessoa, individualmente considerada, encaminham conflitos nos quais estão envolvidos direitos de massa. Com a necessidade de tutela de direitos difusos, a estrutura clássica do processo civil, tal como subsistia na generalidade dos ordenamentos jurídicos, teve que passar por um processo de reformulação, o que culminou na adoção de novas técnicas processuais capazes de tutelar bens que afetam a um número indeterminado de pessoas. Em face de uma realidade social, agora marcada pelos processos de massificação dos conflitos, institutos como a legitimação para agir, o interesse processual, a representação, a substituição processual, os limites subjetivos e objetivos da coisa julgada, dentre outros, tiveram que ser repensados. No que diz respeito à coisa julgada e à legitimação para a causa, há uma questão a ser enfrentada. É que o modelo de processo coletivo vigente ainda se assenta na lógica do processo individual, tendo adotado o modelo representativo de legitimação para agir que, por sua vez, acabou por conferir a um rol de legitimados a iniciativa para propor a ação coletiva. Nesse sentido, a opção legislativa pelo modelo representativo restringiu a possibilidade de defesa e discussão desses direitos em juízo, em especial dos direitos difusos, pelos interessados naturais atingidos pelo bem, fato ou situação jurídica, limitando, por sua vez, a participação desses interessados na formação do objeto do processo, que se mantêm, nos moldes da legislação atual, atrelado ao pedido formulado pelo legitimado legal. Portanto, o que se propõe no presente trabalho é discutir criticamente o Processo Coletivo, apresentando a Teoria das Ações Coletivas como Ações Temáticas, uma vez que nestas, a formação do objeto ou do mérito se estabelece de forma participada, posto que não se vincula ao sujeito que propõe a ação, mas será definido a partir dos temas postos em juízo por todos aqueles que em maior ou menor medida foram afetados pelo fato, bem ou situação jurídica. No que tange à coisa julgada, demonstraremos que o modelo de coisa julgada secundumeventum litis adotado pela legislação pátria é inapropriado exatamente por atrelar-se ao modelo representativo e por fundar-se em um processo coletivo centrado no sujeito e não no seu objeto. Por fim, pretende o presente trabalho compreender o instituto da coisa julgada e o processo coletivo na contemporaneidade, considerando que os temas, objeto de nosso estudo, deverão ser repensados sob o enfoque tanto do Paradigma Procedimental de Estado Democrático de Direito, quanto do Modelo Constitucional do Processo esculpido na Constituição da República Federativa do Brasil. 2.Aspectos Históricos acerca do Instituto da Coisa Julgada 2.1 Considerações introdutórias A natureza jurídica do instituto da coisa julgada continua a ser até os dias atuais um dos temas mais polêmicos e, sem dúvida, um dos mais importantes para a ciência processual. Ao longo da história várias teorias foram formuladas, podendo-nos remontar àquelas que sustentam ser a coisa julgada simples presunção de verdade, outras que asseguram tratar-se de uma ficção, além das que a entendem como mera verdade formal (PORTO, 1996). Em conformidade com o que nos ensinou Enrico Túlio Liebman, a res iudicata, durante muito tempo, foi considerada por parte da doutrina, ora como um dos efeitos da sentença, ora como sua eficácia específica, podendo ser entendida como o conjunto de conseqüências que a lei faz derivar da sentença ou como o conjunto de requisitos exigidos para valer plenamente e ser considerada perfeita (LIEBMAN, 1984). Esta visão acerca da coisa julgada inspira-se em antiga e augusta tradição, mais precisamente na romanística. Para os romanos, o particípio iudicataqualificava o substantivo res, para indicar em relação a esta a situação particular que advinha de já se ter proferido julgamento, tal como a expressão in iudicium deducta qualificava a res submetida ao conhecimento do juiz, mas ainda não julgada. A res iudicata outra coisa não seria para a concepção romana que a res iudicium deducta depois que foi iudicata. Sem dúvida, porque era a sentença que produzia a conversão da res in iudicium deducta em res iudicata (BARBOSA MOREIRA, 1970). Já na Idade Média, quando se propagou o estudo do direito romano, utilizouse largamente o Direito Justiniano, tendo os glosadores, pós-glosadores e canonistas preservado os textos romanos referente à res iudicata. A partir desse período, são construídas duas grandes teorias civilistas sobre a coisa julgada, as de Pothier e Savigny (BORGES, 1980). Fundados em textos de Ulpiano, juristas da Idade Média identificavam a autoridade da coisa julgada na presunção de verdade contida na sentença. Para eles, a finalidade do processo era a busca da verdade. Entretanto, nem sempre a sentença reproduzia a verdade esperada, existindo a possibilidade de sentenças injustas adquirirem a qualidade de coisa julgada. Não seria por essa circunstância, porém, que a sentença, apesar de nem sempre reproduzir a verdade, deixaria de adquirir a autoridade de coisa julgada e, diante da impossibilidade de se afirmar que a sentença sempre representaria a verdade material, encontraram na presunção de verdade o fundamento jurídico para a sua autoridade. É bom lembrar que a Teoria de Pothier alcançou, nos tempos modernos, consagração no Código de Napoleão, daí estendendo-se para outros Códigos. Disciplinada pelo Regulamento n° 737, de 1850, dispunha o artigo 185 que “São presunções legais absolutas os fatos ou atos que a lei expressamente estabelece como verdade, ainda que haja prova em contrário, como a coisa julgada.” (SANTOS, 1982, p. 433). A teoria da ficção da verdade elaborada por Savigny, por seu turno, partiu da constatação de que também as sentenças injustas adquiriam autoridade de coisa julgada, assim como a teoria da presunção da verdade. Dessa forma, a sentença se apresentava numa mera ficção da verdade, uma vez que a declaração nela contida nada mais representava do que uma verdade aparente. E, nessa medida, produziase uma verdade artificial, uma ficção (PORTO, 1996). Com a elaboração científica do direito processual, as teorias civilistas acerca da coisa julgada foram paulatinamente abolidas, elevando-se a coisa julgada à categoria de instituto processual e, portanto, de natureza essencialmente pública. A propósito, acerca da assertiva acima, transcreve-se os seguintes comentários do Professor Alexandre Isaac Borges: A concepção publicística de que resultou o conceito do processo como relação jurídica e da ação como um direito autônomo, teria interferido nas idéias a respeito da coisa julgada, levando a doutrina a duas concepções distintas, oriundas da pesquisa quanto à natureza do vínculo dela resultante, para uns de direito material, para outros de direito processual. À base dessas cogitações estava a preocupação de saber se o julgado implica alteração nas relações jurídicas deduzidas no processo, conferindo-lhes uma feição nova ou de outra forma, se atém a uma preceituação de índole exclusivamente processual. Em outros termos, se a coisa julgada altera, em sua essência mesma, a relação jurídica decidida ou limitase – quando a essa relação - a uma qualificação processual, vinculativa para as partes e para os órgãos jurisdicionais. (BORGES, 1980, p.116) Na esteira de tais argumentações, juristas como Pagenstecher, Ihering, Ugo Roco e Carnelutti, dentre outros, desenvolveram suas teorias no intuito de explicar o fundamento jurídico da coisa julgada e, pela autoridade dos escritores que as defenderam, foram largamente difundidas, em especial, a de Savigny e Pothier. Uma revisão doutrinária acerca do tema nos permite citar as principais teorias a que se referem a doutrina pátria, quais sejam: a “teoria da presunção da verdade”, fundada em textos de Ulpiano; a “teoria da ficção da verdade”, elaborada por Savigny; a “teoria da força substancial da sentença” de Pagenstecher; a “teoria da eficácia da declaração” em escritos de Hellwig, Binder, Stein, como seus maiores representantes; a “teoria da extinção da obrigação jurisdicional” em Ugo Roco; a “teoria da estabilidade do ato” desenvolvida por Carnelutti; a “teoria da vontade do Estado” por Chiovenda e a teoria de Enrico Túlio Liebman (SANTOS, 1995). Entretanto, não deixando de lado a autoridade de tais orientações, são nos ensinamentos de Chiovenda e Liebman que encontramos os verdadeiros fundamentos para o estudo do tema.49 Como ensinou Liebman (1984) em seus apontamentos, muitas foram as contribuições de Chiovenda para o estudo da coisa julgada. Segundo o autor, sua teoria permitiu depurar o conceito e o fenômeno da coisa julgada de conceitos e fenômenos afins, ou seja, separar o seu conteúdo propriamente jurídico de suas justificações político-sociais. Demais disso, Chiovenda distinguiu a autoridade da coisa julgada da simples preclusão, que é a impossibilidade de se tornar a discutir no decurso do processo 49 Recente estudo sobre o instituto da coisa julgada em Chiovenda e Liebman foi publicado sob a coordenação do ilustre professor Rosemiro Pereira Leal em: LEAL, Rosemiro Pereira (coord). O ciclo teórico da coisa julgada: de Chiovenda a Fazzalari. Belo Horizonte: Del Rey, 2007. uma questão já decidida e, consequentemente, distinguiu a autoridade da coisa julgada do fato processual da irrecorribilidade de uma sentença ou de uma decisão interlocutória. Nesse sentido, não só a força obrigatória da sentença derivava do Estado, mas também a sua imutabilidade e indiscutibilidade. A teoria limitou a autoridade da coisa julgada ao campo do mérito da ação, à decisão que declara procedente ou improcedente o pedido do autor, subtraindo do conceito de coisa julgada toda a atividade lógica desenvolvida pelo juiz no processo, considerando apenas como fundamento da autoridade da coisa julgada a vontade do Estado, ditado na sentença pelo órgão judiciário. Demais disso, acentuou a sua finalidade prática, o seu caráter publicista, atribuindo ainda à sentença a qualidade de ato estatal irrevogável e de força obrigatória (LIEBMAN, 1984). Para Chiovenda, a autoridade da coisa julgada não era o resultado do elemento lógico da sentença, mas do seu elemento volitivo, da vontade do juiz, representante da vontade do Estado. A coisa julgada substancial consistiria, desta feita, na indiscutibilidade da existência da vontade concreta da lei afirmada na sentença e esta seria compreendida como a afirmação ou a negação da vontade do Estado que garantia a alguém um determinado bem da vida. Contudo, sem desmerecer o indubitável avanço doutrinário trazido pela teoria da vontade do Estado desenvolvida por Chiovenda, a natureza jurídica da coisa julgada permaneceu atrelada aos efeitos da sentença. Já Enrico Túlio Liebman, ao contrário, entendeu que a coisa julgada não expressaria, em si mesma, efeito algum, mas tão somente refere-se a uma qualidade de permanecerem os efeitos da sentença imutáveis no tempo, asseverando que “Ser uma coisa imutável é justamente uma qualidade dessa coisa, como ser branca, ou boa, ou durável.” (LIEBMAN, 1984, p. 51). No mesmo sentido, exemplifica que [...] se a finalidade da construção de um arranha-céu ou de uma casa de cimento armado é levantar um edifício muito alto ou muito sólido, não são, em rigor, a altura ou a solidez o efeito, mas somente, uma qualidade do resultado dessa atividade.(LIEBMAN, 1984, p. 51). A partir dessa constatação, o conceito de autoridade da coisa julgada foi definido como a imutabilidade do comando emergente de uma sentença. A coisa julgada, na perspectiva Liebmaneana, não se restringiu à noção de definitividade e intangibilidade do ato que pronuncia o comando, como efeito deste, mas, ao inverso, passou a ser compreendida como uma qualidade, mais intensa e mais profunda, que se adere ao ato em seu conteúdo50, tornando, desta feita, imutável, “[...] além do ato em sua essência formal, os efeitos, quaisquer que sejam, do próprio ato.” (LIEBMAN, 1984, p. 54). Ademais, por ser apenas o comando pronunciado pelo juiz a sofrer o efeito da imutabilidade, a conclusão quanto ao limites objetivos seria uma só: a atividade lógica exercida pelo juiz estaria excluída da coisa julgada. Quanto aos limites subjetivos, a imutabilidade valeria apenas entre as partes, visto que apenas elas participaram da relação jurídica processual, expondo suas razões e se fazendo ouvir, para, ao final, com a consumação da prestação jurisdicional, serem atingidos pelo decisum. Em grande medida, os doutrinadores pátrios acolheram os ensinamentos de Liebman, identificando o instituto da coisa julgada não como os efeitos ou a eficácia da sentença, mas sim, como uma qualidade revestida na característica da imutabilidade dos seus efeitos. No entanto, a autoridade de coisa julgada que reveste o dispositivo da sentença, tornando imutável e indiscutível a norma por ela declarada, está condicionada a um determinado pedido e a uma específica causa de pedir, haja 50 Como representante da doutrina pátria, Barbosa Moreira vai além ao estudar a coisa julgada, não se restringindo ao que propôs Liebman. Para ele, a coisa julgada não seria uma qualidade da sentença e dos seus efeitos, mas apenas da sentença, ou melhor, do comando que emerge do conteúdo dispositivo da decisão. A análise concreta da vida jurídica permitiu ao autor concluir que: se algo escapa ao alcance da imutabilidade, seriam justamente os efeitos produzidos pela sentença, permanecendo inerte apenas o seu conteúdo e não a relação jurídica propriamente dita, sobre a qual se decidiu. A imutabilidade, inerente apenas à sentença, não alcançaria o arbítrio das partes que poderiam alterar aquilo que fora delimitado pela decisão. A coisa julgada não se identificaria nem com a sentença trânsita em julgado, nem com o especial atributo da imutabilidade, tampouco com a eficácia da sentença. Seria sim, uma nova situação jurídica, que surgiria com a preclusão dos recursos, revestida pelo caráter da imutabilidade. Contrariando o que dispunha Liebman, Barbosa Moreira também demonstrou que no nosso ordenamento as sentenças produziriam seus efeitos somente após o trânsito em julgado da sentença. Sobre o tema, consultar: BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Coisa julgada e declaração. Revista dos Tribunais, ano 60., v. 429., p. 21-27, jul. 1971; BARBOSA MOREIRA, José Carlos, Conteúdo e efeitos da sentença: variações sobre o tema. Revista de Processo, ano 10, v. 40, p. 7-12, out/dez. 1985; BARBOSA MOREIRA, José Carlos, Eficácia da sentença e autoridade da coisa julgada. Revista de Processo, ano 09, v. 34, p. 273-285, jun. 1984. vista que para a sua caracterização, há de se respeitar a tríplice identidade da demanda. Esse é o entendimento que prevalece nos casos de tutela a direitos puramente individuais, em que há um autor, um réu, possíveis intervenientes, uma causa de pedir e um pedido. O problema ocorre, quando o dano ou o tema encaminhado no processo atinge um número indeterminado de pessoas, rompendo com a tradicional equação dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada. Assim, questão que se torna relevante ao estudo do tema proposto, diz respeito ao alcance subjetivo da coisa julgada, qual seja, se esta atinge somente as partes da relação processual originária ou se há a possibilidade de que terceiros ao processo, da mesma feita, sejam por ela atingidos. 2.2 Os limites subjetivos da coisa julgada Seguindo a tradição romana, regra geral, estipulou-se que apenas as partes podem ser alcançadas pela autoridade da coisa julgada. Desta forma, terceiros, não admitidos ao processo estariam imunes a esses efeitos, podendo, até mesmo, ignorar sua existência. É nesse sentido o ensinamento de SANTOS: No direito romano, estabelecida a litiscontestatio, pela qual as partes se obrigavam a aceitar aquilo que fosse decidido, e, pois, se obrigavam à decisão, somente elas eram atingidas pelos efeitos da coisa julgada. Vários textos romanos consagram essa doutrina, tais o de Ulpiano (D. 44.2.1.): cum res interaliosiudicatanullumaliispraeiudiciumfacient – a coisa julgada não produz nenhum prejuízo a terceiros, o de Macer (D. 44.1.63): res interaliosiudicataaliis non praeiudicare – a coisa julgada não prejudica terceiros; o de Paulo (D. 3. 2. 21): non opportetexsententiasiveiustasiveiniusta, pro alio habita aliumpregravari – a sentença produzida entre as partes, seja justa ou injusta, não deve atingir terceiros. (SANTOS, 2009, p. 73). Há, contudo, um problema a ser enfrentado, pois, muito embora a regra fundamental pensada pelos romanos afaste a possibilidade de que estranhos ao processo sejam atingidos pela soberania da coisa julgada, certo é que os efeitos da sentença podem, em certa medida, se estender aos terceiros, alheios ao processo. A pergunta que se coloca, então, é: se a sentença produz efeitos para além das partes no processo, estes terceiros seriam também atingidos pela soberania da coisa julgada? No intuito de responder a esses questionamentos, juristas, tanto no Direito Romano, como no Direito Medieval e Moderno, se preocuparam em explicar o fenômeno da extensão subjetiva da coisa julgada (SANTOS, 2009). Para o ilustre processualista GRECO FILHO, a questão acerca da extensão subjetiva da coisa julgada somente encontrou assento quando se fez a distinção entre os efeitos da sentença e os efeitos da coisa julgada: A sentença, ato de conhecimento e vontade do poder estatal jurisdicional, quando é editada, põe-se no mundo jurídico e, como tal, produz alterações em relações jurídicas de que são titulares terceiros, porque as relações jurídicas não existem isoladas, mas inter-relacionadas no mundo do direito. Assim, os efeitos das sentenças podem atingir as partes (certamente) e terceiros (2007, p. 280). A teoria da representação de Savigny deve ser lembrada, da mesma feita, como marco teórico na evolução do tema nos tempos modernos. Sua proposta foi explicar a extensão da coisa julgada a terceiros, em razão de laços de representação que estes possuíssem com uma das partes e “também a terceiros que tivessem seus interesses representados no processo” (SANTOS, 2009, p. 74). Relevante, do mesmo modo, é a teoria dos efeitos reflexos da coisa julgada, fundada no pensamento de Ihering. Para explicar a extensão subjetiva da coisa julgada, propugnou o mestre que os atos jurídicos produzem efeitos diretos e indiretos. Os primeiros, os efeitos diretos, representam os efeitos queridos e previstos pelas partes, os segundos, os efeitos indiretos, seriam aqueles efeitos não previstos, nem queridos, contudo, inevitáveis. Assim, segundo a concepção da teoria dos efeitos reflexos, a coisa julgada opera seus efeitos diretos entre as partes, por elas desejados e previstos, mas, por sua vez, produz, do mesmo modo, efeitos indiretos ou reflexos em relação a terceiros, não queridos, nem desejados pelas partes, porém, inafastáveis. Esta teoria foi reconhecida por juristas de escol e adotada como base de toda a construção teórica acerca do tema por Chiovenda, Betti, Segni, Redenti e Carnelutti. 2.2.1 Os limites subjetivos da coisa julgada na legislação pátria O artigo 472 do Código de Processo Civil brasileiro estabelece que a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando nem beneficiando terceiros. Essa é a regra fulcral a respeito dos limites subjetivos da coisa julgada no campo dos direitos individuais. Fundados na regra inscrita na legislação processual civil, serão atingidos pelos efeitos da coisa julgada, portanto, os autores, os réus, os denunciantes, os chamados, os opoentes e os nomeados que tenham sido admitidos ao processo, excetuando-se desta regra terceiros que não participaram e que, por esta razão, não tiveram a oportunidade de manifestar-se, de defender-se ou de expor suas razões. Do contrário, ou seja, caso houvesse a possibilidade de terceiros serem atingidos pela autoridade da coisa julgada, flagrante seria a violação às garantias do devido processo legal, esculpido nos princípios do contraditório, da ampla defesa e da isonomia (GONÇALVES, 2006). Não se pretende, contudo, afirmar que estranhos possam ignorar a sentença. Isto porque, adotou o legislador pátrio a concepção de Liebman de que a eficácia natural da sentença vale para todos, como há de ocorrer sempre que estivermos diante de qualquer ato jurídico. Entretanto, a autoridade da coisa julgada atuará somente entre as partes. Como nos ensina o ilustre professor Humberto Theodoro Júnior: Não é certo, portanto, dizer que a sentença só prevalece ou somente vale entre as partes. O que ocorre é que, apenas a imutabilidade e a indiscutibilidade da sentença não podem prejudicar, nem beneficiar, estranhos ao processo em que foi proferida a decisão trânsita em julgado (THEODORO JÚNIOR, 2007, p. 616). Insta observar que o modelo tradicional dos limites subjetivos da coisa julgada às partes, disciplinado como está pelo Código de Processo Civil, atende apenas à defesa de direitos e interesses individuais. Quando muito, como vimos, se discute em sede doutrinária a extensão desses efeitos a terceiros. O desafio maior surge, porém, quando o processo e a atividade jurisdicional atuam para o reconhecimento de direitos supraindividuais ou metaindividuais, como o é o direito do consumidor, do meio ambiente, do patrimônio histórico, artístico, urbanístico, dentre outros. Nessa perspectiva, a partir das décadas de 70 e 80 do século passado, a doutrina do processo passou a defender a idéia de rompimento e da necessidade de uma profunda metamorfose do direito processual tradicional, haja vista que os institutos processuais individualistas e de concepção liberal em vigor encontravamse aptos, somente, a dar soluções a conflitos do tipo Caio versusTício. 3. A necessidade de reformulação do instituto da coisa julgada para a tutela dos direitos coletivos 3.1 Da tutela dos interesses individuais à proteção dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos Na contemporaneidade, como vimos, o instituto da coisa julgada teve de assumir novos contornos. Isto porque nas últimas décadas do século XIX e nas primeiras décadas do século XX, o intricado desenvolvimento das relações sociais, econômicas e ambientais fez surgir problemas até então desconhecidos às lides meramente individualistas. Como nos ensina Mancuso, Nessa sociedade de 'massa' não há lugar para o homem enquanto indivíduo isolado; visto que ele é tragado pela roda-viva dos grandes grupos em que se decompõe a sociedade; não há mais a preocupação com as situações jurídicas individuais, o respeito ao indivíduo enquanto tal, mas, ao contrário, indivíduos são agrupados em grandes classes ou categorias, e, como tais, normatizados (MANCUSO, 1991, p.75). Em virtude dessa substancial transformação, da passagem de uma sociedade individualista para uma sociedade de massas, valores de outra ordem, coletivos e difusos, passaram a clamar por proteção. Como constata Barbosa Moreira, os institutos processuais foram, fundamentalmente, construídos para atender aos conflitos de interesses individuais. A esfera dessas relações é tradicionalmente satisfeita pelo modelo dualístico de tutela judiciária, na qual se contrapõem, rotineiramente, duas pessoas, uma na condição de credora, outra na condição de devedora (BARBOSA MOREIRA, 1982). Foi, contudo, somente a partir de meados do século passado que se observou uma maior preocupação doutrinária e legislativa com as denominadas ações coletivas em sentido amplo. Assim, na contemporaneidade, a discussão sobre a importância e o alcance da coisa julgada adquiriu novo sentido com o reconhecimento de situações conflituosas envolvendo coletividades mais ou menos amplas. Com a necessidade de tutela de direitos difusos, a estrutura clássica do processo civil, tal como subsistia na generalidade dos ordenamentos jurídicos, teve que passar por um processo de reformulação, o que culminou na adoção de novas técnicas processuais capazes de atender a direitos que pertencem a todos, ao mesmo tempo. O instituto da coisa julgada, preservado desde a sua origem na maioria dos ordenamentos jurídicos, mereceu revisão e ressurgiu, nesse contexto, adequado à proteção desses direitos, sobretudo no que tange à tutela do direito do consumidor, meio ambiente, da preservação de valores estéticos, históricos, paisagísticos, além, é claro, da moralidade e legalidade dos atos da Administração Pública. Contudo, como evidencia o ilustre professor Vicente de Paula Maciel Júnior, há tempos não há “[...] avanços ou contribuições de relevo, com um significativo abandono das pesquisas sobre o tema.”, haja vista que as principais publicações se deram entre as décadas de 70 e 80 do século passado (MACIEL JÚNIOR, 2006, p. 121). Importante lembrar que uma das maiores dificuldades para a realização do acesso à justiça dos direitos difusos, segundo Cappelletti, diz respeito ao problema da legitimação51. É que o processo, ainda vinculado a um excessivo rigor conceitual, não admitia a tutela judiciária de direitos que não estivessem restritos ao titular do 51 Neste ponto, é preciso esclarecer que Fazzalari faz a distinção entre a “legitimação para agir” trabalhada pelo Direito Processual Civil, da “legitimação” (conceito geral do direito) como gênero, do qual “legitimação para agir” é espécie. A legitimação em gênero é considerada sob um duplo aspecto: o da situação legitimante” e o da “situação legitimada”. Segundo Fazzalari, a situação legitimante consiste em uma situação constituída perante a qual um poder, uma faculdade ou um dever são conferidos a um sujeito. Nessa concepção, a “legitimação para agir” será deduzida do provimento e, em conseqüência, da medida jurisdicional por ele emanada. O provimento, assim, será a base, o ponto referencial, para se extrair da situação legitimante quem são os sujeitos do processo, aqueles que estarão “legitimados para agir”. In: GONÇALVES, Aroldo Plínio. Técnica Processual e Teoria do Processo. 1.ed. Rio de Janeiro: Aide Editora, 2001. p. 144 et seq. interesse deduzido em juízo, o que frequentemente fechava as portas do judiciário à tutela dos direitos difusos e coletivos (CAPPELLETTI, 1977, p. 131). Com efeito, o cerne da discussão concentrava-se na necessidade de revolucionar o conceito de legitimação para agir (já que o que se procurava era uma eficiente e adequada representação desses novos direitos, em face da inconsistente atuação dos órgãos públicos), estendendo essa legitimação também a sujeitos privados, indivíduos e associações, diretamente ou, tão-somente, indiretamente interessados e, consequentemente, a revisão dos efeitos subjetivos da coisa julgada. Em outras palavras, em virtude do reconhecimento de que o sujeito privado, indivíduo ou grupo, poderia agir não só movido por um interesse egoístico, mas, também, em razão de um valor comunitário, destinado a ter um significado que transcende as partes em juízo, novas preocupações vieram a assolar os operadores do direito. Mais precisamente, quanto ao aprimoramento das exigências de lealdade das partes, dos efeitos das decisões e do controle do juiz sobre o processo. Certo é que a necessidade de institucionalização de novas formas de participação política e de mobilização sociais sugeriram uma reflexão crítica dos mecanismos vigentes, com o propósito de adequar os instrumentos de composição de conflitos individuais às novas e desafiadoras exigências do nosso tempo. Em vista disso, contrariando o que dispõe a regra geral do Código de Processo Civil, a Lei 4.717/65 que regulamenta a Ação Popular, a Lei 7.347/85, que disciplina a Ação Civil Pública e a Lei 8.078/90 que estabelece Código de Defesa do Consumidor,52 não nos esquecendo da Constituição Federal de 1988, que alçou a defesa dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos à categoria de norma constitucional, acabaram por adequar a legislação processual para a defesa de relações de massa que se expandem continuamente, bem como para o alcance de problemas correlatos, fruto do crescimento da produção, dos meios de 52 Não podemos nos esquecer que há no nosso ordenamento, no plano infraconstitucional, além da Lei da Ação Popular (Lei 4.717/65), da Lei da Ação Civil Pública (Lei 7.347/85) e do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.069/90), outras normas voltadas à tutela dos direitos difusos e coletivos, quais sejam: a Lei 7.853/89, para a proteção dos direitos difusos dos portadores de deficiência; a Lei 7.9130/89, para a tutela de danos causados aos titulares de valores mobiliários e aos investidores no mercado; a Lei 8.069/90, que trata da proteção à infância e à adolescência; a Lei 8.884/94, que dispõe sobre a defesa do consumidor em face das infrações contra a ordem econômica; a Lei 8.429/92 que trata da improbidade administrativa e a Lei 10.741/2003, que disciplina a proteção ao idoso. comunicação, do consumo, do número de funcionários e dos trabalhadores, dentre outros (MENDES, 2002). Na atualidade, o tema ressurgiu em razão dos esforços despendidos para a criação de um Código de Processo Civil Coletivo Brasileiro, após a aprovação do Código-Modelo de Processos Coletivos para Ibero-América pela Assembléia-Geral do Instituto Ibero-Americano de Direito Processual.53 Podemos afirmar, desta feita, que a legislação pátria inovou ao criar um verdadeiro sistema na tentativa de permitir a tutela jurisdicional dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos.54 3.2 Considerações sobre a coisa julgada secundumeventum litis e o modelo de legitimação ad causam nas ações coletivas No que tange ao tratamento dado pela legislação à coisa julgada, objeto do presente estudo, a legislação consumerista valeu-se das expressões erga omnes e ultra partes para revelar que nas ações coletivas a imutabilidade do decisum alcançará pessoas que não participaram da relação jurídica processual. Mazzilli evidencia que embora sejam expressões semelhantes, pois ambas transmitem a pretensão de que no processo coletivo a imutabilidade da sentença produz seus efeitos para além das partes, é bem verdade que o legislador pátrio tratou de forma diversa os seus efeitos (MAZZILLI, 2003). É essa a noção que se extrai por meio da leitura que se faz do art. 103, incisos I, II e III, do Código de Defesa do Consumidor. Estabelece o referido artigo que na defesa dos direitos difusos (inciso I, do parágrafo único do art. 81 do CDC), a sentença trânsita em julgado produz seus 53 Sobre o tema, consultar: MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Ações coletivas nos países iberoamericanos: situação atual, Código Modelo e perspectivas. Revista de processo, São Paulo, ano 32, n. 153, p. 189-216, nov. 2007; GRINOVER, Ada Pellegrini. Novas tendências em matéria de ações coletivas nos países de civil law. Revista de processo, São Paulo, ano 33, n. 157, p. 147-164, nov. 2008 e ALMEIDA, Gregório Assagra de. Direito material coletivo: superação da summadivisio direito público e direito privado por uma summadivisio constitucionalizada. Belo Horizonte: Del Rey, 2008. 54 Nas palavras de MANCUSO: “O mais importante, no campo da coisa julgada nas ações coletivas, é sempre ter presente que ela há de se estender até onde se projete o interesse metaindividual cuja tutela se pretende, e de modo a alcançar todos os sujeitos a ele concernentes. Não é possível, v.g., ‘restringir a coisa julgada aos aderentes de uma associação de consumidores que tenha ajuizado ação coletiva em defesa de interesses individuais homogêneos, porque o de que se trata é de uma tutela judicial ao interesse metaindividual objetivamente considerado, e nem por outro motivo o art. 95 do CDC prevê uma condenação genérica.” (2001, p.157). efeitos erga omnes, querendo com isso estabelecer que a imutabilidade da sentença alcançará todo o grupo social, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar nova ação, com idêntico fundamento, valendo-se, contudo, de nova prova. No caso de julgamento de improcedência do pedido por motivo outro que não seja a insuficiência de provas, a eficácia erga omnes permanecerá, não prejudicando, no entanto, interesses individuais diferenciados. Nestes casos, a sentença de procedência beneficiará os lesados individuais, reunidos por interesses homogêneos, como pode ocorrer, por exemplo, em sede de Ação Civil Pública que reconhecendo a materialidade do evento danoso e a responsabilidade de indenizar o réu, estenderá seus efeitos para além das partes originárias do processo, beneficiando outras vítimas, as quais apenas terão de provar o nexo de causalidade entre o fato e o seu dano individual, haja vista que o evento danoso e a responsabilidade do causador do dano já foram reconhecidos na sentença coletiva transitada em julgado (MAZZILLI, 2003). Na hipótese de defesa dos direitos coletivos (inciso II, do parágrafo único do art. 81 do CDC), o legislador estabeleceu que a sentença trânsita em julgado produz efeitos ultra partes. Pretende o legislador, aqui, alcançar mais que as meras partes do processo originário, mas menos que todo o grupo social, uma vez que limitou a imutabilidade da sentença ao grupo, classe ou categoria de lesados, exceto se o julgamento for pela improcedência por falta de provas. Neste caso, como dito anteriormente, nova ação poderá ser intentada por outro legitimado, desde que fundada em nova prova. Caso a sentença seja de improcedência do pedido por outro motivo que não a insuficiência de provas, permanece a eficácia ultra partes da sentença coletiva. Os interesses individuais, entretanto, estarão protegidos de um eventual julgamento de improcedência na ação coletiva, mesmo se a improcedência se fundar em outro motivo que não a insuficiência de provas, mas para se valer da coisa julgada em processo coletivo, o autor da ação individual deverá requerer a suspensão do seu processo individual, nos termos do artigo 104 do Código de Defesa do Consumidor (MAZZILLI, 2003). Lado outro, no que tange à tutela dos interesses individuais homogêneos (inciso III, do parágrafo único do art. 81 do CDC), a sentença produzirá efeitos para além das partes somente se o resultado for de procedência do pedido, beneficiando outras vítimas e sucessores. Para se beneficiar da coisa julgada formada em ação coletiva, o autor da ação individual deverá requerer, da mesma feita, a suspensão do processo nos exatos termos do artigo 104 do CDC. Demais disso, a extensão do julgado somente ocorrerá in utilibus, ou seja, nos casos de procedência, pois se o resultado for a improcedência, os lesados individuais que não intervieram como assistentes litisconsorciais não estarão impedidos de propor suas ações individuais (MAZZILLI, 2003). Em síntese, o sistema de coisa julgada no Código de Defesa do Consumidor trabalha com dois critérios, in utilibuse secundumeventum litis. Ada Pellegrini Grinover, ao comentar as novas tendências do processo coletivo para os países de tradição romano-germânica, aponta que as dificuldades de informação, de conscientização de grande parcela da população e as mazelas para o incremento do acesso à jurisdição, dentre outras razões, fizeram com que a coisa julgada secundumeventum litis fosse adotada pela maioria dos países IberoAmericanos (GRINOVER, 2008). Nesse sentido, a autora assim escreve: Conhecem-se as críticas da doutrina processual tradicional sobre a coisa julgada secundumeventum litis e estamos cientes que a solução supra apontada privilegia os membros do grupo que, depois de perder uma ação coletiva, ainda têm a seu favor a possibilidade de ajuizar ações individuais (enquanto o demandado, que ganhou a ação coletiva, pode ser novamente acionado a título individual). Mas se trata de uma escolha consciente: entre prejudicar com uma coisa julgada desfavorável o membro do grupo que não teve a possibilidade de optar pela exclusão, pela técnica do opt out; entre o risco de esvaziamento dos processos coletivos, pela técnica do opt in, a grande maioria dos países ibero-americanos preferiu privilegiar os membros do grupo, invocando um princípio de igualdade real (e não apenas formal), que exige que se tratem diversamente os desiguais. E certamente os membros de uma classe, desrespeitada em seus valores fundamentais, merece o tratamento diferenciado próprio das pessoas organizacionalmente mais vulneráveis. Na prática, aliás, a solução supra apontada não é perversa como poderia parecer à primeira vista: perdida a demanda coletiva, ainda são possíveis as ações individuais, é certo. Mas a decisão contrária proferida no processo coletivo terá sua carga de poderoso precedente e poderá ser utilizada pelo demandado (não para impedir o ajuizamento da demanda individual, como ocorreria se houvesse coisa julgada, mas para influir no convencimento do novo juiz). Aliás, na demanda coletiva julgada improcedente, o demandado já terá exercido na maior plenitude possível todas as suas faculdades processuais – inclusive as probatórias – e a(s) demanda(s) individuais versarão sobre a mesma causa petendi, já enfrentada vitoriosamente pelo demandado. (GRINOVER, 2008, p. 158). Contudo, ao nosso sentir, neste ponto reside o problema da coisa julgada no processo coletivo. Isto porque, como reconhece a autora, a opção do legislador à adoção do modelo de coisa julgada secundumeventum litis e a conseqüente solução dada para o processo coletivo é compatível com uma realidade na qual o indivíduo, longe de se comprometer na construção de sua própria estória e na tutela dos direitos difusos e coletivos, como forma de controle e fiscalização dos atos ilegais e lesivos praticados pela Administração Pública ou na proteção de direitos fundamentais, como o meio ambiente, o patrimônio histórico, paisagístico, a saúde ou a educação, ao contrário, se submete a ela. Melhor dizendo, o indivíduo, nesse modelo, está relegado à tutela de seus interesses privados, egoísticos, mormente nas hipóteses em que há dano de cunho pecuniário. E nem poderia ser de outra maneira, posto que o modelo da coisa julgada secundumeventum litis está intimamente vinculado ao modelo representativo de legitimação adotado para a tutela dos direitos difusos. É que o modelo representativo, centrado na pessoa do sujeito, foi construído a partir da premissa de uma eventual fragilidade do indivíduo no tratamento desses direitos. Como consequência, retirou-se dos interessados naturais a possibilidade de agir em defesa direta do bem afetado, restringindo sua participação ao se eleger órgãos intermediários, como o Ministério Público, as associações, os sindicatos, dentre outros, em flagrante violação aos ditames do paradigma do Estado Democrático de Direito e do exercício de uma cidadania participativa no âmbito do processo judicial. Em outras palavras, o processo coletivo que adota o modelo de representação adequada dos legitimados naturais, mormente na tutela dos direitos difusos, restringe a participação efetiva de todos aqueles que foram tocados pelo bem, fato ou situação jurídica posta em juízo, o que inviabiliza a formação participada do mérito, muito embora sejam interessados difusos e afetados pelo provimento judicial. Mais precisamente no âmbito dos direitos difusos há, segundo o ilustre professor Vicente de Paula Maciel, uma peculiar situação no que toca à legitimação para agir. Isto porque não existe uma vontade difusa, mas sim interessados difusos. É que na tutela dos direitos difusos não se pode afirmar que há uma renúncia tácita por parte dos legitimados individuais de suas vontades individuais em prol de uma vontade comum, única ou coletiva. Isto se afirma porque o direito difuso não é organizado por meio de assembléias e deliberações de um grupo ou de uma categoria de pessoas, como ocorre no plano do direito coletivo stricto sensu. Nessa perspectiva, não há um interesse difuso, mas tão somente interessados difusos. Nesse sentido, é bom lembrar que o interesse será sempre uma manifestação de um sujeito em face de um bem, podendo existir, no plano coletivo, interesses individuais que sejam diversos e até mesmo contrários sobre um mesmo fato ou situação jurídica. Para a tutela de fins comuns, coletivos, o grupo ou a categoria até poderá deliberar pela vontade da maioria que representa em juízo as diretrizes a serem seguidas para a proteção dos direitos do grupo, segundo o processo de escolha previsto em seus estatutos e fruto de um processo discursivo de deliberações, muito embora os interesses individuais de uma minoria permaneçam contrários aos interesses e vontades da maioria. Contudo, o direito difuso não é organizado e não há um grupo ou assembléia que delibere a fim de se extrair a vontade da maioria ou, melhor dizendo, essa “vontade difusa” (MACIEL JÚNIOR, 2006). É nesse ponto que reside o problema da legitimidade democrática dos provimentos exarados no processo coletivo construído a partir das premissas liberais do modelo individual de processo. Não obstante a defesa do direito coletivo stricto sensu perpasse um procedimento deliberativo-discursivo para a definição da vontade da maioria, o mesmo não ocorre para a defesa do direito difuso. Contrariando a vocação democrática do processo coletivo, a defesa desses direitos nos ordenamentos jurídicos modernos é geralmente confiada a organismos públicos especializados, como o Ministério Público e as associações. A solução encontrada pela legislação para a proteção dos direitos difusos, contudo, não se mostra eficaz, visto que os interessados difusos, ou seja, todos aqueles tocados pelo fato, situação jurídica ou bem, não são admitidos a participar do processo, havendo, por conseguinte uma limitação dos temas que poderiam ser objeto de discussão judicial. Cria-se, a partir da perspectiva do processo individual a ilusão de que o legitimado extraordinário é o titular da “vontade difusa”, o que acaba por restringir os temas e o objeto da lide à pretensão inicial, ou seja, ao que foi pedido pelo órgão, associação ou Ministério Público. Como a legitimação para a defesa dos direitos coletivos é negada ao indivíduo55, o fenômeno da coisa julgada no processo coletivo teve de atrelar-se a 55 Até mesmo quando se analisa a legitimação para a causa conferida ao cidadão para propor a ação popular, é possível questionar a escolha empreendida pelo legislador pátrio, tanto nas Cartas Constitucionais de 1934, 1946, como no próprio texto da Lei 4.717/65, que regulamentou a ação popular no ordenamento brasileiro e esse modelo, permitindo sempre a possibilidade de rediscussão da matéria para a tutela dos direitos individuais homogêneos. Ora, neste ponto, há inconsistente contradição. Isto porque, a ação individual movida pelo particular, nada mais é que uma ação coletiva e, embora a legitimação para agir seja negada ao indivíduo no processo coletivo, não o é para a propositura da ação individual. A toda evidência, se um indivíduo pode pedir a tutela de um interesse particular seu em face de um bem e se esse bem interessa não somente ao indivíduo, mas a toda a coletividade, indeterminada ou indeterminável, essa demanda ao contrário de resguardar direito individual, protege, sim, direito coletivo, mais precisamente um direito difuso. Para a compreensão do processo coletivo é necessário definir que a ação será coletiva em razão do fato que afeta um número maior ou menor de indivíduos e não em razão do número de sujeitos. Desta feita, o processo coletivo que visa à tutela de direitos difusos deve ser assim denominada não em razão da indeterminação de seus titulares, mas em razão do bem, objeto de discussão, que afeta um número indeterminado de pessoas. Certo é que, uma vez afetado o bem, afetados serão todos os interessados difusos, a todos beneficiando a sentença que julgar favoravelmente o pedido (MACIEL JÚNIOR, 2006). Nas palavras do professor Vicente de Paula Maciel Júnior: Se um indivíduo requer o fechamento de uma empresa até que a mesma instale filtros antipoluentes, porque a qualidade do ar se tornou insuportável à vida humana, esse bem tutelado considerando esse pedido individual poderá gerar um provimento favorável. Esse condicionou uso desse direito à condição de ser cidadão. É também sabido que no Brasil predominou um certo temor à plena e efetiva consolidação das ações populares. Todos que escreveram sobre a ação popular demonstraram seu receio de que as mesmas servissem mais a propósitos particulares, do que à tutela dos interesses comuns. Ademais, tradicionalmente, os estudos desenvolvidos sobre a legitimação para a causa em sede de ação popular revelaram sempre uma interpretação restrita do termo cidadão. Para os autores da época, cidadão, no direito constitucional brasileiro, significava, tão somente, o brasileiro na fruição de seus direitos políticos (PINTO FERREIRA, 1972). Tanto é assim que, embora a Constituição de 1946 e a Lei 4.717/65, dispusessem sobre a legitimação do cidadão para propor a ação popular, o exercício do direito de agir restou condicionado à prova da cidadania, que deveria ser feito com a apresentação do título de eleitor ou documento a ele equiparado. Ora, a ação popular pensada em 1965, após a chamada Revolução de 1964, foi gerada no ventre de uma ordem jurídica de cunho nitidamente autoritário, responsável pela instauração de um período ditatorial, restritivo dos mais fundamentais direitos civis e políticos. Inevitável que fosse ela, assim, contaminada pela atmosfera de arbítrio que pairava nas esferas de poder, uma vez que a Constituição de 1946 já se encontrava desfigurada. Nessa perspectiva, natural que entre dois possíveis sentidos para o termo cidadão, houvesse a doutrina e a jurisprudência acolhido aquele que melhor atendia aos interesses do Estado. provimento favorável não beneficiará apenas aquele indivíduo que move a demanda, mas a todos os que residem no bairro ou na cidade. (MACIEL JÚNIOR, 2006, p. 157). E continua: Se um indivíduo requer o fechamento de uma empresa de uma cidade, porque aquela empresa contraria as normas públicas e não possui filtros, polui o ar e a água e piora a qualidade do meio ambiente, essa decisão, embora em ação individual, levando em conta a saúde daquela parte, terá um efeito (se deferido o pedido) que atingirá todos os demais sujeitos daquele bairro, mesmo que nunca tivessem imaginado promover essa ação. Se um consumidor requer em uma demanda o recolhimento de todas as garrafas d’água de uma determinada empresa, porque elas possuem um índice de produtos químicos que faz mal à saúde, essa demanda se acatada, não beneficiará apenas aquele indivíduo mas toda a coletividade, mesmo se sua demanda tivesse sido movida apenas para a tutela de seu interesse. Ou seja, o fechamento da empresa que polui o ar, o recolhimento das garrafas d’água, mesmo que sejam medidas tomadas em função de uma ação individual de um morador da cidade que se sentiu lesado e moveu a ação para a defesa de seu interesse, poderá gerar efeitos práticos que não se limitam apenas àquele indivíduo, mas a toda a comunidade. (MACIEL JÚNIOR, 2006, p. 173). Assim, são injustificados os receios do legislador em não atribuir ao indivíduo a legitimação para a propositura da ação coletiva, pois, a bem da verdade, é este que suporta os efeitos do provimento que decide sobre o bem que afeta a todos. No paradigma do Estado Democrático de Direito, o que se almeja é que o processo coletivo atenda às premissas de permitir a ampla participação de todos os afetados pelo provimento final e a construção dialogada dos temas que serão objeto de apreciação pelo Judiciário. Essa é a vocação do processo coletivo na atualidade. Mas, para atender a essa vocação natural, o processo coletivo não pode se manter atrelado a um sistema de legitimação para a causa extraído de um modelo de processo de cunho puramente individualista, por ser este modelo incapaz de explicar o fenômeno coletivo. No que diz respeito à coisa julgada, na medida em que o processo coletivo adequar seus esquemas de legitimação, conferindo também ao indivíduo legitimação para a propositura das ações coletivas, a demanda individual perderá sua força. Isto porque, como afirmado anteriormente, a ação para a tutela dos direitos individuais homogêneos, nada mais é que uma verdadeira uma ação coletiva. E, se a ação coletiva propiciar uma maior abertura para que os interessados difusos atuem na formação do mérito, objeto de apreciação pelo Poder Judiciário, permitindo a ampliação das questões a serem decididas por meio de processos discursivos de participação, não haverá interesse por parte do indivíduo na repropositura da mesma ação, para a análise do mesmo tema, haja vista que a ação atingiu o seu desiderato, ao incrementar o debate do objeto trazido a lume pelos vários interessados de maneira ampla. Pois bem, em casos como este, em que há um processo de formação participada na construção do mérito e a decisão é o resultado das diversas vozes que atuaram no processo, a busca pela tutela dos interesses individuais restaria prejudicada, a não ser que o indivíduo assumisse os riscos de rediscutir um tema já definido pelo Judiciário, o que, segundo MACIEL JÚNIOR (2006) já seria um desestímulo à propositura das demandas meramente individuais. Restariam, assim, duas posturas ao autor do processo individual. A primeira, na hipótese de julgamento favorável no processo coletivo e, a segunda, nos casos de sentença desfavorável. Na primeira hipótese, por óbvio, não haverá interesse ou necessidade na propositura da ação individual para requerer a revisão do tema, já que o mesmo foi objeto de apreciação e discussão ampla no processo coletivo, beneficiando, a decisão, todos aqueles tocados pelo fato ou situação jurídica posta em juízo. Lado outro, se a demanda coletiva vier a prejudicar os interesses individuais, ainda assim, haverá a possibilidade de se ajuizar ação individual, mas, neste caso, compete ao indivíduo avaliar a viabilidade de se remeter ao conhecimento do Poder Judiciário matéria já amplamente debatida (MACIEL JÚNIOR, 2006). Dito isso, a questão acerca da coisa julgada secundumeventum litis assume nova feição se considerarmos o processo coletivo como meio democrático de defesa dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, aberto e plural. Um processo que não se mantêm rígido e vinculado às estruturas dos modelos processuais clássicos. Um modelo de processo que considera a ação coletiva como Ação Temática, sensível ao paradigma procedimental e discursivo do Estado Democrático de Direito. 4. As ações coletivas como ações temáticas Compreender o instituto da coisa julgada e o processo coletivo na contemporaneidade significa considerar que os temas, objeto de nosso estudo, deverão ser repensados considerando tanto o Paradigma Procedimental de Estado Democrático de Direito, quanto o Modelo Constitucional do Processo56 esculpido na Constituição da República Federativa do Brasil.57 Para tanto, há que se abandonar a concepção de processo como instrumento da jurisdição e processo como relação jurídica58. Para a construção do provimento final, o procedimento deverá conformar-se a uma específica estrutura de normas, atos, situações jurídicas e posições subjetivas, no qual o cumprimento de uma norma constitui pressuposto, condição de validade, para a incidência da outra.59 Por outro lado, o processo, como espécie do gênero procedimento, será definido pela participação dos interessados na construção do provimento final, na fase que o prepara, que é o procedimento. A forma como essa participação realiza-se, em contraditório, será o ponto distintivo e caracterizador. 56 Pelo Modelo Constitucional de Processo a distinção que se faz entre Direito Processual Constitucional e Direito Constitucional Processual relativiza-se ou extingue-se. É que a Constituição de 1988 estabeleceu padrões de produção normativa da norma procedimental e também princípios processuais que são, na verdade, direitos e garantias do indivíduo, além de regras disciplinadoras da organização judiciária brasileira. Logo, em vista disso, pressupomos que não há direito processual infra-constitucional e um direito procedimental que não tenha a sua estruturação no arcabouço constitucional. 57 Para TUCCI e CRUZ E TUCCI (1989, p.2) “[...] a Constituição, além de traçar as normas fundamentais de organização do Estado, exprime a dramática tentativa de fixar no tempo aquelas idéias, aqueles valores supremos, que são, na verdade, essencialmente mutáveis, uma vez que se identificam com os desígnios da própria história, ou se, com a vida do homem. E, particularizada ao direito processual, reclama a relembrança de que as normas processuais são, segundo generalizado entendimento doutrinário, complemento ou atualidade das garantias constitucionais; daí porque, inseridas na Lei das leis, visam, certamente, a reforçar o sistema de direitos e garantias do cidadão”. 58 Este tem sido o árduo trabalho de alguns processualistas, dentre eles poderíamos citar ElioFazzalari, que teve sua tese exposta e desenvolvida pelo Prof. Aroldo Plínio Gonçalves. Sobre a instrumentalidade do processo, consultar a obra de DINAMARCO (2001) e CINTRA et al. (2004). 59 GONÇALVES esclarece que “se o procedimento fosse considerado apenas como uma série de normas, atos e de posições subjetivas, o ato jurídico isoladamente considerado poderia produzir nele seus efeitos. Mas o procedimento é mais do que uma mera seqüência normativa, que disciplina atos e posições subjetivas, porque faz depender a validade de cada um de sua posição na estrutura, que requer o cumprimento de seu pressuposto. O ato praticado fora dessa estrutura, sem a observância de seu pressuposto, não pode ser por ela acolhido validamente, porque não pode ser nela acolhido”. (GONÇALVES, 2001. p. 111). Assim, haverá processo sempre que houver o procedimento realizando-se em contraditório entre os interessados, em simétrica paridade, nos atos que preparam o provimento final. Como sintetizou CATTONI DE OLIVEIRA: O processo (...) caracteriza-se como uma espécie de procedimento pela participação na atividade de preparação do provimento dos interessados, juntamente como autor do próprio provimento, como no caso do processo jurisdicional, ou dos seus representantes, como no caso do processo legislativo. Os interessados são aqueles em cuja esfera jurídica o provimento está destinado a produzir efeitos. Mas essa participação se dá de uma forma específica, dá-se em contraditório. Contraditório, mais do que a simples garantia de dizer e contradizer, é garantia de participação em simétrica paridade. Portanto, haverá processo sempre que houver procedimento em contraditório entre os interessados, e a essência deste está justamente na simétrica paridade de participação, nos atos que preparam o provimento, daqueles que neles são interessados porque, como seus destinatários, sofrerão seus efeitos (CATTONI DE OLIVEIRA, 2000, p.113). É preciso levar a sério as conquistas empreendidas pela teoria processual, que abandonou a concepção de processo como instrumento da jurisdição, por, precisamente, entender que a atividade jurisdicional, que é hoje função primordial do Estado, somente se legitima caso estejam presentes os princípios constitucionais do processo. Insta esclarecer que a concepção de processo a qual nos filiamos, além de trabalhar processo em outros termos, “como procedimento em contraditório”, adere, igualmente, à Teoria Discursiva do Direito e da Democracia de Jürgen Habermas. Em vista disso, somente a partir do Princípio do Discurso, “fundado nas condições simétricas de reconhecimento de formas de vida estruturadas comunicativamente”e dos reflexos da Teoria Discursiva para o Direito e para a Democracia é que poderemos empreender uma releitura do Processo Coletivo e de seus instrumentos processuais próprios (como a coisa julgada) no paradigma do Estado Democrático de Direito. A própria concepção de Direitos Fundamentais e de Soberania Popular em Habermas deve ser entendida em termos procedimentais, adequada a propiciar o processo argumentativo e dialógico, que irá construir “a estrutura da comunicação lingüística e a ordem insubstituível da socialização comunicativa” (SOUZA NETO, 2002, p. 273). Entendemos que somente será possível compreender a tutela dos direitos difusos e coletivos inseridos em uma perspectiva procedimental e discursiva do Estado Democrático de Direito60, no qual é possível a livre flutuação de temas e de contribuições, de informações e de argumentos na formação da vontade, a fim de permitir a construção da legitimidade tanto dos procedimentos legislativos, quanto dos jurisdicionais. Como evidenciou Habermas, o princípio da democracia fundado no discurso permite que o Estado Democrático de Direito seja compreendido à luz de uma perspectiva procedimental (HABERMAS, 2002, p. 280). Em outras palavras, o projeto democrático, quando construído dialogicamente mediante processos institucionalizados, acredita ser viável a formação político-racional da opinião e da vontade. Até porque essa mesma vontade e opiniões políticas racionais somente serão concretizadas e legitimadas mediante esses processos. Esta dinâmica, de legitimação do Estado Democrático de Direito por meio de procedimentos, consolida-se: [...] através de um sistema de direitos que garanta a cada um igual participação num processo de normatização jurídica legítima (já garantido em seus pressupostos comunicativos), ou seja, ele tem como implicação a institucionalização externa e eficaz da participação simétrica numa formação discursiva da opinião e da vontade, a qual se realiza em formas de comunicação garantidas pelo Direito. (COSTA, 2003, p. 42). Em breve síntese, o projeto de realização do Direito deverá pressupor, antes de mais nada, a premissa de práticas de autodeterminação comunicativas que se concretizam nos procedimentos institucionalizados pelo próprio Direito. É justamente o que propõe Habermas, ao afirmar que a “compreensão procedimentalista de direito tenta mostrar que os pressupostos comunicativos e as condições do processo de formação democrática da opinião e da vontade são a única fonte de legitimação” (1997, p. 310). 60 “(...) a teoria do direito, fundada no discurso, entende o estado democrático de direito como a institucionalização de processos e pressupostos comunicacionais necessários para uma formação discursiva da opinião e da vontade, a qual possibilita, por seu turno, o exercício da autonomia política e a criação legítima do direito” (HABERMAS, 1997, p. 310). Nessa linha de raciocínio, o signo do processo coletivo e da coisa julgada, na atualidade, deverá perpassar as conotações processuais de participação no debate público, não só no que tange aos processos legislativos, mas, sobretudo, no que diz respeito aos processos jurisdicionais, que informam e conformam a soberania democrática do paradigma constitucional do Estado Democrático de Direito e de seu Direito participativo que, como assevera CARVALHO NETTO (1999), é também, pluralista e aberto. As colocações expostas até aqui visam, fundamentalmente, recolocar os institutos da coisa julgada, da legitimação para agir como fenômenos processuais adequados à tutela dos direitos difusos e o processo coletivo como direito e garantia fundamental do homem. Para atender ao modelo constitucional de processo esculpido na Carta Constitucional de 1988, entendemos que a Ação Coletiva deve ser compreendida com uma Ação Temática, o que pressupõe a construção participada do mérito por todos aqueles que foram atingidos pelo bem, fato ou situação jurídica posta em juízo (MACIEL JÚNIOR, 2006). Nesse sentido, o processo coletivo deverá viabilizar a todos os interessados naturais a conformação do mérito da causa, dentro de um período de tempo fixado pela norma processual, permitindo-se, assim, que as várias posições e teses dos interessados difusos sejam tratadas no processo, conferindo ao provimento final a legitimidade democrática própria do modelo constitucional vigente (MACIEL JÚNIOR, 2006). Para tanto, será necessário que as futuras legislações sobre o processo coletivo estabeleçam uma fase inicial, na qual todos os interessados difusos, concorrentemente, tenham a oportunidade de participar na formação dialogada do mérito, por meio de editais, para que o mesmo não seja formado somente pelo pedido formulado na peça inicial (MACIEL JÚNIOR, 2006). Na esteira dos argumentos acima, a extensão dos efeitos da coisa julgada nas ações coletivas, nas palavras do ilustre professor Vicente de Paula Maciel Júnior, fica condicionada a: [...] uma definição sobre o mérito ou o conteúdo da sentença, que não será formado apenas pelo objeto do pedido constante na petição inicial, mas pela efetiva oportunidade de ingresso na ação do maior número de interessados difusos que tenham teses diferentes dos já existentes no processo. (MACIEL JÚNIOR, 2006, p. 180) E, ainda, esclarecer o autor: Ou seja, as legislações sobre o processo coletivo devem prever uma fase no procedimento até onde seja possível uma ampliação ou alteração no mérito da demanda proposta por uma das partes. Uma vez proposta uma ação coletiva cujo fato tenha ou possa ter repercussões em um número indeterminado de interessados, a lei deveria prever que o juiz publicasse edital dando ciência ao ajuizamento da demanda coletiva referente ao fato “X”. A lei deveria ainda que o juiz constasse obrigatoriamente no edital qual o fato ocorrido, local, dados específicos, bem como a pretensão inicial do demandante a respeito dele. Se o fato fosse relacionado ao meio ambiente teríamos ação coletiva cujo “tema” é o meio ambiente que tem por objeto específico um problema ocorrido em um local “X”, no bairro, devendo ser assim classificada. Dentro do prazo previsto na lei para o edital, todos os interessados poderiam integrar a lide e sobre o fato manifestar seus interesses. As diversas manifestações dos interessados comuns ou divergentes, constituiriam o mérito da demanda coletiva. (MACIEL JÚNIOR, 2006, p. 180) A ação coletiva como ação temática, portanto, concretiza o projeto democrático, visto que construído dialogicamente mediante procedimentos institucionalizados que viabilizam a livre flutuação de informações, teses e argumentos, na fiscalização e defesa dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. Tudo isso, por meio de decisões legitimadas pela participação ampla dos verdadeiros afetados e legitimados naturais para a ação. É somente nesse sentido que o processo coletivo poderá ser concebido e atender sua vocação natural como instrumento de participação e construção da cidadania. 5. Conclusão 1. Demonstramos que o modelo da coisa julgada secundumeventum litis está intimamente vinculado ao modelo de legitimação adotado para tutela dos direitos difusos, uma vez que o sistema processual vigente não só pressupõe a fragilidade do indivíduo no tratamento dos direitos difusos, retirando dos interessados naturais a possibilidade de agir em defesa direta do bem, mas providencialmente restringe sua participação ao eleger órgãos intermediários, como o Ministério Público, as associações, os sindicatos, dentre outros, em flagrante violação aos ditames do paradigma do Estado Democrático de Direito. 2. Propusemos, assim, uma nova leitura do processo coletivo e da coisa julgada adequado ao paradigma procedimental do Estado Democrático de Direito e do Modelo Constitucional de Processo. Nesse esforço, lançamos as seguintes colocações: 3. Acreditamos que o processo coletivo representa um meio dialógico, de formação e de conformação do Estado à lei, exercido por seus legitimados, que, de natureza diversa das formas de participação políticas propriamente ditas, concretizase pela via jurisdicional. 4. Nesse sentido, imperioso interpretar a ação coletiva como Ação Temática e, nesse sentido, a mesma concretiza seu importante papel no controle e defesa do patrimônio público, em sentido lato, o que modifica a visão tradicional de coisa julgada secundumeventum litis, tradicionalmente adotada pelos países da Iberoamérica. Por essa razão, é preciso levar a sério as conquistas empreendidas pela teoria processual, que abandonou a concepção de processo como instrumento da jurisdição, por, precisamente, entender que a atividade jurisdicional, que é hoje função primordial do Estado, somente se legitima caso estejam presentes os princípios constitucionais do processo, o que no processo coletivo, pressupõe a participação de todos os legitimados naturais para a ação. 5. Assim, o projeto democrático, quando construído dialogicamente mediante processos institucionalizados, acredita ser viável a formação político-racional da opinião e da vontade. Até porque essa mesma vontade e opiniões políticas racionais somente serão concretizadas e legitimadas mediante esses processos. 6. Concluímos, desta feita, que o projeto de realização do Direito deverá pressupor, antes de mais nada, a premissa de práticas de autodeterminação comunicativas que se concretizam nos procedimentos institucionalizados pelo próprio Direito. Nessa linha de raciocínio, o signo do processo coletivo e da coisa julgada na atualidade deverá perpassar as conotações processuais de participação no debate público, não só no que tange aos processos legislativos, mas, sobretudo, no que diz respeito aos processos jurisdicionais, que informam e conformam a soberania democrática do paradigma constitucional do Estado Democrático de Direito e de seu Direito participativo, pluralista e aberto. 7. As colocações expostas até aqui visam, fundamentalmente, recolocar o problema da Ação Coletiva como Ação Temática e, nessa perspectiva, como meio processual adequado à tutela de interesses difusos e, do mesmo modo, considerar o processo coletivo como direito e garantia fundamental do homem, que somente pode ser interpretado de maneira procedimental, discursiva e aberta. 6. Referências ALMEIDA, Gregório Assagra de. Direito material coletivo: superação da summadivisiodireito público e direito privado por uma summadivisio constitucionalizada. Belo Horizonte: Del Rey, 2008. BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Ainda e sempre coisa julgada.Revista dos Tribunais, v. 416, p. 9-17. 1970. BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Coisa julgada e declaração. Revista dos Tribunais, ano 60, v. 429, p. 21-27, jul. 1971. BARBOSA MOREIRA, José Carlos, Conteúdo e efeitos da sentença: variações sobre o tema. Revista de Processo, ano 10, v. 40, p. 7-12, out/dez. 1985. BARBOSA MOREIRA, José Carlos, Eficácia da sentença e autoridade da coisa julgada. Revista de Processo, ano 09, v. 34, p. 273-285, jun. 1984. BARBOSA MOREIRA, José Carlos. A ação popular do direito brasileiro como instrumento de tutela jurisdicional dos chamados “interesses difusos”. Revista de Processo, São Paulo, ano 7,n. 28, p.7-19, out/dez. 1982. BORGES, Alexandre Issac. Da Coisa Julgada. Revista de Processo, São Paulo, ano 05, n. 20, p 112-126, out-dez. 1980. CAPPELLETTI, Mauro. Formações sociais e interesses coletivos diante da justiça civil. Revista de Processo, São Paulo, ano 2, n.5, p.128-159, jan./mar. 1977. CATTONI DE OLIVEIRA, Marcelo Andrade. Devido processo legislativo: Uma justificação democrática do controle jurisdicional de constitucionalidade das leis e do processo legislativo. Belo Horizonte: Mandamentos, 2000. CARVALHO NETTO, Menelick de. Requisitos pragmáticos da interpretação jurídica sob o paradigma do Estado Democrático de Direito. Revista de direito comparado, Belo Horizonte,vol. 3. 1999. CINTRA, Antônio Carlos de Araújo et al.Teoria geral do processo. São Paulo: Malheiros, 2004. COSTA, Regenaldo da. Discurso, direito e democracia em Habermas. In: MERLE, Jean-Christophe; MOREIRA, Luiz (Org.). Direito e Legitimidade. São Paulo: Landy, 2003. DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. São Paulo: Malheiros, 2001. GONÇALVES, Aroldo Plínio. Técnica Processual e Teoria do Processo. 1. ed. Rio de Janeiro: Aide Editora, 2001. GRECO FILHO, Vicente. Direito processual civil brasileiro, São Paulo: Saraiva, 2007. GRINOVER, Ada Pellegrini. Novas tendências em matéria de ações coletivas nos países de civil law. Revista de processo, São Paulo, ano 33, n. 157, p. 147-164, nov. 2008. LEAL, Rosemiro Pereira (cord). O ciclo teórico da coisa julgada: de Chiovenda a Fazzalari. Belo Horizonte: Del Rey, 2007. HABERMAS, Jurgen. Direito e Democracia: entre faticidade e validade, Trad. Flávio BenoSiebeneichler. T I e II. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997. LIEBMAN, Enrique Tullio. Eficácia e autoridade da sentença. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1984. MACIEL JÚNIOR, Vicente de Paula. Teoria das ações coletivas: as ações coletivas como ações temáticas. São Paulo: Ltr, 2006. MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Interesses Difusos: conceito e legitimação para agir. 2. ed. São Paulo: RT, 1991. MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Manual do consumidor em juízo. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2001. MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo: meio ambiente, consumidor, patrimônio público e outros interesses. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2003. MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Ações coletivas no direito comparado e nacional. São Paulo: RT, 2002. MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Ações coletivas nos países iberoamericanos: situação atual, Código Modelo e perspectivas. Revista de processo, São Paulo, ano 32, n. 153, p. 189-216, nov. 2007. PINTO FERREIRA, Luís. Da ação popular constitucional. Revista de Direito Público 20. PORTO, Sérgio Gilberto. Coisa julgada civil. 1. ed. Rio de Janeiro: Aide, 1996. SANTOS, Moacyr Amaral, Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. IV. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1982. SANTOS, Moacyr Amaral, Primeiras linhas de processo civil. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. Jurisdição constitucional, democracia e racionalidade prática. Rio de janeiro: Renovar, 2002. THEODORO JÚNIOR. Humberto. Curso de direito processual civil – teoria geral do direito processual civil e processo de conhecimento. Rio de Janeiro: Forense. 2007. TUCCI, Rogério Lauria e CRUZ E TUCCI, José Rogério. A Constituição de 1988 e o processo. São Paulo: Saraiva, 1989. A EFETIVIDADE DAS SUSTENTAÇÕES ORAIS NOS TRIBUNAIS TRABALHISTAS Mauro Geraldo Alessi Carvalho Lafetá61 SUMÁRIO: 1. Introdução; 2. O princípio da oralidade e a comunicação jus trabalhista; 3 As previsões legais para justificar a sustentação oral nos tribunais trabalhistas; 4. Dos Regimentos Internos; 5. Sustentação oral no TRT– 3ª região; 6 - Do regimento interno do TST; 5. Conclusão; 6. Referências. 1 - Introdução A comunicação e a fala foram os principais propulsores para a evolução da humanidade. Para a busca da justiça, conforme os primeiros escritos datados 3.000 anos antes de Cristo, os líderes usavam a oralidade como único meio de expressão de fatos e fundamentos jurídicos. Com o surgimento da escrita, o homem passou a registrar atos e decisões, mas não deixou de lado a verbalização, ainda fundamental para a construção dos provimentos. Ocorre que com o passar dos séculos, e principalmente agora, na atualidade, devido à grande demanda judicial, a comunicação oral está sendo colocada em segundo plano por alguns profissionais do Direito, com discussões e atos processuais quase todos praticados de forma escrita, afastando-se do Direito o seu primeiro meio de comunicação, a verbalização falada. Até mesmo as faculdades de direito focam os cursos, cada vez mais, à escrita, se esquecendo da oralidade. É raro encontrar no país uma instituição acadêmica jurídica possuindo cadeira obrigatória de oratória e retórica. 61 Graduado em Direito pela Faculdade de Direito de Pedro Leopoldo em dezembro de 2011. Pós graduado em Direito do Trabalho pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais – IEC unidade São Gabriel – em setembro de 2013. Advogado do SINTICOMEX – Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção, do Mobiliário e da Extração de Mármore, Calcário e Pedreiras de Pedro Leopoldo, Matozinhos, Prudente De Morais, Capim Branco e Confins. Sócio da Lafetá& Rodrigues Cruz Advocacia em Lagoa Santa/MG.- E-mail: [email protected] Visando entender os limites e aspectos gerais das sustentações orais, fizemos uma análise dos Regimentos Internos do Tribunal Regional do Trabalho – 3ª Região e do Tribunal Superior do Trabalho, demonstrando alguns pontos controversos e incontroversos, chegando a identificar regras inconstitucionais. Desta forma, nossa intenção é a de contribuir cientificamente para se discutir mais amplamente as sustentações orais no Direito do Trabalho, o cerne do nosso tema problema, uma vez que praticamente todos no meio jurídico sabem da sua importância, mas poucos buscam entender a sistemática da oralidade como “ferramenta” da (in)eficácia da Justiça. Assim, sabedores de que o Direito é vivo, sempre em franca evolução, esperamos colaborar para sua freqüente construção, despertando a necessidade da redescoberta da comunicação jurídica oral como meio legítimo para defender os interesses das partes. 2 - O princípio da oralidade e a comunicação jus-trabalhista Principalmente na primeira instância trabalhista, a comunicação oral é uma das maneiras mais usadas para a construção do convencimento do magistrado. Nas audiências de instrução, na maioria das vezes, os interrogatórios das partes e as oitivas das testemunhas é que estruturaram os provimentos. Ocorre que como defendem os processualistas trabalhistas, há que se ter critérios para a produção de provas orais. O processualista italiano Giuseppe Chiovenda62, considerado um entusiasta da oralidade e o primeiro a utilizar o conceito Princípio da Oralidade, com regras e postulados para justificar a comunicação oral no direito, acredita que a efetividade da oralidade depende dos seguintes critérios a serem observados a)prevalência da palavra como meio de expressão combinada com o uso de meios escritos de preparação e documentação; 62 Disponível: http://www.livrariadelrey.com.br/direito-processual-civil/instituicoes-de-direito-processualcivil-4-edicao - Acesso em: 10 out. 2013- Giuseppe Chiovenda é Jurista e acadêmico, nascido em Premosello, província de Novara, Itália, em 2 de fevereiro de 1872. Foi professor nas Universidades de Parma, Bolonha, Nápoles e, após 1906, na Universidade de Roma. O principal Objeto de suas pesquisas foi o Direito Processual Civil, estudo que deu à matéria um grande impulso e uma nova ótica, rigorosamente científica, com particular atenção à formação histórica do processo italiano. Por seu legado e influência, é considerado o pai da Escola do Direito Processual italiana, reunindo vários discípulos e seguidores em todo o mundo. b)imediação da relação entre o juiz e as pessoas cujas declarações deva apreciar; c)identidade das pessoas físicas que constituem o juiz durante a condução da causa; d)concentração do conhecimento da causa num único período (debate) a desenvolver-se numa audiência ou em poucas audiências contíguas; e)irrecorribilidade das interlocutórias em separado. (REIS, 2004. p.1); O que na verdade este processualista afirma é que o processo na atualidade é misto; as afirmações orais devem ser colocadas a termo, mas os debates e apresentações de argumentos e testemunhos devem ser primeiramente verbalizados (REIS, 2004, p.1). Com base nestes critérios, alguns processualistas tentam buscar fundamentos para explicar o Princípio da Oralidade. Infelizmente, a maioria dos doutrinadores brasileiros, embora este tema seja relevante para se estudar o direito, sequer cita este princípio em suas obras. Os poucos que estudaram a oralidade preferem descrevê-la sucintamente, buscando no atual entendimento de Princípio da Oralidade, o fundamento da sua ainda existência no Direito. Um exemplo é encontrado nos dizeres de Moacyr Amaral Santos que assim descreve o procedimento oral: [...] No seu sentido genuíno, procedimento oral seria aquele em que todos os atos processuais se produzem oralmente, em presença do juiz, como o era no mais antigo procedimento romano ou germânico. Um tal sistema não se compreenderia nos tempos modernos, em que as relações jurídicas se tornam cada vez mais complexas, exigindo que o instrumento da jurisdição, o processo, se faça cada dia mais delicado e também mais eficiente. Hoje, procedimento oral, cujos modelos se encontram nos processo austríaco, alemão e húngaro, e cujo mais eminente doutrinador, entre os povos latinos, foi Chiovenda, de cujos ensinamentos se valeu o legislador pátrio ao elaborar o Código de Processo Civil de 1939, tem outro sentido. Nesse procedimento não há exclusão, mas aproveitamento da escrita, e mesmo acentuada, predominância quantitativa de atos escritos, em combinação com a palavra falada como meio de expressão de atos relevantes e de decisiva influência na formação da convicção do juiz. Tira o sistema a denominação – sistema oral, procedimento oral, ou apenas oralidade – da circunstância de em momentos capitais do processo predominar a palavra falada; mas não somente nisso ele consiste, e sim também na aplicação de modos e formas segundo os quais se movimenta o processo e pelos quais a palavra falada surge e se mostra mais eficaz e conveniente que a palavra escrita.[...] (SANTOS, 2008, p. 85) Analisando a evolução da oralidade no direito, diante da forte presença da escrita, é possível classificar os procedimentos processuais de três formas (GONÇALVES, 2006, p.41): a oral, a escrita e a mista. A oral é aquela exercida apenas pelas argumentações faladas pelas partes, não havendo, portando, nenhum registro escrito. O procedimento escrito é aquele com todas as manifestações das partes e do julgador de maneira escrita. Não há, nesse meio, comunicação verbal com o julgador. Já a mista, que envolve as duas anteriores, se inicia com a oralidade, mas depende da formalização escrita para registrar o que foi falado. O Brasil adota a teoria mista, de acordo com a definição de princípio da oralidade de Marcus Vinícius Rios Gonçalves, que assim descreve esse meio oral atualmente em nosso país: [...] Embora as audiências e requerimentos sejam realizados oralmente, faz-se necessária a sua redução a escrito. Os procedimentos do juizado especial cível, regulados pela Lei n. 9.099/95, observam com mais rigor as regras da oralidade. Mas mesmo neles há necessidade de documentação dos principais atos realizados ao longo do procedimento. Nem aí se poderia falar propriamente na adoção do princípio da oralidade, pois o procedimento é misto.[...] (GONÇALVES, 2006, p. 41). O Código de Processo Civil (SANTOS, 2008, p. 85), usado subsidiariamente no processo do trabalho, na visão do legislador de 1939, foi construído também inspirado pelo Princípio da Oralidade, não de forma isolada, mas vinculado a outros princípios processuais que o validariam: princípio da imediatidade, princípio da identidade física do juiz em todo o decorrer da lide, princípio da concentração da causa e princípio da irrecorribilidade dos interlocutórios. O princípio da imediatidade ou, para alguns, imediação (SANTOS, 2008, p.86), refere-se à condição sinequa non63para validade da colheita de informações orais, da presença física do magistrado, que deve ter contato com as partes, e pessoalmente, interrogar todos os envolvidos. Também envolvendo a pessoa do magistrado, o princípio da Identidade física do juizrefere-se à necessidade do julgador, que colhe prova oral ou argumentação jurídica das partes, em audiência, estar vinculado ao julgamento da pretensão do requerente. Com relação a esse considerado subprincípio da oralidade (GONÇALVES, 2006, p. 41), o legislador processual civil brasileiro expressou essa vontade quando, no art. 132 do Código de Processo Civil, assim determinou: Art. 132. O juiz, titular ou substituto, que concluir a audiência julgará a lide, salvo se estiver convocado, licenciado, afastado por qualquer 63 Disponível: http://old.tweettunnel.com/reverse2.php?textfield=LPDicas- Acesso em 01 ago 2013 - A expressão latina “sinequa non” significa algo como “sem o qual não pode ser” e é utilizada até hoje, na maioria das vezes, como sinônimo de “indispensável”. motivo, promovido ou aposentado, casos em que passará os autos ao seu sucessor. (BRASIL, 1973) Percebe-se a mens legis64 no sentido do julgador, necessariamente, deverá ser o mesmo que receber as informações orais, mas o que ocorre atualmente, diante da grande demanda processual, são as substituições freqüentes dos julgadores, que muitas vezes, prejudicam os julgamentos. Neste sentido, o processualista Marcus Vinicius Rios Gonçalves entende que a substituição do magistrado não deverá ocorrer. [...]Se, em uma audiência de instrução, as partes desistem dos depoimentos pessoais e da ouvida de testemunhas, dar-se-á por encerrada a instrução, passando-se à fase de alegações finais. O juiz não se terá vinculado, porque não houve colheita de provas orais. Quando a realização da audiência desdobra-se em mais de um dia, pois nem todas as testemunhas compareceram ou o número é tal que não é possível ouvi-las de uma vez, o juiz que iniciou a colheita da prova oral deve terminá-la, pois terá ficado vinculado, ressalvadas as exceções estabelecidas no art. 132. O magistrado que ouvir as primeiras testemunhas deverá ser o mesmo a ouvir as restantes na audiência em continuação.[...] (GONÇALVES, 2006, p. 42) Mas se ocorrer à substituição do magistrado (GONÇALVES, 2006, p. 42), este ato poderia gerar a nulidade da sentença. Até março de 2012, a Justiça do Trabalho não adotava este entendimento, autorizando julgamento de quem não acompanhou a instrução processual. Atualmente, também esta especializada adota o princípio da identidade física do juiz, tendo sido cancelada a súmula 136 do TST. O princípio da concentração da causa (SANTOS, 2008, p. 86), de um certo modo, ressalta a necessidade da concentração dos atos orais em apenas uma audiência ou em poucas audiências, com intervalo pequeno entre elas. A argumentação para a existência deste princípio refere-se aos naturais lapsos de memória por que a maioria das pessoas passam. Se ouve as partes ou os seus representantes hoje, e o julgamento ou novas oitivas ocorrem dias ou meses depois. Com isso, certamente, muito do que foi dito ou expressado, de maneira subjetiva, e que não foi atermado, será perdido. Finalizando a discussão sobre os princípios orientadores da oralidade jurídica brasileira, chegamos ao princípio da irrecorribilidade dos interlocutórios, que norteia que as decisões interlocutórias orais não deverão ser recorridas. O 64 Disponível: http://www.jusbrasil.com.br/topicos/289562/mens-legis- Acesso em 01 ago 2013 - Mens legis - Espírito da lei. Alcance da lei. Constitui pormenor de grande importância da interpretação. processualista Marcus Vinicius Rios Gonçalves assim descreve e explica este princípio: [...] a enunciação deste subprincípio pode induzir à falsa idéia de que as decisões interlocutórios, que não põem fim ao processo, são irrecorríveis. No entanto, o Código de Processo Civil indica o recurso apropriado contra elas, o agravo. Ocorre que esse recurso, como regra, não tem efeito suspensivo, de forma que a sua interposição não retarda o julgamento do processo. Com isso, o magistrado continua próximo da colheita de provas, não havendo longo transcurso de tempo entre ela e a prolação da sentença. Nos procedimentos do Juizado Especial, em que a oralidade é observada de forma mais intensa, as decisões interlocutórias são irrecorríveis. No CPC, verifica-se uma tendência a limitar a interposição de recursos contra as decisões interlocutórias.[...](GONÇALVES, 2006, p. 42) Como se percebeu, a legitimidade do uso da oralidade para a construção dos provimentos está intimamente ligada aos seus princípios orientadores. Mas mesmo assim, entre os poucos que estudam o tema, há quem acredite ser fora da realidade o que se entende, pela doutrina tradicional, o princípio da oralidade. No caso específico do Processo do Trabalho, a comunicação oral, também nos tribunais, é a forma de se efetivar a informalidade, a simplicidade e a celeridade. SCHIAVI, apud MAIOR (2005, p. 223), assim descreve a oralidade neste ramo do direito: A CLT, expressamente, privilegiou os princípios basilares do procedimento oral: a) primazia da palavra (art. 791 e 839, a – apresentação de reclamação diretamente pelo interessado; 840 – reclamação verbal; 843 e 845 – presença obrigatória das partes em audiência; 847 – apresentação de defesa oral, em audiência; 848 – interrogatório das partes;850 – razões finais orais; 850, parágrafo único – sentença após o término da instrução); b) imediatidade (art. 843, 845 e 848); c) identidade física do juiz (corolário da concentração dos atos determinada nos arts. 843 e 852);d) irrecorribilidade das interlocutórias (§ 1º do art. 893); e) maiores poderes instrutórios ao juiz (arts. 765, 766, 827 e 848); e f) possibilidade de solução conciliada em razão de uma maior interação entre o juiz e as partes (arts. 764, §§ 2º e 3º; 846 e 850). Assim, muitas das lacunas apontadas do procedimento trabalhista não são propriamente lacunas, mas um reflexo natural do fato de ser este oral. Lembre-se, ademais, que o CPC foi alterado em 1973, e, em termos de procedimento, adotou um critério misto, escrito até o momento do saneamento, e oral, a partir da audiência, quando necessária. Nestes termos, a aplicação subsidiária de regras de procedimento ordinário do CPC à CLT mostra-se naturalmente equivocada, por incompatibilidade dos tipos de procedimentos adotados por ambos. (SCHIAVI, 2011, p. 109). Mais uma vez verifica-se a necessidade da preparação do profissional do direito com relação à comunicação oral. Como se observa no que nos ensina Souto Maior, quem milita na área trabalhista precisa entender de oralidade para poder bem cumprir o seu papel de representar o seu cliente. O processualista Cleber Lucio de Almeida, também adepto dos ensinamentos de Giuseppe Chiovenda, demonstra a fundamental importância da oralidade para o Processo do Trabalho: À luz de tais ensinamentos pode ser afirmado que o processo do trabalho é um processo oral, vez que: 1) predomina a palavra falada (oralmente em sentido estrito); 2) os atos processuais fundamentais são concentrados em audiência, preferencialmente única, na qual devem estar presentes o demandante e o demandado; 3) a produção da prova é realizada pelo juiz responsável pelo julgamento da demanda; 4) as decisões interlocutórias são irrecorríveis (art. 893, § 1º da CLT).(ALMEIDA, 2013, p. 76-77) 3 As previsões legais para justificar a sustentação oral nos tribunais trabalhistas Conforme informado anteriormente, de maneira positivada, vários ramos do direito estão legitimados a usar meios orais para a construção dos provimentos, principalmente na Justiça do Trabalho. A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 apenas valora a oralidade, de maneira expressa e direta, quando se refere à criação dos Juizados Especiais. O inciso I do art. 98 assim foi redigido: Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão: I - juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau;(BRASIL, 2011) Apesar disso, é público e notório que os juizados especiais foram inspirados pelos trâmites processuais trabalhistas, percebendo-se o quanto o legislador Constitucional demonstra querer celeridade e efetividade dos processos, como já ocorre na Justiça do Trabalho. A justificativa legal constitucional para a real necessidade das sustentações orais nos tribunais trabalhistas é encontrada no princípio da ampla defesa, elencado no art. 5º, LV, da Constituição da República: LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; (BRASIL, 2013) Certamente o exercício da sustentação oral é a efetivação da ampla defesa, como um recurso necessário, dependendo do caso concreto. Também o Código de Processo Civil, utilizado subsidiariamente pela Justiça do Trabalho, em seu art. 554, prevê a sustentação oral nos tribunais: Art. 554. Na sessão de julgamento, depois de feita a exposição da causa pelo relator, o presidente, se o recurso não for de embargos declaratórios ou de agravo de instrumento, dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente e ao recorrido, pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada um, a fim de sustentarem as razões do recurso. Legitimando a função do advogado, como o titular do direito a se manifestar oralmente, a Lei n. 8.906, de 04/07/1994, denominada como o Estatuto da Advocacia e da OAB e que foi recepcionada, em quase sua integralidade, pela Constituição, em seu art. 7º, há as previsões para o exercício, por parte do advogado, da oralidade: Art. 7º São direitos do advogado: IX - sustentar oralmente as razões de qualquer recurso ou processo, nas sessões de julgamento, após o voto do relator, em instância judicial ou administrativa, pelo prazo de quinze minutos, salvo se prazo maior for concedido; (Grifos nossos) X - usar da palavra, pela ordem, em qualquer juízo ou tribunal, mediante intervenção sumária, para esclarecer equívoco ou dúvida surgida em relação a fatos, documentos ou afirmações que influam no julgamento, bem como para replicar acusação ou censura que lhe forem feitas;(BRASIL, 1994) XI - reclamar, verbalmente ou por escrito, perante qualquer juízo, tribunal ou autoridade, contra a inobservância de preceito de lei, regulamento ou regimento; XII - falar, sentado ou em pé, em juízo, tribunal ou órgão de deliberação coletiva da Administração Pública ou do Poder Legislativo; (Grifos nossos).(BRASIL, 2013) O inciso IX deste artigo, destacado acima, não foi recepcionado pela Constituição. Após o julgamento pelo STF - Supremo Tribunal Federal da ADIN 1.127-8, o inciso ficou assim interpretado: VII - A sustentação oral pelo advogado, após o voto do Relator, afronta o devido processo legal, além de poder causar tumulto processual, uma vez que o contraditório se estabelece entre as partes.(BRASIL, 2013) Ocorre que este posicionamento do STF mudou a prática apenas nos tribunais cíveis e criminais. Conforme será demonstrado adiante, quando da análise dos Regimentos Internos dos Tribunais Trabalhistas, as sustentações orais nesta especializada continuam ocorrendo após o voto do Relator, o que torna ainda mais árduo o trabalho do sustentador. Com relação aos demais incisos do art. 7º do Estatuto da OAB, percebese como são amplas as oportunidades para o advogado fazer o uso da oralidade. Esses incisos confirmam a importância da comunicação oral na construção dos provimentos. Destacada a legalidade do nosso tema problema, que é a sustentação oral, no próximo item, procuraremos entender quais são os regramentos nos tribunais trabalhistas para o exercício da oralidade nas sessões de julgamentos. 4 - Dos Regimentos Internos As sustentações orais nos tribunais trabalhistas devem respeitar todo o ordenamento jurídico brasileiro, mas possuem regras próprias, que são estabelecidas pelos tribunais, através dos Regimentos Internos, legitimados pela função normativa do Poder Judiciário, elencada na Constituição da República. Neste sentido, o processualista trabalhista Cléber Lucio de Almeida assim justifica os regimentos internos: [...] De acordo com o art. 96, I, a, da Constituição Federal, compete privativamente aos tribunais elaborar seus regimentos internos, nos quais poderão dispor sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos, respeitando as normas de processo e as garantias processuais das partes. O Regimento Interno do Tribunal define a função, competência e composição de seus órgãos colegiados e monocráticos (fixando, com isso, a sua competência interna) e as atribuições de seus serviços auxiliares, estabelecendo a sua própria estrutura, bem como organiza suas secretarias e a dos Juízos que lhes forem vinculados, respeitadas ‘as linhas fundamentais da seção constitucional que a ele diz respeito e tendo em vista o que, complementarmente à Constituição Federal, venha dispor o Estatuto da Magistratura.[...] (ALMEIDA, 2012, p. 183) Conforme será demonstrado nos próximos itens, as regras sobre sustentações orais nos tribunais trabalhistas são específicas e delimitam a atuação dos sustentadores. 5. Sustentação oral no TRT– 3ª região Como já esperado, tratando-se de regras para procedimentos orais, o Regimento Interno do Tribunal Regional do Trabalho – Terceira Região – Jurisdição em Minas Gerais não normatiza todos os procedimentos a serem seguidos pelo advogado ou representante do Ministério Público do Trabalho. Ficam por conta dos costumes, as questões relacionadas aos tratamentos aos magistrados e as estruturações das falas, bem como os limites dos argumentos sustentados. O atual Regimento Interno do TRT 3 foi aprovado pela Resolução Administrativa TRT3/STPOE n. 180, de 15/12/2006 (DJMG de 20/12/2006), mas já passou por diversas alterações desde a sua criação. Como o poder normativo é do próprio tribunal, normalmente acompanha a evolução de demandas do regional. Conforme será analisado a seguir, diante da experiência profissional deste pesquisador, como advogado sustentador oral e das observações em várias sessões de julgamento do TRT 3, verifica-se que a maioria das normas regimentais, com relação à sustentação oral, são respeitadas nas sessões do tribunal. Entre elas, destaca-se a norma para a inscrição do advogado para sustentação, elencada no art. 101 do Regimento: Art. 101. Mediante inscrição por fax, por correio eletrônico ou pessoalmente, até o início da sessão, admitir-se-á a sustentação oral. Parágrafo único. Aceitar-se-ão as inscrições feitas por fax ou correio eletrônico, desde que haja a clara identificação do processo, do Órgão julgador, da data e do horário de julgamento e, se recebidas na Secretaria do Órgão, até as 16 horas do dia antecedente à respectiva sessão, observados os dias e o horário de expediente do Tribunal. (BRASIL, TRT 3, 2013) Embora a norma preveja inscrição por fax, por correio eletrônico ou pessoalmente, atualmente os meios mais usados pelos sustentadores para inscrição são pela internet, através do endereço eletrônico do TRT3 http://www.trt3.jus.br/servicos/inscricao/sustent.htm ou pessoalmente. O meio ideal para se inscrever depende da estratégia e dos interesses do sustentador. Quem se cadastra pela internet entra em uma lista de oradores, que na sessão é seguida pelo presidente, por ordem de inscrição. Desta forma, o procurador da parte que pretende sustentar no início da sessão, falando, teoricamente, para julgadores menos estressados, deve optar por este meio. Já o sustentador que prefere observar a turma, as estratégias usadas pelos outros oradores e o estado de espírito dos julgadores, deve optar pela inscrição pessoalmente, que é realizada antes do início da sessão. Estes procuradores somente irão realizar a sustentação após o esgotamento da lista dos inscritos pela internet. Mas apesar disso, na maioria das turmas do TRT 3, este procedimento não é seguido com tanto rigor. Mesmo quem se inscreve na hora e precisa falar urgentemente por motivos justificáveis, normalmente o servidor responsável pela lista de oradores, consegue autorização do presidente para que a sustentação seja antecipada. Com relação ao tempo limite e ao momento para a sustentação oral, o art. 104 do regimento interno assim determina: Art. 104. Apregoado o processo, o Presidente da sessão dará a palavra, por dez minutos, ao membro do Ministério Público do Trabalho, se este a requerer e, em seguida, às partes ou a seus procuradores. § 1º Em se tratando de agravo de qualquer espécie, o prazo a que se refere o caput deste artigo será de cinco minutos. § 2º Provido o agravo, reabrir-se-á o prazo para a sustentação do recurso destrancado. (BRASIL, TRT 3, 2013) Nota-se que o tempo para sustentar oralmente é de 10 minutos, sendo de 5 minutos em caso de agravo. Quanto à palavra dada ao representante do Ministério Público do Trabalho, o próprio regimento determina que deve ser apenas para os processos de rito ordinário. Outra regra importante, no sentido de justificar as sustentações orais nos tribunais trabalhistas é a do art. 105 do Regimento Interno. Nele, há a determinação para o julgador não se ausentar do recinto: “Art. 105. O Magistrado não deverá ausentar-se do recinto, sem motivo, após apregoado o processo a que se encontra vinculado” (BRASIL, TRT 3, 2013). Diferentemente de outros tribunais, a minha prática tem demonstrado o fiel cumprimento deste dispositivo regimental. Normalmente os julgadores permanecem no recinto enquanto ocorrem as sustentações orais. Quanto à precedência das falas, o regimento assim determina: Art. 106. Na sessão de julgamento, quando da sustentação oral, falará em primeiro lugar: I - o recorrente; II - o autor, se houver dois ou mais recursos, salvo a hipótese de recurso adesivo, caso em que falará após o recorrente principal; III - o representante da categoria profissional, em dissídios coletivos instaurados de ofício; IV - o autor ou o requerente, em processos de competência originária. (BRASIL, TRT 3, 2013) Esta precedência é observada em todas as sessões que participei, em respeito a uma lógica jurídica que primeiro dá oportunidade ao recorrente, e em seguida, ao recorrido para o desenvolvimento do contraditório. Outra norma importante a ser observada no Regimento Interno do TRT3 é a da possibilidade do magistrado poder comentar algo defendido pelo sustentador: Art. 108. O Magistrado, mediante prévia solicitação ao Presidente, poderá fazer uso da palavra, não interrompendo, porém, aquele que estiver no uso dela. Parágrafo único. É facultado ao Advogado prestar esclarecimentos sobre matéria fática, desde que autorizado pelo Presidente. (BRASIL, TRT 3, 2013) Neste sentido, tornou-se um hábito nas turmas do TRT3 a manifestação do relator logo após a sustentação oral. Deferindo ou não o recurso, o relator costuma reafirmar seu posicionamento. Quanto à autorização para esclarecimentos sobre matérias fáticas, é comum o sustentador abordar estas questões mesmo sem autorização, já incluindo em suas argumentações as provas produzidas na instrução, destacando aquelas que de alguma forma corroboram com sua tese. Uma questão já discutida neste presente trabalho refere-se ao momento em que deve ocorrer a sustentação oral. Conforme já dito antes, o inciso IX, do art. 7º, da Lei n. 8.906, de 04/07/1994 - Estatuto da Advocacia e da OAB determina: Art. 7º São direitos do advogado: IX - sustentar oralmente as razões de qualquer recurso ou processo, nas sessões de julgamento, após o voto do relator, em instância judicial ou administrativa, pelo prazo de quinze minutos, salvo se prazo maior for concedido; (Grifos nossos) - (BRASIL, 2013) Ocorre que o inciso IX não foi recepcionado pela Constituição, conforme julgamento pelo STF - Supremo Tribunal Federal da ADIN 1.127-8, que assim determinou: VII - A sustentação oral pelo advogado, após o voto do Relator, afronta o devido processo legal, além de poder causar tumulto processual, uma vez que o contraditório se estabelece entre as partes.(BRASIL, 2013) Após este entendimento do STF, a maioria dos tribunais se adequou a nova interpretação constitucional e alterou os regimentos no sentido de permitir que a sustentação oral ocorra antes da leitura do voto do relator. Mas no TRT3 esta não é a realidade, pois as sustentações somente ocorrem após a leitura do voto do relator. Embora não seja apropriado o desrespeito a este posicionamento interpretativo da nossa corte maior, entendemos que a leitura anterior do voto não afronta o devido processo legal. Ao contrário, com o posicionamento do relator, se o sustentador for perspicaz, terá oportunidade de combater o entendimento do relator perante o revisor e o segundo votante. Caso o voto seja favorável aos interesses do seu cliente, o sustentador poderá, inclusive, apesar de não existir a permissão no Regimento Interno, aguardar os votos dos demais julgadores, em muitos casos, até deixar de realizar a sua manifestação oral. Se o relator for vencido, ainda será possível a realização da sustentação oral, para se combater os argumentos contrários da turma. Quanto à votação, o Regimento Interno do TRT3 cria o seguinte critério: “Art. 109. Iniciar-se-á a votação pelo Relator, seguindo-se o voto do Revisor e dos demais Magistrados, pela ordem de antiguidade”. (BRASIL, TRT 3, 2013) Esgotando-se as discussões quanto às razões recursais, é proferida, pelo presidente da sessão, a leitura da decisão, devendo constar, quando da elaboração do acórdão, a realização da sustentação oral, registrando-se o nome do procurador sustentador: Art. 113. Findo o julgamento, o Presidente proclamará a decisão, cabendo ao Relator redigir o acórdão, salvo quando integralmente vencido no mérito. § 3º Certificar-se-á nos autos o resultado do julgamento, constando obrigatoriamente da certidão: II - o nome: c) dos que compareceram para a sustentação oral; (BRASIL, TRT 3, 2013) Também é interessante notar que Regimento Interno do TRT3 prevê a priorização dos julgamentos dos recursos que tenham procuradores inscritos para sustentação oral: Art. 115. Não sendo possível o julgamento de todos os processos constantes da pauta, julgar-se-ão os remanescentes na sessão seguinte, independentemente de novas intimações, respeitada a preferência daqueles em que havia inscrição para sustentação oral, se presente o interessado. (BRASIL, TRT 3, 2013) De fato, na prática este artigo é seguido com rigor. Iniciada a sessão, somente após o esgotamento do julgamento de todos os recursos que tenham sustentação oral é que a turma inicia o julgamento dos demais. Assim, fora a vantagem de poder oralmente mudar o rumo da decisão recursal, o sustentador não correrá o risco do julgamento do seu recurso ocorrer na sessão seguinte. Embora as sustentações orais não respeitem todos os requisitos do princípio da oralidade já estudados neste trabalho, especialmente o da combinação do uso da palavra falada com a escrita, o TRT3 grava todas as argumentações orais. Caso haja motivo justificado, o advogado poderá solicitar uma certidão de inteiro teor, como garante o regimento interno: Art. 117. O pedido de certidão de inteiro teor de gravação de julgamento a que tenha comparecido o Advogado para sustentação oral, desde que comprovado justo motivo, será dirigido ao Presidente do Órgão judicante no prazo de oito dias da publicação do acórdão. (BRASIL, TRT 3, 2013) Diante do exposto, nota-se que para realizar uma sustentação oral nas sessões do Tribunal Regional do Trabalho – 3ª Região, o representante da parte deve conhecer bem as regras e limites do Regimento Interno, para que possa exercer uma defesa de tese eficiente e de maneira esperada pelos julgadores ou que os surpreenda. Do contrário, o risco de insucesso na empreitada certamente será acentuado. 6 -Do regimento interno do TST O atual Regimento Interno do TST - Tribunal Superior do Trabalho foi aprovado pela Resolução Administrativa nº 1295/2008, com alterações dos Atos Regimentais números 1/2011, 2/2011, 3/2012 e 4/2012 e Emendas Regimentais números 1/2011, 2/2011, 3/2012 e 4/2012. Como no Regimento do TRT3, também este tribunal estabelece regras próprias para as sustentações orais. Uma vez que nas sessões do TST somente são debatidas matérias de direito, o Regimento Interno deste tribunal demonstra maior valorização às sustentações orais, com regras mais específicas. No Regimento, há, inclusive, uma seção específica para delimitar a participação de advogados nas sessões. Diferentemente do TRT3, os atuais ministros do TST demonstram ser mais positivistas, com menor flexibilização das normas regimentais relacionadas às sustentações orais. Abordando as regras do Regimento Interno deste tribunal, verifica-se que os critérios para a realização da sustentação oral são mais amplos e exigem maior interpretação do advogado. Neste sentido, é necessário a leitura dos artigos 109 e 110 para se entender quais serão os processos a serem julgados nos inícios das sessões, tendo-se também como preferência para julgamento, os casos que tenham sustentações orais: Art. 109. Os processos serão incluídos em pauta, considerada a data de sua remessa à Secretaria, ressalvadas as seguintes preferências: (Redação dada pela Emenda Regimental nº 4/2012) I - futuro afastamento temporário ou definitivo do Relator, bem como posse em cargo de direção; II - solicitação do Ministro-Relator ou das partes, se devidamente justificada; III - quando a natureza do processo exigir tramitação urgente, especificamente os dissídios coletivos, mandados de segurança, ações cautelares, conflitos de competência e declaração de inconstitucionalidade de lei ou de ato do Poder Público; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 2/2011) IV - na ocorrência de transferência do Relator para outro Colegiado; V - nos processos submetidos ao rito sumaríssimo e naqueles que tenham como parte pessoa com mais de sessenta anos de idade. Art. 110. Para a ordenação dos processos na pauta, observar-se-á a numeração correspondente a cada classe, preferindo no lançamento o elenco do inciso III do art. 109 deste Regimento e, ainda, aqueles em que é permitida a sustentação oral. (BRASIL, TST, 2013) Confirmando o direito a sustentar oralmente as suas teses, o Regimento Interno afirma expressamente, de maneira até desnecessária, que os advogados terão direito de intervir, caso seja necessário. Mas em contrapartida, o Regimento exige o uso de beca: Art. 140. Nas sessões de julgamento do Tribunal, os advogados, no momento em que houverem de intervir, terão acesso à tribuna. Parágrafo único. Na sustentação oral, ou para dirigir-se ao Colegiado, vestirão beca, que lhes será posta à disposição. (BRASIL, TST, 2013) Como no TRT, as inscrições para sustentações orais, chamadas pelo TST de “pedido de preferência”, poderão ser feitas pessoalmente ou pela internet, através do seguinte endereço eletrônico: http://www.tst.jus.br/web/guest/pedido-depreferencia: Art. 141. Os pedidos de preferência, formulados pelos advogados para os julgamentos de processos, encerrar-se-ão trinta minutos antes do início da sessão e serão concedidos com observância da ordem de registro. (Redação dada pela Emenda Regimental nº 4/2012) Parágrafo único. O pregão do processo, na preferência, vincula-se à presença, na sala de sessões, do advogado que a requereu. (Incluído pelo Ato Regimental nº 4/2012) Art. 142. O requerimento de preferência formulado por um mesmo advogado, em relação a mais de três processos, poderá ser deferido de forma alternada, considerados os pedidos formulados pelos demais advogados. (BRASIL, TST, 2013) Demonstrando maior rigor em relação ao TRT3, o regimento deste tribunal exige que o advogado possua mandato nos autos, sob pena de ser indeferido o seu pedido para realização de sustentação oral: Art. 144. O advogado sem mandato nos autos, ou que não o apresentar no ato, não poderá proferir sustentação oral, salvo motivo relevante que justifique o deferimento da juntada posterior. (BRASIL, TST, 2013) Já quanto ao fracionamento da fala, o regimento é claro em impedir esta possibilidade. Mas com respeito ao momento em que deverá ser iniciada a sustentação oral, como ocorre no TRT3, percebe-se a violação ao disposto no entendimento do STF, quando proferiu julgamento em ADIN 1.127-8, não recepcionando o inciso IX, do art. 7ª, da Lei n. 8.906, de 04/07/1994 – Estatuto da OAB. Contrariando o STF, o TST também abre espaço para a sustentação oral após a leitura do voto do relator: Art. 145. Ressalvado o disposto no art. 131, § 13, a sustentação oral será feita de uma só vez, ainda que arguida matéria preliminar ou prejudicial, e observará as seguintes disposições: (Redação dada pela Emenda Regimental nº 4/2012) § 1.º Ao proferir seu voto, o Relator fará um resumo da matéria em discussão e antecipará sua conclusão, hipótese em que poderá ocorrer a desistência da sustentação, ante a antecipação do resultado. Havendo, porém, qualquer voto divergente daquele anunciado pelo Relator, o Presidente voltará a facultar a palavra ao advogado desistente. Não desistindo os advogados da sustentação, o Presidente concederá a palavra a cada um dos representantes das partes, por dez minutos, sucessivamente. (GRIFOS NOSSOS) - (BRASIL, TST, 2013) Este mesmo artigo do Regimento, em seus parágrafos 2º e 3º delimitam o tempo das falas, que poderá, dependendo do caso, chegar até 20 minutos. Quanto aos critérios de quem fala primeiro, em lógica jurídica, inicialmente fala o recorrente e em seguida, o recorrido: Art. 145 (...) § 2.º Usará da palavra, em primeiro lugar, o advogado do recorrente; se ambas as partes o forem, o do reclamante. § 3.º Aos litisconsortes representados por mais de um advogado, o tempo lhes será proporcionalmente distribuído, podendo haver prorrogação até o máximo de vinte minutos, ante a relevância da matéria. § 4.º Quando for parte o Ministério Público, seu representante poderá proferir sustentação oral após as demais partes, sendo-lhe concedido prazo igual ao destas. (BRASIL, TST, 2013) Contrariando o art. 7º da Lei n. 8.906, de 04/07/1994 – Estatuto da OAB, que determina que o advogado pode sustentar oralmente suas razões em qualquer recurso, o Regimento Interno do TST, expressamente veda defesa oral em diversos recursos: Lei n. 8.906, de 04/07/1994: Art. 7º São direitos do advogado: IX - sustentar oralmente as razões de qualquer recurso ou processo, nas sessões de julgamento, após o voto do relator, em instância judicial ou administrativa, pelo prazo de quinze minutos, salvo se prazo maior for concedido; (Grifos nossos) - (BRASIL, 2013) Regimento Interno TST: Art. 145 (...) § 5.º Não haverá sustentação oral em: (Redação dada pela Emenda Regimental nº 2/2011) I - embargos de declaração; II - conflito de competência; III - agravo de instrumento; IV - agravo ou agravo regimental interposto contra despacho proferido em agravo de instrumento ou contra decisão concessiva ou denegatória de liminar em ação cautelar; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 4/2012) V - agravo em recurso extraordinário; VI - agravo regimental contra decisão do Presidente de Turma que denegar seguimento a embargos à Subseção I da Seção Especializada em Dissídios Individuais; (Incluído pelo Ato Regimental nº 4/2012) VII - arguição de suspeição ou de impedimento; (Incluído pelo Ato Regimental nº 4/2012) VIII – ação cautelar. (Incluído pelo Ato Regimental nº 4/2012) (BRASIL, TST, 2013) Ao nosso ver, estas vedações impedem o exercício constitucional do direito a ampla defesa, uma vez que o advogado não poderá explicitar seus argumentos de forma plena. Além das vedações supra mencionadas, o Regimento Interno do TST dá ao presidente da turma, o poder de impedir que o advogado desrespeitoso a continuar sua sustentação oral: Art. 145 (...) § 6.º O Presidente do órgão julgador cassará a palavra do advogado que, em sustentação oral, conduzir-se de maneira desrespeitosa ou, por qualquer motivo, inadequada. (BRASIL, TST, 2013) Ocorre que esta norma regimental é muito aberta, não definindo o que seria maneira desrespeitosa, de tal forma que, por qualquer expressão ou argumento que desagrade a algum dos julgadores, a palavra do advogado poderá ser cassada ao fundamento do § 6.º do art. 145 do Regimento Interno. Assim, ao analisarmos os artigos do Regimento Interno do TST, referentes às regras de sustentação oral, verificamos, como no TRT3, a necessidade, por parte do sustentador, do conhecimento prévio das regras para se proceder uma sustentação oral. Ressalvadas as questões inconstitucionais do regimento, sustentação após a leitura do voto do relator e o impedimento de manifestação oral em alguns recursos, o Regimento Interno do TST teoricamente valoriza a participação oral do advogado, dando a este profissional o direito a exercer sua efetiva participação nos julgamentos dos recursos deste tribunal. 7 - Conclusão Diante de tudo o que foi apresentado, verificamos que as sustentações orais são efetivas e podem mudar posicionamentos dos julgadores nos tribunais trabalhistas. Constatamos, ao estudar os Regimentos Internos do TRT3 e do TST, que as normas regimentais não regulam todos os aspectos das sustentações orais, mas em aparente confronto com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, expressado em ADIN, impedem a realização do direito a defesa oral em alguns recursos e não respeitam a interpretação do Estatuto da OAB que determina a sustentação oral antes da leitura do voto do relator. Apesar disso, principalmente no TST, verifica-se no regimento a importância para os atuais componentes desta corte, da participação oral dos advogados na construção dos provimentos. Assim, com tudo já exposto, verificamos ser de extrema necessidade que o profissional do direito do trabalho conheça bem o princípio da oralidade e as regras dos tribunais para exercer com efetividade os direitos à ampla defesa e ao contraditório em suas sustentações orais. Resta-nos agora continuar e estimular que outros também aprofundem o estudo sobre este tema. 8 - Referências ALMEIDA, Cleber Lucio de. Direito Processual do Trabalho. 4.ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2012. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituiçao.htm. Acesso em: 10 ago. 2013. BRASIL. Decreto Lei n° 5.452, de 01 de maio de 1943. Disponível em: www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452.htm. Acesso em: 10 ago. 2013. BRASIL. Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973. Disponível em: www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5869.htm. Acesso em: 10 ago. 2013. BRASIL. Lei n° 8.906, de 04 de julho de 1994. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8906.htm. Acesso em: 10 ago. 2013. BRASIL. Lei n° 9.099, de 26 de setembro de 1995. Disponível em: www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9099.htm. Acesso em: 10 ago. 2013. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Adin. 1.127-8. Disponível em: https://ww2.stj.jus.br/processo/jsp/ita/abreDocumento.jsp?num_registro=1995004692 00&dt_publicacao=20-11-1995&cod_tipo_documento=. Acesso em: 10 ago. 2013. BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Regimento Interno. Disponível em: http://aplicacao.tst.jus.br/dspace/handle/1939/1282. Acesso em: 05 jul. 2013. BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho – 3ª Região. Regimento Interno. Disponível em: http://www.trt3.jus.br/bases/regimento/ri.htm. Acesso em: 05 jul. 2013. GONÇALVES, Marcus Vinícios Rios. Novo Curso de Direito Processual Civil. 3.ed. São Paulo: Saraiva, 2006. LEAL, Rosemiro Pereira. Teoria geral do processo: primeiros estudos. 8.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009. LÔBO, Paulo. Comentários ao Estatuto da Advocacia e da OAB. 5.ed. São Paulo: Saraiva, 2009. MAMEDE, Gladston. A advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil. 3.ed. São Paulo: Atlas, 2008. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. OAB atua em prol de advogado: TST restitui direito de sustentação oral. Disponível em: http://www.oab.org.br/noticia/25536/oab-atua-em-prol-de-advogado-tst-restituidireito-de-sustentacao-oral. Acesso em: 10 ago. 2013. PEREIRA, Larissa Maria Galvão. O princípio da oralidade no processo penal. 2010. Disponível em: http://www.emerj.tjrj.jus.br/paginas/trabalhos_conclusao/2semestre2010/trabalhos_2 2010/larissapereira.pdf. Acesso em: 10 ago. 2013. REIS, Nazareno César Moreira. A oralidade nos Juizados Especiais Cíveis. 2004. Disponível em: http://jus.com.br/revista/texto/5439. Acesso em: 10 set. 2011. SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras Linhas de Direito Processual. V. 2 . 24.ed. São Paulo: Saraiva, 2008. SCHIAVI, Mauro. Manual de direito processual do trabalho. 4.ed. São Paulo: LTR, 2011. POLÍTICA E DIREITO EM EVOLUÇÃO: A SOBERANIA, A GLOBALIZAÇÃO E O DIREITO DE INTEGRAÇÃO. Regis André65 Sumário:1. Introdução; 2.DESENVOLVIMENTO DO TEMA.; 3.. Conclusão; 4. Referências 1.INTRODUÇÃO. Com o desenvolvimento da figura do Estado, delineada a partir do Século XIII devido aos conflitos dos monarcas (barões, súditos feudais) e da inicial burguesia mercantil com a Igreja, a soberania passou a ser elemento essencial do Estado Nacional. Nesse contexto, a soberania reflete o poder que o Estado tem de tutelar os seus súditos e de postar-se em situação de igualdade com outros Estados. A doutrina (nacional e internacional) atribui ao célebre autor Jean Bodin, considerado grande teórico da Ciência Política, o desenvolvimento do conceito de soberania. Na época da formulação do conceito (Século XVI), o mundo não se resumia mais a Europa, e já ocorria à chamada Era dos Descobrimentos, terreno fértil para a compreensão de soberania do Estado, ao contrário do ambiente social presente na Antiguidade, na Grécia, na Roma, e na Europa Medieval, que não gozavam do sentimento público de nação. Mas tanto a política quanto o direito estão em constante movimento. 65 Advogado. Doutor em Direito pela PUC Minas. Professor e Coordenador do Curso de Direito da FPL. Presidente da Comissão de Educação Jurídica da OAB/MG – CEJ-OABMG. Membro Julgador da 8ª Turma do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/MG. Membro do Instituto dos Advogados de Minas Gerais – IAMG. Conselheiro Suplente – representante da FECOMÉRCIO – no Conselho de Contribuintes do Estado de Minas Gerais – CC/MG. Assim, na atual quadra a soberania não é mais tratada como una e indivisível, o poder absoluto e perpétuo que somente encontra limitações na lei divina e na lei natural, conforme estudos de Bodin em obra clássica da Ciência Política (BODIN, 2012). De fato, avaliando tal questão e os tempos atuais, Soares elucida que: Nesta conjuntura, a geopolítica apresenta sociedades complexas, condicionadas pela economia de mercado interligando os diferentes Estados. O domínio tecnológico e dos meios de comunicação pelas multinacionais caracteriza a intervenção da nova fase do capitalismo, ao engendrar a denominada globalização política e econômica, modificando gradativamente o conceito clássico de soberania (SOARES, 2011, p. 114). Assim, quando se trata de Organizações Internacionais, e dos blocos regionais econômicos, políticos, sociais e culturais criados por Tratados e Protocolos de Direito Internacional, a submissão e a flexibilização da clássica soberaniados Estadosa um projeto de integração é marca central do fenômeno no mundo globalizado. A Carta de São Francisco, instituidora da Organização das Nações Unidas – ONU, é exemplo de superação da concepção de soberania absoluta (SOARES, 2000). A consolidação de blocos regionais políticos, econômicos, sociais e culturais também é exemplo marcante da imposição de limites a autonomia e, por consequência, a soberania dos Estados. Nessa linha de reflexão, Ribeiro leciona que Os novos conceitos, bem como a participação das instituições supranacionais destacando o papel do Direito nos novos processos de integração, derrogam o conceito clássico de soberania inerente aos Estados, tanto em relação à ordem jurídica internacional como em relação aos ordenamentos jurídicos internos dos respectivos Estados (RIBEIRO, 2001, p. 35). Dessa forma, dadas as modernas relações entre os Estadose seus nacionais e entre os Estadose outros Estados, bem como entre os Estadose outros sujeitos de Direito no cenário internacional, em mundo globalizado a soberania resta flexibilizada em virtude das profundas alterações na economia, na sociedade e na política, fruto de um processo global de interação que estabeleceu nova forma de organização de pessoas, bens e serviços em todo o mundo. Nesse contexto, segundo Ribeiro, Cabe agora considerar a noção de soberania em contexto de integração, ou seja, a possibilidade e viabilidade da convivência desta com a superveniência de blocos regionais integrados, como mercados comuns ou uniões econômico-monetárias, partindo de tratados constitutivos regidos pelo direito dos tratados, regulados, internamente, por normas diretamente aplicáveis nos Estadosmembros, através de instituições de caráter supranacional, de determinar justamente a viabilidade de tal convivência, não acarretando a supressão da soberania, mas a reestruturação de sua regulação, na medida em que tais entidades não eliminem a condição de sujeitos de Direito Internacional dos Estados-membros. Na verdade, devem apenas de superpor parcialmente aos Estadosmembros, naquelas matérias que tenham relação com o conteúdo da organização e sejam indispensáveis à consecução de seus objetivos (RIBEIRO, 2001, p. 37-38). Assim, diante da nova ordem internacional, que globaliza a política, a economia e as práticas sociais, não mais prevalece o clássico conceito de soberania do Estado. Então, diante de tal situação política, surge uma demanda por um Direito especializado para atender a comunidade internacional, e, em especial, aos Estados e aos blocos econômicos regionais, que é o Direito de Integração. Segundo Soares, Consubstanciado em tratados comunitários, esse novo Direito sobre os Estados recebeu a denominação de Comunitário ou de Integração. Surgiu em área limitada da sociedade internacional e dentro de certas circunstâncias históricas, erigindo novos conceitos jurídicos, em conformidade com as complexas sociedades modernas (SOARES, 1999, p. 12). Desse modo, o direito da integração regional, revelado pelas normas de natureza comunitária, ganha relevo e importância como instrumento norteador e regulamentador das novas relações entre os Estados, que se unem no campo político, econômico, social e cultural com objetivos comuns de desenvolvimento individual e, principalmente, coletivo, flexibilizando o clássico conceito de soberania do Estado. Esse direito, o Direito de Integração ou Comunitário, é especializado em face do Direito Internacional, e trata a soberania em outra dimensão política. Vejamos. 2.DESENVOLVIMENTO DO TEMA. A soberania, qualidade do poder que recai sobre todos, aparece com o surgimento do Estado Absoluto, segundo ensina Dallari em obra clássica de Teoria do Estado (DALLARI, 2007). Este poder surge sem limites, oposto tanto internamente quanto externamente ao território do Estado, quer seja na tutela dos súditos quer seja no relacionamento entre os Estados que não devem obediência entre si. Para Bodin, soberania era o “poder absoluto e perpétuo de uma República, palavra que se usa tanto em relação aos particulares quanto em relação aos que manipulam todos os negócios de estado de uma República” (BODIN, 2012, p. 96). Assim, este mesmo autor entendia a soberania como um poder ilimitado pelo humano, e legitimamente utilizado pelo soberano para cuidar da coisa pública conforme as convicções e desejos de um ou alguns em detrimento dos interesses do povo (transportado para o soberano). Nesse contexto, a soberania autorizava o Estado a fazer tudo o que, em dado momento, entendia ser necessário para o bom funcionamento do Estado e da sociedade, sem contestação de quem quer que fosse. Para Hobbes, soberania era uma delegação de autoridade ou poder de um homem a outro homem ou Conselho, sendo que Os limites desse poder que os representantes políticos do Estado têm se dá por duas formas. A primeira, para os subordinados, através de procuração recebida do soberano; a segunda através da lei do Estado. Para que o representante do Estado soberano exerça a sua autoridade, não há necessidade de procuração, porque o poder não tem outros limites senão na lei da natureza; ao contrário, para que o subordinado realize atos negociais, há limites e a sua autoridade decorre da procuração que tem, como representante do soberano. Mas como nem sempre é fácil ou às vezes possível estabelecer esses limites na procuração, as leis ordinárias, comuns a todos os súditos, deve determinar o que os representantes podem legalmente fazer em todos os casos, quando a procuração nada dispõe a respeito (HOBBES, 1992, p. 184-185, tradução nossa).66 66 Cf. Texto original: “Los limites de este poder que se da al representante de um cuerpo político se advierten em dos cosas. La una está constituída por los escritos o cartas que tienen de sus soberanos; la outra es laleydel Estado. Enefecto, aunque em lainstitución o adquisición de um Estado que es independiente, no haynecesidad de escritura, porque el poder del representante no tieneotros limites sino lós estabelecidos por laley, no escrita, de lanaturaleza, em cambio, em loscuerpos Nessa linha de reflexão, a delegação de poder conferia ao soberano o poder de governar segundo as leis por ele criadas em representação aos interesses do povo. Essas leis, criadas pelo Estado no desempenho ou exercício de sua soberania qualificava e legitimava o poder estatal, poder este que se tornava incontestável aos olhos dos súditos. Para Locke, a soberania consiste em uma alteração no estado das coisas, uma passagem do estado natural para o estado social, sendo que Para compreendermos corretamente o poder político e liga-lo à sua origem, devemos levar em conta o estado natural em que os homens se encontram, sendo este um estado de total liberdade para ordenarlhes o agir e regular-lhes a lei da natureza, sem pedir permissão ou depender da vontade de qualquer outro homem. Estado também de igualdade, no qual qualquer poder e jurisdição são recíprocos, e ninguém tem mais do que qualquer outro; nada há, pois, de mais evidente que criaturas da mesma espécie e da mesma ordem, todas aquinhoadas aleatoriamente com as mesmas faculdades, terão também de ser iguais uma às outras sem subordinação ou sujeição; a menos que o senhor de todas, através de uma declaração explícita de sua vontade, dispusesse uma mais alta que a outra, conferindo-lhe, por indicação evidente e clara, direito indiscutível ao domínio e à soberania (LOCKE, 2002, p. 23). Desse modo, a soberania cumpria o papel de pacificação da sociedade civil. O Estado, então, tutelava os homens tornando-os iguais em direitos e deveres e subordinados ao poder estatal e não mais ao direito natural, agindo a soberania como instrumento de poder que organizava a sociedade nas melhores práticas sociais, em espírito coletivo diferente do natural estado das coisas e dos homens. Tratando da mesma matéria, Montesquieu entendia que soberania implica em organização da vida em sociedade, já que “Considerados como membros de uma sociedade que deve ser mantida, existem leis na relação entre aqueles que subordinados precisan diversas limitaciones, respecto a sus negócios, tiempos y lugares, que no pueden ser recordadas sin cartas, ni ser tenidas em cuenta a menos que tales cartas sean exibidas, para que puedan ser leídas, y por añadiduraselladas o testificadas conotros signos permanentes de La autoridad soberana. Y como no siemprees fácil, o a vecesposible estabelecer em lãs cartas esaslimitaciones, lãs leyes ordinárias, comunes a todos los súditos, deben determinar lo que los representantes puedenhacer legalmente en todos los casos em que lãs cartas misnasnad a dicen” (HOBBES, 1992, p. 184-185). governam e aqueles que são governados; é o DIREITO POLÍTICO” (MONTESQUIEU, 1996, p. 15). Assim, mais do que um direito natural, a soberania era um direito político exercido pelo soberano para a organização da vida dos homens em sociedade. Este poder político, assim, representava o poder do Estado na forma e para fins coletivos, e se sobrepunha ao individual que é próprio dos interesses humanos. Para Rousseau, a soberania (...) sendo apenas o exercício da vontade geral, nunca pode alienarse, e que o soberano, não passando de um ser coletivo, só pode ser representado por si mesmo; pode transmitir-se o poder – não, porém, a vontade [...] Pela mesma razão por que é inalienável, a soberania é indivisível, visto que a vontade ou é geral ou não o é; ou é a do corpo do povo, ou unicamente de uma parte. No primeiro caso, essa vontade declarada é um ato de soberania e faz lei; no segundo, não passa de uma vontade particular ou de um ato de magistratura; é, quando muito, um decreto (ROUSSEAU, 1989, p. 34-35). Nessa quadra, soberania representava o poder de legislar, de judiciar e de governar segundo a vontade da sociedade, vontade esta delegada ao soberano para atuar em nome daquela. Por tudo, para os autores clássicos de Teoria do Estado tem-se que soberania resulta do contrato social celebrado entre os súditos e o Estado, em que aqueles, abrindo mão de parcela de sua autonomia privada (natural ou civil), delega ao Estado o poder-dever de organizar a sociedade, criando leis, julgando ou governando em toda a área territorial do Estado. Originariamente de índole política, a soberania, com o passar do tempo e a evolução da sociedade, ganha índole jurídica. Assim, a soberania passa a apresentar duas facetas marcantes: uma interna e outra externa ou internacional. A interna diz respeito ao exercício do poder do Estado dentro de seu território. A externa ou internacional implica no respeito que o Estado deve ter com o outro Estado, quer seja limítrofe ou não, pois ambos possuem e exercem o poder soberano em situação de igualdade em suas relações políticas, econômicas, militares, sociais e culturais. Para tratar desta igualdade entre os Estados surge, então, o Direito Internacional, como ponto de equilíbrio entre a dicotomia soberania interna e soberania externa ou internacional, e “cujo objeto é, precisamente o de organizar a necessária interdependência embora preservando sua independência” (PELLET; DAILLIER; DINH; 2005, p. 41), quando um ou mais Estados se relacionam perante a comunidade internacional. Essa comunidade internacional67 também é regida por leis68, retratadas em Tratados Internacionais celebrados pelos Estados no exercício de sua soberania, com a expressão do Direito Internacional. Ocorre que com a organização do Estado Absoluto (Nacional) o conceito de soberania se firmou, e com o Direito Internacional na era pós Westfália, responsável por configurar um novo desenho geopolítico para a Europa e uma nova organização política e territorial dos Estados Europeus, o conceito de soberania ganhou flexibilidade, posto que o Direito Internacional é o resultado da produção de normas por Estados soberanos juridicamente iguais, normas estas que assumiram cumprir. Nesse contexto, o Estado não pode mais invocar o clássico conceito de soberania para recusar-se ou omitir-se no cumprimento das normas estabelecidas em Tratados e Protocolos Internacionais, pois isso resultaria em clara violação do Direito Internacional e na volta às origens, em que a soberania e o seu exercício desconsiderava por completo a existência de uma comunidade internacional e de um Direito Internacional voltado para os Estados e para a comunidade69. Assim, se a norma internacional surge da manifestação do Estado no desempenho e exercício da soberania (consentimento), portanto, da mais alta expressão da vontade estatal, é a própria vontade do Estado, alicerçada no seu ato soberano, o instrumento legitimador do Direito Internacional que o Estado deve observar e fazer cumprir fielmente em seu território. 67 Para um maior aprofundamento da discussão sobre as concepções que fundamentam a comunidade internacional, confira obra de SILVA (SILVA, 2002, p. 13-14). 68 Para Montesquieu, “Cada sociedade particular começa a sentir sua força; o que produz um estado de guerra de nação a nação. Os particulares, em cada sociedade, começam a sentir sua força; procuram colocar a seu favor as principais vantagens desta sociedade; o que seria um estado de guerra. Estes dois tipos de estado de guerra fazem com que se estabeleçam leis entre os homens. Considerados como habitantes de um planeta tão grande, a ponto de ser necessária a existência de diferentes povos, existem leis na relação que estes povos possuem entre si; é o DIREITO DAS GENTES” (MONTESQUIEU, 1996. p. 15). 69 Para o aprofundamento da discussão, confira obra de Ekmekdjian (EKMEKDJIAN, 1994). Por sua vez, o mundo sofreu mudanças significativas nas últimas décadas, principalmente após o pós-guerra de 1945 em que o sistema capitalista se remodelou e os Estados passaram a estabelecer variadas relações entre eles, no campo político, econômico, social, cultural, dentre outros, com absoluto avanço do Direito Internacional para o tratamento e a pacificação desta ordem de coisas, e o aumento dos sujeitos da comunidade internacional que no início se restringiam basicamente aos Estados. Readaptado o conceito de soberania, surge a ideia e os primeiros movimentos para a integração, em que Estados se juntam política, econômica e juridicamente em comunidade ou organização supraestatal, criando direito novo, o Direito de Integração em face do tradicional Direito Internacional. Segundo Soares, Essa integração se desenvolveu durante a década de 50 com a criação da Comunidade Européia do Carvão e do Aço – CECA (Tratado de Paris – 18/4/51) na Europa Ocidental, através dos Estados-partes da França, Alemanha Federal, Itália, Bélgica, Holanda e Luxemburgo, objetivando manter mercado comum para o carvão, minério de ferro e aço, com harmonização de preços e transporte dos referidos produtos (SOARES, 1999, p. 27). Nesse mesmo sentido, Ribeiro leciona o seguinte: Os processos integracionistas começaram a despontar no cenário internacional, nomeadamente, após a Segunda Guerra Mundial, inserindo-se no conflito entre o protecionismo e o liberalismo comercial, inerente às nações mais avançadas. Posteriormente, com o fim da Guerra Fria, a abertura da Europa e o triunfo americano na Guerra do Golfo, começou a ser desenhada uma geografia, surgindo novas modalidades entre o equilíbrio regional e o universal. O mundo tornou-se mais aberto, onde forças centrífugas e centrípetas atuam simultaneamente. O sistema internacional passou de “bipolar” para “multipolar”, consequentemente, facilitando os processos de integração que foram surgindo. Dentro desse novo contexto, a América Latina é um bom exemplo de que a multipolaridade facilitou e aproximou as relações entre os Estados, chegando até à concretização da formação dos atuais blocos regionais (RIBEIRO, 2001, p. 161). Como se pode constatar, na Europa esse é o marco de uma estratégia econômica voltada para o enfrentamento de questões econômicas mundiais, e uma forma de contrabalancear a supremacia dos EUA como Estado hegemônico e superpotência econômica e militar com o fim da 2ª guerra mundial. Essa nova era, também, modificou consideravelmente o fluxo de bens, capitais e pessoas por todo o mundo, resultando no conhecido fenômeno da globalização. De fato, objetivando vencer os problemas do capitalismo a globalização encarna um novo discurso, o neoliberal, de abertura total e irrestrita de mercados, como elemento importante para o desenvolvimento econômico mundial. Assim, a globalização, cujo foco é o mercado livre, altera o processo de criação de leis (individualizado) e a política clássica tratada pelos Estados, para um processo de criação de lei (comuns) de interesses coletivos, sobretudo econômicos e financeiros entre os Estados, com concepção política de cunho universal, tendo contribuído e impulsionado os processos de integração dos Estados em blocos econômicos regionais por todo o mundo. Para Clark, Nos últimos dez anos do século XX, sonhar ou discutir sobre a intervenção do Estado no domínio econômico tem sido praticamente uma heresia no mundo ocidental. O modelo de economia de mercado saiu vencedor, e o importante foi e ainda é a globalização e a formação dos blocos econômicos para possibilitar a integração econômica das nações, a fim de viabilizar a livre circulação de bens, serviços, pessoas e capitais. A intervenção é imprestável à nova realidade (CLARK, 2001, p. 15). Fenômeno real, a globalização dinamizou por completo as relações entre os Estados soberanos, vindo a criar efeitos políticos, econômicos, sociais e culturais (a exemplos), positivos e negativos, que são sentidos por todos os Estados no mundo e que não são controlados diretamente por um único Estado. Se antes, na formação do modelo de Estado-Nação, havia por parte do Estado o exercício de um poder ilimitado em seu território, e poucas negociações com outros Estados, quase sempre por razões de defesa, agora o poder encontra-se limitado internamente e as relações entre os Estados se intensificaram, a ponto de criar-se uma interdependência entre eles. Assim, um compromisso assumido internacionalmente pelo Estado, por exemplo, no campo dos Direitos Humanos via Tratados e Protocolos Internacionais, vincula o modus operandi do Estado quando da criação de sua lei interna, o seu sistema de Justiça e a sua forma de administração. Na mesma esteira, um acontecimento político, econômico, social, cultural e bélico (dentre outros), ocorrido em alguma parte do mundo, como, por exemplo, o resultado de uma eleição presidencial em um Estado importante (economicamente) do mundo, uma insurgência ou guerra civil, um desastre natural ou provocado pelo homem, uma guerra entre Estados, provoca substanciais alterações em um país que se vê obrigado a criar ou modificar a sua lei interna, o proceder de suas instituições, e estabelecer ou fortificar as suas relações com outros Estados como forma de autoproteção. Nesse cenário, em versão moderna e aprimorada do Direito Internacional clássico o Direito da Integração ganha maior espaço jurídico e se intensifica, visando organizar e pacificar os interesses e as necessidades dos Estados frente à globalização, e buscando superar coletivamente as adversidades que os Estados enfrentam. O Direito da Integração, então, constitui-se no desdobramento do Direito Internacional (LIQUIDATO, 2006). É ramo novo do Direito (DROMI; EKMEKDJIAN; RIVERA; 1995), responsável pela forma de regulação e integração da comunidade internacional. Para Soares, este Direito de Integração“é o ramo do direito, cujo objeto é o estudo dos tratados comunitários, a evolução jurídica resultante de sua regulamentação e a interpretação jurisprudencial das cláusulas estabelecidas nos referidos tratados” (SOARES, 1999, p. 48). Segundo Silva (2002, p. 347), a integração é um processo utilizado pelos Estados para o rompimento em definitivo das barreiras então existentes entre eles, quer seja na política, na economia, na cultura, dentre outros, e este processo se concretiza com a flexibilização da soberania que permite a livre circulação de bens, capitais e pessoas em dada região do mundo, ou por todo o mundo globalizado. Como dito, após a 2ª Guerra Mundial o modelo de integração ganhou força e tem sido aplicado, ora em maior escala ora em menor escala, como se vê das experiências da Europa com a UE, da América do Norte com o Tratado NorteAmericano de Livre Comércio – NAFTA, da América Latina com a Associação Latino-Americana de Livre Comércio – ALALC, e da América do Sul com a União das Nações Sul-Americanas – UNASUL (e que agrega duas Uniões Regionais que são o MERCOSUL e a Comunidade Andina – CAN). Então, relativizado o conceito clássico de soberania para adaptá-lo à realidade atual, admitida a delegação de competências soberanas e a evolução do Direito Internacional, compete ao Direito novo, o Direito de Integração, construir as bases legais para o enfrentamento do fenômeno da globalização, já que, segundo Soares, Há uma tendência irreversível de dissolução da soberania do Estado nacional em favor de instituições supranacionais, que pode assinalar o começo de uma nova ordem mundial universalista contra o horizonte de uma esfera pública mundialmente emergente. Assim, os fenômenos da globalização, com a diluição do conceito de soberania em favor de instituições supranacionais, acoplados aos inerentes problemas de interdependência e modificações nas formas de direção e controle dos regimes políticos e sistemas econômicos, conduzem a questão de saber como se devem estruturar deveres e obrigações para lá dos confins do Estado territorial (SOARES, 2006, p. 59). Com o Direito de Integração há uma nova ordem mundial, organizada pelos organismos de caráter supraestatal, com a responsabilidade da criação e aplicação de normas de cunho comunitário superiores, pela supralegalidade, às normas internas produzidas e cumpridas pelos Estados e seus nacionais em seu território. Em mundo globalizado, a integração é necessária para que os Estados possam cumprir os seus propósitos políticos, econômicos, sociais e culturais. Os países do Cone Sul não estão fora desta realidade. Nesse contexto, o debate deve ser travado segundo a seguinte premissa estabelecida por Almeida: O que, sim, deve ser considerado na aferição qualitativa de um empreendimento tendencialmente supranacional como é o caso do MERCOSUL é em que medida uma renúncia parcial e crescente à soberania por parte dos Estados Partes acrescentaria “valor” ao edifício integracionista e, por via dele, ao bem-estar dos povos integrantes do processo, isto é, como e sob quais condições especificamente uma cessão consentida de soberania contribuiria substantivamente para lograr índices mais elevados de desenvolvimento econômico e social (ALMEIDA, 1998, p. 76-77). É chegada a hora dos Estados-membros do MERCOSUL superarem as suas divergências políticas e econômicas para viabilizar por completo a integração, cumprindo fielmente os compromissos assumidos quando da assinatura do Tratado de Assunção e do Protocolo de Ouro Preto (especialmente), sob pena de perderem as vantagens que o bloco regional mercosulino propicia aos Estados-membros quando negociam duramente na comunidade internacional com outros Estados e com outros blocos econômicos regionais.70 Afinal, os desacordos entre os países do bloco regional mercosulino não são em grau tão elevado que inviabilize a plena implementação dos Tratados e Protocolos do MERCOSUL ou o diálogo institucional entre os Estados-membros, sendo que os ganhos políticos, econômicos, sociais e culturais que todos têm já são sentidos e podem ser significativamente ampliados com a integração. Ademais, o MERCOSUL já apresenta estrutura política e jurídica organizada, e seus órgãos internos com poder normativo encontram-se preparados para produzir o Direito de Integração que atenda aos interesses individuais dos Estados-membros e os objetivos da comunidade, forte o suficiente para executar os procedimentos que ainda faltam ser concluídos no processo de integração, elevando o bloco regional mercosulino a uma maior estatura política e econômica perante a comunidade internacional. Com efeito, o MERCOSULpossui personalidade jurídica através doart. 3471 do Protocolo de Ouro Preto, o que lhe permite atuar no Direito Internacional com representação própria e autônoma em relação à personalidade dos Estadosmembros que o compõe. Por outro lado, os Tratados e Protocolos do MERCOSUL, de Direito Internacional e de Direito de Integração, já definiram o processo de integração do bloco regional mercosulino. Por fim, há um Direito de Integração ou Comunitário sendo aplicado no MERCOSUL, quer seja o criado pelos Estados-membros do bloco regional mercosulino quer seja o criado pelos órgãos com poder normativo do MERCOSUL, 70 Esta questão é importante quando se discute integração regional. Para Sangmeister, em advertência, “quase todos os acordos de integração regional formados na América Latina enfrentam problemas sérios derivados do não-cumprimento de seus objetivos principais. Esses problemas são o resultado de deficiências institucionais e conseqüência da instabilidade macroeconômica que atinge os países membros. Além disso, uma intensificação das relações econômicas entre os países latinoamericanos se vê limitada por barreiras tarifárias e centenas de barreiras para-tributárias ainda em vigor, por estruturas não complementares de produção e pelo atraso tecnológico da região. Além disso, falta uma infra-estrutura eficiente que é uma das condições necessárias para um avanço substancial da integração econômica além das fronteiras de territórios nacionais” (SANGMEISTER, 2007. p. 54). 71 “CAPÍTULO II. Personalidade Jurídica. Artigo 34. O Mercosul terá personalidade jurídica de Direito Internacional.” Cf. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D1901.htm>. Acesso em: 31 dez. 2014. como é o caso do Conselho do Mercado Comum – CMC e do Grupo do Mercado Comum - GMC. O CMC e o GMC, inclusive, pelas Decisões nº 01/92, 25/94, 26/03, 54/04, 25/06 e 24/10 (especialmente), e pela Resolução nº 40/06, instituíram o Código Aduaneiro do MERCOSUL72, que versa sobre a harmonização da legislação fiscal entre os Estados-membros do bloco regional mercosulino, dentro da comunidade, buscando eliminar a bitributação que constitui um dos grandes problemas de uma integração regional. Com o Código Aduaneiro do MERCOSUL, autêntica norma de Direito de Integração ou Comunitário Tributário porque derivado do Direito de Integração e dos órgãos com poder normativo do MERCOSUL, tem-se uma legislação tributária comum para os Estados e a comunidade, o que permite os avanços necessários no processo de integração do bloco regional mercosulino e a sua consequente consolidação. Como o Código Aduaneiro do MERCOSUL tem no Direito Internacional e, especialmente, no Direito de Integração ou Comunitário do bloco regional mercosulino a sua fonte de legitimidade, e as legislações locais dos Estadosmembros do MERCOSUL, na mesma área tributária, serão aplicadas supletivamente conforme prescrito no texto do Código, há supremacia da norma comunitária (do Direito de Integração ou Comunitário) em relação ao Direito Interno dos Estadosmembros do bloco regional mercosulino, o que atesta a importância deste ramo do Direito no processo de integração regional, inclusive do MERCOSUL. 3.CONCLUSÃO O tempo atual não comporta mais a clássica compreensão de soberania e sua prática, isso porque o fenômeno da globalização, em que se tem a abertura de mercados dos Estados e a livre circulação de bens, capitais e pessoas no mundo, conduziu todos a uma dada interdependência no cenário mundial. 72 Cf. Disponível em: <http://www.mercosur.int/innovaportal/v/2376/1/secretaria/decisiones_2010>. Acesso em: 31 dez. 2014. Com esta nova realidade, a soberania resta flexibilizada para que o processo de integração entre os Estados ganhe força e forma, servindo de elemento agregador dos interesses coletivos e individuais dos Estados, e de instrumento de posicionamento dos Estados nas rodadas de negociação com outros Estados ou blocos econômicos regionais já criados nas mais diversas áreas da política e da economia. Na integração, ganha força e importância o Direito Internacional, e, sobretudo, o Direito de Integração ou Comunitário, que representa um aprimoramento e uma forma especial de tratar o Direito Internacional, constituindo-se novo Direito. Nesse aspecto, maior é a importância desse Direito de Integração ou Comunitário, pois reflete um projeto coletivo de integração, e que conta com o consentimento de todos os Estados, consentimento este derivado da soberania exercida pelos próprios Estados-membros do bloco econômico regional quando de sua constituição. Ademais, esse direito é mais estável política e juridicamente, pois que a sua formação, alteração e extinção não pode ser feito pelo Estado individualmente, já que a norma é comunitária, e este fator é relevante para a comunidade internacional e para os sujeitos de Direito Internacional que, no mundo globalizado, buscam preferencialmente entabular relações políticas, econômicas, militares, sociais e culturais com Estados e regiões econômica e juridicamente previsíveis e seguras. Na literatura jurídica vê-se que os Estados apresentam várias reservas e grandes preocupações quando celebram Tratados e Protocolos de Direito Internacional, e isso decorre porque bancam resistências à mitigação de suas soberanias à luz do clássico conceito de Bodin. Entretanto, por ser justamente especializado, o Direito de Integração ou Comunitário se revela responsável por buscar retirar, nas relações entre os Estados, os maiores entraves relativo às liberdades comunitárias, ou seja, quanto ao livre movimento de pessoas, bens e serviços, propiciando investimentos externos e internos e a colaboração, com implicações positivas no saldo de balanços dos Estados e na consecução de suas políticas econômicas, sociais e culturais dentro do bloco econômico regional, em uma nova forma de tratar a soberania do Estado. A existência de um Direito de Integração ou Comunitáriopermite a consolidação de blocos econômicos regionais, com repercussões positivas nas obrigações legais dos Estados e em suas políticas econômicas, sociais e culturais, com o estreitamento das relações políticas e econômicas entre eles. O Direito de Integração ou Comunitário, ainda, por ser comum aos Estados e possibilitar maior segurança jurídica e previsibilidade na comunidade, é capaz de atrair fluxo de capital produtivo para o investimento externo direto nos Estados e na comunidade, importante para o crescimento econômico e para o desenvolvimento econômico e social dos Estados e do bloco econômico regional, na medida em que oferece ao investidor (público ou privado) maior mercado e segurança jurídica. Com efeito, Tratadose Protocolos Internacionais devem ser os instrumentos de pacificação desta ordem de coisas, e devem tratar com vigor de um Direito de Integração ou Comunitário que deve ser agregado ao Direito Interno de cada país ou ser observado sem necessidade de internalização, para o adequado enfrentamento da globalização, ou da internacionalização das economias, consolidando os blocos econômicos regionais já existentes e suas políticas econômicas, sociais e culturais constitucionalizadas. REFERÊNCIAS ALMEIDA, Paulo Roberto de. MERCOSUL: fundamentos e perspectivas. 2 ed. São Paulo: LTr, 1998. BODIN, Jean. Os seis livros da República. Tradução e revisão técnica de José Inácio Coelho Mendes Neto. 1 ed. São Paulo: Icone, 2012. BRASIL. Decreto nº 1.901, de 09 de maio de 1996. Promulga o Protocolo Adicional ao Tratado de Assunção sobre a Estrutura Institucional do MERCOSUL (Protocolo de Ouro Preto), de 17 de dezembro de 1994. Diário Oficial da União. Brasília, 09 maio 1996. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D1901.htm>. Acesso em: 31 dez. 2014. CLARK, Giovani. O Município em face do Direito Econômico. Belo Horizonte: Del Rey, 2001. DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do Estado. 25 ed. São Paulo: Saraiva, 2007. DROMI, Roberto; EKMEKDJIAN, Miguel A.; RIVERA, Julio C.. Derecho comunitário: sistemas de integracion – Regimendel Mercosul. Buenos Aires: EdicionesCiudad Argentina, 1995. EKMEKDJIAN, Miguel Ángel. Introduccionalderecho comunitário latinoamericano. Buenos Aires: Depalma, 1994. HOBBES, Thomas. Leviathan. O la matéria, forma y poder de una republica, eclesiástica y civil. México: Fondo de Cultura Econômica, 1992. LIQUIDATO, Vera Lúcia Viegas. Direito internacional público e direito da integração: desafios atuais. In: Direito da Integração. São Paulo: QuartirLatin, 2006. LOCKE, John. Segundo tratado sobre o governo. Tradução de Alex Marins. São Paulo: Editora Martin Claret, 2002. MERCOSUL. Página Oficial. Disponível em: <http://www.mercosur.int/innovaportal/v/2376/1/secretaria/decisiones_2010>. Acesso em: 31 dez. 2014. MONTESQUIEU, Charles de Secondat, Baron de. O espírito das leis. Tradução de Cristina Murachoco. São Paulo: Martins Fontes, 1996. PELLET, Alain; DAILLIER, Patrick; DINH, Nguyen Quoc.Direito internacional público. Tradução de Vítor Marques Coelho. Serviço de Educação e Bolsas da Fundação CaloustGulbenkian, 2005. RIBEIRO, Patrícia Henriques. As relações entre o direito internacional e o direito interno: conflito entre o ordenamento brasileiro e normas do Mercosul. Belo Horizonte: Del Rey, 2001. ROUSSEAU, Jean-Jaques. O contrato social. Tradução de Antônio de Pádua Danesi. São Paulo: Martins Fontes, 1989. SANGMEISTER, Hartmut. O futuro da integração latino-americana: lições do passado e experiências da “velha” Europa. Revista Del Rey Jurídica. Ano 9, n. 17, jan./jul. 2007. SILVA, Roberto Luiz. Direito internacional público. Belo Horizonte: Del Rey, 2002. SOARES, Mário Lúcio Quintão. Constitucionalismo e Estado. In: ALMEIDA FILHO, Agassiz; PINTO FILHO, Francisco Bilac Moreira (Org.). Constitucionalismo e Estado. Rio de Janeiro: Forense, 2006. SOARES, Mário Lúcio Quintão. Direitos Fundamentais e Direito Comunitário: por uma metódica de direitos fundamentais aplicada às normas de direito comunitário. Belo Horizonte: Del Rey, 2000. SOARES, Mário Lúcio Quintão. MERCOSUL: direitos humanos, globalização e soberania. 2 ed. Belo Horizonte: Inédita, 1999. SOARES, Mário Lúcio Quintão. Teoria do Estado: novos paradigmas em face da globalização. 4 ed., São Paulo: Atlas, 2011. DEMOCRACIA PARTICIPATIVA EFETIVA E REFORMA POLÍTICA: Aspectos e Divagações sob uma ótica Constitucionalista Tiago Henrique Torres73 Sumário:1. Introdução; 2.Democracia: o que é na prática?;3. Povo: este desconhecido na Democracia; 4. Estado de Direito Democrático e as Concepções Democráticas de Processo: Participação popular efetiva na construção dos Provimentos Estatais; 5. Reforma Política: Necessidade ou Adequação? – 6. Conclusão; 7. Referências 1. Introdução A Democracia é uma forma de Governo, ou ideal, que pressupõe a participação intensa da população na condução do Estado, de forma a guiar todas as suas ações em prol dos interesses da coletividade. Considerando-se, é claro, um aspecto prático do termo. Contudo, o passar dos anos, desde a instituição de tal forma de organização governamental no Brasil, não nos mostra uma experiência prática tão rica como demonstra na teoria. A Democracia, em muitas situações, é um ideal na acepção mais romântica do termo, já que em não raras vezes é posta de lado em detrimento de interesses diversos do que se destina. A Democracia dá ao cidadão a possibilidade de controlar o seu país, através de suas próprias decisões. Porém, se mal utilizada, é ferramenta certa nas mãos erradas, gerando efeito totalmente diverso. Contrariamente ao que se pensa, não se exerce Democracia mediante apenas o sufrágio universal, ou o direito ao voto, mas em toda e qualquer decisão a que seja o Estado forçado a tomar. A Democracia não é apenas forma de Governo, mas também é forma de legitimação das decisões tomadas pelos representantes do cidadão que regem o Estado. 73 Bacharel em Direito pela Fundação Pedro Leopoldo; Pós Graduado em Direito Processual Civil pela Universidade FUMEC. Advogado. Estas e outras questões poderão ser abordadas neste pequeno ensaio sobre a Reforma Política e a Democracia, aspectos que se encontram em constante conjugação na atualidade em razão da sempre odiosa corrupção, sobretudo no campo da política. Porém, ao observarmos nossa complexa estrutura de normas e sistemas, seria realmente interessante uma completa reforma política? É preciso se pensar um pouco mais a fundo nessas questões, pois é uma decisão praticamente sem volta, com o risco de exposição da própria Ordem Constitucional. Sem objetivo de esgotar o tema, mas com intuito de demonstrar que a Democracia tem um sentido muito mais amplo do que se espera e se vislumbra num primeiro olhar. Em outras palavras, o Governo do Povo vai muito além da mera escolha de representantes, mas da participação estrita no rumo das decisões de um país. 2.Democracia: o que é na prática? Etimologicamente, a palavra Democracia tem como significado a tão falada expressão “Governo do Povo”, ou seja, a possibilidade de toda população exercer a sua vontade em prol da condução do Estado, no sentido lato, em que estaríamos falando do exercício de governança em todas as esferas do Poder. Dentro o ideal de Democracia, já traçava de forma explicativa o jurista e dicionarista De Plácido e Silva (1999, p. 249), ao descrever as formas de manifestação desta que é, senão a mais complexa, uma das mais complexas formas de Governar: Nas grandes democracias ocidentais o poder do povo se expressa no voto direto, através do qual o s cidadãos elegem os representantes dos poderes Legislativo e Executivo para defender os seus interesses e através da decisão do próprio titular do poder através do plebiscito, referendo e outros meios. Apenas deste pequeno trecho, conseguimos extrair que a palavra Democracia, de aparente simples significado, é na verdade uma expressão totalmente polissêmica, já que as suas formas de exercício apresentam uma vasta gama de entendimentos. O entendimento de que Democracia se resume apenas na forma concreta do cidadão de se fazer representar por agentes políticos já é há muito superado, já que esta mera representatividade não traduz efetivamente o gozo plano dos direitos inerentes ao caráter de cidadão. Dentro deste raciocínio, trabalha o constitucionalista mineiro Bernardo Gonçalves Fernandes (2013, p.291), ao explicitar o caráter polissêmico do vocábulo Democracia: Fato que democracia hoje não se dá apenas pela possibilidade de escolha dos atores políticos, mas inclui ainda uma proteção constitucional que afirma: a superioridade da Constituição; a existência de direitos fundamentais; da legalidade das ações estatais; um sistema de garantias jurídicas e processuais. (grifos do autor) O autor incita como fundamentos do arcabouço construído pelo significado de Democracia, além da possibilidade de exercer a representatividade, as garantias fundamentais constitucionais e processuais, além da legitimação das decisões do Estado na própria Lei, sobretudo na Constituição Federal de 1988, que é amparo para todas as demais Leis. Esta visão “macro” da Democracia é que garante a própria existência deste instituto, tendo em vista que simplesmente rotulála como mera forma de Governo em que a vontade do povo se manifesta, se configura em uma tentativa de ocultar a própria efetividade da participação nas decisões tomadas pelo Estado. Esta efetividade, ou concretude de participação pelo cidadão, é o ideal que realmente deve ser perseguido para que se possa vislumbrar existência efetiva de Democracia, pois a prática nos demonstra que há muito por se caminhar até que ela seja realmente uma forma de Governo participativa. O próprio texto Constitucional de 1988 traz em seu bojo uma série de princípios e normas que têm como escopo garantir esta efetividade do ideal democrático. Além das questões técnicas atreladas à representatividade, a Constituição vem resguardar direitos subjetivos ao cidadão, no intuito de que fazer com que o Governo do Povo realmente faça o cidadão se sentir parte dele. Interessante, neste momento, a conclusão a que chega Bernardo Gonçalves Fernandes (2013, p. 292): Fato é que a Constituição de 1988 conseguiu articular tanto o plano de democracia direta quanto da indireta, criando uma figura semidireta de cunho participativo. Assim, além da possibilidade de eleição dos representantes políticos, o texto constitucional contempla as modalidades de plebiscito (art. 14, I), referendum (art. 14, II) e a iniciativa legislativa popular (art. 14, III, regulada pelo art. 61, §2º). O propósito aqui é criar condições para desenvolvimento de uma cidadania plena e inclusiva, com livre exercício das liberdades públicas. (grifo do autor) Em mesmo sentido, concretizando o raciocínio supracitado, Cláudio Pereira Souza Neto (2010, p. 3-4) descreve a chamada “Democracia Deliberativa”, que visa justamente apregoar uma forma de escapar da engessada concepção de mera representatividade do conceito inaugural de Democracia: (...)Em oposição a essas teorias agregativas e elitistas, a democracia deliberativa repousa na compreensão de que o processo democrático não pode restringir à prerrogativa popular de eleger representantes. A experiência histórica demonstra que, assim concebida, pode ser amesquinhada e manipulada. A democracia deve envolver, além da escolha de representantes, também a possibilidade de se deliberar publicamente sobre as questões a serem decididas. A troca de argumentos e contra-argumentos racionaliza e legitima a gestão da res publica. Se determinada proposta política logra superar a crítica formulada pelos demais participantes da deliberação, pode ser considerada, pelo menos prima facie, como legítima e racional. Mas para que essa função se realize, a deliberação deve se dar em com contexto aberto, livre e igualitário. Todos devem participar. (...) (grifos do autor) O exercício da Democracia em sua plenitude, depende deste espírito participativo do povo, já que, como dito inicialmente, nada mais estamos falando do que o “Governo do Povo”. Mas este povo que “governa” não sabe exatamente que há em suas mãos um poder maior do que o de voto, dentro da Democracia. Afinal de contas, Democracia é, em fim último, o próprio povo, ou as vontades deste em consenso. 3.Povo: este desconhecido na Democracia Como já repisado, a Democracia é o “Governo do Povo”, fato praticamente notório, afirmado em doutrinas, discursos políticos, teses, e também na boca do próprio povo, que em muitas situações vangloria esta posição de “controle” das situações através de seu poder de escolha. Mas, também como já dito, e devidamente respaldado na opinião de grandes juristas que, o mero exercício de representatividade não é garantia de exercício pleno de Democracia, mas sim uma forma de manutenção de uma ou outra classe política, já que o povo é facilmente dominado por ofertas que fogem, muitas vezes, dos próprios padrões da ética. A posição do povo dentro da Democracia atual é a de mero instrumento de concretização de ideais políticos, já que é intermédio para o preenchimento de cargos eletivos, mediante o voto. Trata-se de uma concepção um tanto quanto deturpada da própria doutrina de Hans Kelsen (2000, p. 334), que coloca o povo em um patamar muito superior ao atualmente vislumbrado: Um segundo “elemento” do Estado, é o povo, isto é, os seres humanos que residem dentro do território do Estado. Eles são considerados uma unidade. Assim como o Estado tem apenas um território, ele tem apenas um povo, e, como a unidade do território é jurídica e não natural, assim o é a unidade do povo. Ele é constituído pela unidade da ordem jurídica válida para os indivíduos cuja conduta é regulamentada pela ordem jurídica nacional, ou seja, é a esfera pessoal de validade dessa ordem. O insigne doutrinador demonstra de forma clara a importância do povo na própria constituição do Estado, e, consequentemente, para a própria Democracia, enquanto Governo por ele exercido. Exemplo claro desta concepção é o art. 1º, parágrafo único, da Constituição Federal de 1988, ao estatuir que “todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição”. Que o poder pode ser exercido mediante representantes, todos sabemos, mas nem todos sabem que o povo tem a possibilidade de exercê-lo através de seu próprio agir, conforme prescrição constitucional. Porém, não basta que a dita “Carta Democrática” de 1988 conceda ao povo o poder direto, sendo que ele não sabe exatamente como utilizá-lo. Neste prisma, importantíssima a crítica feita por Friedrich Muller (2011, p. 46), ferrenho defensor da Democracia: Nem a todos os cidadãos é permitido votar. Nem todos os eleitores votam efetivamente. E por meio de quê deve legitimar a minoria, sempre vencida pelo voto da maioria nas eleições e em posteriores atos legislativos? E que “povo” – se esconde atrás dos efeitos informais sobre a formação da opinião pública e da vontade política “do povo” – efeitos que por exemplo as pesquisas de opinião ou todas as atividades individuais e sobretudo as atividades associativas e corporativas podem produzir na política? Conforme narrado, o povo não sabe exatamente o seu lugar dentro da Democracia. E, até mesmo vislumbrando um ponto de vista mais sociológico, o povo, como um todo, nem sempre quer saber o seu lugar dentro da Democracia, mas sim retirar dela a sua chance de uma vida mais digna e próspera, já que é dever do Estado lhe garantir este substrato mínimo para sobrevivência. Como bem retrata MULLER (2011, p. 51), “o povo atua como sujeito de dominação”. No entanto, o agir proativo do povo garante a própria legitimação da atividade estatal, já que, inserido em uma Democracia, deve tomara para si a responsabilidade de condução do Estado. Tal agir proativo não é configurado meramente pela possibilidade de eleger representantes, mas sim de buscar a guarida constitucional e fazer com que ela seja respeitada, já que é a própria vontade popular em texto legislativo. Novamente buscamos amparo na brilhante doutrina de MULLER (2011, p.55-56). O povo não é apenas – de forma indireta – a fonte ativa da instituição de normas por meio de eleições bem como – de forma direta - por meio de referendos legislativos; ele é de qualquer modo o destinatário das prescrições, em conexão como deveres, direitos e funções de proteção. E ele justifica esse ordenamento jurídico num sentido mais amplo como ordenamento democrático, à medida que o aceita globalmente, não se revoltando contra o mesmo. Nesse sentido ampliado, vale o argumento também para os não eleitores, e igualmente para os eleitores vencidos pelo voto (tocante ao direito eleitoral fundamentado no princípio da maioria) ou para aqueles cujo voto foi vitimado por uma cláusula limitadora. Além disso uns conservam o direito de ir à eleição na ocasião vindoura; e os outros continuam tendo a chance de combater então talvez “ao lado das tropas mais fortes”. Povo não é meramente um conjunto de pessoas, ou uma denominação que exprime ausência de valor, mas sim a representação do quantum numérico de cidadãos de determinado território. O povo é instituidor e destinatário de normas, legitimador e legitimado das decisões estatais. Em termos mais comuns, o povo é realmente quem detém o poder dentro da Democracia, exercendo sempre em prol da coletividade, dentro do que prescreve a Constituição da República de 1988, que nada mais é do que a expressão legislada de sua vontade e anseio por dignidade. Interessante, neste momento, o que entende Felipe BleyFolly (2011, p.233) E entende assim que a Constituição não é a mera projeção de uma decisão histórica ou uma filosofia de valores, mas sim possuidora de pressupostos essenciais ao que chama de uma “gramática democrática”, indisponíveis para o próprio exercício da Democracia. A Constituição teria uma função de garantir a participação democrática e não de limitá-la. E aqui podemos citar como exemplos as condições de liberdade e participação nas decisões, o livre e igual acesso às deliberações públicas, a paridade entre partes e a possibilidade de livre expressão de ideias. São limites a poderes autocráticos e parciais, e mesmo aos poderes constituídos (Executivo, Legislativo, Judiciário), que garante os Direitos da comunidade política, ou seja, aqueles Direitos criados com a contribuição desta, no sentido de uma autolegislação (garantias que nos autorizam a não nos subordinarmos a normas de cujo processo de criação não tenhamos participado). A ideia de Constituição patrocina a Democracia. Para Palombella, inclusive, o constitucionalismo “.trabaja a su vez como motor interno de la democracia, protegendo sus caracteres esenciales y garantizandola ‘gramatica’ del linguaje de lavoluntad popular”. Enquanto pilar do Estado e da Democracia, o povo deve buscar seu reconhecimento dentro das estruturas pré-concebidas, partindo-se do pressuposto que a dominação pelo capital, influências midiáticas e relações pessoais dará a tônica para a deturpação deste ideal. Importante, ainda, é vislumbrar que, além da força do povo dentro destas estruturas, é o ideal de Democracia arraigando-se nas próprias bases de sustentação da concepção de Estado, que modernamente têm, ainda que de forma filosófica e teórica, buscado a inserção do povo em sua gênese. Afinal, se vivemos em uma sociedade pautada no princípio da Legalidade e também no princípio da Democracia, nada mais sensato que a participação popular se dar realmente de forma efetiva. 4.Estado de Direito Democrático e as Concepções Democráticas de Processo: Participação Popular Efetiva na Construção dos Provimentos Estatais O conceito e forma de atuação do Estado são aspectos que certamente terão influência direta na forma de Governo e na atuação do povo e de seus representantes, todos atuando em prol da unidade, que seria o próprio Estado. Esta pequena conclusão nos leva a crer que, em um Estado pautado na legitimação de suas decisões pelo princípio da Legalidade e também pelo exercício da Democracia, a atuação do povo deve ser ostensiva, garantida em Lei e por ela regulada. De forma concisa, assim define Estado Democrático de Direito, De Plácido e Silva (1999, p. 322):”A expressão “Estado Democrático de Direito” significa não só a prevalência do regime democrático como também a destinação do Poder à garantia dos direitos”. E, de forma um pouco mais completa e abrangente, leciona LênioStreck (2003, p.93): O Estado Democrático de Direito tem um conteúdo transformador da realidade, não se restringindo, como o Estado Social de Direito, a uma adaptação melhorada das condições sociais de existência. Assim, o seu conteúdo ultrapassa o aspecto material de concretização de uma vida digna ao homem e passa a agir simbolicamente como fomentador da participação pública quando o democrático qualifica o Estado, o que irradia os valores da democracia sobre todos os seus elementos constitutivos e, pois, também sobre a ordem jurídica. E mais, a ideia de democracia contém e implica, necessariamente, a questão da solução do problema das condições materiais de existência. (...) Assim, o Estado Democrático de Direito teria a característica de ultrapassar não só a formulação do Estado Liberal de Direito, como também a do Estado Social de Direito – vinculado ao welfarestate neocapitalista – impondo à ordem jurídica e à atividade estatal um conteúdo utópico de transformação da realidade. Dito de outro modo, o Estado de Direito Democrático é plus normativo em relação às formulações anteriores. (grifo nosso) Em sua explanação, STRECK aborda acerca do Estado de Direito Democrático como uma garantia de participação do povo nas ações do Estado, configurando este paradigma em alteração de toda a estrutura, inclusive normativa e jurídica. Neste viés, saindo um pouco da questão política e adentrando o campo jurídico, sobretudo processual (já que é a forma mais pura de participação das partes em busca da tutela estatal), há que se registrarem algumas considerações acerca da Democracia também como princípio estruturante da ciência processual, sobretudo no que apregoa o Estado de Direito Democrático. O Processo, em seu sentido lato, e não meramente jurídico, é o instrumento através do qual os preceitos do Estado de Direito Democrático, a participação do povo legitimando os atos estatais juntamente com os preceitos legais, sobretudo constitucionais, poderão ser conquistados. Afinal, Democracia é consenso, e, uma decisão legítima pautada neste paradigma estatal deve passar pelo crivo da participação das partes para ser válida, mediante o Processo. A legitimação das decisões atuais decorre do fato simples de ser emanada por “órgão” detido das prerrogativas, competência e poder para proferir as decisões. Porém, ao considerarmos um paradigma estatal no qual os rumos da atuação do Estado são balizados pelo olhar e agir concreto do povo, devidamente regidos pelas Leis, sobretudo a Constituição da República, a legitimação deve decorrer diretamente desta participação popular. As modernas concepções de Processo nos ofertam conceituação pautada, sobretudo nas garantias e princípios inseridos no corpo da Constituição da República, como bem nos mostra o insigne processualista mineiro, Rosemiro Pereira Leal (2005, p. 95): Não mais nos orientamos atualmente por um processo histórico (causalidade histórica) fora das constituições em concepções fatalistas e inescapáveis (ortodoxo-marxista) a determinar a consciência dos homens, mas o que se busca é a construção de uma sociedade (não causalidade sociológica) que passe pelo processo democrático do exercício coletivo das conquistas históricas jurídiconormativas de todos igualmente decidirem o devir. Claro que tal esforço teórico tem seus fundamentos na instituição constitucionalizada PROCESSO que se define pelos princípios do contraditório, isonomia e ampla defesa, condutores dialógicos (afirmações-negações) no espaço político de juridificação (edificação jurídico-sistemática) dessa nova realidade esperada. Como base de sua própria teoria, o professor Rosemiro, através de tal raciocínio traçado, demonstra claramente o espaço que deve ocupar o processo no paradigma estatal em que nos encontramos inseridos. A efetivação desta concepção é cada vez mais estudada pela doutrina, que cria um elo cada vez mais tênue entre a ciência processual e o próprio Direito Constitucional. E, diante do atual momento, Fredie Didier Júnior assim define (2013, p. 31-32): Parece mais adequado, porém, considerar a fase atual como uma quarta fase da evolução do direito processual. Não obstante mantidas as conquistas do Processualismo e do Instrumentalismo, a ciência teve de avançar, e avançou. Fala-se, então, de um Neoprocessualismo: o estudo e aplicação do Direito Processual de acordo com esse novo modelo de repertório teórico. Já há significativa bibliografia nacional que adota essa linha. O termo Neoprocessualismo tem uma interessante função didática, pois remete rapidamente ao Neoconstitucionalismo, que, não obstante sua polissemia traz a reboque todas as premissas metodológicas apontadas, além de toda produção doutrinária a respeito do tema, já bastante difundida. Como já mencionado alhures, a busca pela efetivação dos preceitos constitucionais é a tônica do atual momento da ciência jurídica, porquanto reconhecida efetivamente a força da Constituição não apenas como norma programática, mas também com a sua auto-executoriedade, sobretudo por se tratar da vontade do povo explicitada através de Legislação. Neste sentido, podemos inferir que a busca por ideais democráticos é também a tônica da ciência jurídica, através de doutrinas cada vez mais preocupadas em destacar a força vinculante do texto Constitucional à realidade do cidadão. Todos estes aspectos abordados partem do raciocínio traçado pelo jurista José Alfredo de Oliveira Baracho, um dos primeiros brasileiros a estudar com afinco o Processo sob a ótica Constitucional, tal como delineado até aqui. Segundo Baracho, as disposições constitucionais devem ser alçadas ao seu lugar de direito, qual seja, sobre as demais normas, mas não em razão de hierarquia, mas sim por conter em seu corpo todas as premissas e garantias que legitimarão a aplicação das leis infraconstitucionais. Baracho, como questionamento fundamental a ser feito, assim inicia a concepção sobre sua teoria (2004, p. 70): Entende-se constitucional e processualmente, a razoável oportunidade de se fazer valer do direito, para execução de garantias em que: o demandado tenha tido a devida notícia ou citação, que pode ser atual ou implícita; todos devem ter oportunidade adequada para comparecer e expor seus direitos, inclusive o de declará-lo por si próprio; apresentar testemunha, documentos relevantes ou outras provas; o Tribunal, perante o qual os direitos são questionados, deve estar composto de maneira tal que estejam presentes as condições de honestidade e imparcialidade; deve esse Tribunal ser competente para examinar os conflitos constitucionais. A partir desta conceituação, podemos inferir que o respeito ao contraditório, à defesa de suas teses pautada na ampla defesa (aqui entendida como possibilidade de esgotamento de todos os meios legítimos de instrução, prova e defesa de suas alegações) bem como à isonomia entre as partes, são pontos impossíveis de serem desconsiderados para que se obtenha o respeito ao devido processo constitucional e, consequentemente, ao objetivo do Processo, como legitimador das decisões judiciais. Complementa ainda Baracho, de forma bastante clara (2004, p. 70-71): As garantias constitucionais do processo alcançam todos os participantes do mesmo. O processo, como garantia constitucional, consolida-se nas constituições do século XX, através da consagração de princípios de direito processual, com o reconhecimento e a enumeração de direitos da pessoa humana, sendo que esses consolidam-se pelas garantias que os torna efetivos e exequíveis. Bem como Fredie Didier Júnior, ao abordar a questão do devido processo legal (2013, p. 48): É preciso observar o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LV) e dar tratamento paritário às partes do processo (art. 5º, I, CPC); proíbemse provas ilícitas (art. 5º LVI); o processo há de ser público (art. 5º, LX); garante-seo juiz natural (art. 5º, XXXVII e LIII); as decisões hão de ser motivadas (art. 93, IX); o processo deve ter uma duração razoável (art. 5º LXXVIII); o acesso à justiça é garantido (art. 5º, XXXV) etc. Todas essas normas, princípios e regras, são concretizações do devido processo legal e compõem o seu conteúdo mínimo.(...) O princípio dodevido processo legal tem a função de criar os elementos necessários à promoção do ideal de protetividade dos direitos, integrando o sistema jurídico eventualmente lacunoso O aludido Devido Processo, no Processo Constitucional, recebe o devido tratamento que lhe deve ser dispensado, tendo em vista pressupor que as decisões não são apenas construção advinda da convicção do Estado-juiz, mas sim uma construção participada entre as partes, devidamente avalizada pelo Estado. Neste sentido, em sua célebre obra sobre Estado de Direito Democrático, Ronaldo Brêtas Dias (2010, p. 123-124): Contudo, não é somente a obediência ao princípio da reserva da lei que permitirá o exercício constitucionalizado da função jurisdicional e a consequente decisão vinculada ao Estado Democrático de Direito. Adicione-se a tal desiderato a garantia do devido processo constitucional, que não pode ser olvidada. Assim o é, porque a decisão jurisdicional (sentença, provimento) não é ato solitário do órgão jurisdicional, pois somente obtida sob inarredável disciplina constitucional principiológica (devido processo constitucional), por meio da garantia fundamental de uma estrutura normativa metodológica (devido processo legal), a permitir que aquela decisão seja construída com os argumentos desenvolvidos em contraditório por aqueles que suportarão seus efeitos, em torno das questões de fato e de direito sobre as quais controvertem no processo. Esta definição transmite de forma clara os objetivos do Processo Constitucional, de, em síntese, garantir a ampla participação do povo, quando litigantes, em busca da construção das decisões judiciais, aqui entendidas como provimento estatal. Esta breve análise traçada demonstra que, também no âmbito jurídico, a busca pela inserção do real sentido de Democracia tem sido a tônica do pensamento jus-filosófico atual. O Estado, através do uso da força, não tem o condão de inserir legitimidade democrática em sua atividade, ainda que se fale em representação dos interesses do povo. O povo, participativo nas decisões, através do exercício das garantias constitucionais, não apenas em processos judiciais, mas em todos os procedimentos a que for submetido, tem o condão de legitimar os provimentos estatais através de sua participação. Esta é a tônica de uma Democracia inserida no paradigma do Estado de Direito Democrático. 5.Reforma Política: Necessidade ou Adequação? Os escopos até então abordados dão conta de que Democracia não é apenas representatividade mediante voto, sendo este aspecto apenas um dos pontos do ideal democrático. O sentido de Democracia é mais amplo do que é realmente demonstrado, carecendo de profundos estudos doutrinários e filosóficos, sobretudo no campo da ciência jurídico-processual, para trazer à tona o real sentido de Estado de Direito Democrático, em que a participação do povo é também legitimante da atividade estatal. Contudo, o grande problema que se vislumbra na Democracia, notadamente ao vislumbrarmos a experiência brasileira é justamente a representatividade dentro da esfera estatal, fruto das decisões do povo através do voto. Decisões estas, como já abordado, nem sempre fruto de pensamento em prol do coletivo, mas em questões meramente pessoais e até mesmo por mera troca de “gentilezas”, ou “incentivos” ao voto. Tal realidade, diuturnamente questionada através de manifestações populares, em que se discutem pontos estruturais, a política e suas mazelas, dentre outros assuntos, desperta a todos para uma realidade: o povo brasileiro traça questionamentos, mas não coloca em prática a Democracia garantida pela Constituição em sua plenitude, fazendo mal uso da pequena parcela de Democracia que exerce, mediante o voto. A movimentação por Reforma Política sempre surge nos momentos em que o País encontra-se mergulhado em crises, mas, infelizmente, sempre é utilizada como subterfúgio das camadas oposicionistas aos Governos que estejam no poder, como mera artimanha política. Chegou-se a cogitar até mesmo em nova Assembleia Constituinte, visando operar a Reforma Política74. Neste ponto, cumpre esclarecer que uma Assembleia Constituinte visa instauração do Poder Constituinte Originário, que, em outras palavras significa na ruptura do Pacto Constitucional em prol de novas concepções, extirpando as até então vigentes. Assim, a ideia de instauração de Assembleia Constituinte para operar a Reforma Política é, além de totalmente desarrazoada, um verdadeiro golpe à própria Ordem Constitucional, a que poderia até mesmo submeter o Estado à um incidente de proporções maiores, tal como ocorrido no período do Regime Militar. Interessante relembrar, em torno da questão do Poder Constituinte Originário, a lição do constitucionalista português J.J. Gomes Canotillo (2002, p 6869) sobre o momento de criação de uma nova concepção de Constituição: [...] os ingleses compreendem o poder constituinte como um processo histórico de revelação da ‘constituição da Inglaterra’; os americanos dizem num texto escrito, produzido por um poder constituinte ‘the fundamental andparamount Law ofthenation’; os franceses criam uma nova ordem jurídico-constitucional através da ‘destruição do antigo e da ‘construção do novo’, traçando a arquitetura da nova ‘cidade política’ num texto escrito – a constituição. Revelar, dizer e criar uma constituição são os modi operandi das três experiências constituintes. 74 Constituinte para reforma política é 'devaneio', diz Gilmar Mendes. In: http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/constituinte-para-reforma-politica-e-devaneio-diz-gilmar-mendes/. Acesso: 20.abr.2015. Voltando à questão da Reforma, importa frisar sobre as constantes divergências sobre de que forma ela seria realizada, e, conforme o clamor popular, de qual maneira o povo seria ouvido para participar ativamente deste momento. Plebiscito ou Referendo? Ambas formas de consulta aos cidadãos demonstram meios de exercício de seus direitos políticos, garantidos pela Constituição da República de 1988, em seu artigo 14, o qual rezaque “a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante plebiscito,referendo ou iniciativa popular”. Embora ambos tenham semelhanças em comum, tendo em outros Países o mesmo sentido, guardam diferença substancial: a consulta antes ou após a criação do Ato Legislativo. Isto é determinante, vez que, no caso do Plebiscito, as proposições feitas aos cidadãos não obrigam ao Legislador utilizar totalmente a consulta realizada. Ou seja, corre-se o risco de que apenas parte da consulta popular seja efetivamente percebida, ou refletida, na Lei criada. Diferentemente do Referendo, onde há a possibilidade de anular em todo o ato criado, quando percebidos os seus vícios. O Plebiscito é visto por muitos como um verdadeiro “cheque em branco” dado ao Legislativo para criação de Lei que regulamente a Reforma Política. No entanto, embora se configure em grande e democrática experiência a consulta popular mediante qualquer destes mecanismos, não se afigura completa e definitiva esta saída, já que a opinião popular não vincula totalmente os rumos da atuação dos agentes políticos em prol da Reforma. Além disto, passados alguns meses desde a ocorrência das manifestações populares Brasil afora, o tema Reforma Política já não encontra tanta força quanto outrora. Apenas a título de informação, importante a resposta dada por Alberto Lopes Mendes Rollo, presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB-SP, sobre um questionamento realizado recentemente: A discussão sobre a legalidade de um plebiscito já foi superada. No entanto, quem defendia o plebiscito afirma que uma reforma política que venha do Congresso será viciada e atenderá aos interesses de deputados e senadores. Como produzir uma reforma política eficaz, rápida e que contemple os interesses da população e dos políticos? - Alberto Rollo — O ideal é que se colocassem temas para discussão que seriam avaliados pela população, em plebiscito, em um primeiro momento. Pegar temas relevantes, como a revogação de mandato, e deixar o povo decidir. A população baliza quatro ou cinco temas relevantes, e depois o legislador faz a lei. Esses temas relevantes não são coisa fechada. O recall, por exemplo, envolve várias nuances: quantas vezes é possível fazer por mandato? Recall do presidente da República é possível antes de um ano de mandato? Então, se a população disser que quer o recall, os legisladores precisam cumprir com a sua função. Depois, há o referendo para saber se aquele recall preencheu a vontade popular.75 Este pequeno percurso histórico travado para demonstrar a questão do recente movimento pela Reforma Política vem apenas reforçar a tese de que o povo brasileiro traça questionamentos, mas não coloca em prática a Democracia garantida pela Constituição em sua plenitude, fazendo mal uso da pequena parcela de Democracia que exerce, mediante o voto. O trecho de entrevista colacionado demonstra de forma clara a falta de confiança do povo em seus eleitos, embora tal decisão seja exclusivamente sua. Diante destes fatos claros, não restam dúvidas de que a Democracia exercida simplesmente a representatividade, o direito ao voto, é algo que não se relaciona com o próprio sentido de Democracia, tendo em vista que o povo não se enxerga em seus representantes. O povo não conhece sua Constituição vigente e não lança mão de todas as garantias a que faz jus, sobretudo as formas de questionamento dos atos do Estado, tais como as Ações Constitucionais. Grande exemplo de meio de impugnação é a própria Ação Popular, a qual, segundo afirma Bernardo Gonçalves Fernandes, “é uma ação constitucional de natureza civil, atribuída a qualquer cidadão, que visa invalidar atos ou contratos administrativos que causem lesão ao patrimônio público ou ainda à moralidade administrativa, ao patrimônio histórico e cultural e ao meio ambiente”. (2013, p.541-552). No entanto, o cidadão, o povo, não tem conhecimento de todas as ferramentas democráticas dispostas para sua utilização. Em última análise, o cidadão não tem sequer um conhecimento básico do que se encontra inserido em sua Constituição. 75 Disponível em <http://www.conjur.com.br/2013-set-08/entrevista-alberto-rollo-advogadoespecialista-direito-eleitoral>Acesso. 20.Abr.2015. Tão importante quanto a Reforma Política seria a própria conscientização do povo, pelo próprio Estado, de que a sua Constituição tem caráter ativo, em que seus direitos e garantias dispostos podem ser exigidos, mediante mecanismos próprios. Esta seria uma forma de participação efetiva do povo na Democracia instaurada no Brasil, devidamente consubstanciada no paradigma do Estado de Direito Democrático e em prol da coletividade. A mera representatividade apenas mantém o povo esperançoso de mudanças, estando os rumos de uma Reforma Política nas mãos daqueles que mais deram causa a esta dita necessidade. Porém, a necessidade de Reforma nada mais é do que uma necessária adequação dos preceitos constitucionais, democráticos e também políticos ao cidadão, que precisa enxergá-los diariamente e de maneira comum em sua vida. 6.Conclusão À guia de resumo, nunca é demais ressaltar a idéia conclusiva que se chega: o povo brasileiro traça questionamentos, mas não coloca em prática a Democracia garantida pela Constituição em sua plenitude, fazendo mal uso da pequena parcela de Democracia que exerce, mediante o voto. A Democracia é forma de Governo em que o povo tem a possibilidade de tomar para si os rumos e decisões do Estado, porquanto detentores do poder legitimante, ativo, participativo e combativo, nas palavras do jurista Friedrich Muller. É, dentro de um paradigma de Estado de Direito Democrático, aliado à forma da legislação inserida em um prisma constitucional, a maior arma contra as arbitrariedades estatais, utilização desproporcional da força e abusos contra a “coisa pública”. No entanto, o povo se mostra passivo, à mercê de atitudes daqueles que deram causa ao grande movimento em prol de uma Reforma Política. O povo não conhece de seus mecanismos e força, e não conhece a fundo o berço de seus direitos e ferramentas para fazer, por si, uma Reforma de todo o Estado: a Constituição da República de 1988. É de suma importância realizar a Reforma Política, assim como a Reforma Tributária, a Reforma nos aspectos de base do país. Porém, mais importante ainda é dar ao cidadão a possibilidade de deixar o estado de inércia em busca da defesa de sua Nação, seus direitos e garantias próprios. O cidadão inerte reflete diretamente em uma série de outras demandas a que o Estado é acometido, tais como os programas assistencialistas que sobrecarregam a máquina e não trazem frutos ao povo. Em suma, o povo precisa se sentir realmente POVO, na acepção mais concreta do termo, e não apenas no mais chulo sentido. Precisa fazer valer seus direitos dentro de um Estado de Direito pautado na Democracia, ou seja, na sua participação efetiva nas decisões. E este Estado, deve, como forma de garantia de um real bem estar à população, caminhar lado a lado desta nova concepção de Democracia em que o povo realmente atua como agente formador do Estado, na concepção Kelseniana. 4.Referências BARACHO, José Alfredo de Oliveira. Teoria Geral do Processo Constitucional. In:Revista Brasileira de Estudos Políticos. Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. v.90. jul-nov. 2004. Disponível: http://www.pos.direito.ufmg.br/rbep/index.php/rbep/article/view/4/3. Acesso: 20.abr.2015. BRASIL, Constituição(1988). Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.Disponível:http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompila do.htm. Acesso: 20.abr.2015. CANOTILLO, Joaquim José Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 5.ed. Coimbra: Almedina, 2002. DE PLÁCIDO E SILVA, Oscar Joseph. Vocabulário Jurídico. 16.ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999. DIAS, Ronaldo Brêtas de Carvalho. Processo Constitucional e Estado Democrático de Direito. Belo Horizonte: Del Rey, 2010. DIDIER JÚNIOR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil – Introdução ao Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento. v.1. 15.ed.rev.amp.atual. Salvador: Juspodivm, 2013. FERNANDES, Bernardo Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. 5.ed.rev.ampl.atual. Salvador: JusPodivm, 2013. FOLLY, Felipe Bley. Participação Popular na Teoria Constitucional: Concretização (e Superação?) da Constituição. In. CLEVE, Clemerson Merlin (org.). Constituição, Democracia e Justiça: Aportes para um constitucionalismo igualitário. Belo Horizonte: Forum, 2011. KELSEN, Hans. Teoria Geral do Direito e do Estado. 3.ed. São Paulo: Martins Fontes, 2000. LEAL, Rosemiro Pereira Leal. Processo e Hermenêutica Constitucional a partir do Estado de Direito Democrático. In: Relativização Institucional da Coisa Julgada – Temática Processual e Reflexões Jurídicas. Belo Horizonte: Del Rey, 2005. MÜLLER, Friedrich. Quem é o Povo? A questão fundamental da Democracia. 6.ed.rev.atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. SOUZA NETO, Cláudio Pereira. Constitucionalismo Democrático e Governo das Razões. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. STRECK, Lênio Luiz. Ciência Política e Teoria Geral do Estado. 3.ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA Carlos Alberto Reis de Paula76 Noções introdutórias Ao procedermos à reflexão sobre a desconsideração da personalidade jurídica, adentramos no campo das obrigações, de extrema relevância no universo dos atos e negócios jurídicos. Uma vez constituída regularmente, a pessoa jurídica adquire a personalidade e passa a ser sujeito de direitos e obrigações nas relações jurídicas. Nessa linha, temos que dois são os tipos de responsabilidade que os sócios ou acionistas podem assumir quando integrantes de quadro social: limitada ou ilimitada. Na primeira hipótese, integralizado o capital social ou subscritas as ações, é a sociedade que responderá pelos atos praticados. Na segunda hipótese, as pessoas físicas acabam por assumir responsabilidade solidária juntamente com a sociedade. De acordo com a teoria alemã, que estruturou a reflexão sobre dívida e responsabilidade, em toda obrigação há de se diferenciar o débito – compromisso que o devedor assume de cumprir a obrigação – da responsabilidade, que é o vínculo patrimonial de sujeição dos bens do devedor para satisfação do credor. O devedor é o responsável primário pela obrigação assumida, a qual deverá ser cumprida espontaneamente. Caso não o faça, o credor pede ao Estado que retire do patrimônio de devedor o montante suficiente. A norma processual pode ir mais longe trazendo a previsão de responsabilização de pessoas que, embora não sejam devedoras, conservam responsabilidade sobre os atos praticados pelo devedor em situações definidas em lei, como consagrado no artigo 596 do CPC. Surge, então, o responsável secundário. 76 Ministro aposentado do TST. Mestre e Doutor em Direito da UFMG. Professor Adjunto da UNB, aposentado. Consultor e Advogado. Chamado a responder pela obrigação, o responsável secundário pode indicar bens da sociedade, sitos na mesma comarca, livres e desembargados, quantos bastem para pagar o débito. É o denominado benefício da excussão. Na doutrina e na jurisprudência emerge uma divergência sobre a situação jurídica do responsável secundário, ser eleterceiro ou apenas sujeito passivo. Na lição do Ministro Teori Zavascki,há um redirecionamento no processo, na fase de execução, pelo que se ingressa como sujeito passivo. A razão de ser é que não se trata de obrigado, mas de responsável, por força do artigo 592 do CPC, sendo este o entendimento prevalente. (Comentários ao Código de Processo Civil: do processo de execução, artigos 566 a 645, coordenação de Ovídio Araújo Baptista da Silva) A discussão vai se aprofundar com o novo CPC de 2015, que entrará em vigor no próximo ano. O instituto da desconsideração da personalidade jurídica foi inserido como espécie do gênero intervenção de terceiros, sendo qualificado como incidente. Como bem salienta Flávio Luiz Yarshell, Visto sob essa ótica, o responsável patrimonial de que aqui se cogita (e que não seja devedor) realmente não está presente na relação jurídica processual. Se e quando for trazido para o processo ele perderá a qualidade de terceiro e tecnicamente passará a ser qualificado como parte (sujeito em contraditório perante o juiz). Além disso, esse terceiro é titular da relação jurídica que não é exatamente o objeto do processo em que originado seu ingresso. Ele (terceiro) é titular de relação conexa àquela posta em juízo, relação essa passível de ser atingida pela eficácia da sentença ou decisão proferida entre outras pessoas. Neste caso, a relação jurídica de que é titular o terceiro implica a sujeição de seu patrimônio aos meios executivos, por força de débito ostentado por outra pessoa (devedor) (2015)77. Assim posta a questão, há de se admitir que pode ocorrer que se requeira a inclusão do responsável desde logo na petição inicial, hipótese em que a pretensão da desconsideração passará a integrar o objeto do processo. Obviamente que haverá pretensões distintas, uma relativa ao débito, outra relativa à responsabilidade decorrente da desconsideração. Se o juiz acolher essa última reconhecerá a 77 Disponível em http:/www.cartaforense.com.br/conteúdocolunas/incidente de desconsideração da personalidade jurídica busca de sua natureza jurídica/. Acesso em 04 maio 2015. responsabilidade patrimonial. Trata-se, pois, de demanda (que será incidental ou não) resultante do exercício do direito de ação. Reflexões sobre a pessoa jurídica Quando se afirma que homem (ou mulher) é pessoa, quer se dizer que pela própria natureza é capaz de adquirir direitos, obrigações e deveres nas diversas relações jurídicas ou sociais. Já a pessoa jurídica, para a sua criação e constituição,depende da vontade humana, e a pessoa que emerge pode ter finalidades diversas. O Código Civil de 2002 deu nova feição ao instituto das pessoas, deixando de fazer a distinção entre pessoa física e jurídica e passou a permitir o melhor enquadramento das pessoas jurídicas. Ao proceder à análise da sociedade em que vivemos, Max Weber pondera que é uma “sociedade que busca o lucro renovado por meio da empresa permanente, capitalista e racional”(A ética protestante e o espírito do capitalismo, trad. Pietro Nassetti, São Paulo, Martin Claret, 2001, p. 24). Na estruturação da sociedade, o papel da pessoa jurídica ganha relevo. No mundo capitalista, interessa ao Estado a criação de pessoas jurídicas. Não só as que visem obter lucro, pois há pessoas que vão exercer e desenvolver o papel social e assistencial que o próprio Estado deveria desempenhar, prioritariamente. A pessoa jurídica adquire personalidade com a inscrição de seus atos no registro próprio, mas se admitem as sociedades em comum (ou de fato), as quais são sujeitos de direitos e obrigações, embora não dotadas de personalidade. A desconsideração da personalidade jurídica O instituto da desconsideração da personalidade jurídica tem por finalidade penetrar no âmago da personalidade para se encontrar seus sócios ou administradores a fim de responsabilizá-los por atos praticados por meio da pessoa jurídica. Há uma distinção entre despersonalização e desconsideração. Na primeira, anula-se a personalidade jurídica, fazendo-a desaparecer, como no caso de invalidade do contrato social. Na segunda, desconsidera-se sem negar a personalidade. O desenvolvimento do instituto deu-se a partir de julgados das Cortes de Justiça americanos e inglesesem casos em que havia abuso da pessoa jurídica ou fraude, em entendimentos que se opunham a se considerar a personalidade jurídica absolutamente distinta da pessoa física. Rubens Requião introduziu a matéria no direito pátrio ao publicar artigo na Revista dos Tribunais (RT 410/16, “DisregardDoctrine”). Nas decisões dá-se à medida um caráter excepcional, porquanto fundada nas hipóteses de abuso ou fraude à lei ou ao contrato, com a consequente quebra do princípio da boa-fé. Entre nós, no âmbito do direito do trabalho, alguns sustentam que a CLT previu a desconsideração da personalidade jurídica nos artigos 2º, § 2º bem como 10 e 448 da CLT. Não compartilhamos desse entendimento porquanto a primeira hipótese cuida de responsabilidade solidária entre empresas do mesmo grupo, sem desconsiderar a personalidade jurídica e sem quebra do princípio da autonomia patrimonial. Quanto à sucessão, prevista nos artigos 10 e 448 do texto consolidado, importa na substituição de uma pessoa por outra. Daí por que essa última assume a outra em todos os créditos e débitos. Na verdade trata-se da mesma pessoa que sofre alguma alteração em sua estrutura originária. A primeira lei no ordenamento jurídico pátrio a cuidar da matéria de forma expressa foi o Código Brasileiro de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) ao dizer que: Art. 28: O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração de lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. § 1º (Vetado) .......................... § 5º Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Seguiu-se a Lei Antitruste (Lei nº 8.884/1994) pela qual: Art. 18. A personalidade jurídica do responsável por infração da ordem econômica poderá ser desconsiderada quando houver da parte deste abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. Já o Código Civil de 2002, ao cuidar das Disposições Gerais das Pessoas Jurídicas no Título II, Capítulo I,estabelece que: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Constata-se que no nosso ordenamento jurídico foram criados dois sistemas distintos. O primeiro relativo à responsabilidade pessoal da pessoa física em relação à pessoa jurídica, o que ocorre em determinadas situações previstas em lei, em que o sócio ou administrador estaria agindo em nome próprio. Age com excesso de poderes ou de maneira contrária à lei ou aos estatutos. Nessa hipótese, para a responsabilização do sócio ou administrador, não há necessidade de se invocar a despersonalização da personalidade jurídica. É nessa perspectiva que o artigo 1.016 do Código Civil atribui aos administradores a responsabilidade solidária “perante a sociedade e os terceiros prejudicados, por culpa no desempenho de suas funções”. Já em relação ao artigo 134, VII do Código Tributário Nacional, entende-se que os sócios podem ser responsabilizados sempre que a sociedade não se dissolver regularmente, porquanto ao decidirem pela dissolução de fato, sem o pagamento dos credores na medida do possível e sem dar baixa na inscrição fiscal, estão infringindo a lei. Em situação diversa, como previsto no artigo 50 do Código Civil, há a desconsideração da personalidade jurídica. Trata-se de hipótese em que os sócios ou os administradores, manipulando a pessoa jurídica, utilizam-na como instrumento de fraude ou abuso de direito, justamente para causar prejuízo a terceiro que com ela negocia acreditando na boa fé com que o negócio jurídico é estabelecido. Pode-se dizer que levanta-se o véu da pessoa jurídica, para a responsabilização daqueles que desviaram a finalidade dela ou estabeleceram confusão patrimonial. Análise das situações fáticas Para que procedamos à análise valorativa das situações fáticas, é indispensável que retomemos alguns conceitos básicos. Assim é que temos como ato ilícito, de forma resumida, qualquer situação que vá contra uma lei imperativa. De outra sorte, configura-se a hipótese de abuso de direito quando se pratica o ato de forma legal, mas excessiva. Ao se desconsiderar a personalidade jurídica, quebra-se o princípio da autonomia patrimonial, mas não se retira a personalidade. As pessoas físicas responsáveis pela fraude ou abuso respondem solidariamente com a pessoa jurídica. Ao se sustentar a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica parte-se da premissa que ela é utilizada a fim de criar obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados, como óbice à satisfação do crédito. Ao procurarmos os fundamentos legais da desconsideraçãoo magistério de Fábio Ulhoa Coelho ganha relevo quando diferencia a teoria maior da teoria menor. Para ele, na teoria maior “o juiz é autorizado a ignorar a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas, como forma de coibir fraude e abuso praticados através dela”, ao passo que na teoria menor “o simples prejuízo do credor já possibilita afastar a autonomia patrimonial”. (Curso de direito comercial, 6 ed., São Paulo, Saraiva, 2003, v. 2, p. 35). Como já visto, o artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor traz um extenso rol de hipóteses que possibilitarão a aplicação do instituto da desconsideração da pessoa jurídica. Ademais, a amplitude do parágrafo quinto leva à conclusão que a teoria menor foi consagrada em relação ao Código de Defesa do Consumidor, como se constata na seguinte ementa da lavra da Ministra Nancy Andrighi: “A aplicação da teoria menor da desconsideração às relações de consumo está calcada na exegese autônoma do § 5º do art. 28 do CDC, porquanto a incidência deste dispositivo não se subordina à demonstração dos requisitos previstos no caput do artigo indicado, mas apenas à prova de causar, a mera existência da pessoa jurídica, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores”. (REsp. 279.273/SP, DJ 29.03.2004). É de extrema relevância destacar que tanto o Código de Defesa do Consumidor quanto a CLT se assentam no princípio de proteção ao direito da parte mais fraca da relação jurídica. Em última instância, objetiva-se desigualar a parte na relação jurídica a fim de mantê-las iguais ou próximas no plano da negociação. Consequentemente, os princípios protetivos são coincidentes. Sob esse fundamento é que entendemos que se aplicam no direito do trabalho as mesmas regras estabelecidas no CDC. Esse tem sido o entendimento consagrado no TST, que recorre à desconsideração da personalidade jurídica em todos os casos em que se verifica a insuficiência do patrimônio da empresa para fazer face às dívidas trabalhistas, com fundamento no artigo 28 do CDC, como se vê nas seguintes decisões: RR 240018.2003.5.01.0005, Rel. Min. Maurício Godinho, DJ 28.06.2010; RR 12564094.2007.5.05.0004, Rel. Min. Maurício Godinho, DEJT 19.04.2011; AIRR 9490024.2009.5.01.0028, Rel. Min. Hugo Scheuerman, DJE 07.02.2014; RR 31730072.2005.5.12.0031, Rel. Min. Fernando Eizo Ono, DEJT 15.08.2014; RR 29160080.1991.5.19.0002, Rel. Min. Douglas Alencar Rodrigues, DEJT 06.02.2015. No mencionado artigo há a previsão de aplicação pelo juiz, de ofício, da desconsideração da personalidade jurídica, de forma diferente do previsto no Código Civil. Esse dispositivo, de aplicação no âmbito trabalhista, tem o sentido de dever imposto ao juiz todas as vezes em que, constatada a situação, deve-se aplicar o instituto. Não se trata de mera faculdade. A decisão de desconsideração da pessoa jurídica deverá ser fundamentada, em estrita observância ao disposto no artigo 93, IX, da Constituição da República, assegurando-se ao sócio ou administrador o direito de se defender e ao seu patrimônio. Ao se tratar da desconsideração, há uma acesa discussão sobre a inobservância do devido processo legal, com violação ao contraditório e à ampla defesa. Segundo Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery (Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante, 9 ed. São Paulo: Revista do Tribunais, 2006, p. 1.146) “A tradução mal feita, da expressão due processo oflaw como sendo “devido processo legal” tem levado o intérprete a enganos, dos quais o mais significativo é o erro de afirmar-se que a cláusula teria conteúdo meramente processual. A cláusula se divide em dois aspectos: o devido processo legal substancial (substantive dueprocessclause) e o devido processo legal processual (procedural dueprocessclause)”. O devido processo legal substancial tem três aspectos a serem analisados: se a intervenção do poder é necessária; se o modo de intervenção é adequado; se a solução encontrada é resultado de uma ponderação coerente dos valores que estão sendo sopesados. A desconsideração da pessoa decorre de um desvio defunção do instituto pessoa jurídica, pela não correspondência entre o fim perseguido pelas partes e o conteúdo que é próprio da forma utilizada. O juiz, no estado do bem-estar social, há de adotar a melhor solução para que se alcance a finalidade da lei, sendo certo que a pessoa jurídica não foi criada com a finalidade de permitir fraudes e simulações. Em observância ao princípio do contraditório, corolário do princípio da ampla defesa, o sócio ou administrador deve ser citado, por todos os meios processuais cabíveis, o que geralmente se faz por embargos à execução e mesmo embargos de terceiro, restrito à hipótese do § 2º do artigo 1.046 do CPC (“Equiparase a terceiro a parte que, posto figure no processo, defende bens que, pelo título de sua aquisição ou pela qualidade em que os possuir, não podem ser atingidos pela apreensão judicial”). Em relação ao momento processual em que se instaura a desconsideração, temos que o destinatário da tutela executiva, ou seja, a vítima do inadimplemento é sempre o autor do processo de execução. Esse o entendimento do STJ, como consagrado na ementa da Min. Nancy Andrigh: “A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica é medida cabível diretamente no curso da execução. Precedentes”. (REsp. 920.602, DJE 23.06.2008) Exclui-se, pois, a necessidade de pronunciamento judicial prévio no sentido de reconhecer a incidência da desconsideração na formação do título executivo judicial. O tratamento que se dá atualmente é de mero incidente executivo Quanto à espécie da decisão que aplica a desconsideração da personalidade jurídica, por ser necessário ter conteúdo decisório, pode ser sentença, normalmente em medida cautelar, ou em decisão interlocutória. Em relação à coisa julgada, temos no magistério de Liebman que a eficácia natural da sentença tem efeitos erga omnes o que, em relação ao instituto da desconsideração da personalidade jurídica implica dizer que os sócios, ainda que não tenham formalmente participado do processo, sofrerão os efeitos reflexos da sentença, até porque abusaram da limitação da responsabilidade que lhes é assegurada. Nessa linha de compreensão a seguinte decisão do Tribunal Superior do Trabalho: “Ação rescisória. Coisa Julgada 1. Ação rescisória contra acórdão proferido em agravo de petição que mantém a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Executada e declara subsistente penhora em bens de ex-sócio. 2. Não viola os incisos II, XXXV, LIV e LVII do art. 5º da Constituição Federal a decisão que desconsidera a personalidade jurídica de sociedade por cotas de responsabilidade limitada, ao constatar a insuficiência do patrimônio societário e, concomitantemente, a dissolução irregular da sociedade, decorrente de o sócio afastar-se apenas formalmente do quadro societário, no afã de eximir-se do pagamento de débitos. A responsabilidade patrimonial da sociedade pelas dívidas trabalhistas que contrair não exclui, excepcionalmente, a responsabilidade patrimonial pessoal do sócio, solidária e ilimitadamente, por dívida da sociedade, em caso de violação à lei, fraude, falência, estado de insolvência ou, ainda, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. Incidência do art. 592, II, do CPC, conjugado com o art. 10 do Decreto 3.708, de 1919, bem assim o art. 28 da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 3. Recurso ordinário a que se nega provimento. ROAR 727179-44.2001.5.03.5555. Rel. Min. João OresteDalazen, DJ 14.12.2001” Resta-nos uma última reflexão sobre os limites da responsabilidade, o que desenvolveremos respeitando as várias hipóteses: Administrador - De acordo com o art. 50 do CC o gestor da pessoa jurídica é responsabilizado, o que também está consagrado no CDC, por deter o poder de administrar. A figura do administradoré incompatível com a do empregado, pela incompatibilidade da assunção do risco com a de empregado subordinado. Irrelevante ter a pessoa jurídica finalidade lucrativa ou assistencial. As pessoas que executam tarefa assistencial deverão ter seu objeto transferido para outra entidade que possa dar continuidade à tarefa que vinham desenvolvendo. Seu diretor será afastado e responsabilizado pelo ato. O fundamento será excesso ou abuso de poder. O administrador não sócio é equiparado à figura do mandatário, e ficará vinculado à sociedade até o limite de três anos contados da apresentação do balanço aos sócios (art. 206, § 3º, VII, b do CC). Sócio – Se a administração for praticada pelo sócio, responderá, desde que esteja na administração social, pois as obrigações do sócio têm nascimento quando ingressam na sociedade, imediatamente com o contrato (art. 1.001 do CC). A interpretação há de levar em conta o veto que ocorreu em relação ao parágrafo 1º do artigo 28 do CDC, que tinha a redação que se segue: “A pedido da parte interessada, o juiz determinará que a efetivação da responsabilidade da pessoa jurídica recaia sobre o acionista controlador, o sócio majoritário, os sóciosgerentes, os administradores societários e, no caso de grupo societário, as sociedades que o integram”. Com o veto parece-nos que não se pode limitar a responsabilidade às hipóteses que estavam previstas no parágrafo. De outra sorte, há se tergranumsalispara se proceder à análise das situações, porquanto não é justo nem jurídico que sócio que detenha 1% ou pouco mais do capital social e que nunca tenha participado da vida da sociedade seja responsabilizado por uma administração da qual sequer tinha conhecimento ou participação. A responsabilidade do sócio que se retira da sociedade será de dois anos, contado esse prazo da averbação da alteração no contrato social (art. 1.003 do CC), averbação necessária para ciência de terceiros. A referência será à data do ajuizamento da ação e não à da constrição do bem. Na sociedade por ações a responsabilidade será do Conselho Administrativo e da Diretoria e o prazo prescricional na hipótese de retirada será de três anos (art. 287, II da Lei 6.404/1976 e art. 206, § 3º, VII do CC). Na hipótese de insolvência civil, o prazo é de cinco anos contados da data do encerramento do processo de insolvência (art. 778 do CPC). Na falência: a decretação da quebra suspenderá os prazos prescricionais, que recomeçarão a partir do trânsito em julgado da sentença de extinção das obrigações do falido. Decorridos cinco anos, se o falido não houver praticado crime falimentar, ou dez anos, se houve sido condenado por crime falimentar, as obrigações do falido extinguem-se. É de dois anos o prazo para interposição de ação para apuração da responsabilidade dos sócios, contados a partir do trânsito em julgado da sentença que encerrar a falência (arts. 82 e 157 da Lei 11.101/2005). Recuperação judicial: Nos termos do art. 60 da Lei 11.101/2005, aqueles que adquirem ativos de empresa em recuperação judicial não podem ter esse patrimônio afetado por obrigações trabalhistas exigidas de quem normalmente sucede o empregador. Referências bibliográficas COELHO, Fabio Ulhoa. Desconsideração da personalidade jurídica. São Paulo, Revista do Tribunais, 1989. KOURY, Susy Elizabeth Cavalcante. A desconsideração da personalidade jurídicaDisregarddoctrine e os grupos de empresas, 3 ed., Rio de Janeiro, Forense, 2011 NAHAS, Thereza Christina. Desconsideração da pessoa jurídica: reflexos civis e empresariais no direito do trabalho, Rio de Janeiro, Elsevier, 2007 NERY JUNIOR, Nelson;NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentadoi e legislação extravagante.9 ed. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2006 YARSHELL, Flávio Luiz. http:/www.cartaforense.com.br/conteúdo/colunas/incidente de desconsideração da personalidade jurídica busca de sua natureza jurídica/04 maio 2015 ZAVASCKI, Teori Albino. Comentários ao Código de Processo Civil: do processo de execução, arts. 566 a 645, Coordenação de Ovídio Araújo Baptista da Silva. São Paulo. Revista dos Tribunais, 2000, v. 8
Baixar