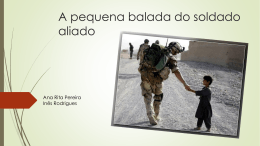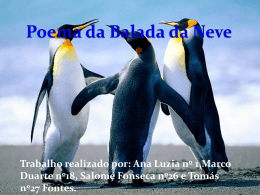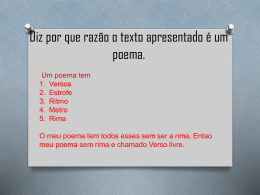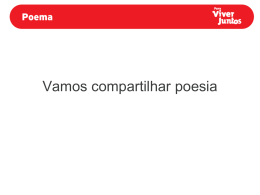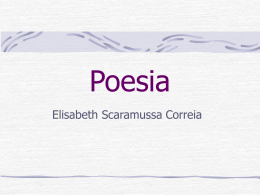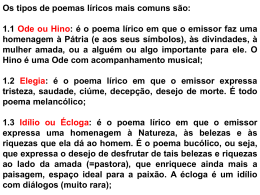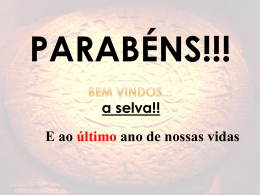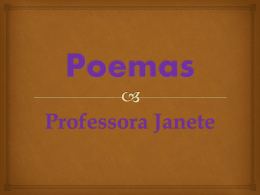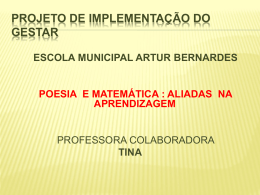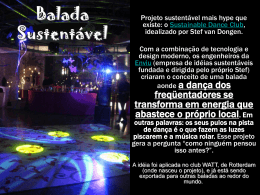BALADA, DE JOSÉ PAULO PAES E A OPRESSÃO DO EU LÍRICO Daniela Aparecida Francisco1 RESUMO O presente artigo recria brevemente o percurso poético de José Paulo Paes (1926 – 1998) e realiza uma interpretação de seu poema Balada. O poema faz parte do primeiro livro do autor O aluno (1947). Pelo título sugestivo, o poema apresenta características da balada moderna e por meio de diversos recursos linguísticos e literários constrói uma imagem própria e que permite a produção de um original efeito de sentido. Sua interpretação nos narra a situação de opressão vivida por este eu lírico e a maneira como este não se sente confortável ou adaptado ao mundo real, durante determinado período ou época. Palavras-chave: José Paulo Paes; balada; eu lírico. 1 – José Paulo Paes: poeta José Paulo Paes nasceu no dia 22 de julho de 1926, na cidade de Taquaritinga, interior do estado de São Paulo. Após os primeiros estudos, mudou-se para Araçatuba, outra cidade interiorana do estado. Tentou ingressar no curso de química na capital e não tendo obtido êxito, no ano de 1944 muda-se para Curitiba, no Paraná, para estudar química industrial. É nesta cidade que o poeta firma sua vocação poética, iniciando seu convívio com escritores e artistas no Café Belas-Artes, de onde era frequentador assíduo. No ano de 1949, o poeta volta à capital de São Paulo, exercendo a profissão de analista químico. Nesta cidade, conhece Dora, a inspiração e a companheira de toda uma vida. Apesar da profissão inicial tão desligada das letras, José Paulo Paes publica poemas, traduz obras, faz crítica literária e ensaios. Após anos na profissão de químico, Paes abandona o emprego e inicia novo trabalho em uma editora, onde permaneceu por mais de vinte anos. Para David Arrigucci Junior, 1 Mestranda no programa de Pós graduação em Estudos Literários da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus de Três Lagoas. 1 [...] José Paulo é um verdadeiro homem de letras, reconhecido como tradutor, crítico e ensaísta; ganhou a vida como químico industrial e funcionário de uma editora, e tem sido também desde sempre um autodidata, estudioso de línguas, e um viajante, aprendiz de lugares e coisas, sobretudo de espaços literários, que percorre incansavelmente como fervoroso leitor dos mais variados gêneros. (ARRIGUCCI JUNIOR, 2000, p. 22). No ano de 1947, José Paulo publica seu primeiro livro: O aluno. Este, apesar de ser acolhido pela crítica, recebe um comentário rigoroso de Carlos Drummond de Andrade, [...] que observa, com agudeza, o jovem poeta ainda se procurando através dos outros, sem se encontrar dentro de si mesmo. (ARRIGUCCI JUNIOR, 2000, p. 229). Alfredo Bosi, em relação à primeira publicação de José Paulo Paes, tece seguinte comentário: [...] Mas de quem é aprendiz nosso aluno de 1947? De magros marginais que fizeram da gaucherie a mola da sua mestria formal: de Carlitos, de Drummond. (BOSI, 2003, p. 156). Quatro anos depois do primeiro livro, em 1951, lança Cúmplices. Dez anos depois, em 1961, Poemas reunidos. Após sua segunda obra, Paes publica com certa regularidade: Anatomias (1967); Meia palavra (1973); Resíduo (1980); Um por todos (1986); A poesia está morta mas juro que não fui eu (1988); Prosas seguidas de odes mínimas (1992); A meu esmo (1995); De ontem para hoje (1996). Além dos livros de poesia, José Paulo Paes também publicou ensaios a partir de 1957, traduções desde 1981 e poesia infanto-juvenil de 1984 em diante. Podemos perceber que, apesar da crítica rigorosa recebida inicialmente, José Paulo Paes continuou publicando seus poemas, sendo cada vez mais aclamado como poeta. Segundo Arrigucci Junior, o tempo, o envelhecimento fez bem a Paes: [...] de algum modo a experiência foi modelando o poeta, como às vezes ela faz e às vezes desfaz. (ARRIGUCCI JUNIOR, 2000, p. 18). No seu ensaio intitulado O livro do alquimista (2003), assim se refere Bosi a José Paulo, após ler O aluno, publicado em 1947: [...] a face do poeta José Paulo Paes começava então a compor-se. Leio e releio cada poema. O que percebo é a forja de uma dicção que vai crescendo, lenta e segura, em torno dos polos: existência e destruição, desejo e crítica, prazer e nada. (BOSI, 2003, p. 156). José Paulo Paes, desde a publicação de seu primeiro livro em 1947, vem conquistando seus espaço na literatura brasileira. Podemos observar a importância da obra do poeta, pelo comentário abaixo: 2 [...] Pode-se ler a poesia de José Paulo Paes, breve e aguda a cada lance em sua tendência constante ao epigrama, como se formasse um só cancioneiro da vida toda de um homem que respondeu com poemas aos apelos do mundo e de sua existência interior. (ARRIGUCCI JUNIOR, 2000, p. 7). O poeta e ensaísta já plenamente reconhecido faleceu no dia nove de outubro de 1998, aos 72 anos, vítima de um edema agudo no pulmão. 2 – Balada, de José Paulo Paes O poema foi publicado no primeiro livro, O aluno (1947) e, para Arrigucci Junior, esta composição, assim como alguns outros poemas de Paes, possui [...] aquele jeito peculiar dele de exprimir o sentimento do esforço inútil, a angústia meditativa, o ar de perplexidade. (ARRIGUCCI JUNIOR, 2000, p. 8). Para melhor contextualizar o poema e mesmo para precisar nossa compreensão, é importante refletir que, embora faça parte de livro publicado em 1947, dois anos após o fim do Estado Novo, o regime ditatorial e opressivo de Getúlio Vargas (1882-1954) e da Segunda Guerra Mundial, possivelmente o poema foi escrito durante a vigência destes dois fenômenos que contribuíam para o clima de desesperança e de descrença na existência de qualquer traço de humanidade ou solidariedade entre os homens. De tal maneira que a paisagem e a alma desoladas do poeta (do eu lírico) possivelmente retratem este clima existencial e político que dominava a cena cultural brasileira. Neste sentido, podemos nos lembrar de dois livros de Carlos Drummond de Andrade, Sentimento do mundo, especialmente os poemas “Os ombros suportam o mundo” e “Mãos dadas” (Drummond, 1988, p. 67-68)2 e A rosa do povo (Drummond, 1988, p. 93184)3 BALADA Folha enrugada, poeira nos livros. A pena se arrasta no esforço inútil de libertação. Nenhuma vontade, 2 3 Primeira edição em 1940 Primeira edição em 1945 3 nem mesmo desejo na tarde cinzenta. A árvore seca esperando seiva não tem paisagem. Na frente é o deserto coberto de pedras. Nem sombra de oásis. Pobre árvore seca na tarde cinzenta! Se houvesse um castelo com torres e dama de loiros cabelos, talvez eu fizesse algum madrigal. Mas a dama morreu, os castelos se foram na tarde cinzenta. O caminho se alonga por entre montanhas, por campos e vales. Talvez me conduza ao roteiro perdido no fundo do mar. Mas estou tão cansado na tarde cinzenta! Não sou lobo da estepe; amo a todos os homens e suporto as mulheres. Contudo não posso falar com os lábios, amar com o sexo, porque sinto a tortura da tarde cinzenta! Só me restam os livros. Vou ficar com eles esperando que chegue do fundo da noite, das sombras do tempo, oh! imenso mar, vem me libertar da tarde cinzenta! 3 - Análise e interpretação de Balada 4 O poema Balada é composto por seis estrofes de oito versos livres e em redondilhas menores (versos de quatro a seis sílabas), sem portanto se constituir em oitava rima, mas seguindo a da balada moderna, ou seja, regularidade dos versos e o uso do refrão. De acordo com Massaud Moisés, a balada é uma das mais primárias manifestações poéticas e [...] trata-se de forma literária mista, pois reúne elementos de poesia dramática e lírica bem como de narrativa. E na literatura francesa, a balada apresentava forma fixa e uma de suas bifurcações distribuía-se em três estrofes de oito versos, podendo ocorrer também a balada dupla, ou seja, composta de seis oitavas (MOISÉS, 2004, p. 49). Magalí Elisabete Sparano, em sua tese de doutorado, intitulada Balada, canção e outros sons: um estudo fonoestilístico em Língua Portuguesa (2006), faz a seguinte afirmação: [...] a liberdade moderna permitiu, ainda, às escolhas do poeta, combinar o esquema francês da dupla balada com a estrutura de versos das oitavas italianas, usando por isso as rimas soltas. Sparano também nos diz que um poema, com um título das formas previstas pela tradição poética, normalmente possui as características da forma em questão. Deste modo, podemos concluir que este poema de José Paulo Paes é escrito, assim como já nos informa seu título, no formato da balada moderna, contendo a dupla balada francesa e os versos em oitavas italianas, já que não possuem rimas interligadas. No poema, podemos encontrar, também, vários enjambements, o que acaba reforçando as características de narrativa ao poema, pois há uma ruptura da cadência dos versos. Há enjambement nos versos 3 e 4, 9 e 10, 12 e 13, 18 e 19, 34 e 35. Além desses, em todo final de estrofe há também o enjambement: 7 e 8, 15 e 16, 23 e 24, 31 e 32, 39 e 40, 47 e 48. Quanto aos recursos de linguagem utilizados no poema, podemos observar a transferência de percepção de um sentido para outro, com o uso da sinestesia nos versos um (folha enrugada), versos oito, 16, 24, 32, 40 e 48 (tarde cinzenta), verso 44 (fundo da noite) e o uso da prosopopeia, ou metáfora predicativa - conforme designação do próprio Paes - utilizado nos versos três (a pena se arrasta), nove e dez (a árvore seca/ esperando seiva), 25 (o caminho se alonga), 45 (sombras do tempo). O uso da metáfora e da metáfora predicativa [...] são é a ilustração viva de como, pela dinâmica da metáfora, o inanimado se anima. Mais que isso, um estatuto de duplicidade passa a consorciar entre si as coisas e os seres, o humano e o não humano. (PAES, 2008, p. 111) 5 Com a utilização destes diversos recursos linguísticos e literários, o poema constrói uma imagem própria e que permite a produção de um original efeito de sentido. A cada estrofe uma nova imagem nos surge à mente e o objeto do poema nos é projetado na imaginação visual por meio da fanopéia, ou seja, a arte de combinar as palavras com o objetivo de sugerir uma ideia (MOISÉS, 2004, p. 270). Agora, vamos nos voltar um pouco mais ao sentido do poema, em uma tentativa de interpretação. A composição pode ser dividida em duas partes. A primeira, formada pelas três primeiras estrofes, mostra o eu lírico em determinada época, marcada por elementos negativos, o quais oprimem-no. Na segunda parte, composta pelas duas ultimas estrofes, surge o sonho e o desejo (de antemão impossível) de viver de maneira mais humana. A quinta estrofe funciona como momento divisor na constatação do poeta a respeito de seu tempo. Na primeira estrofe, temos a pena a se arrastar, tentando se libertar, buscando em vão escrever. Impera a negatividade do tempo (tarde): poeira, esforço inútil, não há desejo, não há vontade. Na estrofe dois, ainda se desenvolve o mesmo clima. A árvore está seca e sem seiva, não há paisagem, nem oásis, apenas o deserto de pedra. O primeiro verso da estrofe (árvore seca) é metáfora do próprio eu lírico que nada encontra de significativo naquele tempo (tarde) e nem mesmo consegue vislumbrar o futuro (na frente é o deserto – v. 4) ou possibilidade de vida melhor (nem sombra de oásis – v. 6). Detendo-nos agora na terceira estrofe, no verso dezessete aparece uma conjunção condicional (Se houvesse um castelo). De acordo com Alberto Lopes de Melo, a conjunção se demonstra que [...] as validades da tentativa é sempre desfeita pelo conhecimento de sua inutilidade – nada há para justificar o empenho – daí o esforço inútil/de libertação (v. 4/5) [...] (MELO, 2006, p. 26). Ainda na terceira estrofe, nos versos 20 e 21, há o seguinte verso: “talvez eu fizesse algum madrigal”. Aliada ao sentido de hipótese de outra realidade ou tempo, a referência a esta forma poética, o madrigal, remete ao sonho ou ao desejo de outra época, período ou realidade em que fosse plausível a exploração da amenidade do espaço (castelos) e as delícias do amor sensual (damas de loiro cabelo), próprias desta forma poética, pois madrigal aparentava-se à pastorela e ao idílio, nos quais prevaleciam o tema do amor e a expressão do galanteio, do pensamento espirituoso, fino e delicado (Moisés, 2004, p. 317-318). Entretanto, corroborando a ocorrência do enunciado condicional, marcado pela conjunção “se” e pelo adverbio “talvez”, a segunda parte 6 desta estrofe traz de volta a realidade do tempo: morte e pedra do tempo, da “tarde cinzenta”. A quarta estrofe separa a primeira da segunda parte do poema e amplia o campo semântico das peculiaridades do tempo. Embora valendo-se de categorias próprias de espaço, montanhas, campos e vales, há uma gradação a conotar a amplitude da opressão que atinge o eu lírico naquele período, a “tarde cinzenta”. O caminho se alonga por entre montanhas, por campos e vales. Talvez me conduza ao roteiro perdido no fundo do mar. Mas estou tão cansado na tarde cinzenta! Na quinta estrofe, que inicia a segunda parte do poema, o primeiro verso, “não sou lobo da estepe”, pode levar o leitor a pensar que a palavra “estepe” esteja se referindo às planícies áridas e desertas, considerando as estrofes anteriores. No entanto, “lobo da estepe” é uma referência ao livro de Hermann Hesse (1877-1962), O lobo da estepe4 (1927), que narra a história de Harry Haller, cinquentão misantropo, alcoólatra, intelectualizado e angustiado por não ver saída existencial para sua tormentosa condição, autodenominando-se “lobo da estepe”. Solidão e ferocidade, condições e situações impostas por um tempo, características próprias do lobo são transferidas ao homem tornando-o misantropo, antissocial. Entretanto, o eu lírico recusa esta condição que o tempo lhe impôs e deseja ser solidário e amoroso, mas ao mesmo tempo constata que o período em que vive o impede de realizar-se como ser humano, comunicando-se e amando seus semelhantes: “Contudo não posso/ falar com os lábios,/ amar com o sexo,” (v 36-38). Por fim, na última estrofe, há apóstrofe no verso 46 (oh! imenso mar) e assim o eu lirico personifica o mar, já que a apóstrofe é utilizada para [...] se dirigir a alguém fora do contexto em que se situa. (MOISÉS, 2004. P. 34). Considerações Finais 4 Informações retiradas endereço eletrônico: <http://pt.wikipedia.org/wiki/O_Lobo_da_Estepe>. Acesso em ago/2011. 7 O título do poema, pelas características próprias do gênero (balada), remete a uma situação de opressão vivida pelo eu lírico, ao constatar que à sua volta não há nenhum elemento físico (natural) que o estimule. Ou, dito de outro modo, o eu lírico não se sente confortável ou adaptado ao mundo real, durante determinado período ou época. Por meio da animização e da metáfora, como os versos (A pena se arrasta (v. 3)), (A árvore seca/esperando a seiva) o poema constrói um mundo alegórico e fantasmagórico no qual o eu lírico não se sente à vontade. O refrão (na tarde cinzenta) tem a função de exacerbar e potencializar tal época no íntimo do eu lírico, o que, sem dúvida, ganha mais força graças ao ponto de exclamação e a sua carga sinestésica, embora um pouco gasta. A ligação do poema ao poeta se faz pelo uso do pronome eu, no vigésimo verso (talvez eu fizesse). Para Paes (2008), na gramática poética, [...] a primeira pessoa do singular e suas marcas, pronomes e flexões verbais, corporificam a interioridade do poeta [...] (PAES, 2008, p. 281). Além do pronome, alguns verbos também estão conjugados na primeira pessoa, o que vem corroborar a ideia de que o poema expressa os sentimentos do próprio poeta. É o caso dos versos 31 (Mas estou tão cansado), 33 (Não sou lobo da estepe), do verso 34 e 35 (amo a todos os homens e suporto as mulheres), 36 (Contudo não posso), 39 (porque sinto a tortura), 41 (Só me restam os livros), 42 (Vou ficar com eles), 47 (vem me libertar). O eu lírico, expresso pela primeira pessoa, vive durante um período que o oprime e de onde ele precisa desligar-se para alcançar a liberdade. Podemos perceber que nas quatro primeiras estrofes, a repetição do último verso (na tarde cinzenta) enfatiza a condição existencial de o poeta encontrar-se em um determinado momento, período ou tempo, denotado por um adjunto adverbial de tempo (porque denota uma circunstância de tempo) e que se materializa na língua por meio de um sintagma preposicionado (em+a tarde cinzenta) em que a palavra “tarde”, atua como indicador de tempo absoluto (cedo, tarde e noite; ontem, hoje e amanhã) e por estar neste tempo, período ou momento advém-lhe todas as implicações . Já nas duas últimas estrofes, o verso repetido “da tarde cinzenta” temos a preposição da (de + a). Na penúltima estrofe, o eu lírico sofre a “tortura” da tarde cinzenta e, na última estrofe deseja libertar-se, ver-se livre de determinado período ou época, metaforicamente referenciado como “tarde”, sintaticamente determinado por uma estrutura predicativa da preposição (da = de + a). Assim, compreende-se que o eu 8 lírico, após enfatizar a sua condição existencial, está num determinado período ou época da qual sonha escapar, libertar-se e viver num período menos opressor: oh! imenso mar,/ vem me libertar/ da tarde cinzenta!(vv. 46-48) Esta realidade vivida pelo eu lírico constitui-se por uma série de negatividade que se materializa graças a locuções ou vocábulos, como “nenhuma”, “nem mesmo”, “não tem”, “nem” ou por expressões como “árvore seca”, “não tem paisagem”, “deserto coberto de pedras” e, diante dela, não existe a possibilidade de escrever, como forma de fugir, de libertar-se daquela opressão, como podemos ler na primeira estrofe do poema. A opressão do real amplia-se por montanhas, vales e mares. Diante deste mundo, com a pena arrastando-se inutilmente, sem desejo de libertação, a opressão aumenta porque do eu lírico sabe-se humano e solidário com sua espécie e afirma seu amor pela humanidade, como lemos na quinta estrofe: Não sou lobo de estepe;/ amo a todos os homens/ e suporto as mulheres. Embora em seguida reafirme sua dificuldade de expressar-se, de manifestar todo o seu amor, toda a sua humanidade: Contudo não posso/ falar com os lábios,/ amar com o sexo, pois o peso da realidade o oprime definitivamente: “Mas estou tão cansado/ na tarde cinzenta. Diante de tal realidade, o que resta? Os livros. Na última estrofe, há uma espécie de envoi5, quando o eu lírico, por meio de um vocativo, (oh! imenso mar,) solicita a intervenção do mar. Devido a este recurso de composição, o poema possui uma característica circular, pois que a última estrofe repete parcialmente a primeira estrofe, e sugere uma espécie de beco sem saída em que se constitui o viver neste mundo. Diante da “tarde cinzenta”, como metáfora de uma época sem alternativas, sem glamour, sem cores, a literatura, a arte, o escrever poesia não possui a menor 5 Termo francês que designa um texto que se escreve após o encerramento de uma obra em prosa (neste caso, assume a forma de um posfácio ou de um post scriptum) ou uma breve estrofe que remate um poema. Em Português, corresponde ao ofertório. Na balada tradicional, é comum encontrar este tipo de remate de uma composição poética, normalmente dedicado ao elogio de um nobre ou de uma figura heróica. A função primeira do envoi na poética provençal era a de concentrar em poucos versos toda a matéria do poema, razão por que os trovadores occitânicos lhe chamavam tornadas, porém a prática do envoi só se generalizou a partir do século XV. Na lírica galego-portuguesa, podemos comparar o envoi ao processo de construção das chamadas cantigas de atafinda, cuja fiinda desempenha a mesma função conclusiva. De uma forma geral, a extensão do envoi pode variar entre os quatro versos (balada), cinco ou sete (chant royal) e três (sextilha). Nos casos da balada e do chant royal, repete-se o metro e o esquema rimático da estrofe anterior. Informações retiradas endereço eletrônico: < http://www.edtl.com.pt/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=983&Itemid=2>. Acesso em mar/2012. 9 significância. Mas, por outro lado, não há alternativa a não ser tentar escrever, tentar a arte, tentar conviver com os livros. “Fundo da noite” e “sombras do tempo” podem ser metáfora importantes para períodos ainda mais opressivos, para estados ainda mais céticos ou a busca de alternativas na própria memória do eu lírico, para o transcorrer da vida. REFERÊNCIAS ANDRADE, Carlos Drummond de. Poesia e prosa. Rio de Janeiro, 1998 BOSI, Alfredo. O livro do Alquimista in ___________, Céu, inferno. São Paulo : Duas Cidades, 2003. p. 155-169 MELO, Alberto Lopes de. José Paulo Paes e a anatomia do poema. 2006. Tese (mestrado em Letras). Programa de Pós-Graduação em Letras. Fundação Universidade Federal do Rio Grande. MOISÉS, Massaud. Dicionário de Termos Literários. São Paulo: Cultrix, 2004. PAES, José Paulo. Os Melhores Poemas. São Paulo: Global, 2000. Seleção e organização ARRIGUCCI JUNIOR, Davi. PAES, José Paulo. Armazém Literário. São Paulo: Companhia das Letras, 2008. PERRINGER, Alex, and BROGAN T.V.F.. The new Princeton encyclopedia of poetry and poetics. Princeton: Princeton UP, 1993. SPARANO, Magalí Elisabete. Balada, canção e outros sons: um estudo fonoestilístico em Língua Portuguesa. 2006. Tese (doutorado em Letras). Programa de Pós-Graduação em Letras. Faculdade de Letras da Universidade de São Paulo. 10
Download