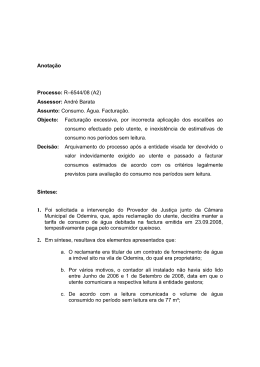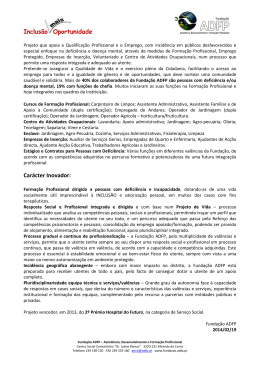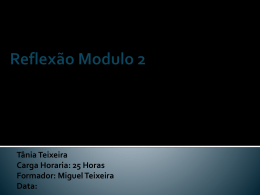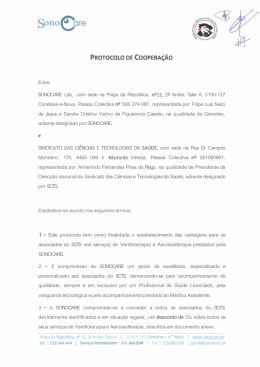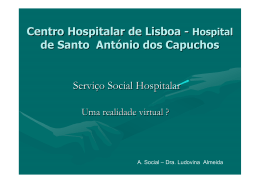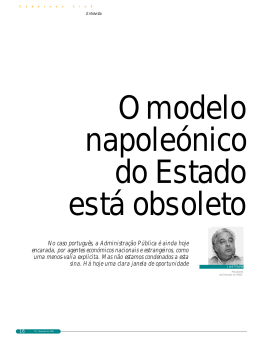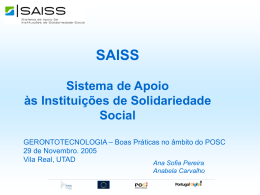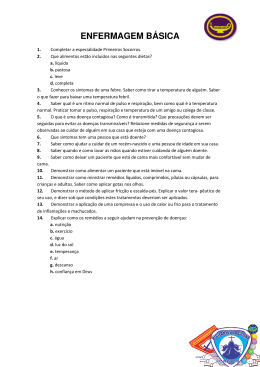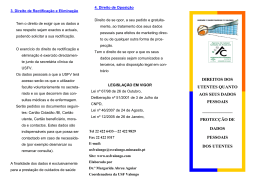Escola Europeia de Ensino Profissional D. Manuel Rodríguez Suárez Higiene, Segurança nos Cuidados Gerais Caderno de Práticas 2º Ano – Técnico Auxiliar de Saúde Ano Lectivo: 2012/2013 4415 - Lígia Mateus Mendes HSCG Ilustração 1: HSCG Escola Europeia de Ensino Profissional D. Manuel Rodríguez Suárez 2º Ano – Técnico Auxiliar de Saúde Disciplina: HSCG Professora: Vera Antunes HSCG Índice Índice ....................................................................................................................................iii 1 Desenvolvimento ........................................................................................................ 2 1.1 Arrumação da cama/leito .................................................................................. 2 1.2 Higiene do paciente/utente ................................................................................ 2 1.2.1 Higiene oral ....................................................................................................... 2 1.2.2 Banho no leito (paciente com de dependência) ................................................. 3 1.3 Massagem conforto ............................................................................................ 3 1.4 Eliminação intestinal ......................................................................................... 3 1.4.1 Factores que alteram e eliminação intestinal ..................................................... 4 1.4.2 Terminologia ..................................................................................................... 4 1.5 Eliminação urinária ........................................................................................... 4 1.6 Movimentação e transferência de pacientes .................................................... 5 1.7 Posições ............................................................................................................. 10 1.8 Conceitos chave ................................................................................................ 11 1.9 Terminologias................................................................................................... 18 1.10 Glossário ........................................................................................................... 19 HSCG Índice de figuras Ilustração 1: HSCG ............................................................................................................... ii HSCG 1 Desenvolvimento 1.1 Arrumação da cama/leito Cama aberta: cama ocupada por um paciente; Cama fechada: cama vazia; Cama de operado: quando a cama está reservada para um doente que está no BO (bloco operatório). O leito deve ser trocado quantas vezes forem necessárias durante o internamento. Não sacudir as roupas da cama; Não colocar a roupa da cama suja no chão (saco próprio – verde). 1.2 Higiene do paciente/utente Explicar sempre ao paciente o que vai ser realizado; Preferencialmente, realizar a higiene oral do paciente antes do banho e após as refeições; Utilizar luvas sempre que houver contacto directo com o paciente; Cuidado durante o banho, para não expor desnecessariamente o paciente. A privacidade contribui para o conforto mental do paciente; Secar bem toda a superfície do corpo do paciente, principalmente as dobras (atrás dos joelhos, debaixo dos braços, axilas e zona costal); Geralmente usa-se água morna, contudo o paciente opina sobre a temperatura e regula-se ao seu gosto. 1.2.1 Higiene oral A higiene oral consiste na limpeza dos dentes, gengivas, bochechas e lábios. HSCG 1.2.2 Banho no leito (paciente com de dependência) Trocar roupa sempre que necessário; Quando houver drenos, sacos de urina, trocar sempre antes do banho; Trocar as fraldas com urina e fezes e inicia-se o banho. Material: Carro de banho com todo o material reunido (para a higiene do utente e preparação do leito: lençóis; resguardo; 2 toalhas; esponjas de banho; gel de banho; shampôo; pijama do utente; secador do cabelo; pente ou escova; escova e pasta de dentes; creme hidratante). Lavar as mãos e calçar as luvas; Explicar ao utente o procedimento a realizar; Fechar a porta/correr a cortina ou biombo; Desprender a roupa da cama. Na realização de todo este procedimento, deve-se ter sempre luvas e saco verde para a roupa/lençóis. 1.3 Massagem conforto É uma massagem corporal realizada durante o banho no leito, ou aquando a mobilização de um utente (alternância de decúbito). Ter como finalidade estimular a circulação local, para assim prevenir as úlceras de pressão, proporcionando conforto e bem-estar, como também o relaxamento muscular. 1.4 Eliminação intestinal Substâncias formadas por um processo metabólico tão importante quanto a ingestão e a assimilação dos alimentos. O produto residual (bolo fecal) que chega à ampola rectal é eliminado pela defecação. A defecação é um ato reflexo originado pela presença de fezes no recto. HSCG 1.4.1 Factores que alteram e eliminação intestinal Podem ser alterados por estímulos visuais, auditivos, mudança de hábitos alimentares, actividades físicas. 1.4.2 Terminologia Flatos: gases existentes nos intestinos; Flatulência: retenção de gases e dor abdominal na expulsão; Incontinência fecal: incapacidade de controlar o esfíncter que regula o recto; Diarreia: aumento do número de dejecções e com alteração da consistência das fezes; Melenas: fezes escuras, cor escura, “borra de café”; Fezes acólicas: fezes brancas, esbranquiçadas; Retorragias: saída de sangue vivo pelas fezes. 1.5 Eliminação urinária Normalmente um adulto urina entre 1500 ml de urina em 24h; É importante ser observada tal como a eliminação intestinal e comunicado à equipa de enfermagem assim que o auxiliar de saúde notar alguma alteração de características. A urina pode ainda apresentar sedimento; O termo diurese é utilizado para denominar a urina eliminada; O controlo de diurese é contabilizado em copos próprios, em 24h pelo TAS. Termos: Anúria: ausência de diurese. Disúria: urinar sem controlo, aumento descontrolado de urina. HSCG 1.6 Movimentação e transferência de pacientes 1. Avaliação das condições e preparação do utente/paciente: Fazer uma avaliação das condições físicas do utente que está a ser movimentado, da sua capacidade de controlar, bem como ver a presença de soros, sondas ou outros equipamentos; Proceder a uma explicação ao paciente do modo como pretende movê-lo, como pode cooperar, para onde será encaminhado e qual o motivo de locomoção. O utente deve ser sempre incentivado a ajudar; A movimentação e transporte de obras precisam de ser minuciosamente avaliados e planeados (utiliza-se sempre que possível auxílios mecânicos, tais como gruas). 2. Preparação do ambiente e equipamento. Verificar se o espaço físico é adequado para não restringir os movimentos. Examinar o local e remover obstáculos; Observar a disposição do mobiliário; Ver as condições de segurança em relação ao piso; Colocar o suporte de soro ao lado da cama; Elevar ou baixar a altura da cama, maca ou cadeira de rodas ou solicitar a ajuda de outro colega; Adoptar a altura da cama ao trabalhador e ao tipo de posicionamento a realizar; Colocar barras de apoio nos wc’s; Elevar a altura do sanitário (compensadora de altura, ex: pós-cirurgia anca); Utilizar cadeira de rodas ou cadeira sanitária para banho ou higiene sempre que possível. 3. Preparação da equipa Orientações na mecânica corporal de TAS para transferência: Deixar os pés afastados e totalmente apoiados no chão; HSCG Trabalhar com segurança e com calma; Manter as costas eretas; Usar o peso corporal como um contrapeso ao do utente; Flexionar os joelhos em vez de curvar a coluna (princípio da ergonomia); Baixar a cabeceira da cama ou mover o utente para cima; Utilizar movimentos sincrónicos (coordenados): Trabalhar o mais próximo possível do corpo do utente; Usar o fardamento adequado e calçado apropriado; Realizar a manipulação do utente sozinho num utente com dependência parcial ou pelo menos 2 pessoas num utente com dependência total. Ajuda: 1 enfermeiro + 1 auxiliar; 2 auxiliares. 4. Movimentações do utente no leito Ter à disposição camas e colchões apropriados às condições de utente acamado. O ideal são camas com altura regulável, que possam ser ajustadas ao procedimento a realizar. Durante a movimentação deve-se utilizar sempre que possível e existe elementos auxiliares, tais como barras tipo trapézio no leito, ou outros existentes em uso na unidade de saúde. 5. Colocar ou retirar a aparadeira Quando o paciente ajudar, utiliza-se o trapézio no leito e solicita-se que o doente eleve o quadril, evitando a necessidade do TAS erguê-lo. 6. Movimentar o paciente para um dos lados da cama A movimentação no leito deve ser realizada preferencialmente por duas pessoas, seguidas os seguinte passos: as duas pessoas devem ficar paralelas, de frente para o paciente; permanecer com uma das pernas em frente da outra, com os joelhos e os quadris flectidos, trazendo os braços ao nível da cama. HSCG • a primeira pessoa coloca um dos braços sob a cabeça e o outro na região lombar; • a segunda pessoa coloca um dos braços também sob região lombar e o outro na região posterior da coxa; • trazer o paciente de um modo coordenado (1, 2, 3) para o lado da cama a lateralizar. Se for necessário mover o paciente sem fazê-lo em etapas, deve-se utilizar o peso do corpo do TAS como um contrapeso, utilizando o resguardo como facilitador do movimento. 7. Colocar o utente em decúbito lateral Quando o paciente não é obeso, podem-se seguir as seguintes fases: permanecer do lado para qual vai lateralizar a pessoa; cruzar o braço e a perna no sentido em que o utente vai ser virado, flexionando o joelho e o braço; virar a cabeça do paciente para o lado de decúbito a realizar. rolar a pessoa gentilmente, utilizando o ombro e o joelho do utente como alavanca para o posicionamento. Uma outra forma de lateralizar o paciente é utilizar o resguardo, que facilita o movimento e diminui a força de exercer. virar o utente e colocar o resguardo sob (por baixo) do seu corpo, virar novamente o utente e puxar o resguardo; ficar no lado oposto ao que o paciente vai ser virado; puxar o resguardo, movendo o utente na sua direcção e para a beira da cama. Manter as costas erectas e utilizar o peso do corpo do TAS; elevar o resguardo, fazendo o utente virar cuidadosamente. Manter no lado oposto da cama uma grade ou protecção (prevenir o risco de queda). HSCG 8. Movimentar o utente, em posição de supina para a cadeira da cama Se o paciente tem condições físicas para mover-se sozinho, com a ajuda do trapézio. O utente flexiona os joelhos e dá impulso, tendo como apoio o resguardo. Quando o paciente não pode colaborar, deve seguir os seguintes passos: Deixar a cama em posição lateral; Colocar um travesseiro na cabeceira da cama; Colocar um lençol ou um resguarde sob o corpo do paciente; Permanecer duas pessoas uma de cada lado do leito e olhando em direcção dos pés da cama; Segurar firmemente os lençóis ou resguarde e num movimento ritmado, movimentar o paciente. Se a altura da cama dor regulável, pode-se proceder da seguinte forma: Baixar a altura da cama e tal forma que o TAS possa colocar um joelho em frente e a outra forma apoiada firmemente no chão. Segurar o plástico e de uma forma coordenada, fixar o movimento flexione os joelhos movendo o utente ao mesmo tempo. 9. Movimentar o utente na posição de sentada para a cabeceira da cama: O paciente deve ser encorajado a movimentar se sozinho, com a ajuda de uma resguardo, podendo deslizar com o auxílio de blocos. Pode também receber a ajuda de uma pessoa (TAS ou enfermeiro) que segura os pés, estando as pernas do utente flexionadas. Neste caso, o utente apoia uma mão de cada lado do corpo e do próprio do um impulso, ao endireitar as pernas. 10. Sentar o utente no leito O doente deve ser encorajado a sentar-se sozinho, ficando de lado e levantando-se com ajuda os braços. Quando o paciente não pode colaborar, devem realizar o procedimento duas pessoas: HSCG Resguardo ou lençol: - as duas pessoas ficam um de cada lado do leito, olhando na mesma direcção; Baixar a altura da cama; Segurar a mão do paciente com uma das mãos e agarra no local apropriado do resguardo com a outra; Usar o movimento coordenado, sentar sobre os calcanhares, movendo ao mesmo tempo o utente; Repetir o movimento se necessário. Quando o utente é auxiliado por outra pessoa pode fazer-se da seguinte forma: A pessoa fica de frente para o paciente; Segura o cotovelo do paciente. O paciente deve sentar-se apoiando na pessoa. 11. Sentar o paciente na beira da cama No caso de o paciente estar deitado: Colocar o paciente em decúbito lateral, sobre o resguardo, e de frente para o lado em que se vai sentar; Colocar o Paciente em decúbito lateral, sob ao resguardo e de frente para o lado em que se vai virar; Elevar a cabeceira da cama; Uma pessoa apoia a região dorsal e o ombro do paciente. 12. Transporte de pacientes Deve ser realizado com a ajuda de elementos auxiliares, tais como pranchas de transferência, cintos e auxílios mecânicos (por exemplo gruas). 13. Auxiliar o doente a levantar-se da cama Ver se o utente tem condições de deambular. O TAS deve permanecer bem próximo do paciente, do lado em que ele apresenta alguma deficiência, colocando um braço altura da cintura e o outro apoiando a mão. O ideal é utilizar um cinto especial na cintura do paciente. Permanecer ao lado da cadeira, olhando do mesmo lado que o paciente; O doente deve colocar uma mão no braço mais distante da cadeira e a outra é apoiada pela mão do TAS; HSCG Levantar de uma forma coordenada com movimentos de balanço. 14. Transferir o utente para uma poltrona ou cadeira de rodas O paciente pode executar a transferência de uma forma independente ou com uma ajuda, utilizando a tábua de transferência (transfer): Posicionar a poltrona/cadeirão, próximo da cama; Travar a cadeira e o leito, elevar o apoio dos pés da cadeira de rodas; Posicionar o transfer apoiado seguramente entre a cama e a cadeira. Uma outra forma é utilizar o cinto de transferência: Colocar a cadeira ao lado da cama, com as costas para o pé da cama; Travar as rodas e levantar o apoio para os pés; Sentar o utente na beira da cama; Calçar o utente com os chinelos ou sapatos anti-derrapantes; Segurar o utente pela cintura, auxiliando-o a levantar-se, virar-se e sentar-se na cadeira. 15. Transferir o paciente do leito para a maca Volta-se o paciente para a posição de supina, puxando-o para a cama com a ajuda do lençol. Não esquecer de travar as rodas do leito e maca. 1.7 Posições 1.7.1 Posição dorsal: é a típica posição em que o paciente se encontra de costas contra o colchão, é também denominada de posição de supinação. Nas mulheres, utiliza-se este termo quando se realiza exames ginecológicos ou no parto (pela elevação das pernas). Num internamento pode também chamar-se de decúbito dorsal. 1.7.2 Posição de Sims: tem como finalidade colocar o paciente nesta posição para realizar exames rectais (lavagem intestinal, colocação de clister). Deve-se colocar a cabeça do paciente lateralizado na almofada. Colocar o braço esquerdo do utente lateral à almofada. Flexionar o braço direito e HSCG deixa-lo apoiado sobre a almofada. Colocar o MIE (membro inferior esquerdo) ligeiramente flectido. Colocar o MID (membro inferior direito) flectido até quase encostar o joelho ao abdómen. 1.7.3 Fowler: tem como finalidade colocar esta posição os pacientes com dificuldades respiratórias, alimentação do paciente, pós operatório de uma cirurgia nasilo-facial. Deve meter-se aquando desta posição o paciente em posição dorsal, semi-sentado (cabeceira da cama elevada 30º, 45º ou 90º). 1.8 Conceitos chave Como princípios primordiais na atividade futura do Profissional Auxiliar de Saúde deve ter-se sempre como forma de actuação profissional: Atenção à privacidade e Intimidade do utente (correr biombos ou cortinas; fechar a porta; tapar com o lençol; pedir autorização para realizar qualquer atividade – sempre!) Saber comunicar eficazmente nas diferentes situações de saúde ou doença. Ter atenção que o utente em situação de doença se encontra fragilizado, debilitado e mais sensível – o auxiliar de saúde deve saber ouvir, saber comunicar de acordo com a situação sendo um elemento fundamental na equipa de saúde pois permanece muito tempo em contacto com o utente conhecendo-o e tendo a sua máxima confiança. Saber ser, saber estar, saber fazer: são os princípios onde a saúde e os seus profissionais atam. o Saber ser: ser um exemplo de um profissional de saúde; ser honesto consigo próprio e com toda a equipa de saúde; ser cuidadoso, minucioso, atento, humilde, bom ouvinte, comunicativo; de fácil acesso à comunicação, correcto na forma de agir e de acordo com os princípios éticos e morais da sua profissão. Saber respeitar o Código Deontológico do Profissional de Saúde. Saber respeitar a Carta dos Direitos e Deveres do utente. HSCG Carta dos Direitos e Deveres do utente O direito à protecção da saúde está consagrado na Constituição da República Portuguesa, e assenta num conjunto de valores fundamentais como a dignidade humana, a equidade, a ética e a solidariedade. No quadro legislativo da Saúde são estabelecidos direitos mais específicos, nomeadamente na Lei de Bases da Saúde (Lei 48/90, de 24 de Agosto) e no Estatuto Hospitalar (Decreto-Lei n.º 48 357, de 27 de Abril de 1968). São estes os princípios orientadores que servem de base à Carta dos Direitos e Deveres dos Doentes. O conhecimento dos direitos e deveres dos doentes, também extensivos a todos os utilizadores do sistema de saúde, potencia a sua capacidade de intervenção activa na melhoria progressiva dos cuidados e serviços. Evolui-se no sentido de o doente ser ouvido em todo o processo de reforma, em matéria de conteúdo dos cuidados de saúde, qualidade dos serviços e encaminhamento das queixas. A Carta dos Direitos e Deveres dos Doentes representa, assim, mais um passo no caminho da dignificação dos doentes, do pleno respeito pela sua particular condição e da humanização dos cuidados de saúde, caminho que os doentes, os profissionais e a comunidade devem percorrer lado a lado. Assume-se, portanto, como um instrumento de parceria na saúde, e não de confronto, contribuindo para os seguintes objectivos: Consagrar o primado do cidadão, considerando-o como figura central de todo o Sistema de Saúde; Reafirmar os direitos humanos fundamentais na prestação dos cuidados de saúde e, especialmente, proteger a dignidade e integridade humanas, bem como o direito à autodeterminação; Promover a humanização no atendimento a todos os doentes, principalmente aos grupos vulneráveis; Desenvolver um bom relacionamento entre os doentes e os prestadores de cuidados de saúde e, sobretudo, estimular uma participação mais activa por parte do doente; Proporcionar e reforçar novas oportunidades de diálogo entre organizações de doentes, prestadores de cuidados de saúde e administrações das instituições de saúde. HSCG Com a versão que agora se apresenta aos doentes e suas organizações, aos profissionais e entidades com responsabilidades na gestão da saúde e ao cidadão em geral, procura-se fomentar a prática dos direitos e deveres dos doentes. Visa-se, por outro lado, recolher opiniões e sugestões para um gradual ajustamento das disposições legais aos princípios que vierem a ser considerados necessários para garantir o cumprimento responsável e cívico destes direitos e deveres. DIREITOS DOS DOENTES 1. O doente tem direito a ser tratado no respeito pela dignidade humana É um direito humano fundamental, que adquire particular importância em situação de doença. Deve ser respeitado por todos os profissionais envolvidos no processo de prestação de cuidados, no que se refere quer aos aspectos técnicos, quer aos actos de acolhimento, orientação e encaminhamento dos doentes. É também indispensável que o doente seja informado sobre a identidade e a profissão de todo o pessoal que participa no seu tratamento. Este direito abrange ainda as condições das instalações e equipamentos, que têm de proporcionar o conforto e o bem-estar exigidos pela situação de vulnerabilidade em que o doente se encontra. 2. O doente tem direito ao respeito pelas suas convicções culturais, filosóficas e religiosas Cada doente é uma pessoa com as suas convicções culturais e religiosas. As instituições e os prestadores de cuidados de saúde têm, assim, de respeitar esses valores e providenciar a sua satisfação. O apoio de familiares e amigos deve ser facilitado e incentivado. Do mesmo modo, deve ser proporcionado o apoio espiritual requerido pelo doente ou, se necessário, por quem legitimamente o represente, de acordo com as suas convicções. 3. O doente tem direito a receber os cuidados apropriados ao seu estado de saúde, no âmbito dos cuidados preventivos, curativos, de reabilitação e terminais Os serviços de saúde devem estar acessíveis a todos os cidadãos, de forma a prestar, em tempo útil, os cuidados técnicos e científicos que assegurem a melhoria da condição do doente e seu restabelecimento, assim como o acompanhamento digno e humano em situações terminais. HSCG Em nenhuma circunstância os doentes podem ser objecto de discriminação. Os recursos existentes são integralmente postos ao serviço do doente e da comunidade, até ao limite das disponibilidades. 4. O doente tem direito à prestação de cuidados continuados Em situação de doença, todos os cidadãos têm o direito de obter dos diversos níveis de prestação de cuidados (hospitais e centros de saúde) uma resposta pronta e eficiente, que lhes proporcione o necessário acompanhamento até ao seu completo restabelecimento. Para isso, hospitais e centros de saúde têm de coordenar-se, de forma a não haver quaisquer quebras na prestação de cuidados que possam ocasionar danos ao doente. O doente e seus familiares têm direito a ser informados das razões da transferência de um nível de cuidados para outro e a ser esclarecidos de que a continuidade da sua prestação fica garantida. Ao doente e sua família são proporcionados os conhecimentos e as informações que se mostrem essenciais aos cuidados que o doente deve continuar a receber no seu domicílio. Quando necessário, deverão ser postos à sua disposição cuidados domiciliários ou comunitários. 5. O doente tem direito a ser informado acerca dos serviços de saúde existentes, suas competências e níveis de cuidados Ao cidadão tem que ser fornecida informação acerca dos serviços de saúde locais, regionais e nacionais existentes, suas competências e níveis de cuidados, regras de organização e funcionamento, de modo a optimizar e a tornar mais cómoda a sua utilização. Os serviços prestadores dos diversos níveis de cuidados devem providenciar no sentido de o doente ser sempre acompanhado dos elementos de diagnóstico e terapêutica considerados importantes para a continuação do tratamento. Assim, evitam-se novos exames e tratamentos, penosos para o doente e dispendiosos para a comunidade. 6. O doente tem direito a ser informado sobre a sua situação de saúde Esta informação deve ser prestada de forma clara, devendo ter sempre em conta a personalidade, o grau de instrução e as condições clínicas e psíquicas do doente. HSCG Especificamente, a informação deve conter elementos relativos ao diagnóstico (tipo de doença), ao prognóstico (evolução da doença), tratamentos a efectuar, possíveis riscos e eventuais tratamentos alternativos. O doente pode desejar não ser informado do seu estado de saúde, devendo indicar, caso o entenda, quem deve receber a informação em seu lugar. 7. O doente tem o direito de obter uma segunda opinião sobre a sua situação de saúde Este direito, que se traduz na obtenção de parecer de um outro médico, permite ao doente complementar a informação sobre o seu estado de saúde, dando-lhe a possibilidade de decidir, de forma mais esclarecida, acerca do tratamento a prosseguir. 8. O doente tem direito a dar ou recusar o seu consentimento, antes de qualquer acto médico ou participação em investigação ou ensino clínico O consentimento do doente é imprescindível para a realização de qualquer acto médico, após ter sido correctamente informado. O doente pode, exceptuando alguns casos particulares, decidir, de forma livre e esclarecida, se aceita ou recusa um tratamento ou uma intervenção, bem como alterar a sua decisão. Pretende-se, assim, assegurar e estimular o direito à autodeterminação, ou seja, a capacidade e a autonomia que os doentes têm de decidir sobre si próprios. O consentimento pode ser presumido em situações de emergência e, em caso de incapacidade, deve este direito ser exercido pelo representante legal do doente. 9. O doente tem direito à confidencialidade de toda a informação clínica e elementos identificativos que lhe respeitam Todas as informações referentes ao estado de saúde do doente – situação clínica, diagnóstico, prognóstico, tratamento e dados de carácter pessoal – são confidenciais. Contudo, se o doente der o seu consentimento e não houver prejuízos para terceiros, ou se a lei o determinar, podem estas informações ser utilizadas. Este direito implica a obrigatoriedade do segredo profissional, a respeitar por todo o pessoal que desenvolve a sua actividade nos serviços de saúde. 10. O doente tem direito de acesso aos dados registados no seu processo clínico A informação clínica e os elementos identificativos de um doente estão contidos no seu processo clínico. O doente tem o direito de tomar conhecimento dos dados registados no seu processo, devendo essa informação ser fornecida de forma precisa e esclarecedora. HSCG A omissão de alguns desses dados apenas é justificável se a sua revelação for considerada prejudicial para o doente ou se contiverem informação sobre terceiras pessoas. 11. O doente tem direito à privacidade na prestação de todo e qualquer acto médico A prestação de cuidados de saúde efectua-se no respeito rigoroso do direito do doente à privacidade, o que significa que qualquer acto de diagnóstico ou terapêutica só pode ser efectuado na presença dos profissionais indispensáveis à sua execução, salvo se o doente consentir ou pedir a presença de outros elementos. A vida privada ou familiar do doente não pode ser objecto de intromissão, a não ser que se mostre necessária para o diagnóstico ou tratamento e o doente expresse o seu consentimento. 12. O doente tem direito, por si ou por quem o represente, a apresentar sugestões e reclamações O doente, por si, por quem legitimamente o substitua ou por organizações representativas, pode avaliar a qualidade dos cuidados prestados e apresentar sugestões ou reclamações. Para esse efeito, existem, nos serviços de saúde, o gabinete do utente e o livro de reclamações. O doente terá sempre de receber resposta ou informação acerca do seguimento dado às suas sugestões e queixas, em tempo útil. DEVERES DOS DOENTES 1. O doente tem o dever de zelar pelo seu estado de saúde. Isto significa que deve procurar garantir o mais completo restabelecimento e também participar na promoção da própria saúde e da comunidade em que vive. 2. O doente tem o dever de fornecer aos profissionais de saúde todas as informações necessárias para obtenção de um correcto diagnóstico e adequado tratamento. 3. O doente tem o dever de respeitar os direitos dos outros doentes. 4. O doente tem o dever de colaborar com os profissionais de saúde, respeitando as indicações que lhe são recomendadas e, por si, livremente aceites. 5. O doente tem o dever de respeitar as regras de funcionamento dos serviços de saúde. 6. O doente tem o dever de utilizar os serviços de saúde de forma apropriada e de colaborar activamente na redução de gastos desnecessários. HSCG o Saber estar: implica que o Auxiliar de Saúde assuma uma postura correta; saiba estar no local de trabalho. Utilize o correcto fardamento exigido. Fardamento: Mulheres Cabelo bem apanhado; Unhas rentes, verniz permitido de cor bege, rosa claro, transparente – não é permitido unhas de gel, gelinho; Não são permitidos piercings; Não é permitido o uso de anéis, colares, pulseiras e brincos compridos; Meias pretas, brancas ou azuis escuras; Roupa interior bege ou branca; Calçado antiderrapante azul escuro; Casaco azul escuro. Homens Barba feita; Cabelo cortado; Unhas cortadas; Sem brincos; Roupa interior de cores neutras; Calças para cima. IMAGENS Saber ouvir críticas e ter uma posição de assimilar o que lhe foi dito e alterar a sua postura; saber pedir desculpa quando errar; saber perguntar quando não perceber qualquer atividade que lhe tenha sido destinada; ter uma atitude pró-activa (ter iniciativa; querer saber mais; interessar-se por adquirir novos conhecimentos; realizar acções de formação). HSCG o Saber fazer: realizar todas as técnicas aprendidas correctamente e de acordo com a prática instituída. Ter sempre em atenção na realização de técnicas o princípio de Ergonomia (postura adequada e pega do utente eficaz). 1.9 Terminologias Utente ou doente ou paciente ou cliente Tratar o utente sempre pelo nome (o que o doente preferir, por exemplo chama-se António Manuel, naturalmente chamamos Sr. António, mas devemos perguntar pois pode preferir Sr. Manuel). Nunca utilizar diminutivos (exemplo: riquinho, fofinho, caminha, avozinha)! Cama ou leito A cama é o local onde o utente passa a maior parte do tempo, por isso deve estar sempre limpa e asseada. HSCG 1.10 Glossário Utente: aquele ao qual são prestados os cuidados de saúde ao longo do seu percurso de vida. Aqui os cuidados de saúde englobam a Promoção da Saúde; Prevenção da doença; Manutenção da doença. Família: “É aquela que o utente diz que é.” Família em saúde é a denominação dada às pessoas que podem ou não ter ligação sanguínea ao utente, mas ele considera-os como tal. Prestador de cuidados: pessoa ou familiar encarregue para prestar todos os cuidados que o utente necessita ao domicílio (exemplo: no internamento de uma unidade de cuidados de média duração, chegou-se à conclusão que o utente não tem condições de saúde de se alimentar, foi entubado pela equipa de enfermagem, te posteriormente de ser chamado. O prestador de cuidados para aprender os cuidados a ter com a sonda nasogástrica (saber alimentar, lavar, reintubar, como posicionar). Equipa de saúde: é a equipa multidisciplinar que inclui: médico, enfermeiro, auxiliar de saúde, psicólogo, fisioterapeuta, assistente social, entre outros. Aparadeira: material/equipamento de uso único ou descartável com a finalidade de o utente masculino ou feminino realizar no leito. Urinol: material/equipamento de uso único ou descartável destinado à eliminação vesical do utente masculino. É dever do auxiliar de saúde colocar o urinol na mesinha do utente. Sempre que: este venha do BO (Bloco Operatório) – não faz levante; esteja em repouso absoluto; Esteja em repouso parcial (imobilizado com gesso). Saco colector: Destina-se a estar conectado à algália e tem como objetivo armazenar a urina por um período máximo de 8h. Existem sacos colectores de urina com válvula, HSCG sem válvula ou com debitómetro. É função do AS despejar o saco colector de urina ou trocá-lo no fim de cada turno, proceder à contabilização de urina e transmitir a informação ao enfermeiro juntamente com as características de urina. Algália: Sonda vesical que é introduzida na uretra feminina ou masculina em situações de disúria, para colheitas precisas de urina, entre outras. Existem algálias de fowler (borracha) que após a sua colocação têm uma duração de 7 dias em meio hospitalar e 15 dias no domicílio. Algálias de silicone (siliconadas) que após a sua colocação têm uma duração de 1 mês em meio hospitalar e 3 meses no domicílio. A diferença entre a duração em meio hospitalar e no domicílio é: no hospital/em meio hospitalar o material tem uma durabilidade inferior devido ao risco de infecção a que o ambiente/sujeito/utente se encontra exposto. Infecção nasocomial: Infecção/vírus/bactéria adquirida em meio hospitalar. Exemplo: septicemia. Sonda nasogástrica: Sonda de diferentes calibres (mede-se desde o lobo da orelha até à cana do nariz e depois até ao apêndice xifóide). É introduzida no nariz, tem uma duração de 7 dias. É fixada com adesivo cortado em gravata. Sonda orogástrica: Sonda introduzida na boca (mais utilizada nos lactentes ou crianças até aos 5 anos). Lactentes: Bebé que se alimente exclusivamente de leite: leite materno ou leite adaptado. Denomina-se lactente até aos 6 meses de idade. Aos 6 meses já é introduzida alimentação adequada à sua idade (sopa + papa + fruta). Cateter venoso periférico (CVP): Cateter de diferentes calibres colocado na veia do paciente por onde é administrada medicação endovenosa. Cateter venoso central (CVC): Colocado na veia sub-clávia direita ou esquerda, quando o utente não tem mais acessos venosos periféricos. Este cateter tem um maior risco de infecção (exige penso e troca de prolongadores e sistemas de soros diário → com material e meio esterilizado). HSCG Sistema de soro: pode ser translúcido/transparente ou opaco. É introduzido no balão de soro e conectado ao cateter venoso periférico (CVP) ou cateter venoso central (CVC). Conectado ao sistema de soro, para dar-mos mais mobilidade ao utente pode ser conectado juntamente um prolongador (transparente ou opaco). Torneiras de 3 vias: (se conectadas num sistema opaco – sistema de soro + prolongador tem de se proteger/tapar a torneira de 3 vias com compressas pois não existe torneiras de 3 vias opacas). Utiliza-se o sistema opaco em caso de medição fotossensível; nas transfusões de sangue; má alimentação parentérica (sensível à luz; sofre graves alterações). Obtuladores: “tampas” do CVP (cateter venoso periférico). Temperatura: é a quantidade de calor que o corpo humano produz, liberta e acumula de acordo com as necessidades fisiológicas de cada indivíduo. A temperatura varia de pessoa para pessoa. Febre: aumento da temperatura basal do indivíduo. sinais: cor vermelha; extremidades frias; tremores. sintomas: prostação; cefaleias de ligeiras a moderadas. Cefaleias: dores de cabeça. Saturações (spo2): avalia o nível de oxigenação do individuo e a sua frequência cardíaca – spo2 ↑; Fe ↓ Fc: frequência cardíaca Avalia-se as spo2 através do saturímetro ou do monitor cardio-respiratório. COLOCAR IMAGEM SATURÍMETRO, SENSORES SPO2+MONITOR CARDIO-RESPIRATÓRIO HSCG Valores de spo2 (o AS tem o dever de saber identificar os valores de spo2 e comunicar as alterações: o valores normais: spo2 entre 96% e 100%; o valores anormais: spo2 < 90% (necessita de O2 – oxigénio). Valores de Fc: o Fc adulto: Fc 120/80 bpm (batimentos por minuto); o Fc criança: Fc 200/75 bpm. A administração de O2 pode ser feita por mascar facial, mascar de alto débito ou cateter bi-nasal. COLOCAR IMAGEM máscara facial: O2 até 6L/min (máscara criança/adulto); máscara alto débito: O2 10 a 15L/min. Tem um reservatório que permite oxigenar a 100% (criança ou adulto); cateter bi-nasal: O2 até no máximo 2L/min (criança + adulto); valores de TA (tensão arterial): o 120/60 – adulto (valores padrão); o 80/35 – criança. Febre + temperatura: o temperatura normal: 36oC - 36.5oC; o sub-febril: 37oC – 37.9oC; o febre: > 38oC (medicação anti-pirética). Lateralizar: realizar o movimento de rodar o utente para o lado esquerdo ou direito com a finalidade de prevenir macerações ou úlceras de pressão. Maceração: pele do utente que fica com rubor, aspecto vermelho devido a não ser posicionado ou roupa da cama mal esticada ou com vincos (a pele fica frágil, com uma camada muito fina, cede à digitopressão e parece que vai abrir a qualquer momento). HSCG Rubor: à volta de uma ferida cirúrgica ou traumática fica a zona circundante com um vermelho arroxeado e quente (sinais de inflamatórios). Ferida cirúrgica: é uma ferida proveniente de uma lesão que precisou de encerramento, cirúrgico (bloco operatório) para correcção, fixação e fecho da ferida. Exemplo: ferida cirúrgica # perna (encerramento com gesso ou tala gessada no BO). Uma ferida cirúrgica implica sempre haver a existência de sutura (pontos) e penso fechado. Penso fechado: compressas esterilizadas + adesivo: utiliza-se kit penso). Ferida traumática: é uma lesão no organismo humano, onde há perda da integridade cutânea (perda da pele) mas não necessita de correcção cirúrgica. O tratamento nestes casos denomina-se de tratamento conservador ou tradicional. O penso da ferida traumática é mais simples e não exige meio estéril, associase as feridas traumáticas às “feridas” caseiras. Pensos feitos em casa (amadores) não exigem técnica. Técnica asséptica: é considerada a técnica limpa. Utiliza-se luvas limpas, campos não-estéreis. Técnica asséptica cirúrgica: exige material esterilizado, bata de protecção, máscara facial, luvas esterilizadas. O objectivo é minimizar o risco de infecção. Consporcar: “sujar”. É o termo utilizado quando não controlamos a entrada de microrganismos estranhos ao indivíduo; ou quando o profissional de saúde realiza más práticas. Exemplo: retirar saco colector de urina sem luvas (está a consporcar o meio envolvente do AS e do circuito que o mesmo vai realizar sem protecção). Repouso: está associado a descanso. O repouso é feito na cama/leito do utente ou no cadeirão. O repouso pode ser: repouso total: o utente só pode estar no leito; não pode levantar-se sem ordem do enfermeiro. O AS tem de colocar ao dispor do utente o urinol; auxiliar o banho no leito; fazer a cama com o utente no leito. HSCG repouso parcial: o utente só pode fazer certos movimentos, por exemplo urinar ou defecar no WC; fazer transferência para o cadeirão; tomar banho na cadeira sanitária. No cadeirão, deve estar por um período máximo de 2h e depois volta para a cama.
Download