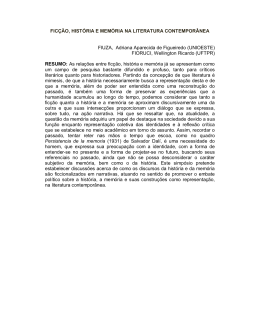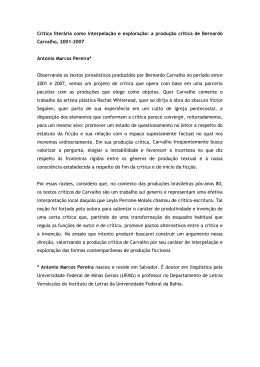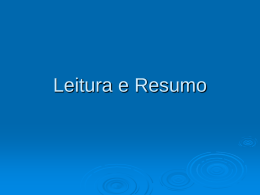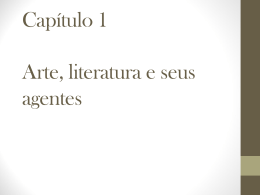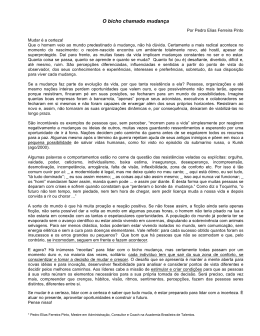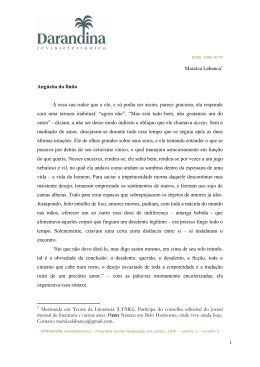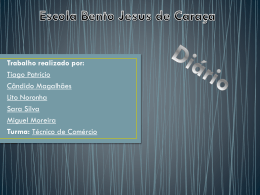A DÚVIDA SUAVE Gustavo Bernardo STREPSIADES: Mas você vai me dizer que Zeus Olímpico não é um deus? SÓCRATES: Que Zeus? Não zombe de mim! Zeus não existe. STREPSIADES: Que é que você está dizendo? Então, quem faz chover? Explique isto antes de mais nada. SÓCRATES (apontando para o Coro de Nuvens): Elas, com certeza. E eu vou dar provas disto. Você já viu algum dia cair chuva sem haver nuvens no céu? Para que fossem os deuses seria necessário que chovesse com o céu sereno e sem que elas estivessem lá. STREPSIADES: É mesmo! Aí está, sem dúvida, um bom argumento que você apresenta a respeito da questão que estamos tratando!... E eu, que até agora acreditava bobamente que Zeus mijava através de uma peneira! Mas diga quem produz o trovão, esse trovão que me deixa borrado de medo! SÓCRATES: São nuvens que estrondam rolando umas por cima das outras. STREPSIADES: Como? Diga, você que é tão atrevido! SÓCRATES: Quando elas são compelidas a mover-se cheias d'água, caindo pesadamente umas sobre as outras, rebentam estrondosamente. STREPSIADES: Mas quem, senão Zeus, obriga as nuvens a se mexerem? SÓCRATES: De modo nenhum, é um turbilhão etéreo que as move. STREPSIADES: Turbilhão? Eu não sabia que Zeus não existe, e que o Turbilhão reina agora no lugar dele. O diálogo pertence à comédia As Nuvens, de Aristófanes, representada pela primeira vez 423 anos antes de Cristo (ou da Era Comum). O diálogo é precioso como prova de que a dúvida sobre a existência dos deuses os persegue desde que eles foram criados. Aristófanes critica tanto os deuses quanto o próprio Sócrates, considerando-o o mestre dos sofistas que não se preocupavam em encontrar a verdade mas sim em vencer as discussões. Conta-se que essa comédia foi decisiva para condenar Sócrates à morte. Entretanto, a argumentação do personagem a favor da inexistência de Zeus é muito boa: se Zeus fosse o responsável pelas chuvas, poderia fazer chover com o céu claro – poderia “mijar através de uma peneira” invisível, como diz de maneira impagável o interlocutor do filósofo, que deseja ser seu discípulo mas acaba dispensado por burrice excessiva. O complexo mas natural movimento das nuvens é a causa das chuvas, sem que isso signifique que elas sejam agentes ou responsáveis pelas chuvas. Na sequência do diálogo, Strepsiades ainda pergunta pela causa do raio e por que, “quando ele atinge a gente, mata alguns de nós e deixa outros vivos, embora chamuscados”. O filósofo responde que os raios são simplesmente aleatórios, como aleatórias são a sua força e a sua letalidade. Ninguém atira os raios contra ninguém, muito menos um Zeus que não existe. Se os raios se destinam a matar os perjuros, por que tantos deles nunca são atingidos por um raio? Se os raios são lançados por um deus, por que ele os lança sobre o seu próprio templo, como aconteceu em Atenas, e sobre tantos carvalhos? Ou os carvalhos são culpados de alguma coisa ou Zeus tem péssima pontaria ou Zeus não existe – logo, não joga raios contra nada nem ninguém. Por isso Sócrates pergunta explicitamente a Strepsiades: “você é capaz, de agora em diante, de acreditar apenas em nossos deuses – o Caos, as Nuvens e a Língua, somente estes três e mais nenhum?”. A pergunta é moderníssima: Hume, Nietzsche, Wittgenstein, Flusser e tantos filósofos contemporâneos poderiam fazê-la com orgulho. Como disse Vilém Flusser no século XX, a Língua cria a Realidade, se só temos acesso à realidade através da linguagem. Logo, a Língua é a deusa da criação. Como também aponta Miguel de Unamuno em O sentimento trágico da vida, “a língua, substância do pensamento, é um sistema de metáforas com base mítica e antropomórfica”. Os três deuses de Sócrates são deuses metonímicos: o Caos ou o Turbilhão, representando as incognoscíveis forças primordiais; as Nuvens, representando a Natureza; e finalmente a Língua, representando toda a cultura humana, portanto as representações que fazemos da realidade e da nossa própria sociedade. Os três deuses de Sócrates ainda sofrem do nosso impulso irresistível de personalizar o Mistério. Quando Strepsiades conclui que o Turbilhão reina no lugar de Zeus, apenas troca o nome do seu deus para continuar a personificá-lo e a animá-lo. Ora, insiste Unamuno, “todos, ao passarmos de um Zeus qualquer a qualquer turbilhão, de Deus à matéria, por exemplo, fazemos o mesmo”. Os três deuses metonímicos de Sócrates poderiam se juntar no Olimpo dos Filósofos e constituir uma única deusa: a Dúvida. Abel Silva a traz para melhor definir o nosso Deus ocidental: Deus é dúvida disse eu a um crente. Esbugalhou-se, o coitado, e respondeu assustado: esta certeza é o diabo! Abel Silva é ateu assumido, a ponto de intitular um de seus livros como PoemAteu. No entanto, seu poema promove o diálogo entre o cético e o crente. O poeta não acredita em Deus, já sabemos, mas o poema o leva a assumir a perspectiva do cético. Por definição, o cético não pode ser nem ateu nem crente. O cético põe em dúvida todas as afirmações dogmáticas, logo, duvida tanto de quem diz que Deus existe quanto de quem diz que Deus não existe. Para o crente, a certeza do ateu é menos assustadora do que a dúvida do cético. Para o ateu, a certeza do crente também é menos assustadora do que a dúvida do cético. Um discorda da certeza do outro, mas a dúvida do cético obriga ambos a pensar e então os assusta – assustou, muito antes, a Augusto dos Anjos, como ele confessa no soneto apropriadamente intitulado “Ceticismo”: Desci um dia ao tenebroso abismo, Onde a Dúvida ergueu altar profano; Cansado de lutar no mundo insano Fraco que sou volvi ao ceticismo. Da Igreja – a Grande Mãe – o exorcismo Terrível me feriu, e então sereno De joelhos aos pés do Nazareno Baixo rezei em fundo misticismo: — Oh! Deus, eu creio em ti, mas me perdoa! Se esta dúvida cruel qual me magoa Me torna ínfimo, desgraçado réu. Ah, entre o medo que o meu ser aterra, Não sei se viva pra morrer na terra, Não sei se morra p’ra viver no céu! Para o poeta, se Deus é Pai, a Igreja é a Grande Mãe. Ele precisa de um exorcismo para enfrentar o “tenebroso abismo” da dúvida. A questão que o atormenta é: passo a vida a pensar na vida para um dia morrer para sempre ou passo a vida a pensar na morte que um dia me levará a viver no céu para sempre? A dúvida se divide entre a consciência de ter nascido para morrer e o desejo absurdo mas inextirpável de ter nascido para viver para sempre no seio de Deus. Essa dúvida se torna diabólica. Essa dúvida convoca à cena o diabo – por exemplo, o diabo encarnado no personagem Vlad, do conto de mesmo nome, de Carlos Fuentes, que pergunta a seu interlocutor, antes de destruir sua família: “será vida esta breve passagem, esta urgência entre o berço e a sepultura?”. A dúvida cética, em particular, se mostra a condição sem a qual não há ficção. Como só podemos perceber o mundo com os nossos sentidos limitados e a partir de uma única perspectiva – a nossa –, não podemos apreender a verdade toda mas apenas parte dela. Por isso, verdades do passado se tornam superstições para o presente enquanto hábitos de uma cultura são vistos como abominações por outra cultura. O reconhecimento de limitação tão forte e extensa justifica a suspensão do juízo, a não muito popular epoché que caracteriza a dúvida cética, como bem defende Nietzsche em O Anticristo: Que ninguém se deixe induzir em erro: grandes espíritos são céticos. Zaratustra é um cético. A força, a liberdade que vem da força e sobreforça do espírito prova-se pela skepsis. Homens de convicção, em tudo o que é fundamental quanto a valor e desvalor, nem entram em consideração. Convicções são prisões. As dúvidas sobre a existência ou sobre a imortalidade de Deus vêm de muitas fontes, inclusive da própria história da religião. Podemos nos perguntar, por exemplo, o que teria acontecido com Baal (deus dos canaanitas), com Aton (deus dos egípcios), com Zeus (deus dos gregos) ou com Huitzilopochtli (deus dos astecas). Todos eles eram divindades supremas. Cada um deles foi adorado e obedecido por milhões. Todavia, todos estão mortos. A constatação da morte dos deuses dá o que pensar e duvidar, a respeito do “nosso” Deus. Entretanto, o cético honesto luta para que a sua dúvida não se transforme em certeza – certeza, por exemplo, de que Deus não existe ou de que já morreu. A certeza acaba com a dúvida e com o ceticismo. É com isso que conta o escritor católico G. K. Chesterton: “para responder ao cético arrogante, não adianta insistir que deixe de duvidar. É melhor estimulá-lo a continuar a duvidar para duvidar um pouco mais, para duvidar cada dia mais das coisas novas e loucas do universo, até que, enfim, por alguma estranha iluminação, ele venha a duvidar de si próprio”. Como muita gente boa, Chesterton confunde o ateu militante com o cético. No sentido estrito do termo, um cético não pode ser arrogante, se luta sempre contra os dogmas e as certezas. No entanto, o raciocínio de Chesterton se apropria bem do espírito do ceticismo: a dúvida autêntica explora todas as direções. Especular que Deus não exista, por exemplo, implica aceitar a especulação de que Deus exista de algum modo. O cético também reconhece que não fomos feitos para duvidar, pelo menos não o tempo todo. Não é possível se manter em estado de dúvida todo o tempo, se a crença se mostra antropologicamente necessária. Nossa sobrevivência como espécie e indivíduo depende de certas crenças. Nem a nossa linguagem é dubitativa, mas sim assertiva: quando digo “não fomos feitos para duvidar” assumo sem querer que alguém ou algo nos fez, recalcando as minhas próprias dúvidas a respeito. Slavoj Zizek, que se apresenta como ateu, observa autocriticamente que em torno do território acadêmico deve-se fingir não crer, porque “a admissão pública da crença é experimentada quase como algo desavergonhado”. O gesto da dúvida exige que se duvide também de si mesmo. Para Zizek, ninguém escapa à crença: “todos nós, secretamente, cremos”. Cabe-nos o esforço de suspender momentaneamente as próprias crenças, para melhor pensar. Precisamos suspender a crença de que cremos bem como a crença de que não cremos. A oscilação inevitável entre a descrença e a crença se equilibra em outra oscilação, aquela que se dá entre a razão e a emoção. Como Deus e a crença se encontram quase sempre do lado da emoção, Zizek lembra a fórmula de Lacan: “Deus é inconsciente”. Ou: Deus é tudo que não se sabe nem se pode saber, embora se queira saber. Quase poderíamos dizer: Deus é o não-nome grandiloquente do próprio Inconsciente. Concorda com o filósofo ateu o teólogo Francisco Catão, ao entender que “Deus não é uma realidade comparável às múltiplas realidades do mundo. Não é também um conceito ou uma ideia com que podemos contar. De Deus não se pode dizer que sabemos o que é nem quem é”. Sobre Deus “só podemos dizer o que não é, negando tudo que sabemos do que afirmamos existir”. Afirmamos a existência de Deus, “mas tudo que dele dizemos está baseado na negação do limite do que sabemos a partir de nossa experiência e de nossa razão”. O teólogo brasileiro Leonardo Boff, no artigo “Teólogo: um ser quase impossível”, também não aceita Deus como parte do mundo: “desse Deus eu sou ateu”, brinca. Boff lembra Duns Scotus, que dizia: “se Deus existe como as coisas existem, então Deus não existe”. Para ambos, Deus não é coisa mas sim origem e condição de existência das coisas. Por isso, se nos propomos a pensar o impensável, torna-se imperativo assumir aquela oscilação entre a descrença e a crença, ao invés de tentar acomodá-la. Torna-se imperativo assumir a negatividade radical do conceito de Deus, o que implica assumir a dúvida como condição do pensamento sobre o nosso desejo visceral de transcendência. O ceticismo então se mostra um horizonte regulador da melhor qualidade, orientando a luta dos pensamentos contra as nossas limitações e a nossa contingência. O estudo da história das religiões também provoca dúvidas porque a expressão “história das religiões” envolve do início dois problemas: que haja e tenha havido mais de uma religião; que cada religião em separado e todas em conjunto tenham uma história, ou seja, que elas se modifiquem no tempo e no espaço. Os termos “religião” e “história” entram em conflito um com o outro porque a religião é por definição o lugar da não mudança, enquanto a história é por definição a narrativa da mudança. Quem é religioso encontra na religião o seu porto mais seguro e mais estável. Se tudo na vida é incerto e relativo, na religião tudo se mostra certo e absoluto. Toda religião, em especial se monoteísta, tende a apresentar o seu Deus não apenas como “tudo de bom” mas ainda como “tudo de tudo”: onisciente, onipresente e onipotente. Deus pode ser um só e o mesmo sempre, como rezam as diferentes tradições, mas a crença em Deus se manifesta de muitas maneiras mais ou menos problemáticas. A emergência dos homens-bomba e, principalmente, o atentado contra as torres gêmeas do World Trade Center em 11 de setembro de 2001, marcam o recrudescimento da relação traumática entre religião e história, porque de modo muito brusco trazem o transcendente de volta para o terreno duro da experiência humana no mundo. No pequeno artigo “O fator Deus”, escrito em reação deprimida ao atentado em New York, o escritor José Saramago, conhecido pelo seu ateísmo militante, considera que Deus é inocente dessa violência. Em nome de Deus se permite e se justifica tudo, principalmente o pior, “principalmente o mais horrendo e cruel”, mas Deus é inocente, “inocente como algo que não existe, que não existiu nem existirá nunca, inocente de haver criado um universo inteiro para colocar nele seres capazes de cometer os maiores crimes para logo virem justificar-se dizendo que são celebrações do seu poder e da sua glória, enquanto os mortos se vão acumulando”. Para Saramago a culpa é na verdade do “fator Deus, esse que é terrivelmente igual em todos os seres humanos onde quer que estejam e seja qual for a religião que professem, esse que tem intoxicado o pensamento e aberto as portas às intolerâncias mais sórdidas, esse que não respeita senão aquilo em que manda crer, esse que depois de presumir ter feito da besta um homem acabou por fazer do homem uma besta”. O escritor português faz parte do grupo daqueles que chamarei de “ateus ferozes”, o que explica seus termos muito fortes. Adiante comparo os ateus ferozes com os que chamarei de “ateus suaves”, como por exemplo o jornalista e filósofo Hélio Schwartsman, que escreve regularmente sobre o tema. Desconfiando do fator Deus, isto é, da desresponsabilização humana promovida pela religião, Schwartsman, no artigo “A religião vai acabar?”, lembra que desde o século XVIII vinha crescendo entre os intelectuais e cientistas o consenso de que o mundo caminhava para menos religião, no limite para nenhuma religião. Deus está morto!, proclamava-se à direita e à esquerda. Darwin, Marx, Freud e Einstein mostravam que o homem, um bicho como qualquer outro, não comandava nem a história nem mesmo a psiquê humana. O próprio Universo funcionava sem Deus, que enfim parecia se reduzir a uma simples metáfora. Tudo parecia seguir esse roteiro. Grupos religiosos se retraíam. Nos EUA, evangélicos caíam no ostracismo após o fiasco do julgamento de Johns Scopes, em 1925, quando as ideias criacionistas foram humilhadas. Na Europa, ideologias fascistas e comunistas tomavam o lugar das religiões tradicionais. Em 1966, a bem-comportada revista Time estampava na capa a pergunta: “Deus está morto?”. Em 1999, a Economist publicava em sua edição do milênio o obituário de Deus. Mas novamente Deus ressuscita, quer na multiplicação exponencial das igrejas evangélicas quer na forma de aviões de passageiros jogados contra arranha-céus americanos. O ateu Schwartsman é forçado a admitir que “nós, os bem pensantes, quebramos a cara”. A religião se torna minoritária apenas em meia dúzia de países europeus e não no mundo todo, como desejavam e previam os intelectuais. Mesmo nesses países o aumento da imigração inverte o processo de secularização e provoca tensões culturais “que têm o perverso efeito de tornar as minorias religiosas mais histriônicas e, por vezes, violentas”. Quando chega o 11 de Setembro de 2001: derrubam-se as torres gêmeas ao mesmo tempo em que se reergue o discurso religioso fanatizado, tanto por parte de Osama Bin Laden quanto de George Bush, cada um vendo o diabo no outro e Deus em si mesmo. No mínimo isso significa que o processo histórico da religião não é linear. Não caminhamos necessariamente para o mundo ideal dos crentes, em que todos e não menos do que todos adorem um único Deus, nem caminhamos necessariamente para o mundo ideal dos ateus, em que todos e não menos do que todos superem a ilusão infantil do Pai agigantado e glorificado. Voltamos então à história mais geral das religiões. A história das religiões também traz o transcendente de volta para o terreno duro da experiência humana no mundo, porque implicitamente ela nega o fundamento de cada religião. Se a religião não é sempre a mesma nem sempre uma só, então Deus não é sempre o mesmo nem sempre um só. No princípio, por exemplo, não era o Logos nem o Verbo, mas sim uma profusão de deuses, anti-deuses e semi-deuses. A primeira doutrina monoteísta começa a surgir na Pérsia apenas cerca de 600 anos antes da era cristã, quando o profeta Zoroastro ensinou que Ahura Masda era o maior dos deuses e o único a merecer a adoração dos homens, porque ele criou o mundo e o povoou de espíritos benfazejos. Entretanto, a cada benefício dessas entidades corresponde um malefício de Ahura Maniu, o lado do mal de Ahura Masda. O zoroastrismo influenciou os hebreus inclusive e especialmente nesse equilíbrio entre as divindades do bem e do mal. Na verdade, a religião hebraica só se firmou como monoteísta após o êxodo do Egito. A palavra “religião” é de etimologia incerta: tanto pode vir do latim religare (ligar de novo) quanto do latim relegere (ler ou colher de novo) ou do verbo grego alegeyn (venerar). Por ora, fiquemos com a primeira sugestão, preferida por nove entre dez estudiosos. Por ela, a religião liga novamente as pessoas umas às outras e todas à sua origem e à sua direção na vida. Ela precisa não apenas ligar mas voltar a ligar, isto é, “religar”, porque reconhece que a história das pessoas tende a desligá-las umas das outras e, principalmente, da sua origem e do seu sentido na vida. A religião como que devolve o sentido à vida, e isso nos dois “sentidos”: tanto de significado quanto de direção. Como a religião faz isto? Através de narrativas fundadoras. Toda religião conta uma história para nos dizer de onde viemos, para onde vamos e afinal quem somos. Quando se reverenciam vários deuses, as narrativas sobre eles explicam a nossa origem a partir do encontro ou do confronto entre esses vários deuses. Quando se passa a reverenciar um único deus, as narrativas sobre esse deus único passam a explicar a nossa origem a partir da vontade desse deus ou do conflito entre a nossa vontade e a sua vontade. As narrativas politeístas são forçosamente múltiplas, o que as torna mais amplas mas menos verossímeis e menos críveis. Em toda religião politeísta os deuses são demasiado humanos: eles enganam-se uns aos outros e aos seres humanos – logo, sempre podemos enganá-los um pouco ou, ao menos, driblá-los. Assim como o arco-íris mais bonito é aquele no qual conseguimos distinguir mais cores, a multiplicidade inerente às narrativas politeístas as torna mais belas – mas, por isso mesmo, moralmente mais fracas. As narrativas monoteístas têm uma lógica interna mais restrita, apoiada sempre na vontade e no poder do deus único: isso as torna menos amplas, mas mais verossímeis e mais críveis. O deus único sempre tem mais poder do que todos os deuses antigos juntos: ele se apresenta como onipotente, onipresente, onisciente e, às vezes, benevolente. Não se pode enganar o deus único, se ele tudo vê, tudo sabe e tudo pode. As narrativas monoteístas tendem naturalmente à monotonia, isto é, a ficarem presas em um único tom: o tom da voz e da vontade do deus único. Isso as torna menos belas, mas ao mesmo tempo mais verossímeis, mais críveis e moralmente mais fortes. A crença em um único deus aumenta a responsabilidade pessoal daquele que crê, o que por sua vez aumenta o poder de conexão e “religação” da própria religião. Não à toa as religiões monoteístas se impuseram no mundo e ao mundo: cada deus único é muito mais poderoso do que os muitos deuses de antigamente, o que por sua vez empresta parte desse poder a cada indivíduo e à espécie toda. Não por outra razão a ciência continua perseguindo o ideal totalizante atingido há séculos pela religião, tentando formular “a teoria de tudo” que concilie o macro com o micro, ou seja, a cosmologia com a mecânica quântica. Não criaram um aparelho gigantesco e o plantaram na Suíça para procurar o bóson de Higgs, também conhecido como “a partícula de Deus”? A despeito de cientistas e religiosos, porém, o que conseguimos observar da natureza nos mostra um mundo que não se esgota numa explicação só ou numa narrativa apenas. O que conseguimos observar de nós mesmos, por exemplo, quer como indivíduo quer como espécie, mostra-se sempre irredutível a uma perspectiva única, seja ela psicanalítica, biológica, sociológica, filosófica ou teológica. Talvez essa circunstância explique os resquícios do politeísmo nas próprias religiões monoteístas, como o culto à Virgem e aos santos, ou o sincretismo pragmático entre o monoteísmo explícito do cristianismo e o politeísmo mais ou menos disfarçado do candomblé e de outras religiões afro-brasileiras. Além disso, o monoteísmo mostra-se cada vez mais longe do seu ideal lógico: se realmente há um único Deus, agora grafado com a devida inicial maiúscula, deveria haver uma única religião e uma única igreja que lhe rendesse homenagem, como aliás pretendia a igreja católica ao se denominar “católica”, do grego “katholikós”, ou seja, “universal” – literalmente, “uma única versão”. Pela mesma razão, o fundador da Igreja Universal do Reino de Deus se apropriou do adjetivo e o traduziu habilmente para a língua vulgar. Todavia, nenhuma igreja consegue chegar perto de ser realmente universal. Ao contrário, a multiplicação exponencial das igrejas afasta todas elas do ideal “católico” ou universal do monoteísmo. Calcula-se em cerca de 100 mil o número de denominações monoteístas no mundo. No Brasil, fundam-se cerca de cinco novas igrejas por dia. Depois que Friedrich Nietzsche, à esquerda, e Augusto Comte, à direita, “mataram” Deus no século XIX, ele não só não morreu como ainda se multiplicou por muitas dezenas de milhares, mostrando ao mesmo tempo duas necessidades contraditórias: do conforto do Deus único e de narrativas múltiplas e polifônicas. Entretanto, cada crente supostamente crê que seu Deus seja o único Deus verdadeiro, logo, que a sua igreja seja a Igreja verdadeira. No entanto, ao lado da sua igreja certamente se encontra mais de uma igreja diferente: uma catedral, uma mesquita, uma sinagoga, um templo, um centro espírita ou um terreiro de candomblé, por exemplo. Isso significa que ao lado do seu Deus único e verdadeiro há muitos outros deuses igualmente únicos e igualmente verdadeiros. Há muitos séculos, o monoteísmo derrotou o politeísmo. A narrativa dominante é sem dúvida a monoteísta. No entanto, a narrativa politeísta sobrevive com força insuspeita dentro do próprio domínio monoteísta. Os santos católicos são sub-deuses. Nossa Senhora é uma deusa que às vezes parece ter mais poder do que o Deus Encarnado, isto é, do que o filho de Deus que também é Deus, como lembra plástico popular no parabrisa de alguns carros: “peça à Mãe que o Filho atende”. A sofisticada imagem da Santíssima Trindade – Pai, Filho e Espírito Santo – guarda discreto fundo politeísta. Na verdade, encontramos esse fundo politeísta na própria Bíblia, que por definição não é “O Livro”, como dizem os crentes, mas sim uma biblioteca contendo dezenas de livros escritos em tempos diversos por autores diferentes. Suponho que a maioria dos meus leitores seja cristã. Essa é uma suposição bastante provável. Suponho ainda que a maioria dos meus leitores cristãos tenha lido a Bíblia. Essa é uma suposição já não tão provável, mas para bem do argumento assumo-a como tal. Talvez alguns desses leitores não tenham percebido que logo os dois primeiros capítulos do livro sagrado retratam não uma criação do mundo, mas duas. O ser humano surge de duas maneiras diferentes, uma logo depois da outra. O deus responsável pela criação não tem o mesmo nome nos dois relatos. Portanto, o livro sagrado da principal religião monoteísta já parece começar com dois deuses. Segundo hipótese sustentada por diversos historiadores, os textos bíblicos foram compilados de fontes diversas em períodos diferentes ao longo de pelo menos nove séculos. Essa hipótese vê dois textos-base principais para as narrativas da criação, indicados pelas letras S e J, em que S corresponde a “Sacerdotal” e J corresponde a “Javista”. Para Sacerdotal, Deus cria todos os corpos celestes e seres vivos em seis dias e faz o homem e a mulher ao mesmo tempo, ambos à sua própria imagem – logo, na narrativa original, Deus é homem e mulher ao mesmo tempo. Esse deus cria apenas através da palavra. Sacerdotal dá o nome hebraico de Elohim a esse deus. Curiosamente, o termo em hebraico é na origem uma forma do plural, sugerindo que a tradução correta de Elohim deveria ser algo como “os deuses”. O texto de Sacerdotal deve ter sido escrito pela casta sacerdotal israelita, a julgar pelo ritmo ritualizado e pela alteração radical das narrativas mitológicas anteriores. Nas narrativas antigas, tudo se cria a partir do conflito. Em Sacerdotal, tudo se cria pela palavra. Os astros celestes, divindades em todas as outras culturas do Oriente Médio antigo, tornamse meros objetos, frutos do “faça-se a luz”, “faça-se a lua” e “faça-se o sol” de Deus. Uma contradição curiosa dessa narrativa é que Deus cria o dia e a noite no quarto dia. Ora, se só há dia no quarto dia, o que são os três primeiros dias da criação? O Javista recomeça a criação no segundo capítulo e detalha apenas a criação dos seres humanos, que já não são mais feitos ao mesmo tempo. No segundo capítulo do Gênesis, Deus forma o homem do pó da terra, soprando em suas narinas a vida. A seguir, Deus planta o Jardim do Éden e manda o homem cuidar dele, dizendo que ele pode comer toda fruta do jardim à exceção daquela da árvore do conhecimento do bem e do mal porque, se o fizer, estará condenado a morrer. Interessante notar que a proibição original é comunicada ao homem antes que a mulher sequer exista. Também não se conta se Deus ou o homem informaram à mulher da primeira proibição. A lacuna no texto sugere que os dois homens, Deus e Adão, se associam para colocar a mulher Eva numa armadilha, punindo-a (e a todos os seus descendentes) por desobedecer a uma ordem que ela não sabia que havia sido proferida. Só depois de dar sua primeira ordem ao homem, Deus percebe que ele se encontra muito sozinho e isso não é bom. Então ele adormece o homem e tira uma de suas costelas, da qual faz a mulher. Isso significa, primeiro, que Deus não tem pai nem mãe; segundo, que o primeiro homem tem pai mas não tem mãe; terceiro, que a primeira mulher tem dois pais mas também não tem mãe. Na verdade, ela será a mãe de todos os homens e de todas as mulheres que hão de vir. O nome hebraico de Eva, Hawah ou Havvah, pode vir da raiz hayah, “viver”. Mas também pode se originar de hawwah, que significa “desastre”, “calamidade” e “ruína”, ou ainda do aramaico hewya, que significa “serpente”, reforçando a costumeira percepção negativa da mulher por parte das religiões abraâmicas. A primeira ironia radical do Javista encontramos nessa criação de Adão, porque Deus o moldou segundo a sua própria imagem. Ora, o segundo mandamento, apresentado depois a Moisés e aos homens, estabelece que não se deve fazer imagens de Deus, o que também equivale a ordenar algo como “não ouses querer saber como eu sou”. No entanto, se Deus moldou o homem a partir da sua própria imagem, disse implicitamente: “seja como eu sou”. Além disso, já sabemos como ele é desde o princípio: ele se parece conosco, já que nos parecemos com ele. Deus enuncia assim um duplo vínculo poderoso que constitui a própria crença, emitindo duas ordens que devem ser ambas cumpridas embora contradigam uma à outra: “seja como eu sou” e “não ouses querer saber como eu sou”. Essas duas ordens simultâneas e excludentes nos dizem que somos ao mesmo tempo tudo e nada, divinos e vermes, coisa e coisa nenhuma. A autocontradição afetiva que nos inaugura justifica a observação de Franz Kafka: “somos pensamentos niilistas que passaram pela cabeça de Deus”. Quando seu amigo Max Brod perguntoulhe se Deus fizera o nosso mundo mau e pecaminoso, Kafka retrucou que nem tanto: Deus estaria apenas num péssimo dia quando criou os dias e os homens. A ironia se completa quando o escritor tcheco afirma que há muita esperança no mundo e no cosmo – mas para Deus, não para nós. O Javista apresenta Deus como Yahweh Elohim, traduzido em português ora como “Senhor Deus” ora como “Javé Deus” – por isso se o conhece como o Javista. Os indícios nesse e em outros textos bíblicos sugerem que os dois nomes para Deus refletem a influência de antigos deuses pagãos sobre a concepção de Deus dos antigos israelitas. Enquanto o texto de Sacerdotal reflete a visão de uma casta sacerdotal, o texto do Javista reflete a visão de um camponês, porque o seu deus é mais paternal e, ao mesmo tempo, mais nervoso, mostrando-se profundamente irritado com a primeira desobediência de seus filhos, aquela de não comer o fruto da árvore do conhecimento. A irritação não se dá somente por causa da desobediência, que na prática enfraquece o seu poder, mas principalmente porque o homem se tornou “um de nós”, ou seja, um dos deuses – o que reforça a assunção de que “naquele tempo” havia mais de um deus. De todo modo, a Bíblia Sagrada não é apenas a Bíblia nem apenas um livro ou “O Livro”, mas sim uma coleção de 66 livros. Do mesmo jeito que Elohim é um termo plural, a Bíblia é um termo plural, já significando “conjunto de livros”, isto é, uma biblioteca. Alguns desses livros contam histórias, como o Gênesis, enquanto outros determinam antigos códigos de conduta. Esses códigos se encontram principalmente no Deuteronômio, no Levítico e no Êxodo. Necessários no seu tempo, ajudando a formar e preservar a identidade de um povo tão forte que sobreviveria a séculos de diáspora, são hoje obviamente arcaicos. Entretanto, como algumas igrejas cristãs defendem que a Bíblia continue ditando a conduta para os seus fiéis, são esses três livros os mais bombardeados com críticas pelos agnósticos, pelos ateus e pelos humoristas. A poligamia, por exemplo, é não apenas permitida como encorajada. Vários dos personagens mais importantes da Bíblia Hebraica, como também podemos chamar o Antigo Testamento, viviam com mais de uma esposa sob o mesmo teto, embora nenhum deles chegasse sequer perto do recorde do rei Salomão, que sustentou cerca de 700 esposas e 300 concubinas. Como ele dava conta de tantas mulheres, e se dava, o livro não conta – mas havia razões sociais e históricas para justificar a poligamia, como um número muito maior de mulheres do que de homens, os quais estavam sempre envolvidos em guerras, logo, morriam muito mais e muito mais cedo. Além disso, uma mulher solteira não teria alternativa para sobreviver que não fosse a prostituição. Também por causa dessas razões, a poligamia não era recíproca: uma mulher não podia ter vários homens, aliás, não podia sequer olhar para outro homem que não o seu marido. As regras bíblicas de conduta refletem o sistema patriarcal. De vários modos, o Deus único e onipresente também reflete o desejo de poder e controle de cada patriarca em relação à sua família, a suas mulheres, a seus filhos e a suas filhas. A origem patriarcal da religião monoteísta explica igualmente porque a Bíblia Hebraica conta tantas histórias de incesto, estupro e abuso sexual, mas sem qualquer punição, nem humana nem divina, aos que perpetram esses atos. Questionamentos históricos e racionais, entretanto, não costumam abalar a crença de quem crê. Quem for religioso e estiver me lendo até aqui talvez ache as informações interessantes, mas enquanto se ri por dentro da suposta intenção do autor de tornar o leitor um novo ateu. Mais adiante, corre o risco de se sentir ofendido, quando encontrar os argumentos dos ateus ferozes, como os de Richard Dawkins. Na verdade, não tenho a intenção de converter ninguém ao ateísmo, e se tivesse não teria o poder de fazê-lo. Também não pretendo agredir nem ofender aqueles que acreditam, mas todo o contrário. Diferentemente de Dawkins, não apenas respeito quem crê como muitas vezes o invejo. Quero sim entender a crença para entender melhor tanto a ficção em geral quanto a ficção específica de Deus. Se adiante exploro os argumentos mais agressivos contra a crença, o faço porque eles constituem o que chamo de “ficção de Deus” tanto no campo da literatura quanto no campo da história e do pensamento. Aviso de antemão a meu leitor religioso que não concordo ipsis litteris com esses argumentos, mas não posso me furtar a apresentá-los e discuti-los. A hipótese que começo a esboçar a respeito, ao reconhecer a religião como anterior à ficção, me leva a imaginar a ficção de Deus como anterior a toda a ficção, quase como se Deus criasse a ficção para que pudéssemos criar a ficção de Deus. Como Deus é aquele-de-quem-não-se-podefalar, o tempo todo fala-se dele através de metáforas, como concorda o teólogo Francisco Catão: “só nos é possível falar de Deus através de metáforas, o que explica o caráter mitológico de todo discurso sobre Deus”. Um bom exemplo dessa necessidade encontramos na metáfora específica para Deus da escritora Adélia Prado: “Deus é um aguilhão”. Logo, tanto para quem crê quanto para quem não crê, Deus é uma metáfora, isto é, uma ficção. É dessa ficção que falo. A linguagem da ficção dribla a assertividade da linguagem e nos mostra uma verdade toda – uma verdade que só pode ser toda porque não é verdade, mas sim ficção. A ficção suspende as certezas e as perspectivas existentes para nos oferecer uma perspectiva privilegiada sobre a realidade. Essa perspectiva só é privilegiada porque é imaginária. A ficção é cética por princípio. Como o cético, a ficção suspende o juízo, no caso através do jogo do “como se”, explicado com detalhes por Hans Vaihinger no início do século XX. A ficção sugere sempre: vamos agir como se o mundo fosse este que nós queremos para nós, e não aquele com que os nossos sentidos estão habituados. A ficção fabula ou pinta um mundo imaginário que, paradoxalmente, costuma parecer mais real do que o chamado mundo real, como lembram os versos de Álvaro de Campos, um dos heterônimos de Fernando Pessoa: Há tanta personagem de romance que conheço melhor por dentro de que esse eu-mesmo que há vinte anos passava aqui! O crente se assustou quando o outro poeta, Abel Silva, lhe disse que Deus é dúvida. Por isso, o crente também se assusta ao se deparar com a pergunta: Deus é ficção? Como a ficção é com frequência associada à mentira, quem crê tem medo de lhe estarem dizendo que Deus é uma mentira, logo, que a sua vida apoiada na crença em Deus é uma mentira. Posso tranquilizá-lo, porém: se vejo Deus como uma ficção e se não entendo ficção como mentira, então não vejo Deus como uma mentira. Se não concebo a ficção como mentira ou lhe dou qualquer conotação negativa, também não concebo Deus como mentira nem lhe empresto a priori qualquer conotação negativa. A ficção não se opõe à verdade, como a mentira, mas todo o contrário: a ficção intensifica, fortalece e valoriza a realidade. Para ser mais preciso: a ficção recupera a admiração perante a realidade. Essa admiração muitas vezes é chamada de “entusiasmo”, palavra que originalmente significa: sentir um Deus dentro de si. A admiração entusiasmada não permite nem que se entenda a ficção como contrária ou inferior à verdade e à realidade, nem que se conceba a ficção de Deus como contrária ou inferior ao Deus dos que creem. Em Ortodoxia, G. K. Chesterton não opõe razão e fé, ao contrário, as aproxima, a partir de lógica parecida: “a própria razão é uma questão de fé. É um ato de fé afirmar que nossos pensamentos têm alguma relação com a realidade”. Em consequência, ele entende que a sua crença cristã é também uma crença no mundo: “precisamos ver o mundo de tal modo que nele se combine uma ideia de deslumbramento com uma ideia de acolhimento. Precisamos nos sentir felizes nessa terra deslumbrante sem nunca nos sentir meramente confortáveis”. Por isso Deus, ou a ficção de Deus, tanto acolhe generosamente aqueles que creem quanto os perturba profundamente. Ainda por isso Chesterton defende a imaginação, condição da crença: “a imaginação não gera a insanidade. O que gera a insanidade é exatamente a razão. Os poetas não enlouquecem, mas os jogadores de xadrez sim”. E completa: “a poesia mantém a sanidade porque flutua facilmente num mar infinito; a razão procura atravessar o mar infinito, e assim torná-lo finito. O resultado é a exaustão mental”. Kierkegaard, citado por Unamuno em O sentimento trágico da vida, afirma que “a poesia é ilusão antes de ser conhecimento” enquanto que “a religiosidade é ilusão depois de ser conhecimento”. Louco, para ele, “é todo indivíduo que não vive poética ou religiosamente”. Chesterton concorda, considerando que a loucura advém antes da razão: “o louco não é um homem que perdeu a razão. O louco é um homem que perdeu tudo exceto a razão”. Sim, a conhecida frase é de Chesterton. Para ele, o mistério é condição da saúde. Destruir o mistério institui o império da morbidez. A defesa que o escritor inglês faz do mistério o leva a defender o homem comum: O homem comum sempre foi sadio porque o homem comum sempre foi um místico. Ele aceitou a penumbra. Ele sempre teve um pé na terra e outro num país encantado. Ele sempre se manteve livre para duvidar de seus deuses mas, ao contrário do agnóstico de hoje, livre também para acreditar neles. Ele sempre cuidou mais da verdade do que da coerência. Se via duas verdades que pareciam contradizer-se, ele tomava as duas juntamente com a contradição. Sua visão espiritual é estereoscópica, como a visão física: ele vê duas imagens simultâneas diferentes e, contudo, enxerga muito melhor por isso mesmo. Leonardo Boff, no artigo “Deus, esse desconhecido conhecido”, também defende o mistério, igualando-o ao próprio Deus: “no princípio era o Mistério. O Mistério era Deus. Deus é o Mistério. Deus é Mistério para nós e para Si mesmo”. Para o teólogo, “o Mistério de Deus não é o limite do conhecimento mas o ilimitado do conhecimento”, porque “não cabe em nenhum esquema nem vem aprisionado nas malhas de alguma religião, Igreja ou doutrina”. Ele está sempre por ser conhecido. De seu lado, a defesa que Chesterton faz do mistério e da crença serve à perfeição como uma defesa da imaginação, da arte e da ficção. Ele concretiza essa defesa no símbolo mesmo do cristianismo, entendendo que o símbolo representa tanto o mistério quanto a saúde: “a cruz, embora tendo no seu centro uma colisão e uma contradição, pode estender seus quatro braços eternamente sem alterar sua forma. Por ter um paradoxo no seu centro ela pode crescer sem mudar. O círculo retorna sobre si mesmo e está encarcerado. A cruz abre seus braços aos quatro ventos; é o poste de sinalização dos viajantes livres”. A loucura deriva da pretensão absurda de conhecer a verdade toda para enfim dominar toda a realidade. A imaginação nos protege dessa loucura porque ela de saída admite que não conhece e não pode conhecer a verdade, que não domina e não pode dominar a realidade. Por isso, elabora ficções substitutivas e alternativas. Por isso, inventa, narra, conta histórias. Ora, se admito a necessidade vital dessas ficções substitutivas e alternativas, preciso admitir a necessidade vital das crenças e, em consequência, da crença em Deus. Por que recisamos nos fazer tantas perguntas? Adélia Prado entende que essas perguntas nascem da nossa orfandade original. É preciso perguntar, sim, e ao mesmo tempo é preciso se conformar com a impossibilidade da resposta. Quando quem pergunta se depara com essa impossibilidade, então repousa: “esse repouso só pode ser feito no Mistério que envolve a pergunta. Esse repouso ocorre quando eu me prostro, quando eu me curvo, quando eu me submeto, quando eu adoro. É aqui, a meu ver, que se encontram mística e poesia”. O Deus em que Chesterton acredita também é um Deus poético, porque sugestivo e dubitativo, pleno de “talvez” e “pode ser”, como lemos: É possível que Deus todas as manhãs diga ao sol: “vamos de novo”; e todas as noites à lua: “vamos de novo”. Talvez não seja uma necessidade automática que torna todas as margaridas iguais; pode ser que Deus crie todas as margaridas separadamente, mas nunca se canse de criá-las. Pode ser que ele tenha um eterno apetite de criança; pois nós pecamos e ficamos velhos, e nosso Pai é mais jovem do que nós. A repetição na natureza pode não ser mera recorrência; pode ser um bis teatral. O céu talvez peça bis ao passarinho que botou um ovo. A última frase, “o céu talvez peça bis ao passarinho que botou um ovo”, é poesia pura. Tento falar poeticamente de crenças, crentes, não crentes e ateus. É hora de definir os meus termos, que diferem um pouco do uso corrente. “Crente”, no Brasil, é aquele que pratica uma religião evangélica. Mas entendo por “crente” todo aquele que crê em um deus ou em deuses. “Ateu”, no mundo antigo, era todo aquele que acreditava em deuses diferentes dos meus. Mas hoje entendemos por “ateu” todo aquele que crê que nenhum Deus existe. “Cético” é muitas vezes concebido como aquele que não acredita em nada, muito menos em Deus, mas essa concepção está errada. O cético é todo aquele que se esforça por duvidar de tudo o máximo de tempo possível. Oponho-me, porém, à designação “não crente”, preferida por muitos ateus. Eles entendem que o termo “ateu” (a-theos) se limita à não crença em Deus, mas argumentam que não creem em Deus assim como não acreditam na existência de seres imaginários em geral: duendes, fadas, gnomos, ogros, mulas sem cabeça, sacis, o monstro do Lago Ness, anjos, diabos, Papai Noel ou Papai do Céu. Entendo, entretanto, que a não crença em Deus é ainda uma crença: a de que Deus não existe. A descrença não deixa de ser uma crença, como queria Alphonse Karr, que a considerava uma religião especialmente exigente. Como não posso provar nem que Deus exista nem que não exista, escolho crer numa hipótese – numa ficção – ou na outra. O ateísmo, portanto, implica “a crença na ausência”, na expressão feliz de André Comte-Sponville. Os que se denominam não crentes me refutam dizendo que o ônus da prova cabe a quem afirma a existência de Deus – ou de duendes ou de fadas ou de gnomos ou de ogros ou de anjos ou de diabos. Tento refutar essa refutação ao longo de todo o ensaio porque equivalho crença a ficção, positivando ambos os termos. De minha parte, gostaria de me apresentar como cético, mas devo me declarar ateu: eu não creio que Deus exista como uma entidade independente da imaginação e da cultura humana. Também creio que não escolho crer ou não crer, no que acompanho o pensamento do médico ateu Drauzio Varella, no artigo “Intolerância religiosa”: “o ateu não acredita simplesmente porque não consegue. O mesmo mecanismo intelectual que leva alguém a crer leva outro a desacreditar”. Naturalmente, reconheço que Deus exista de maneira pessoal para a maioria das pessoas, tanto que imaginam que o possam tocar ao menos “no artigo da morte”. Logo, preciso admitir que Deus existe ao menos como uma ficção muito forte. Reitero: a ficção, para mim, não é algo negativo mas todo o contrário: trata-se de algo extremamente positivo – digamos, condição da minha existência. Na verdade, vejo Deus como o espanhol via as bruxas, antigamente: não creio nele, mas que ele existe, ah, ele existe... Quando me lembro de frase atribuída a Jorge Luis Borges: “a teologia é uma ciência curiosa: nela tudo é verdadeiro, porque tudo é inventado”. Um ateu racionalista talvez lesse essa frase como irônica, mas a tomo pelo seu valor literal, se de fato um escritor de ficção a formulou. Na teologia tudo é verdadeiro, sim, sem ironia, e precisamente porque tudo é inventado. Volto à tensão entre o monoteísmo e o politeísmo, tomando partido do segundo. Sou bastante simpático à possibilidade da existência de seres superiores, logo, de seres a que podemos chamar de deuses, no plural: o universo não fica muito bem na fita se nós formos os seres “mais” superiores do universo. Como tudo no mundo é múltiplo e relativo a outra coisa que então o define, não vejo sentido na possibilidade da existência de um único ser superior a todos os demais, assim como não vejo sentido na possibilidade de um criador único do universo. Um filósofo religioso como Juvenal Savian me diria, entretanto, que o politeísmo contraria uma exigência básica da razão, qual seja, a de que não pode haver dois seres absolutos, pois um relativizaria o outro: “se houver um deus, ele terá de ser único”. Ainda assim, o monoteísmo implica um impasse que só se resolveria se houvesse apenas uma religião e uma igreja. A existência de mais de um Deus único obriga os crentes de cada um deles a, na melhor das hipóteses, discriminarem os crentes do outro, e na pior, a tentarem sua destruição. É o que ressalta o jornalista Hélio Schwartsman, manifestando “Saudades do politeísmo” no artigo com este título: Se há um problema mais propriamente teológico, ele é comum às três religiões abraâmicas e reside no fato de elas se pretenderem universais e fundadas numa verdade revelada pelo próprio Deus. Assim, se os cristãos estão certos, judeus e muçulmanos estão necessariamente em apuros e vice-versa duas vezes. Sob esse aspecto, éramos mais felizes nos tempos do politeísmo, cujos deuses não eram tão exclusivistas nem ciumentos. Gregos, romanos e acádios podiam passar boas horas bebendo e apontando as semelhanças entre Afrodite, Vênus e Ishtar. É verdade que isso não os impedia de se matar logo depois, mas pelo menos não era por causa da religião. No artigo “Esquecendo Deus”, o mesmo Schwartsman lembra que o politeísmo favorece o livre intercâmbio de deuses: “um babilônio e um grego tinham inúmeras diferenças, mas, se havia algo que podia uni-los, era justamente identificar as semelhanças entre Ishtar e Afrodite, que se tornavam apenas diferentes nomes da mesma deusa”. Com o monoteísmo, vem o exclusivismo e a intolerância religiosa, “que até hoje segue contabilizando vítimas”. O personagem Riobaldo, em Grande sertão: veredas, também resolve seu problema politeisticamente: “eu cá não perco ocasião de religião. Aproveito de todas”. O filósofo português Eudoro de Souza faz o mesmo, em Mitologia, afirmando: “um deus é um aspecto do mundo”. A breve fórmula exige que cada aspecto do mundo seja representado ou dominado por um deus específico. Eudoro desdobra sua tese concluindo que, “se um deus é um mundo”, então “outro deus é outro mundo”, logo, “cada deus munda”, isto é, cada deus faz seu mundo do que ainda não o era. Por isso, a mitologia sempre está por se fazer e os deuses, no plural, continuam necessários. Não é correto dizer que uma vez o mito precedeu o logos; na verdade, o mito continua precedendo o logos em cada momento, em cada discurso, em cada pergunta que nos fazemos. Por essa razão, eu subscreveria, se as musas me fossem favoráveis, os versos de Ricardo Reis: Cura tu, idólatra exclusivo de Cristo, que a vida É múltipla e todos os dias são diferentes dos outros, e só sendo múltiplos como eles ‘staremos com a verdade e sós. A verdade não é toda. A verdade de Deus ou dos deuses, também não o é. Não temos como conhecer a verdade toda a respeito de nada, porque nunca podemos ver e apreender por todas as perspectivas possíveis em todos os tempos que aconteceram e acontecem. Segundo o heterônimo de Fernando Pessoa, ele mesmo um poeta múltiplo, isto é, um poeta que é vários, nós nos aproximamos da verdade apenas quando não a aceitamos única, portanto, quando a admitimos múltipla. A necessidade de discutir essa questão “que não se discute” vem crescendo desde que estudei o ceticismo filosófico. O estudo do ceticismo me levou à conclusão de que a própria ficção é eminentemente cética. De que toda ficção, mesmo quando escrita por um dogmático, um ortodoxo ou um reacionário, suspende o juízo do leitor sobre o seu mundo. A ficção é um discurso sobre a realidade que levanta questões sérias sobre a própria realidade. Quando força o leitor a acompanhar a história pela perspectiva do narrador ou do protagonista, a ficção põe sob suspeita a visão de mundo do próprio leitor, levantando sempre as dúvidas: até que ponto o meu mundo é o mundo verdadeiro?; até que ponto a minha verdade é realmente verdadeira? O estudo da ficção cética me levou a Machado de Assis, em O problema do realismo de Machado de Assis. O nosso maior escritor é antes de tudo um cético – tanto, que os manuais didáticos o consideram de fato um excelente escritor, mas apesar do seu ceticismo. Ora, isso é absurdo. Machado de Assis é tão bom justamente porque é tão cético, ou seja, porque deixa sob suspeita toda perspectiva derivada do senso comum. Não contentes, os manuais didáticos ainda perpetram outro atentado de lesa-literatura: consideram Machado de Assis excelente não porque seja cético mas sim por ser o fundador do realismo no Brasil. Ora, Machado de Assis é precisamente o maior adversário do realismo de todos os tempos. Foi ele quem disse, para não deixar dúvida a respeito: “a realidade é boa, o realismo é que não presta para nada". No campo que nos importa agora, o religioso, Machado sempre se mostrava anticlerical, fustigando a igreja nos seus romances e nas suas crônicas, mas parecia discreto quanto à crença ou não crença em Deus. No entanto, duas frases, formando suas últimas palavras, me permitem suspeitar que ele fosse ateu. Quando Machado de Assis se encontrava à beira da morte com câncer na garganta e entre dores atrozes, uma amiga sugeriu chamar o padre para ministrar a extremaunção. Machado respondeu, mostrando coerência rara: “melhor não; seria hipocrisia”. Poucas horas depois, antes de expirar, declarou, estranhamente feliz: “a vida é boa”. Dessa maneira, se recusou a cair na aposta-armadilha de Pascal, de que trataremos mais adiante, e ainda deixou claro quão errados estão aqueles que insistem em lê-lo como pessimista, bem como aqueles que só sabem enxergar niilismo no ateísmo. Toda ficção nos joga no campo da perspectiva do narrador ou do personagem – mas narradores e personagens não existem do mesmo modo que os leitores, logo, sua perspectiva é virtualmente transcendente, ou prosaicamente inexistente. Ainda assim, a ficção promove esse deslocamento – para lugar nenhum? – porque desconfia que a nossa perspectiva individual permaneça muitíssimo distante de abarcar e abraçar a verdade toda. A verdade não é toda. “A verdade é não-toda”, diria o filósofo, destacando que reconhecemos verdades tão somente parciais. Por isso, a ficção se mostra antropológica e existencialmente necessária: só ela nos permite conceber a totalidade que nos envolve e assim imaginar toda a verdade. Pelas mesmas razões, entendo que a religião também se mostra antropológica e existencialmente necessária: só ela nos permite emprestar sentido e significado ao que não parece ter qualquer sentido ou significado no mundo que supomos real. Se Deus é a Verdade, assim maiúscula, então ele também é não-todo e por isso não podemos vê-lo, ouvi-lo, tocálo, senti-lo, sequer nomeá-lo, como reza o mandamento. Ora, se não podemos nomeá-lo, então Deus é o não-nome de Deus. O leitor talvez suspeite que eu agora valorize retoricamente a religião para na verdade desvalorizá-la pouco mais adiante, já que a apresento como uma espécie de ficção de segundo nível. Como a ficção é por sua vez uma espécie de mentira, ainda que consentida, a religião seria uma espécie de mentira pior ainda, porque sequer se apresenta como ficção. A suspeita é legítima, mas a contesto. Primeiro, porque entendo que a ficção, antes de ser uma espécie de mentira, manifesta uma verdade superior. Quando em roda de amigos alguém diz “vou contar uma mentira”, todos se preparam com prazer não mais para ouvir uma mentira mas sim para escutar uma história. Se aviso que vou contar uma mentira, o que digo a seguir não é mais uma mentira mas sim uma narrativa. Não há quem não goste de ouvir ou ler uma boa história porque nossa mente e nossa alma se alimentam justamente de histórias, da mesma maneira que o corpo se alimenta de comida e água. Segundo, porque entendo que a ficção sempre começa como religião, assim como toda arte. Logo, a religião não é uma ficção de segundo nível mas exatamente o contrário: a ficção é que se mostra uma religião de segundo nível, ainda que conteste a religião tal como a filha confronta a mãe para poder crescer. A teologia, como lembra Terry Eagleton, “é uma das arenas teóricas mais ambiciosas que restaram em um mundo cada vez mais especializado”. Desse modo, pensar as relações entre a ficção e a religião é uma necessidade intelectual. A ficção de Deus, ainda quando de autoria de um ateu, sempre acaba por problematizar o “Totalmente Outro” e o “Absolutamente o Mesmo” que todas as culturas conhecem como Deus. Os desígnios de Deus são insondáveis porque Deus não pode ser compreendido, não pode ser sequer visto. Nesse sentido, ele é o Totalmente Outro. No entanto, Deus nos fez à sua imagem e semelhança, logo, somos nada mais nada menos do que o seu espelho. Nesse sentido, Deus também é Absolutamente o Mesmo. A ficção de Deus é a forma poética condensada que responde às quatro perguntas fundamentais: de onde viemos, para onde vamos, quem somos e o que raios estamos fazendo aqui. A ficção de Deus nos dá respostas como: viemos da mão de Deus, voltaremos para o colo de Deus, somos uma nobre criação de Deus e, enfim, nós estamos aqui para louvar a Deus e procurarmos ser tão perfeitos quanto ele. Entretanto, também se pode dizer que a ficção de Deus seja aquilo que garante que não possamos responder por nossa conta e do nosso modo a nenhuma das quatro perguntas fundamentais. Até porque, por baixo dessas quatro perguntas cruciais, há o Turbilhão de Aristófanes a nos propor outra questão, ainda mais fundamental: por que existe ser em vez de nada? A pergunta pressupõe, felizmente, que existe ser em vez de nada, mas se protege a si mesma e não nos deixa respondê-la. Deus nos criou e por isso somos o que e quem somos, mas quem ou o que criou Deus? Talvez Deus seja o outro nome da Dúvida. Talvez Ser seja o outro nome do Mistério. Ou, como provoca André Comte-Sponville: A existência do ser é portanto intrinsecamente misteriosa, é isso que se tem de compreender, e que esse mistério é irredutível. Porque ele é impenetrável? Ao contrário: porque estamos dentro dele. Porque é demasiado obscuro? Ao contrário: porque ele é a própria luz.
Download