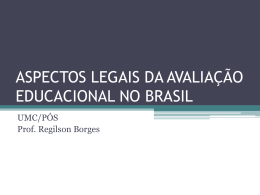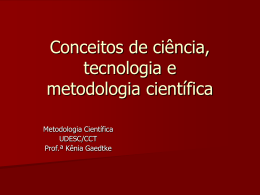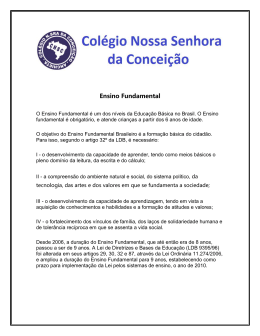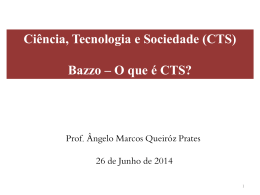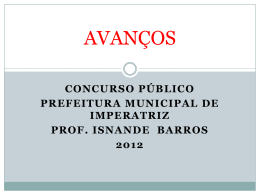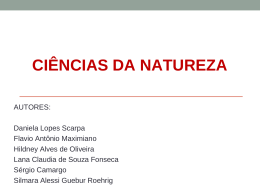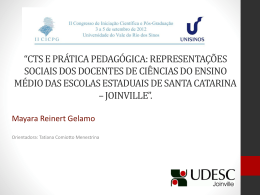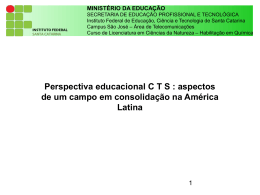A relação ciência, tecnologia e sociedade: o ensino superior tecnológico e sua concepção - Santa Catarina Olívio José Volpi - FURB1 [email protected] RESUMO O objetivo deste artigo é examinar o Ensino Superior Tecnológico em Santa Catarina. A expansão do ensino superior impulsionou a abertura de novos cursos de tecnologia trazendo maior competitividade entre as instituições de ensino superior. Os Cursos Superiores de Tecnologia (CST) são um tipo específico de ensino superior que vem sendo difundido amplamente no Brasil a partir da segunda metade da década de 1990, tanto na esfera pública quanto na privada, através da promulgação da nova LDB de 1996, (Lei 9394, de 20 de dezembro) e uma série de decretos federais e portarias do Ministério da Educação, em conjunto com pareceres e resoluções do Conselho Nacional de Educação (CNE), o sistema educacional brasileiro começa a ser reformulado. Este trabalho se debruça sobre a relação entre Ciência Tecnologia e Sociedade (CTS) e o Ensino Superior Tecnológico com o desenvolvimento educacional. Ele passa em revista as concepções da educação superior tecnológica no contexto da luta pela democratização do saber, especificamente, do saber científico-tecnológico, que vem direcionando a vida social, mas que se concentra nas mãos de poucos e gera benefícios para minoria. O método utilizado foi exploratório com base em pesquisa bibliográfica. A pesquisa evidenciou o crescimento das IES que oferecem cursos superiores de tecnologia. Através do estudo dessas alternativas, procura-se examinar a contribuição da educação tecnológica, para o desenvolvimento tecnológico e desenvolvimento social de Santa Catarina. Palavras-chave: Ciência Tecnologia e Sociedade; Ensino Superior Tecnológico; IES; Desenvolvimento; Santa Catarina. 1. Introdução Nos últimos anos o ensino superior experimentou um crescimento significativo, com a abertura de novas instituições gerando maior possibilidade para estudantes ingressarem no curso superior. Para que os cursos possam ser oferecidos pelas instituições de ensino é necessário que sejam aprovados/reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC). E para que ofereçam ensino de qualidade são avaliados, periodicamente, de acordo com a determinação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Superior. 1 Economista – Mestrando do Programa de Pós Graduação em Desenvolvimento Regional da Universidade Regional de Blumenau - FURB. End. eletrônico: [email protected] 2 Segundo o Censo da Educação Superior de 2007, realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), há 2.281 instituições de ensino superior em todo território nacional, oferecendo 23.488 cursos para 4.880.381 estudantes. (BRASIL, 2009) Os cursos de graduação tecnológica são oferecidos em todo o Brasil, totalizando de acordo com o INEP, 3.702 cursos. Somente na região Sul, são ofertados 717 cursos de graduação tecnológica. No estado de Santa Catarina, são ofertados 246 cursos de graduação tecnológica, sendo que em Santa Catarina temos 92 IES. Cada uma destas pode oferecer curso de graduação tecnológica, com duração de quatro a seis semestres. O objetivo básico deste trabalho é analisar o Ensino Superior Tecnológico em Santa Catarina. Para lograr este intento, o artigo está dividido, nas seguintes seções: após esta (1) introdução, seguem-se (2) ciência, tecnologia e sociedade: contribuições para uma abordagem conceitual, (3) os cursos superiores de tecnologia e sua concepção, (4) a educação superior tecnológica em Santa Catarina e sua evolução, (5) considerações finais. 2. Ciência, Tecnologia e Sociedade: Contribuições para uma abordagem conceitual 2.1 Ciência Ciência, a crença generalizada que o conhecimento fornecido distingue-se por um grau de certeza alto, desfrutando assim de uma posição privilegiada com relação aos demais tipos de conhecimento, onde teorias, métodos, técnicas, produtos, contam com aprovação geral quando considerados científicos. Durante a primeira metade do século XX, alguns filósofos buscaram aperfeiçoar aquilo que denominamos de concepção comum de ciência, em um sofisticado programa filosófico, conhecido como positivismo lógico, a partir dos pensadores do positivismo: “Os esforços pela reorganização das relações econômicas e sociais, pela unificação da humanidade, pela renovação da escola e da educação, mostram uma conexão interna com a concepção científica do mundo” (HAHN, NEURATH e CARNAP, p.5-20, 1986). Portanto, a concepção científica do mundo irá refletir conseqüentemente nas relações sistêmicas, em todas a s suas disciplinas e formas de relacionamento do homem. 2 3 O pensamento racionalista de Popper, não elimina a proposta positivista no processo evolutivo do homem, porém faz-se necessário, pelo racionalismo, uma reflexão crítica do positivismo. Criticando a demarcação da ciência e não ciência e que o mesmo deve ser balizado pelo princípio da refutação. Portanto o racionalismo traz uma proposta dando uma relevância comprobatória de fatos para a construção da argumentação conclusiva holística. Esta escola filosófica de estudo da ciência fica exemplificada pela afirmativa de Karl Popper: “O critério de refutabilidade é a solução para o problema da demarcação, pois afirma que, para serem classificadas como científicas, as asserativas devem ser capazes de entrar em conflito com observações possíveis ou concebíveis”. Hoje sei, é claro, que esse critério de demarcação – o critério de testabilidade ou refutabilidade – está longe de ser óbvio; ainda hoje seu significado é raramente compreendido (POPPER, 1994.p. 68-69)”. Latour nos proporciona uma audaciosa posição de análise da ciência, demonstrando o quanto o contexto social e o conteúdo técnico são essenciais para o próprio entendimento da atividade científica, por enfatizar sua investigação no momento em que acontece, por meio de sua rede de atores. Através das abordagens do francês Bruno Latour, a partir da micro análise da ciência: estudar a ciência como ela acontece (atual), propondo-se que o pesquisador vá ao laboratório (multidisciplinar) e veja como é feita, dando um caráter para a praticidade na confirmação dos fatos, afirmativa esta assim explicitada pelo autor, exemplificando o papel de algumas disciplinas: “Por mais interessantes e necessários que estes estudos sejam, não são suficientes se quisermos acompanhar o trabalho de cientistas e engenheiros; afinal, eles não rascunham, não escrevem nem lêem artigos científicos 24 horas por dia. Cientistas e engenheiros sempre alegam que por trás dos textos técnicos há algo muito mais importante do que qualquer coisa que eles escrevam” (LATOUR, 2000, p.104). Pode-se perceber, então, que as diferentes linhas filosóficas acerca do método científico permitiram amplo espaço para um debate maduro e altamente construtivo da própria ciência e que mudanças de paradigmas sempre ocorreram e continuarão a ocorrer. 2.2 Tecnologia Na palavra “tecnologia”, “tecno” provém do vocábulo latino “techné” quer dizer arte ou habilidade, ou seja, é o saber fazer; “logia” provém de “logos” que significa razão. Logo, etimologicamente, “tecnologia” significa “a razão do saber fazer”. 3 4 O termo tecnologia se tornou conhecido com Johann Beckmann, professor de ciências econômicas em Gottingen. Iniciador das disciplinas de Comércio e Tecnologia, ficou conhecido como “pai da tecnologia’ ao publicar em 1777 a sua “Introdução sobre Tecnologia”. Bastos (1998a, p. 32) afirma que “a tecnologia pode ser entendida como a capacidade de perceber, compreender, criar, adaptar, organizar e produzir insumos, produtos e serviços”. Ela ultrapassa o caráter puramente técnico, abrangendo a engenharia de produção, qualidade, marketing, gerência e vendas. Desde sua origem, a tecnologia busca o saber fazer, confundindo-se com a transformação, resolvendo problemas práticos e construindo artefatos apoiados em conhecimentos científicos. Logo, a essência da tecnologia requer o uso do saber científico para resolução de problemas oriundos da aplicação das técnicas 2.3 Ciência e tecnologia O termo tecnologia carrega consigo a marca da “supremacia tecnológica, como forma de dominação” “A expressão ‘ciência e tecnologia’, na linguagem corrente, designa uma unidade e, entre o público em geral, a ciência tende a ser valorizada por suas contribuições à tecnologia. Em contraste, a tradição da ciência moderna considera a tecnologia como um mero subproduto e valoriza a ciência primordialmente pelo entendimento do mundo que ela proporciona. “Essa tradição interpreta a ciência como algo que existe em função da apreensão da estrutura causal do mundo e da sintetização de suas possibilidades, não por causa de seus subprodutos tecnológicos (embora sempre se possa contar com eles)” (Lacey, 1998, p. 113). No senso comum, a ciência é freqüentemente considerada como a parte pura, limpa das impurezas sociais, políticas e econômicas, enquanto que a tecnologia é compreendida como estratégica política e econômica, e essa compreensão não é apenas do senso comum. Dagnino (2004) refere-se à ciência e a tecnologia – C & T, como proposição normativa, prospectiva, para alavancar um processo de transformação sócio-econômica uma ruptura em relação à trajetória passada. Do ponto de vista de Dagnino (2002), a dinâmica de exploração do conhecimento gerado nos países desenvolvidos pode ser alterada significativamente, na medida em que a utilização desse conhecimento, formulado para outros fins, satisfaça interesses específicos relacionados aos problemas locais. Segundo o autor, a ciência e tecnologia são construções sociais, historicamente determinadas, cabendo à comunidade de 4 5 pesquisa a responsabilidade de decodificação das carências - econômica, social, militar, tendo "poderoso e abrangente mecanismo de indução da dinâmica tecnológica e científica" (DAGNINO, 2002). 2.4 Ciências tecnologia e sociedade Bazzo (2003, p. 119) busca definir a expressão “ciência, tecnologia e sociedade (CTS) como aquela que, [...] procura definir um campo de trabalho acadêmico cujo objeto de estudo está constituído pelos aspectos sociais da ciência e da tecnologia, tanto que nos concerne aos fatores sociais que influem na mudança científicotecnológica, como no que diz respeito às conseqüências sociais e ambientais (p. 119). Buscando uma diferenciação de “CTS” e “estudos CTS”, para uma melhor compreensão, tem-se o primeiro como aquele relacionado à ciência-tecnologiasociedade; e o segundo compreendendo “[...] novas aproximações ou interpretações do estudo da ciência e da tecnologia.” (p. 119). A relação entre ciência e tecnologia com a sociedade pode ser resumida por meio de uma equação, denominada “modelo linear de desenvolvimento”: + ciência = + tecnologia = + riqueza = + bem-estar social. No contexto da educação em CTS, Bazzo et al. (2003, p. 144) destaca que: A democracia pressupõe que os cidadãos, e não só seus representantes políticos, tenham a capacidade de entender alternativas e, com tal base, expressar opiniões e, em cada caso, tomar decisões bem fundamentadas. Nesse sentido, o objetivo de educação em CTS no âmbito educativo e de formação pública é a alfabetização para propiciar a formação de amplos segmentos sociais de acordo com a nova imagem da ciência e da tecnologia (C & T) que emerge ao ter em conta seu contexto social. Na visão de Vaccarezza (2004) a origem do movimento de CTS na América Latina se encontra na reflexão da ciência e da tecnologia como uma competência das políticas públicas. [...] esta se configurou como um pensamento latino-americano em política científica e tecnológica. Os estudos CTS são recentes, heterogêneos, mesmo que consolidados são críticos sobre a imagem essencialista e de caráter interdisciplinar. Buscam compreender a dimensão social da ciência e da tecnologia, tanto no que diz respeito a fatores de natureza social, política ou econômica quanto às questões éticas, ambientais ou culturais provocadas pela mudança científico-tecnológica 3. Os cursos superiores de tecnologia e sua concepção 5 6 A educação superior tecnológica se manifesta como seqüência de uma luta pela democratização do saber, aqui, em específico, do saber científico-tecnológico que vem ofertando a vida social, mas que se concentra nas mãos de poucos. Para Bastos (2000), a educação tecnológica envolve busca de formação de sujeitos competentes e inventores de novos processos que reflitam atitudes inovadoras e criativas. Os cursos superiores de tecnologia atualmente oferecidos nas IES espalhadas pelo território nacional são regulamentados pela Lei N.º 9.394 de 20 de dezembro de 1996, (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) e, posteriormente, pelo Decreto N.º 5.154 de 23 de julho de 2004. Os cursos tecnológicos focam-se em um determinado campo de atuação e totalmente voltados para a educação profissional o que faz com que sejam mais profundos se comparados com os cursos tradicionais de graduação, mais generalistas. Os graduados nos Cursos Superiores de Tecnologia denominam-se tecnólogos e são profissionais de nível superior, especializados em segmentos de uma ou mais áreas profissionais com predominância de uma delas. Takahashi e Amorim (2007; p.4) esclarecem sobre a necessidade de reformulação e expansão dos Cursos Tecnológicos no Brasil. “A discussão sobre a retomada da Educação Profissional no Brasil, enquanto promotora da inserção no mercado de trabalho e da inclusão social, tangencia outros importantes tópicos como o desenvolvimento da Economia Baseada no Conhecimento – EBC e a difusão de um Sistema Nacional de Inovação. Dentro deste panorama, um pilar essencial é composto pelo setor educacional e, dentro dele, pelas universidades e a sua capacidade de criação e transferência de conhecimento para a sociedade como um todo. A tarefa posta para um dos segmentos do nível universitário - a Educação Tecnológica Superior - é o preenchimento ágil e de qualidade de lacunas de mão-de-obra surgidas no mercado de trabalho por conta da chegada e disseminação de novas tecnologias. Com tais considerações, este artigo se propõe a discutir o papel organizador do Estado e as políticas públicas implementadas nos últimos anos para a reformulação e expansão do sistema profissional de educação, em específico nos Cursos Superiores de Tecnologia. “Por fim, busca-se oferecer referências para a organização de uma agenda de pesquisas com vistas à melhoria nas políticas públicas voltadas para esta área, bem como de suas formas de avaliação de impacto”. A questão dos currículos de graduação começou a ganhar mais importância na reforma da educação superior a partir de 1995. Os principais elementos que integram essa reforma em síntese foram os seguintes: a) a Lei no 9.131/95, ao criar o Conselho Nacional de Educação (CNE), definiu como uma das competências desse órgão deliberar sobre as Diretrizes Curriculares propostas pelo MEC, para os cursos de graduação (letra "c" do parágrafo 2º do art. 9º); 6 7 b) a nova LDB, no inciso II do artigo 53, cria a necessidade de Diretrizes Curriculares para os cursos de graduação e permite a eliminação dos chamados currículos mínimos, tornando os currículos de graduação mais flexíveis; c) as discussões internacionais e nacionais sobre diplomas e perfis profissionais, face às mudanças na sociedade contemporânea e, particularmente, no mundo do trabalho se tornaram mais intensas; d) o processo desencadeado pela Secretaria de Educação Superior (SESu) do MEC, em 1997, buscar implementar as Diretrizes Curriculares para os cursos de graduação; e) foram definidos Padrões de Qualidade para os Cursos de Graduação, pela SESu; f) foram estabelecidos critérios sobre a constituição de comissões e procedimentos de avaliação e verificação de cursos superiores; g) o Fórum de Pró-Reitores de Graduação, especialmente no Plano Nacional de Graduação, posicionaram-se em prol de Diretrizes Curriculares gerais e fortalecimento dos projetos pedagógicos institucionais e dos cursos de graduação. A reforma curricular dos cursos de graduação foi iniciada, concretamente, pela SESu/MEC, através do Edital no 4, de 4 de dezembro de 1997, no qual solicitou-se que as IES enviassem propostas para a elaboração das Diretrizes Curriculares dos cursos de graduação. Embora os percursos teórico-metodológicos guardem especificidades, pode-se dizer, grosso modo, que o fio condutor destas análises de estudiosos da área continua sendo o das relações capital-trabalho, evidentemente que numa fase singular da história do capitalismo (Frigotto, 1998). A educação profissional e tecnológica ocupa posição de maior destaque nas definições dos programas prioritários nos governos brasileiros mais recentes. Na primeira Conferência Nacional de Educação Profissional e Tecnológica realizada em Brasília, no período de 5 a 8 de novembro de 2006 foram discutidos e definidos temas e propostas referentes à educação profissional e tecnológica. Cinco eixos temáticos de discussão sobre os cursos tecnológicos são firmados: O papel da Educação Profissional e Tecnológica no desenvolvimento nacional e nas políticas de inclusão social; O financiamento da Educação Profissional e Tecnológica; A organização institucional e papel das instâncias de governo e da sociedade civil; As estratégias operacionais de desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica; A relação da Educação Profissional e Tecnológica e a universalização da Educação Básica (PRIMEIRA; p.5) 7 8 A organização do ensino reflete na formação dos alunos e, conseqüentemente, na maneira como estes irão atuar na sociedade. É preciso ter claro que a política oficial, ao se apropriar e redirecionar essa temática, em uma perspectiva pragmática e utilitarista de ajuste ao mercado, reduz a função social da educação superior ao ideário da preparação para o trabalho, a partir da redefinição de perfis profissionais baseados em habilidades e competências hipoteticamente requeridas pelo mercado de trabalho em mutação. 4. A educação superior tecnológica em Santa Catarina e sua evolução O sistema educacional começa a ser reformulado2 a partir da promulgação da nova LDB em 1996 (Lei 9394, de 20 de dezembro)3, através de uma série de decretos federais e portarias do Ministério da Educação, em conjunto com pareceres e resoluções do Conselho Nacional de Educação (CNE). Neste contexto, o Decreto 2208, de 17 de abril de 1997, determina, em seu artigo 3°, níveis para a modalidade “educação profissional” – básico, técnico e tecnológico4. O nível tecnológico é, então, definido como correspondendo ao nível superior da “educação escolar”, com independência em relação a este e, especificamente, na área tecnológica. Daí resultou uma enorme oferta de escolhas de IES por parte do egresso do ensino médio. Em Santa Catarina, de acordo com os dados do INEP (2007), são oferecidos 246 cursos de graduação tecnológica. A competição entre as instituições de ensino superior passam a ser uma realidade no Brasil depois da LDB 1996 e da política de ensino superior de FHC e em muitos países. Ser competitivo neste ambiente passa, necessariamente, pelos tipos de graduação oferecidos ao candidato a cursar um determinado curso, em uma IES específica, quando analisadas as instituições de ensino mantidas por mensalidades pagas. 2 Na LDB, o sistema educacional passou a ficar dividido em Níveis Escolares – educação básica (Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio) e educação superior – e Modalidades – dentre elas, a educação profissional. Desta forma, além de separar a Educação Profissional daquela denominada escolar, nos artigos 39 a 42, a LDB regulamenta tão genericamente que permite a organização de qualquer estrutura para esta Modalidade (BRASIL, 1996}. 3 Para uma síntese das disputas políticas em jogo durante o processo de formulação e, posteriormente, de decisão, sobre a LDB, ver Saviani (1999), Martins (2000) e Neves (2002). 4 O nível básico não tem relação com o nível básico da “educação escolar”; o nível técnico tem uma relação de complementaridade com o nível médio da “educação escolar”, sendo organizado em estrutura independente do Ensino Médio, porém, tendo este como requisito. 8 9 A educação tecnológica pode ser focalizada de vários pontos de vista: do mundo da educação, do mundo do trabalho, da produção de conhecimentos, da necessidade de novas metodologias, ou da filosofia da tecnologia. De um modo geral, quando a ela se refere há uma tendência ou em associá-la à educação técnica ou à educação profissional. Nas contribuições de Bastos sobre a educação tecnológica, o autor afirma (1997, p.315; 1998, p.82), que “a educação tecnológica é antes de tudo – educação. É uma educação substantiva sem acréscimos, agregados pelos fragmentos de aplicações técnicas.” Constitui-se em ação comunicativa com a tecnologia, ultrapassando as dimensões abrangidas pelo ensino técnico. “Transcende aos conceitos fragmentários e pontuais de ensino, aprendizagem e treinamento, pela integração renovada do saber pelo fazer, do repensar o saber e o fazer, enquanto objetos permanentes de ação e reflexão crítica sobre a ação”. Para Grinspun (1999), o conceito de educação tecnológica diz respeito ou à formação do indivíduo para viver na era tecnológica de forma crítica e mais humana, ou à aquisição de conhecimentos importantes para a formação profissional, abrangendo tanto a invenção como a inovação tecnológica. A educação tecnológica não determina o ensino de novas tecnologias apenas, mas sim, estimula a interpretação do contexto social atual à luz de seus condicionamentos e fundamentos, procurando levantar questões relativas aos valores importantes no momento atual, sobressaindo a dimensão ética. Para Bastos (1998a), algumas das características da educação tecnológica são: - formação teórica prática, destacando a necessidade de rever a prática pelo que a teoria tem apresentado; - orientação para o mundo do trabalho, procurando identificar as novas exigências impostas pelas relações sociais, buscando entendê-las na procura de soluções para superar as dificuldades existentes; - integração às necessidades da sociedade em seus aspectos culturais e regionais e não apenas às condições flutuantes do mercado de trabalho; - integração entre ensino e pesquisa, com atenção às constantes transformações ocorridas na ciência e tecnologia, exigindo uma aproximação contínua e progressiva entre as instituições e os núcleos e os centros de pesquisa, bem como pesquisa e desenvolvimento. Esta aproximação sempre será benéfica, pois as instituições terão informações sobre os novos conhecimentos gerados e transferidos pelas pesquisas científicas e tecnológicas; 9 10 - capacitação permanente do trabalhador; - educação continuada a qual ultrapassa a dimensão escolar, ampliando-se e desdobrando-se em comum acordo com as práticas profissionais próprias do mundo do trabalho, em crescente e progressiva transformação. A Educação Tecnológica é uma busca da construção de conhecimentos que procuram transformar e superar o conhecido, é um envolvimento com conhecimentos que não se esgotam na instituição de ensino e nem se iniciam com o trabalho, mas são permanentemente induzidos a pensar-refletir-agir em um mundo determinado por constantes e progressivas transformações da ciência e tecnologia. 5. Considerações finais O propósito principal do artigo foi verificar a educação superior tecnológica, a partir de algumas reflexões dos conceitos de ciência tecnologia e sociedade, que se interceptam em vários pontos com os objetivos propostos na LDB. A proposta do caráter interdisciplinar da LDB configura-se no enfoque da CTS, o qual enfatiza a quebra de fronteiras rígidas e excludentes entre os saberes. A busca de um ensino mais reflexivo e contextualizado está em sintonia com esse enfoque, que persegue também os objetivos de formar um cidadão crítico, capaz de interagir com a sociedade. Os apontamentos deste artigo embora breves e introdutórios evidenciam a inexistência de base de dados, considerada um insumo adequado para estudos que viabilizem a expansão de cursos tecnológicos ofertados no pais. Essa base de dados compreende suas características, tempo de duração, áreas de abrangência, informações relativas a performance dos cursos, seus alcances legais, no que tange ao reconhecimento pelo Ministério da Educação, pelos Conselhos Profissionais e Regionais e validação para ingressar em outros cursos em nível de mestrado e doutorado, bem como para concorrer a concursos. Para os cursos de graduação tecnológica, o conceito de atualização tecnológica não envolve apenas equipamentos e demais recursos físicos, significa, também, o investimento em projetos de atualização e renovação da programação, bem como o desenvolvimento em projetos de atualização e renovação da programação, bem como o desenvolvimento das competências de seus quadros técnicos e docentes, sem os quais a modernização tecnológica física ou de processos, não pode ser implementada. Referências 10 11 BASTOS, João Augusto de Souza Leão de Almeida. O ensino médio, a grande questão. Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, Brasília, v. 78, n. 188/189/190, p. 309-345, 1997. BASTOS, J.A.S.L.A (1998a).A educação tecnológica: conceitos, características e perspectivas. In: . (org). Tecnologia & Interação. Curitiba. PPGTE/ CEFET-PR. pp.3152. _____. O ensino tecnológico - uma experiência comunicativa. In: BASTOS, João Augusto S. L. A. (Org.). Tecnologia & Interação. Curitiba: CEFET-PR, 1998, p. 67-88. BASTOS, João Augusto de Souza Leão de Almeida. A educação tecnológica conceitos, características e perspectivas. Tecnologia & Educação. Coletânea Educação e Tecnologia: publicação do programa de Pós-Graduação em Tecnologia PPGTEICEFET-PR. Curitiba, CEFET-PR, 1998. BASTOS, J. A. S. L. A. A imaterialidade da tecnologia. In: (org). Educação Tecnológica: imaterial e comunicativa. Curitiba: CEFET-PR, 2000. p. 11-30. (Coletânea “Educação e Tecnologia” CEFET-PR). BAZZO, W. A.; VON LINSINGEN, I.; PEREIRA, L. T. V. (Eds). Introdução aos estudos CTS (Ciência, Tecnologia e Sociedade. Madrid: OEI, 2003. Capítulo 4: O que é Ciência, Tecnologia e Sociedade? pp. 119-155. BAZZO, W.,PEREIRA, L.T.V.; LINSINGEN, I. Educação Tecnológica: enfoques para o ensino de engenharia. Florianópolis: UFSC, 2000. BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. 2009. Disponível em: <http://www.inep.gov.br>. Acesso em: 02 mar. 2009. BRASIL. Lei n. 9.394 de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Disponível em: <http://www.inep.gov.br/download/superior/2005/acg/LDB.doc>. Acesso em: 02 mar. 2008. BRASIL. MEC-SEMTEC. Educação Tecnológica: legislação básica. Braslia, SEMTEC, 1994. DAGNINO, R. Tecnociência: Neutralidade da Ciência e Determinismo Tecnológico – um debate sobre a tecnociência, mimeografia, 2004. DAGNINO, R. Enfoques sobre a relação ciência, tecnologia e sociedade: neutralidade e determinismo. In: Organização dos Estados Iberoamericanos para a educação, a ciência e a cultura. Sala de Lectura CTS+I de la OEI, 2002. Disponível em: <http://www.campus-oei.org/salactsi/rdagnino3.htm>. Acesso em: 16 mar. 2009. 11 12 FRIGOTTO, Gaudêncio (Org.). Educação e crise do trabalho: Perspectivas de Final de Século. Petropólis: Vozes, 1998. _________. Educação e Crise do Capitalismo Real. São Paulo: Cortez, 1995 GRINSPUN, M. P. S. (1999). Educação Tecnológica. In: (org.) Educação Tecnológica: desafios e perspectivas. São Paulo: Cortez. .pp. 25- 73. HAHN, H; NEURATH, O; CARNAP, R. A Concepção Científica do Mundo – O Circulo de Viena. Cadernos de História e Filosofia da Ciência, Campinas, n.10, 1986.5-20. Lacey, H. Valores e atividade científica. São Paulo: Discurso Editorial/Fapesp, 1998. LATOUR, B. Ciência em Ação. São Paulo: Editora UNESP, 2000.pp.39-104 MARTINS, Marcos Francisco. Ensino técnico e globalização: Cidadania ou submissão? Campinas, Autores Associados, 2000. NEVES, Lúcia Maria Wanderley. Brasil século XXI: propostas educacionais em disputa. RJ, mimeo, 2002. POPPER, K.R. Conjecturas e Refutações. Brasília: Editora Universidade de Brasília 3ª ed, 1994. PRIMEIRA Conferencia Nacional de Educação Profissional e Tecnológica. 2006; Apostila para treinamento, Brasília, DF 2006. SAVIANI, Dermeval. A nova lei da educação: trajetória, limites e perspectivas. Campinas, Autores Associados, 1999. TAKAHASHI, Adriana Roseli Wunsch e AMORIM, Wilson Aparecido Costa de: Primeira Jornada Nacional de Produção Científica em Educação Profissional e Tecnológica, Livro de Resumos, Ministério da Educação Brasília, 2006. VACCAREZZA, Leonardo Silvio. Ciência, Tecnologia e Sociedade: O estado da arte na América Latina. In: Santos L. W. et al. (org.) Ciencia, tecnologia e sociedade: O desafio da interação. 2 ed. Londrina. IAPAR, 2004. 12
Download