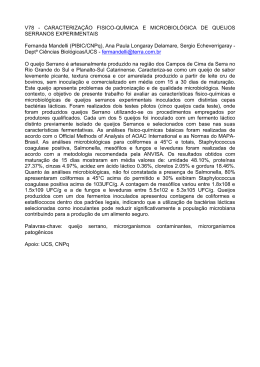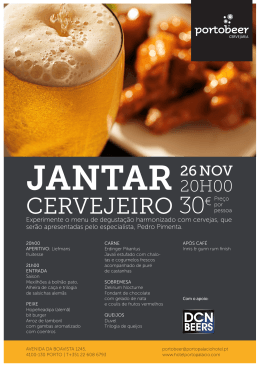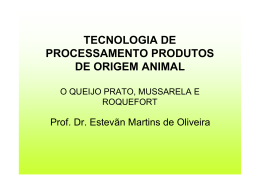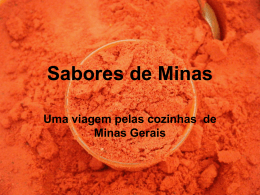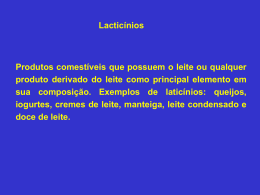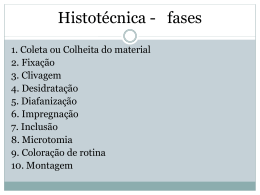www.arvoredoleite.org
Esta é uma cópia digital de um documento que foi preservado para inúmeras gerações nas prateleiras da biblioteca Otto
Frensel do Instituto de Laticínios Cândido Tostes (ILCT) da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG),
antes de ter sido cuidadosamente digitalizada pela Arvoredoleite.org como parte de um projeto de parceria entre a
Arvoredoleite.org e a Revista do Instituto de Laticínios Cândido Tostes para tornarem seus exemplares online. A Revista do
ILCT é uma publicação técnico-científica criada em 1946, originalmente com o nome FELCTIANO. Em setembro de 1958, o seu
nome foi alterado para o atual.
Este exemplar sobreviveu e é um dos nossos portais para o passado, o que representa uma riqueza de história, cultura e
conhecimento. Marcas e anotações no volume original aparecerão neste arquivo, um lembrete da longa jornada desta
REVISTA, desde a sua publicação, permanecendo por um longo tempo na biblioteca, e finalmente chegando até você.
Diretrizes de uso
A Arvoredoleite.org se orgulha da parceria com a Revista do Instituto de Laticínios Cândido Tostes da EPAMIG para digitalizar
estes materiais e torná-los amplamente acessíveis. No entanto, este trabalho é dispendioso, por isso, a fim de continuar a
oferecer este recurso, tomamos medidas para evitar o abuso por partes comerciais.
Também pedimos que você:
● Faça uso não comercial dos arquivos. Projetamos a digitalização para uso por indivíduos e ou instituições e solicitamos que
você use estes arquivos para fins profissionais e não comerciais.
● Mantenha a atribuição Arvoredoleite.org como marca d'água e a identificação do ILCT/EPAMIG. Esta atitude é essencial
para informar as pessoas sobre este projeto e ajudá-las a encontrar materiais adicionais no site. Não removê-las.
● Mantenha-o legal. Seja qual for o seu uso, lembre-se que você é responsável por garantir que o que você está fazendo é
legal. O fato do documento estar disponível eletronicamente sem restrições, não significa que pode ser usado de qualquer
forma e/ou em qualquer lugar. Reiteramos que as penalidades sobre violação de propriedade intelectual podem ser bastante
graves.
Sobre a Arvoredoleite.org
A missão da Arvoredoleite.org é organizar as informações técnicas e torná-las acessíveis e úteis. Você pode pesquisar outros
assuntos correlatos através da web em http://arvoredoleite.org.
"
NSTITUTE
digitalizado por
arvoredoleite.org
Rev. Inst. Latic. "Cândido Tostes", Set/Out, n!!
295, 50: (5): 1-49, 1995
Pág.
1
REVISTA DO INSTITUTO DE LATICÍNIOS
"CÂNDIDO TOSTES"
DAIRY JOURNAL
BIMONTHLY PUBLISHED BY THE
"CÂNDIDO TOSTES" - DAIRY INSTITUTE
ÍNDICE - CONTENT
Desenvoivimento de metodologia analítica para determinação do teor de caseína em leite.
"Development of analytical procedure for determination of casein content in milk." Paulo Henrique
Fonseca da Silva; Adão José Rezende Pinheiro; José Carlos Gomes; June Ferreira Maia Parreiras;
Maria Cristina Alvarenga Viana Mosquim; Mauro Mansur Furtado
2
.
.. .......... .... ...... ... ... .... .. 3
.... .......
Desen volvimento de mC?to dologia analítica para avaliação de p r oteólise em queijos.
"Developrnent of analytical procedure for evaluation of proteolysis in cheese." Paulo Henrique
Fonseca da Silva; Adão José Rezende Pinheiro; José Carlos Gomes; June Ferreira Maia Parreiras;
Maria Cristina Alvarenga Viana Mosquim; Mauro Mansur Furtado ............................................ 15
3
Isolamento, caracterização e identificação de lactococcus laétis subsp. lactis varo diacerylactis.
"Isolation, characterization and identification of Lactoccocus Lactis subspecies lactis varo
diacerylactis. " Antonio Hamilton Chaves; Adão José Rezende Pinheiro; Magdala Alencar Teixeira;
Mônica de Oliveira Leite .................................................................................................................... 30
4
Queijos em embalagens com atmosfera modificada. "Cheese in modified atmosphere packaging
systems." Rosa Maria Vercelino Alves ........................... . ............. .................................. .................. 36
5
O uso de lipase na fabricação de queijos. "The use of lipase in cheeses processing." Geo Kardelj
Múcio Mansur Furtado; João Pedro M. Lourenço Neto . . .....: ......................................................... 45
Rev. Inst. Latic. "Cândido Tostes" - Jui.� de Fora - VoI. 50 (295); 1-49 - Set/Out de 1995
EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS
Centro de Pesquisa e Ensino
Instituto de Laticínios "Cândido Tostes"
Revista Bimestral
Endereço: Revista do Intituto de Laticínios "Cândido Tostes"
Te1.: 224-3116 - DDD: 032/ Fax: 224-3113 - DDD 032
Cx. Postal: 183 - 36.045-560 - Juiz de Fora - Minas Gerais - Brasil
digitalizado por
arvoredoleite.org
Rev. Inst. Latic. "Cândido Tostes", Set/Out, n!! 295, 50: (5): 2-49, 1 995
Pág. 2
EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS
- EPAMIG-
Pág.3
Rev. Inst. Latic. "Cândido Tostes", Set/Out, n!! 295, 50: (5): 3 - 1 4, 1 995
DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIA ANALÍTICA PARA
DETERMINAÇÃO DO TEOR DE CASEÍNA EM LEITE(*)
.
DIRETORIA EXECUTIVA
Presidente
Development of analytical procedure for determination of casein content in milk
Comissão de Redação
Paulo Henrique Fonseca da Silva (**)
Gabriel Ferreira Bártholo
Adão José Rezende Pinheiro (***)
José Carlos Gomes (****)
Ana Amélia Paolucci
Chefe do CEPE/ILCT
June Ferreira Maia Parreiras (****)
Antônio Carlos Savino de Oliveira
Renê dos Santos Neves
Maria Cristina Alvarenga Viana Mosquim (****)
Braz dos Santos Neves
Mauro Mansur FuÍ"tado (****)
Edna Froeder Arcuri
Editor
RESUMO
Eduardo Hargreaves Surerus
Geraldo Magela Carozzi de Miranda
Fernando Antônio R. Magalhães
Revisor Técnico
Heloísa Maria de Souza
Otacílio Lopes Vargas
Luiza C. Albuquerque
Maria Cristina D. Castro
Área de Divulgação/Redação
Luiza Carvalhaes de Albuquerque
Otacílio Lopes Vargas
Foi desenvolvido um método baseado na reação com formol para determinação de caseína em leite.
O método apresentou limite de detecção compatível com a utilização em análises de rotina. A técnica
analítica é simples e rápida, empregando material de uso comum em laboratórios de controle de qualidade.
O método para determinação do teor de caseína baseado na reação com o formol é aplicável a leites
individuais e de conjunto, independentemente da composição diferir em função da raça, dos tipos de manejo
e alimentação, do período de lactação e estação do ano, podendo ser utilizado em programas de pagamento
de leite pela qualidade e na padronização da relação caseína/gordura em leite destinado à fabricação de
queijos.
Paulo Henrique F. Silva
1. INTRODUÇÃO
Editóração Eletrônica
apresentam baixa solubilidade a pH 4,6. São
constituíd as de micelas d e 40 a 3 0 0 m m de
diâmetro. As m i c e l a s são form ad a s por
Templo Editoração (0 32) 21 3- 58 54
1.1. A Distribuição do Nitrogênio no Leite
Impressão
o leite bovino contém vários compostos
nitrogenados, dos quais aproxim adamente 95%
ocorrem como proteínas e 5 % como compostos
Concorde Editora Gráfica Ltda
(0 32)21 5-8 510
Juiz de Fora, Julho de199 6
EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS
nitrogenados não-protéicos. Em torno de 80% do
nitro g ê nio protéico do leite constitui-se de
nitrogênio caseínico e 20% de nitrogênio não
caseínico (WALSTRA e JENNESS, 1 9 84).
-EPAMIG-
Diversos fatores influenciam a composição
e a distribuição das frações nitrogenadas do leite
Revista do Instituto de Laticínios IICândido Tostes, n. 1 - 194 6 - Juiz de Fora. Instituto de
Laticínios "Cândido Tostes",194 6 .
bovino, tais como: temperatura ambiente, doenças
do animal, estágio de lactação. número de parições,
raça, alimentação e teor energético da alimentação
(DE PETERS e CANT, 1992).
v.
ilust.2 3 cm
n.1-19 (194 6-48),27 cm, com nome de Fe1ctiano, n.20-7 3 (1948- 57), 2 3 cm, com o nome de
Felctiano.
A partir de setembro de19 58 , com o nome de Revista do Instituto de Laticínios "Cândido
Tostes/l.
1 . Zootecnia - Brasil- Periódicos.2 . Laticínios- Brasil- Periódicos
1 . Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, Juiz de Fora, MG, ed.
ISSN0100- 3 674
CDU 6 3 6/ 6 37 (81)(50)
submicelas, grosseiramente esféricas, contendo
agregados de várias moléculas de caseína, com a
seguinte relação: [a. I:a. : ( � +'Y):k = 4: 1 :4 : 1 . 3 ],
"
"2
mantidas unidas por interações hidrofóbicas e
pontes salinas.Fosfato de cálcio amorfo liga as
submicelas entre si, com participação de ésteres
fosfatos (W ALST RA, 1 990) . Desta forma, quase
todas as regiões nas moléculas de caseína têm
mobilidade restrita.A porção carboxi-terminal
da k-caseína está, predominantemente, presente
como filamentos flexíveis, orientados para o
meio externo.Nem todas as micelas possuem
k-caseína (WALSTRA, 1 990) .
1.3. A COAGULAÇÃO DO LEITE PARA·A
FABRIC AÇÃO DE QUEIJOS
1.2. AS C AS EÍNAS
As
c a s eína s
são
um
g r u po
de
fosfoproteína s específic a s do l e i t e que
(* )
As micelas d e caseína são muito estáveis. A
estabilidade contra a agregação é, primariamente,
devida à repulsão espacial causada pelos filamentos
Parte da tese apresentada pelo primeiro autor
à
Universidade Federal de Viçosa, como uma das
exigências do curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos, para obtenção do Título de "Magister
( ** )
( *** )
(****)
Scientiae".
Professor da EPAMIG/ CEPE/lnstituto de Laticínios Cândido Tostes.
Professor da Universidade Federal de Viçosa/Departamento de Tecnologia de Alimentos Orientador da Tese.
Professor da Universidade Federal de Viçosa/Departamento de Tecnologia de Alimentos Membro da Banca de Defesa da Tese.
digitalizado por
arvoredoleite.org
Rev. Inst. Latic. "Cândido Tostes", Set/Out, n2 295, 50: (5): 3- 1 4, 1 995
da k-caseína, além das cargas elétricas superficiais
e da camada de hidratação (KIRCHMEIER, 1 973;
WALSTRA, 1 990) . Os filamentos de diferentes
micelas podem se tocar e conduzir à agregação,
dependo de mudanças nas condições do meio. As
ligações formadas podem ser pontes salinas ou, a
altas temperaturas, ligações coval entes
(WALSTRA, 1 990) .
Para a fabricação de queijos é necessário
desestabilizar o complexo micelar caseínico, o que
pode ser conseguido por meio de enzimas
proteolíticas, precipitação isoelétrica ou ação
conjunta de ácido e calor (FOX, 1988) .
Na coagulação enzimática, têm-se duas
etapas: (a) quebra do macropeptídeo da k-caseína e
(b) agregação das micelas de para-k-caseína recém
formadas, se a temperatura e a atividade de cálcio
forem adequadas. A quimosina (EC 3.4.23.4) atua
sobre a k-caseína ao acaso, movimentando-se pela
fase l íquida do leite e através da camada de
filamentos, até encontrar um sítio vulnerável e
com orientação correta. A hidrólise ocorre na
ligação entre os aminoácidos fenilalanina (l05) e
metionina ( 1 06) , e a seqüência de aminoácidos
compreendida entre a histidina (98) até a lisina
( 1 1 2) garante a conformação espacial adequada
(FOX, 1 989) . O efeito do cálcio na agregação é
essencial e não parece ser devido à diminuição de
cargas, mas à formação das últimas ligações entre
os agregados micelares (WALSTRA, 1 990) . A
fração amino-terminal proveniente da hidrólise da
k-caseína, denominada para-k-caseína, é insolúvel
. na presença de íons cálcio, passando a fazer parte
da estrutura do coágulo. A fração carboxi-termi
nal, genericamente denominada caseíno
macropeptídeo, é solúvel na presença de íons cálcio,
sendo perdida no soro (FOX, 1991).
1 .4. A IMPORTÂNCIA DAS C ASEÍNAS
PARA O RENDIMENTO DA F ABRICA
çÃO E PADRONIZAÇÃO DE QUEIJOS
A fabricação da maioria das variedades de
queijos envolve, essencialmente, a concentração
das caseínas e da gordura do leite, de 6 a 12 vezes,
dependendo da variedade (FOX, 1 98 8 ) . A
concentração é obtida por meio de coagulação,
dessoramento, prensagem e desidratação durante a
salga e maturação do queijo.
Diversos fatores afetam a transição das
proteínas do leite para a coalhada, principalmente
o corte. A média de aproveitamento das proteínas
do leite na coalhada é de 75 % , e para o queijo
Prato pode chegar a 80 % . O aproveitamento da
caseína é em torno de 94% (FURTADO, 1 990). A
caseína e o cálcio são os principais constituíntes
do leite responsáveis pela formação da estrutura
Pág . 4
do coágulo, portanto, aumento do teor de caseína
no leite favorece a obtenção de maior rendimento
na fabricação de queijos.
No Brasil, a padronização do l eite para
fabricação de queijos baseia-se no teor de gordura,
entretanto, a padronização apenas do teor de
gordura não garante a padronização do produto
final, visto que a composição do leite é variável,
especialmente quanto aos teores de gordura e
caseína. Também não é adequada a padronização
do teor de gordura em relação ao teor de proteína
total do leite, pois as soro-proteínas apresentam
baixa retenção na coalhada e o teor de caseína
varia ao longo do período de lactação. WALSTRA
e JENNESS ( 1 984) encontraram baixo coeficiente
de correlação (0,44) entre os teores de gordura e
proteína durante a lactação. Os melhores resultados
são obtidos com a padronização do leite com base
na relação caseína/gordura (FURTADO, 1 990) .
A utilização da relação caseína/gordura tem
sido recomendada para padronização do queijo
Prato, considerando-se as diferenças na composição
do leite que se verificam no Brasil, por exemplo,
entre junho (período de estiagem) e novembro
(período de chuvas). É provável que, na maioria
das vezes, esta relação no leite para fabricação
industrial do queijo Prato esteja entre 0,71 e 0,77
(FURTADO, 1 990). Segundo LELIÉV RE ( 1 983),
variações na relação caseínafgordura afetam os
teores de gordura no extrato seco e de umidade no
extrato seco desengordurado do queijo, e a
explicação para esses efeitos permanece incerta.
Possivelmente, a gordura atua bloqueando
interações entre moléculas de caseína, afetando a
sinerese nos queijos.
1.5. MÉTODOS PARA DETERMINAÇÃO
DOS TEORES DE PROTrtNAS E DE
CASEÍNA NO LEITE
As
proteínas
lácteas
têm
sido
tradicionalmente determinadas por meio do
método de Kjeldahl, podendo-se diferenciar entre
os teores de proteína bruta (nitrogênio total x
6,35), proteína verdadeira [(nitrogênio total nitrogênio não-protéico) x 6 . 35] e de caseína
[(nitrogênio total - nitrogênio não-caseínico) x
6 , 3 4] (McKENZIE, 1 970; INTERNATIONAL
DAIRY FEDERATION, 1 980; CIMIANO, 1 982;
SILVA e CARVALHO, 1993). O método envolve a
oxidação da amostra com ácido sul fúrico e
catalisadores, à quente. O nitrogênio presente é
convertido em sais de amônio, os quais são
alcalinizados pela adição de hidróxido de sódio,
resultando na formação de amônia. Esta é destilada
por arraste de vapor e recolhida em solução ácida
contendo indicador. O sal de amônio formado é
Rev. Inst. Latic. "Cândido Tostes", Set/Out, n2 295, 50: (5): 3- 1 4, 1 995
titulado por uma solução volumétrica ácida. A
quantidade de solução ácida gasta na titulação é
proporcional ao teor de amônia, que, por sua vez,
representa o teor de nitrogênio na amostra.
Par� determinação do teor de proteína ou
de nitrogênio não-protéico, multiplica-se o teor
de nitrogênio encontrado por um fator de conversão
específico (SILVA e CARVALHO, 1 993). O método
de Kjeldahl apresenta dificuldades tais como: (a)
longo tempo de análise; (b) dificuldade de separação
das proteínas de outros compostos nitrogenados;
(c) impossibilidade de adoção de um fator de
conversão universal; e (d) obtenção de uma digestão
rápida sem perda de nitrogênio (WALSTRA e
JENNESS, 1 984; SILVA e CARVALHO, 1 993).
O método de Kofranyi pode ser empregado
para a determinação de proteínas no leite pela
estimação do teor de nitrogênio amídico
(aproximadamente 1 mol/kg) destilado de uma
solução alcalina. Comparado com o método de
Kjeldahl, este procedimento tem o inconveniente
de determinar os componentes nitrogenados
amídicos, que são muito menores e mais variáveis
do que o nitrogênio total das proteínas (WALSTRA
e JENNESS, 1 98 4).
Existem v ários métodos colorimétricos
para a determinação de proteínas no leite, como
os métodos de Nessler, biureto, Folin e indofenol.
A intensidade das reações variam em função da
presença dos grupos funcionais env olvidos,
como os grupos aromáticos das cadeias laterais
das proteínas, fazendo com que estes métodos
sejam indicados para determinações rápidas,
mas sem alta exatidão ( C OOPER, 1 977;
WALSTRA e JENNESS , 1 983).
Fotocolorímetros (Pro-Milk, Prot-O-Mat,
Udytec) têm sido empregados para medição da
intensidade da reação das proteínas lácteas com
corantes. As proteínas individuais diferem nas suas
capacidades de fixação de corantes, portanto, o
resultado é dependente das proporções das proteínas
presentes (CIMIANO, 1 982; WALSTRA e
JENNESS, 1984).
As caseínas e as soro-proteínas desnaturadas
precipitam com a saturação do leite com cloreto
de sódio. No filtrado resultante , as caseínas
precipitam pelo diferencial de solubilidade em
relação às soro-proteínas. Este método tem sido
empregado visando o controle de qualidade e
classificação do l eite em pó (WAL STRA e
JENNESS, 1984; VARGAS e SILVA, 1 993).
A precipitação fina das caseínas em leite
desnatado altamente diluído com água bidestilada
permite a determinação do teor de caseína no leite
"in natura" pelo método gravimétrico. O método
não é aplicável a leites termo-processados, os quais
apresentam uma fração de s oro-proteínas co-
Pág. 5
precipitadas tanto maior quanto maior for a
intensidade do tratamento térmico (VARGAS e
SILVA, 1 993).
A determinação dos teores de fósforo no
leite por meio da incineração da amostra a 550QC,
reação com hidrazina-molibdato e medição da
absorvância a 700 nm permite a determinação
indireta do nitrogênio caseínico no l eite. O
nitrogênio caseínico dividido pelo nitrogênio
protéico, determinado pelo método de KjeldahI,
fornece o número de caseína, o qual pode ser
correlacionado com fraude de l eite pasteurizado
com soro de queijos (FURTADO, 1 989).
A eletroforese é útil para a quantificação
das frações individuais das proteínas do leite. O
método, embora permita uma quantificação
satisfatória das caseínas com boa sensiblidade, não
tem sido empregado pelas indústrias de laticínios
(WALSTRA e JENNESS, 1 984; CARPENTER e
BROWN, 1 9 85) . CIFUENTES et alii ( 1 993)
demonstraram as vantagens da eletroforese capilar,
usando tampões contendo aditivos poliméricos
(PEG 8000), para a análise de proteínas do soro.
Foi desenvolvido um método baseado na
determinação da fluorescência (radiação de
comprimento de onda entre 340 e 350 nm) emitida
pela amostra. O método tem como inconvenientes
a necessidade de uma grande diluição e a dificuldade
de se evitar a presença de interferentes, além da
pouca inclinação da curva padrão. Desta forma,
pequenos desvios na medição pa fluorescência geram
grandes erros na determinação da concentração
protéica (WALSTRA e JENNESS, 1984).
Embora a absorção de radiação ultra-violeta
a 280 nm pelas cadeias aromáticas laterais das
proteínas seja uma propriedade conhecida, não se
tem nenhum método de análise adequado
desenvolvido para proteínas lácteas (WALSTRA e
JENNESS, 1984) .
Nas proteínas lácteas, a ligação nitrogênio
hidrogênio da ligação peptídica absorve radiação
el etromagnética a 6,465/-1m (WOLFS CHOON
POMBO et alii, 1 98 3 ) , permitindo a sua
determinação por espectrofotometria infra
vermelha. Existem vários equipamentos de análise
automática de constituíntes do leite baseados na
espectrofotometria infravermelha, como o Milko
Scan (Foss-Eleric) e o Dailab IR-2000 (Dairy Lab),
e todos apresentam alto· custo e necessitam de
calibração periódica com os métodos de referência
(BARBANO e CLARK, 1989: INTERNATIONAL
DAIRY FEDERATION, 1 990).
A crom atog rafia de troca i ônica em
colunas de DEAE-celulose ou hidroxiapatita e
a filtração gélica permitem a s eparação das
caseínas individuais e das soro-proteínas,
respectivamente (WA L S T RA e JENNESS,
digitalizado por
arvoredoleite.org
Rev. Inst. Latic. "Cândido Tostes", Set/Out, n!!
295, 50: (5): 3-14, 1995
Este método é o que apresen�a me�hores
resultados para separações de protemas, �nclu
.
sive de al gumas modificações genettcas
(GONZALEZ-LLAMO e� al, H 1?9 O).
:
A separação de ammoacldos e, usualme�te
feita por cromatografia líquida de alta resoluçao,
em colunas de fase reversa. A detec� ão dos
.
aminoácidos requer a preparação de denvatlvos
detectáveis por espectrofotometria ultra-;� oleta
ou fluorescência. Aplicações práticas na anahse de
.
caseínas são a detecção de misturas de leItes de
diferentes espécies e a análise de peptídeos
originados da proteólise da caseína (GONZALEZ
LLAMO et alii, 1990). HOLLAR et al �i (�9�l)
demonstraram a aplicação da cromatografla h�U1da
de alta resolução para proteínas, empregando tr
, .oca
catiônica para separação de modificações genetlcas
da B-caseína.
.
Algumas proteínas l ácte�s individu�ls
podem ser determinadas m edIante re�ço�s
imunológicas quantitativas, para as quaIs sao
.
necessários antissoros específicos produzl �OS
por animais de experimentação. Tem-se 0btIdo
.
êxito na determinação de a.-Iactoalbumtna, B
l actoglobulina,
albumina
do
soro,
imunogl obulinas, proteínas de col ostro
(WALSTRA e JENNES S , 1984; KIRIAMA et
alii, 1989; M AR C H AL et alii, 1991) e na
detecção da adulteração de leite de ovelha com
l eite de v aca (ARAND A et aW, 1988) . A
apl icação de métodos imunológic o� para a
,
análise de caseína tem encontrado dIfIculdades
na preparação de antissoros com especificidade
e potência suficientes (WALSTRA e JENNESS,
1984), e os melhores resultado� f�ram obtidos
com o método de "immunodottmg (ARANDA
et alii, 1988).
.
O método de formol é baseado na medlçao
do
reação
pela
dos prótons l iberados
formaldeído com os grupos amino das ca,deias
l aterais das proteínas, s endo um � etodo
indireto, porém bastante fácil, para estImar o
teor de proteínas (RICHMOND e MILLER,
1906; W OLFS CHOON e VARGA � , 1977;
WALS TR A e JENNES S , 1984). SteIgneg ger
(1905), citado por RICHM, O � D e � ILLER
(1906), definiu o "valor aldeldo �o leIte co � o
.
sendo a diferença entre a acidez ongmal do leIte
40%.
formaldeído
de
e a acidez após a adição
RICHMOND e MILLER (1906) demonst:aram
que cada grupo amino presente nas moleculas
de proteínas capaz de reagir com o formaldel'd o
corresponde a um moI de protóns e que a r�aça�
em presença de e xcesso de formal deldo e
provav elmente completa e muito rápida.
R ICHMOND (1911) avaliou o grau de
exatidão com que proteínas podem ser estimadas
1984).
_
_
Pág. 6
no leite pela reação com o formol, concluindo
que o método é muito rápido e apresenta a l� es�a
ordem de exatidão dos métodos de determmaçao
de gordura por centrifugação. PYNE C1?3?)
recomendou a utilização de oxalato de potasslO,
objetivando eliminar o efeito da prec�pi
.
fosfato de cálcio coloidal durante a tltulaçao
da
amostra além de facilitar a detecção do ponto
final, p�r eliminar o esmaecimento da cor rósea
formada. O mesmo autor estabeleceu o valor 1,74
como fator de conv ersão de mililitros de
hidróxido de sódio para percentual de proteína
no leite, e 1 ml de hidróxido de sódio 1 mol/l
equivale a 1,926 g de proteína.
WOLFS CHOON e VARGAS (1977)
estudaram a aplicação do método de formol para
determinação do teor de proteína no leite cru e
pasteurizado, encontrando uma alta correlação
com o método de referência (Kjeldahl). Segundo
os autores, o método apresenta baixo �usto,.
rápida execução e aplicabilidade às indústnas de
laticínios . WOLFSCHOON e LEITE (1977)
desenv olv eram um método de formol para
determinação do teor de proteínas em soro de
queijos, com alto coeficiente de correlação com
o método de Kj el dahl e encontrando fator de
conv ersão correspondente a 1,175, pa: a
conversão de mililitros de hidróxido de sódIO
O 0984 molfl para percentual de proteínas do
s � ro. LOURENÇO e WOLFS CHOON (1982)
av aliaram a exatidão da deter�inação
v olumétrica de caseína no l eite, utilizando a
reação com formol , sem separação prévia da
caseína . Os autores consideraram o percentual
de caseína constante no teor de proteína bruta
e trabalharam apenas com leites de conjunto, o
que desfavorece a utilização do método pel as
indústrias de l aticínios . R OEPER (1974)
demonstrou q u e a' relação entre caseína e
proteína no l eite v aria considerave l m e nte
. .,
durante o período de lactação, tornando mVlavel
a adoção de um fator de conversão do teo� de
.
proteína para teor de caseína, quando se utlhza
o método de formol . FURTADO (1989)
verificou que teor relativo de caseína na proteína
apresenta variação sazonal .
O objetivo do presente trabalho foi
desenvolver uma metodologia analítica para a
determinação do teor de caseína no leite, por �eio
da estimativa dos prótons liberados a parttr da
reação do formol com os grupos a�ino 1iv �e� das
.
moléculas de caseína, após separaçao lsoeletnca e
ressuspensão por elevação do pH. Procurou-se obter
um método simples, barato e confiável, que possa
ser utilizado pelas indústrias de laticínios em
programas de pagamerit� de lei�e pela qualidad� e
na padronização da relaçao casema/gordura do leIte
para a fabricação de queijos.
Rev. Inst. Latic. "Cândido Tostes", Set/Out, n!! 295,
2. MATERIAL E MÉTODOS
2.1. DESENVOLVIMENTO DO MÉTODO
O método baseado na reação com formol
'
para determinação do teor de caseína em leite foi
desenvolvido no Laboratório de Análise Físico
Química de Alimentos, do Departamento de
Tecnologia de Alimentos da Universidade Federal
de Viçosa ( V içosa, MG) . Foram empregadas
amostras de leite provenientes da Usina-Piloto de
Laticínios da Universidade Federal de Viçosa. Foram
utilizados soluções, reagentes, vidraria,
equipamentos e utensílios normalmente
encontrados em laboratórios de controle de
qualidade de indústrias de laticínios.
2.2. COMPARAÇÃO ENTRE MÉTODOS
DE ANÁLISE
Foram analisadas 16 amostras de l eite
provenientes do Centro Nacional de Pesquisa de
Gado de Leite, da Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária (Coronel Pacheco, MG) e da Usina
Piloto de Laticínios da Universidade Federal de
Viçosa (Viçosa, MG) . Procurou-se obter leites
com diferentes teores de caseína, a partir da
seleção de leites individuais e de conjunto que
apresentass em v ariações na composição em
razão da raça, do manejo, da alimentação, da
idade e do período de lactação.
Foram realizad as determinações em
duplica ta do teor de caseína nas amostr as,
empregando-se o método de formol desenvolvido
neste trabalh o e o método de Kjeldah l (ASS O
CIATION OF OFFICIAL ANALYTICAL CHEM
ISTS, 1984), como método de referência. Para a
conver são do teor de nitrogê nio caseíni co
determ inado pelo método de Kj el dahl para
percentual de caseína , utilizou -se o fator 6,34
(KARM AN e V AN BOEKE L, 1986; VAN
BOEKEL e RIBADEAU-D UMAS, 1987).
Foi calculado o fator de conversão de
mililitros de solução de hidróxido de sódio para
percentual de caseína, pela relação entre os
teores de caseína determinados pelo método de
Kjeldahl e os resultados da titulação pelo método
de formol .
Os dados obtidos foram analisad os por
meio do teste t, considerando-s e um modelo de
delinea mento em compa ração paread a
(MILLER e MILLE R, 1988), e do coeficiente
de correl ação linear entre os método s. A
precis ão (repeti bilidad e) dos méto dos foi
estimad a por meio do cálculo do coeficiente de
varia ção das diferen ças entre duplica tas
(KRAMER e TWIGG, 1982).
50; (5); 3-14, 1995
Pág. 7
2.3. AVALIAÇÃO DA RELAÇÃO ENTRE
CASEÍNA E PROTEÍNA BRUTA
Foram determinados os teores de nitrogênio
total nas amostras, em duplicata, pelo método de
Kjeldahl (ASSOCIATION OF OFFICIAL ANA
LYTICAL CHEMISTS, 1984). Para a conversão
do teor de nitrogênio total para percentual de
proteína bruta, utilizou-se o fator 6,35 (KARMAN
e VAN BOEKEL, 1986; VAN B OEKEL e
RIBADEAU-DUMAS, 1987). A relação entre os
teores de caseína e de proteína bruta, determinados
pelo método de referência, foi calculada para cada
amostra analisada.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1. DESCRIÇÃO DO MÉTODO DESEN
V O LV I D O
No desenv olvime nto d o métod o , os
melhores resultados para precipitação da caseína
foram obtido s com ácido acétic o, em
confor midad e com d ados da literat ura
(ROW LAND , 1938; ASSO CIATION OF OFFI
C IAL ANALYTIC AL CHEM ISTS , 19 84). A
separação do precipitado foi conseguida por meio
de centrifugação a 1200 rpm por 5 min (425 g),
em centrí fuga de Gerbe r. A suspen são do
precipitado foi obtida com água a 60 QC, com
posterior solubilização com, solução alcalina.
O padrão de cor utilizado foi preparado
segun do WOLF SCHO ON e VARG AS (1977).
Os melhor es resulta dos na etapa de titul ação
foram obtido s com soluçã o de hidróx ido de
sódio 0,05 moI/I. Soluçõ es com concentrações
maior es result aram em baixa s ensibi lidade ,
enquanto sol uções com concentrações menores
geraram dificul dades na detecção do ponto fi
nal da titula ção .
A descriç ão detalha da do método
desenv olvido é apresentada abaixo , e a técnica
analítica é esquematizada na Figura 1.
3.1.1. SOLUÇÕES E REAGENTES
digitalizado por
- Água purificada.
- Ácido acético (l +9), solução reagente.
- Fenolftaleína 1% (m/v) alcoólica
neutralizada, solução indicadora.
Oxalato de potássio 28% (m/v),
solução reagente.
- Sulfato de cobalto hepta-hidratado 5%
(m/v), solução reagente.
- Formaldeído 35-40% (v/v), para
análise.
- Hidróxido de sódio 0,05 mol/l, solução
arvoredoleite.org
Pág. 8
Rev. Inst. Latic. "Cândido Tostes", Set/Out, nQ 295, 50: (5): 3-14, 1995
volumétrica.
Hidróxido de sódio 0,111 moI/I,
solução volumétrica.
_
Frasco erlenmeyer, boca estreita,
capacidade de 125 mI.
Béquer, capacidade de 100 ml.
Bureta, capacidade de 10 ml, intervalo
de graduação de 0,05 ml.
Pipeta volumétrica, capacidade de
_
_
_
_
_
_
_
l
Descartar sobrenadante
�
5 ml água destilada 60 ºC
Vórtex
I
�.
0 , 5 ml fenolftaleína 1% ( p/v)
�
I
6 ml NaOH 0,111 mol/l
Vórtex
3.1 .4 . UTENSÍLIOS
_
Transferir, com auxílio de pipetador de
borracha, 2 ml de formaldeído 35-40% (v/v) para
um erlenmeyer de 125 ml. Adicionar 10 ml de água
destilada e 1 ml de fenolftaleína 1% (m/v) alcoólica
neutralizada. Titular por uma solução de hidróxido
de sódio 0,05 moI/I até exata coincidência com a
j
�
- Centrífuga de Gerber.
_
Agitador para tubos de ensaio
(vórtex).
3.1 .6 . F ATOR ACIDEZ DO FORMOL
l
J
�
3.1 .3. EQUIPAMENTOS
Transferir 1 0 m l d e leite para um tubo de
ensaio. Adicionar 10 ml de água destilada, 0,4 ml
de oxalato de potássio 28% (m/v) e 1 ml de sulfato
de cobalto hepta-hidratado 5% (m/v). Reservar para
servir como comparação de cor na detecção do
ponto final das titulações.
Misturar
3:1 .7. TÉCNICA ANALÍTICA
Centrifugar
1200 rpm / 5 min (42 5 g)
Pipeta graduada, capacidade de 1 ml,
intervalo de graduação de O,lm1.
Tubo de ensaio com tampa plástica
rosqueável, de tamanho compatível
com a centrífuga de Gerber,
capacidade mínima de 25ml e máxima
de 70ml.
3.1 .5 . PADRÃO DE C O R
�
Aguardar 5 min
10 ml.
Pipeta graduada, capacidade de 1° ml,
intervalo de graduação de O,lm1.
Pipeta graduada, capacidade de 5 ml,
intervalo de graduação de O,lml.
Haste com base e pinças duplas para
bureta.
Pisseta plástica, capacidade de 500 ml.
- Pipetador de borracha.
Estante para tubos de ensaio.
_
Termômetro com escala de ° a 100
!!C, intervalo de graduação de 1 !!C.
cor padrão. O volume gasto constitui o fator acidez
do formol.
10 ml leite
10 ml água destilada 40 ºC
1 , 5 ml ácido acético (1 +9)
3.1 .2.VIDRARIAS
_
Rev. Inst. Latic. "Cândido Tostes", Set/Out, n!! 295, 50: (5): 3-14, 1995
I
�
0 ,4 ml oxalato de potássio 28% ( p/v)
I
�.
Aguardar 2 min
�
Titular
NaOH 0 ,0 5 molfI
�
Transferir 10 ml de leite a 20 9C para
um tubo de ensaio. Adicionar 10 ml de água
destilada a 40 QC e 1,5 ml de ácido acético
(1 +9). Misturar d e f o r ma a garantir a
precipitação da caseína. Não utilizar o vórtex
nesta etapa. Aguardar 5 min e centrifugar a
1200 rpm por 5 min (425 g). O precipitado
d e v e r á depositar no f u n d o do t u b o e o
sob renadante deverá ser razoav e l mente
límpido, com alguma separação de gordura.
Descartar o sobrenadante. Adicionar 5 ml de
água destilada a 60 !!C e dispersar o precipitado
com o auxílio do vórtex. Adicionar 0,5 ml de
fenolftaleína 1 % (m/v) alcoólica neutralizada
e aproximadamente 6 ml de hidróxido de sódio
0,111 moI/I. Ressuspender o precipitado com
o auxílio do vórtex. Adic ionar 0,4 ml de
oxalato de potássio 28% (m/v). Se necessário,
resfriar o tubo para 20 !!C. Esperar 2 min e
titular por uma solução de hidróxido de sódio
0,05 mol/1 até ponto de exata coincidência
com a cor padrão ( pH 8 , 3 ). Durante a
titulação, pode ser necessário utilizar o vórtex
para garantir a mistura da solução alcalina
com a amostra em análise. Adicionar, com
auxílio de pipetador de borracha, 2 m l de
formaldeído 35-40% (v/v). Esperar 20 s e titu
lar novamente por uma solução de hidróxido
de sódio 0,05 molfl até exata coincidê ncia
com a cor padrão (pH 8,3).
3.1 .8. C ÁLCULO DO PERCENTUAL DE
C ASEÍNA
O fator encontrado para conversão de
mililitros de hidróxido de sódio 0,05 moI/I para
percentual de caseína foi 0,874, o que possibilita
calcular o percentual de caseína por meio da
fórmula abaixo:
2 mI formol 30-40% ( v/v)
�
Titular
NaOH 0 ,05 molfl
FIGURA 1 - Representação Esquemática do Método
para Determinação do Teor de Caseína em Leite
Baseado na Reação com Formol.
% (p/v) caseína
=
(ml - FAF) x 0,874
Sendo:
ml: ml de solução de hidróxido de sódio 0,05
molfl gastos na 2i! titulação; e
FAF: fator acidez do formol.
No Quadro 1 são apresentados os valores
para conversão de mililitros gastos na segunda
titulação, após subtração do fator acidez do fon1101,
percentual de caseína, dispensando a
Pág. 9
multiplicação por 0,874.
O método desenvolvido apresentou limite
de detecção igual a 0,04% de caseína. Pela descrição
acima, depreende-se que a técnica analítica é
simples e rápida, empregando materiais de uso
comum em laboratórios de controle de qualidade, o
que penrute prever a sua aplicabilidade em análises
de rotina nas indústrias de laticínios.
3.2. C OMPARAÇÃO ENTRE MÉTODOS
DE ANÁLISE
A Figura 2 apresenta os resultados das
análises de caseína em 16 amostras de leite, pelos
métodos de formol e de Kjeldahl. O coeficiente de
correlação linear calculado foi 0,96, indicando alto
grau de associação entre os dois métodos.
A faixa de variação do teor de caseína foi de
1,95% a 3,40%, com amplitude de 1,45% para o
método de Kjeldahl, enquanto os resultados do
método de formol variaram entre 2,03% e 3,19%
de caseína, com amplitude de 1,46%.
As médias das determinações foram 2,?9%
e 2,68% de caseína, pelos métodos de Kjeldahl e de
formol, respectivamente. Com base na aplicação
do teste t, pôde-se verificar que não houve diferença
significativa (P:2:0,872) entre as médias dos teores
de caseína obtidas pelos dois métodos.
Os coeficientes de variação percentual das
diferenças entre duplicatas encontrados para os dois
métodos foram bastante baix9s (0,44 % para o
método de Kjeldahl e 0,88% para o método de
formol). Isto indica que houve baixa variabilidade
nos resultados de determinações em duplicata,
realizadas em condições padronizadas e pelo
mesmo analista. É importante ressaltar que as
estimativas da precisão (repetibilidade) dos métodos
são equivalentes.
3.3. AVALIAÇÃO DA RELAÇÃO ENTRE
CASEÍNA E PROTEÍNA BRUTA
A Figura 3 apresenta a variação da relação
percentual entre os teores de caseína e de proteína
bruta, determinados pelo método de Kjeldahl,
em 16 amostras de leite. A faixa de variação da
relação foi de 71,69% a 83,60%, com média de
79,08% e amplitude de 11,91%. Verifica-se que
houve grande variabilidade entre as amostras, o
que coincide com dados da literatura (ROEPER,
1975; FURTADO, 1989). Este comportamento
dificulta o estabelecimento de um fator constante
para conversão do teor de proteína bruta para
teor de caseína, reforçando a importância da
separação da caseína dos outros compostos
nitrogenados do leite antes da quantificação.
Destaca-se a etapa de separação isoelétrica da
digitalizado por
arvoredoleite.org
Rev. Inst. Latic. "Cândido Tostes", Set/Out, n!! 295, 50: (5): 3-14, 1995
Pág. 10
Rev. Inst. Latic. "Cândido Tostes", Set/Out, n!! 295, 50: (5): 3-14, 1995
caseína no f{létodo de formol desenvolvido neste
trabalho, o que favorece a sua aplicação a leites
individuais e de conjunto, independentemente da
composição diferir em razão da raça, dos tipos
de manejo e alimentação, do período de lactação
e da estação do ano.
� o � 00 � � - � o �
�� If"!.If"!.� �� �� r:� 00 00
� � � M � � � M � �
seguintes conclusões:
- o fator encontrado para conversão de
mililitros de hidróxido de sódio 0,05 molfl
em percentual de caserna foi 0,874;
o método desenvolvido apresentou
limite de detecção compatível com a
utilização em análises de rotina;
a técnica analítica é simples e rápida,
empregando material de uso comum em
laboratórios de controle de qualidade;
- a análise de 16 amostras de leites com
diferentes teores de caseína, pelos
métodos de Kjeldahl e de formol, indicou
haver alto grau de associação entre os
CON C LU S Õ E S
�
00
�
Pág. 11
Foi desenvolvido um método baseado na
reação com formol para determinação do teor
de caseína em leite. Foram analisadas 16
amostras de leite com diferentes teores de
caseína e os resultados obtidos i'n dicam as
4
3,5
� o � o � o � o � o � o �
M� ��� � �� �� If"!.� �� �� �� � 00 00
� � � M � � � � � � � M � �
o
o
��
li
�
11
11
11
11
11
2
� M � o � � �
�� 1f"!.1f"!.�� �� �� �� �� 00
-
�
�
00
00
1,5
1,5
2
3
2,5
%
Caseína
3,5
4
(KjeldahI)
FIGURA 2 - Teores Percentuais de Caseína Determinados pelos Métodos de K jeldahl e de Formol.
Resultados de 16 Amostras de Leite, Analisadas em Duplicata. Coeficiente de Correlação Linear
Igual a
0,96.
digitalizado por
arvoredoleite.org
Pág. 12
Rev. Inst. Latic. "Cândido Tostes", Set/Out, nQ 295, 50: (5): 3-14, 1995
reforçando a importância da separação
prévia da caseína, como ocorre no
método proposto; e
- o método para determinação do teor
de caseína baseado na reação com o
formol é aplicável a leites individuais e
de conjunto, independe ntemente da
composição diferir em razão da raça,
dos tipos de manejo e alimentação, do
período de lactação e da estação do ano,
podendo ser utilizado em programas de
pagamento de leite pela qualidade e na
padronização da relação caseína/
gordura em leite destinado à fabricação
res· ultados
- não houve diferença significativa
(P�0,872) entre as médias dos teores de
caseína determinados pelos métodos de
Kjeldahl e de formol;
- os métodos de Kjeldahl e de formol
apresentaram alta precisão (repeti
bilidade);
- a variação da relação percentual entre
os teores de caseína e de proteína bruta
nas amostras analisadas indicou a
dificuldade no estabelecimento de um
fator constante para conversão do teor
de proteína bruta para teor de caseína,
de queijos.
88
Rev. Inst. Latic. "Cândido Tostes", Set/Out, n2 295, 50: (5): 3-14, 1995
SU MM ARY
FOX, P. F. Food chemistry. Cork, University
obtidos pelos dois métodos;
Col1ege, 1991. 201p.
Method based on formol reaction was de
veloped to quantity casein content in mnk. The
FURTADO, M. A. M. Desenvolvimento de um
novo método analítico para a determinação
detection limit presented was compatible with rou
tine analysis. The analytical technique is fast, re
de soro adicionado ao leite pasteurizado.
Lavras, ESAL, 1989. 98p. (Tese M. S.).
quiring the same material normally found in dairy
quality control laboratory. The method can be ap
FURTADO, M. M. A arte e a ciência do queijo.
plied to either individual 01' bulk milk, even if con
São Paulo, Globo, 1990. 297p.
sidering the difference in composicion due the
breed, management, feeding, lactation period and
seasons. The method has potential to be used as a
GONZALEZ-LLANO, D.; POLO, C.; RAMOS,
M. Update on HP LC and FPLC .analysis
base for payment of milk by quality and in the
determination of the casein/fat ratio in milk for
of nitrogen compounds in dairy products.
Le Lait, 7 0:255-77, 1990.
cheese manufacturing.
.
BIBLIOG RAFIA
86
84
li
li
'11
li
li
ARANDA, P.; ORlA, R.; CALVO, M. Detection
of cow's milk in ewe's milk and cheese by
an immunodotting method. Jou r n a l of
D airy Research, 55: 121-4, 1988.
ASSOCIATION OF OFFICIAL ANALITICAL
CHEMISTS.
Official
methods of
analysis. 40.ed., Virginia, 1984. 1141p.
li
11
li
11
BARBANO, D. M. & CLARK, J. L. Symposium:
Instrumental methods for measuring
components of milk. Journal of D airy
Science, 72:1627-36, 1989.
li
li
CARPENTER, R. N. & BROWN, R. J.
Separation of casein micel1es from milk
for rapid determination of casein
concentration.
Jou r n a l
of D airy
Science, 68:307-11, 1985.
li
P. C.
Metodos de a n alisis
lactológicos. Madrid, Indústrias Lácteas
li
CIMIA NO,
Espafíolas, 1982. 176p.
72
COOPER, T. G. The toois of biochemistry.
New York, John Wi ley & Sons, 1977.
423p.
70
68
o
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Amostra
de Leite,
FIGURA 3 - Variação da Relação entre Caseína e Proteína Bruta, em Percentual, de 16 Amostras
Analisadas em Duplicata.
Pág. 13
DE PETERS, E. J. & CANT, J. P. Nutritional
factors influencing the nitrogen composition
of bovine milk: a review. Journal of Dairy .
Science, 75:2043-70, 1992.
FOX, P. F. Rennets and their action in cheese
manufacture and ripening. Biotechnology
and Applied Biochemistry, 10:522-35, 1988.
FOX, P. F. Proteolysis during cheese
manufacturing and ripening. Journal of
Dairy Science, 72:1379-400, 1989.
HOLLAR, C. M.; LAW, A. J. R.; DALGLEISH,
D. G.; MADRANO, J. F.; BROWN, R. J.
Separation of B-casein AI, A2 and B using
cation-exchange fast protein liquid
chromatography. J ou r n a l of D airy
Science, 74:3308-13, 1991.
Norm as
ADOLFO LUTZ.
a n a l í tic as do Instituto Adolfo Lu tz:
INSTITUTO
métodos químicos e físicos para análise de
alimentos. 3.ed. São Paulo, 1985. 553p.
INTERNAT IONAL DAIRY FEDERATION.
Determina tion of protein in milk. s.1.,
1980. 2p. (Document, 128).
INTERNATIONAL
DAIRY
FEDERAT ION.
Determin ation des teneurs en m atiere
grasse laitiere, proteines et lactose. s.
1., 1990. 8p. (Norme Internationale, 141A).
KARMAN. A. H. & VAN BOEKEL. M. A. J. S.
Eval uation of the Kje l dahl factor for
conversion of the nitrogen content of milk
and milk products to protein content.
Netherlands Milk and D airy Journ al,
4 0:315-36, 1986.
KIRCHMEIER,
O.
of
Arrangement
components,
electric
charge
and
interaction energies of casein particles.
Netherl a nds Milk and D airy Journ al,
27:191-8, 1973.
KIRIA MA, H.; HARADA, E. ; S Y U T O, B.
Analysis of colostral proteins in calf serum
by enzyme-linked immunosorbent assay.
Journal of D airy Scien ce, 72:398-406,
1989.
LELI:EWRE, J. Influence of the casein/fat ratio
in milk on the moisture in the non-fat
digitalizado por
arvoredoleite.org
Rev. Inst. Latic. "Cândido Tostes", Set/Out, nQ 295, 50: (5): 3-14, 1995
substance in Cheddar cheese. Journal of
the
Society
of
D airy
Technology,
3 6:119-20, 1983.
LOURENÇO, 1. P. M. & WOLF SCHOON
POMBO, A. F. Exatidão da determinação
volumétrica de caseína no leite. Revista
do I n s tituto de L a ticí nios Cândido
Tostes, 37:8-12, 1982.
McKENZIE, H. A. Milk proteins . Chemistry
and
molecular
biology.
Lon don,
Academic Press, 1970. 519p.
MARCHAL, E . ; COLLARD-BO V Y, C.;
HUMBERT, G.; LINDEN, G. Micropartic1e
enhanced nephelometric immunoassay. 1.
Measurement of -lactalbu min and 1)
lactoglobulin. Journal of Dairy Science,
74:3702-8, 1991.
MILLER, 1. C. & MILLER, 1. N. Basic
statistical
methods
for
analytical
chemistry. A n alyst, 113:1351-6, 1988.
PYNE, G. T. The determination of mi1k proteins
by
formaldehyde
titration.
The
Biochemical JournaI, 26:1006-14, 1932.
RICHMOND, H. D. The degree of accuracy with
proteins can be estimated in mnk by aldehyde
titrations. The Analyst, 3 6: 9-12, 1911.
RICHMOND, H. D. & MILLER, E. H. Note on
a recent paper by R. Steinegger on the
"aldehyde figure" of mnk. The A nalyst,
31: 224-6, 1906
ROE P ER, 1. Formol titration method of
estimating true protein and casein in skim
mi1k. New Zea l a nd J ou r n a l of D airy
Science a nd Technology, 9: 49-50, 1974.
ROWLAND, S. J. T he precipitation of the
proteins in mi1k. J our n a l of D airy
Research, 9 :30-41, 1938.
Pág. 14
SILVA, P. H. F. & CARVALHO, M.
Determinação de nitrogênio em leite pelo
método de Kjeldahl. Revista do Instituto d�
Laticínios C ândido Tostes, 48:30-6, 1993.
Rev. Inst. Latic. "Cândido Tostes", Set/Out, nQ 295, 50: (5): 15-29, 1995
Pág. 15
DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIA ANALÍTICA PARA
AVALIAÇÃO DE PROTEÓLISE EM QUEIJOS(*)
Development of analytical procedure for evaluation of proteolysis in cheese
VAN BOEKEL, M. A. J. S. & RIBADEAU
DUM A S, B. Addendum to the evaluation
of the Kjeldahl factor for conversion of
the nitrogen content of mnk and milk
products
to
protein
content.
Paulo Henrique Fonseca da Silva (**)
Adão José Rezende Pinheiro (***)
José Carlos Gomes (****)
N etherl ands Milk and D airy Journal,
June Ferreira Maia Parreiras (****)
41: 281-4, 1987.
VARGAS, O. L. & SILVA, P. H. F. As frações
caSe1nlCaS,
de
soro-proteínas
co
precipitadas e de soro- proteínas não
desnaturadas do leite como complementos
às confirmações das fraudes com soros
Revi s t a do Instituto de Latic í n ios
C ândido Tostes, 48: 19-29, 1993.
Maria Cristina A lvarenga Viana Mosquim (****)
WAL S T RA, P. On the stability of casein
micelles. Jou r n al of D airy Scien ce,
73 : 1965-79, 1990.
P. & JENNESS, R.
D airy
chemistry and phisics. New York, John
WAL S T RA,
Mauro Mansur Furtado (****)
RESUMO
Foram desenvolvidas técnicas analíticas para determinação dos teores de nitrogênio total, nitrogênio
solúvel em pH 4,6 e nitrogênio solúvel em ácido tricloroacético 12%. O método de fonnol estima o grau de
proteólise por meio da quantificação dos grupos amino liberados durante a maturação dos queijos.
O acompanhamento da proteólise em queijos Prato ao longo da maturação indicou haver alto grau
de associação entre os resultados obtidos com os métodos de Kjeldahl e de formol. A análise de queijos
comerciais indicou que o método de formol é aplicável a diferentes tipos de queijos, com alta correlação com
o método de referência.
1. INTRODUÇ ÃO
Wiley & Sons, 1984. 423p.
WOLSCHOON, A. F &. LEITE, E. A. titulação
de
formol:
método
rápido
para
de terminação de proteínas no soro.
Revista do Institu to de L a ticí nios
C ândido Tostes , 3 2:3-6, 1977.
WOLSCHOON, A. F; SILVA, P. H. F.;
DORNELLA S,
J.
B.
F.
Análise
infravermelha do doce de leite com o Mi1ko
Scan 104.
Revista do Instituto de
Laticínios C ândido Tostes, 38:3-8, 1983.
WOLSCHOON, A. F. & VARGAS, O. L.
Aplicação do método de formol para
determinação do conteúdo de proteína no
leite cru e pasteurizado. Revi s t a do
Ins titu to de Laticí nios
Tostes , 32:3-13, 1977.
C ân dido
1.1. A PROTEÓLISE DURANTE A FABRI
CAÇÃO E A MATURAÇÃO DE QUEIJOS
A proteólise é O principal fenômeno que
contribui para o aroma e a textura dos queijos
(ALONSO et alii, 1988), podendo ser dividida em
três fases, segundo FOX (1989): proteólise no lei
te antes da fabricação dos queijos, coagulação
enzimática do leite e proteólise durante a
maturação.
1.1.1. PROTEÓLISE NO LEITE ANTES DA
FABRIC A Ç ÃO
A proteólise pré-fabricação dos queijos pode
ser proveniente da ação de proteinases naturais do
leite, como a proteinase alcalina (plasmina, EC
3.4.21.7 ), ou de origem microbiana, como as
proteinases produzidas por bactérias psicrotróficas.
(* )
( ** )
( *** )
Em leites provenientes de animais com mamite
clínica ou sub-clínica podem ocorrer proteinases
de leucócitos, capazes de afetar a qualidade e o
rendimento de queijos produzidos com estes leites
(FOX, 1989).
1.1.2. C OAGULAÇÃO ENZIMÁTICA D O
LEITE
A coagulação enzimática do leite ocorre
por ação de enzimas proteolíticas com alta ati
vidade em pH ácido. A quimosina (EC 3.4.23.4)
promove uma proteólise específica sobre a k
caseína, hidrolisando a ligação entre os
aminoácidos fenilalanina (105) e metionona
(106) (VISSER, 1993). A fração amino-termInal,
denominada para-K-caseína, é insolúvel na pre
sença de íons cálcio, passando a fazer parte da
estrutura do coágulo. A fração carboxi-terminal,
caseíno
den.ominada
genericamente
macropeptídeo, é solúvel na presença de íons
cálcio, sendo perdida no soro (FOX, 1991).
Parte da tese apresentáda pelo primeiro autor à Univers
idade Federal de Viçosa, como uma das
exigências do curso de Ciência e Tecnologia de Aliment
os, para obtenção do Título de "Magister
Scientiae".
Professor da EPAMIG/ CEPE/Instituto de Laticíni
os Cândido Tostes.
Professor da Universidade Federal de Viçosa/Departa
mento de Tecnologia de Alimentos Orientador da Tese.
Professor da Universidade Federal de Viçosa/ Departa
mento de Tecnologia de Alimentos Membro da Banca de Defesa da Tese.
digitalizado por
arvoredoleite.org
Pág. 16
Rev. Inst. Latic. "Cândido Tostes", Set/Out, nQ 295, 50: (5): 15-29, 1995
1 .2.3. PROTEÓLISE DURANTE A
M ATURAÇÃO
Alguns tipos de queijos sã� consumidos fres
cos, principalmente aqueles obtldo� por coagul�.
- a'cI'da do leite. Entretanto, a maIOrIa dos queIçao
.
' �ao
jos obtidos por coagulação enzimátIca do ielte
,
maturados. Durante a maturação, ocorrem v �nas
.
alterações · bioquímicas nos principais constI�U1ntes
dos queijos (proteínas, lípides e lac:�ose resIdual).
Entre os compostos isolados de queIJos �atura�o�,
incluem-se: peptídeos, aminoácidos, a�lUas, aCI
dos tióis, tioésteres, ácidos graxos, metIl-cetonas,
lac onas, ácidos orgânicos, dióxido �e c:arbono e
álcoois. Estes compostos são responsavels por ca
racterísticas de flavor dos queijos" ( �OX: 1991).
.
As proteínas são hidrolisadas em varIOS SItlOS u
rante a maturação, e a perda da estrutura protelca
.
original altera as propriedades reológicas dos qUeijos (GRAPPIN et alii, 1985).
.
Os principais agentes envolv � os na
_ o:
proteólise durante a maturação dos q�eIJos s �
enzimas coagulantes, enzimas naturaIS do leite,
enzimas de bactérias láticas utilizadas como fe�
mento, enzimas de fermentos não-Iáticos (bacte
.
rias propiônicas, mofos e leveduras) e enZImas de
bactérias não utilizadas como fermento, m �s q �e
ocorrem nos queijos por resistirem à pasteunzaçao
ou como contaminantes durante a fabricação CF X,
1991). Todos estes agentes têm ação proteohtlca
sinergística sobre a caseína, e o processo pode s �r
-
;
,�
?
?
considerado como uma quebra em cadela
(DESMAZEAUD e GRIPON, 1977; FOX, 1991).
1 .2. MÉTODOS PARA AVALIAÇÃO DA
PROTEÓLISE EM QUEIJOS
V ENEMA et alii (1987) definiram grau de
maturação como sendo a ext�nsão da degradação
protéica em um queijo produZIdo e estocado sobre
,
condições definidas. Os mesmos autores conclm
ram que a avaliação sensorial, mesmo �uando
realizada por um painel de julgadores trelUado �,
oferece resultados menos confiáveis do que as ana
.
lises químicas . Esforços têm sid conduzl�o � no
.
sentido do desenvolvimento de lUdlces obJet� os
para acompanhamento da proteólise em queiJos,
que permitam predizer a qualidade do produ�o final
quando este é entregue ao mercado consumidor. A
.
'
avaliação sensorial apresenta resultados su b�ehvos,
?
:
além da dificuldade de se avaliar grande número de
amostras, em razão da fadiga dos provadores
( F ARKY E e F OX, 1990). P OM ERANZ e
MELOAN (1994) recomendam que" �empre q Ue
,
for possível a utilização de técnicas flslcas ou qUl
.
micas para medição das caracterís�icas de qualIdade
.
dos alimentos, estas medidas objetivas devem ser
preferidas em relação às medidas subjetivas, como
a análise sensorial.
VAK ALERIS et alii (1960) empregaram
a reação com formol para avaliação de
proteólise, mediante titulação em extra�o aquo
so do queijo, de forma a estimar a quantidade de
nitrogênio capaz de se ligar ao formol. Os re
s u l tados foram expressos como percentual do
nitrogênio total dos queijos. T� A B e H OF I
, . �s
(1965) es tudaram método s q Ulml �os rapld
para acompanhamento da maturaçao de quel�
jos, concluíndo que a titulação co � formol
eficaz no início e final da maturaçao e que o
método de Shilovich, o qual em prega
. .
timolftaleína e fenolftaleína como lndlCa �o
,
res, é especialmente indicado para o s estaglOs
finais da maturação.
, .
GRIPON et alii (1975) descreveram tecm
cas de fracionamento do nitrogênio em extrato de
queijo preparado com citrat� �e sódi? ?,5 moI/I,
utilizando precipitações com aCldo clondnco e com
ácido tricloroacético. DESMAZEUAD e GRIPON
(1977) apresentaram estudos cromatográficos da
fração nitrogenada solúvel em pH 4,6, revela�do
que 28% dos peptídeos compunham-se de molecu
las com massa molecular menor que 3000, 50%
entre 3000 e 5000 e 20% maior que 5000. Estes
dados demonstraram que a fração nitrogenad � so
lúvel em pH 4,6 contém, principalmente, peptldeos
de massa molecular elevada. A solubilidad� em á�ua
.
a pH 4,6 é, provavelmente, o método maiS utlhza.
•
.
do para fracionamento inicial do mtrogem ? no
.
..
queiJo ou como índice bruto da proteohse
(KUCHROO e FOX, 1982; KUCHROO e FOX,
.
1983a). A maioria dos compostos que co � tn?uem
para o flavor do queijo Cheddar são soluvels em
solventes aquosos (ASTON e CREAMER, 1986).
O ácido tricloroacético, em concentra
ções de 2 a 12%, tem sido el�pregad � para se
paração de peptídeos de méd ia e baixa ma � sa
..
molecular em extratos aquosos dos queiJos ou
em filtrados obtidos de precipitação em pH 4,5
( F OX, 1989). Y V ON et alii (1989) a?resenta
ram uma hipótese para o mecan i s mo de
solubilidade de peptídeos em TCA. O aumento
no número de resíduos de amino áci dos e na
massa molecu lar dos peptídeos não apresenta
ram boa correlação com a solubi lidade em TCA
12 %. Os autores verificaram que os peptídeos
solúveis em TC A 12% continham de 2 a 20
.
resíduos de aminoácidos, enquanto os peptldeos
":'
insolúveis continham de 10 a 65 res íduos. En
tretanto, todos os peptídeos contendo men � s
do que sete resíduos de aminoácidos foram solu
veis em TCA, em concentrações de 2 a 12%. A
principal característica corre l acionada com a
solubilidade em T C A 12% fo i o au mento na
Rev . 1nst. Latic. "Cândido Toste
s", Set/Out, n9 295, 50: (5): 15-2
9, 1995
Pág. 17
hidr ofo bicid ade s u perficial
ace s s í v e l dos
Técnicas cromatográficas têm
pept ídeo s. A hipó tese suge re
sido usadas
que o T C A, ao
para fracionamento de com
interagir com os peptídeos, indu
postos originados da
z a um aumen
proteólise em quei jos, tais
to na hidro fobic idade supe rficia
com o: cromatografia
l aces sível (ou
em cam ada delg ada, perm
decré s c imo no pote ncia l de
eaçã o gélic a,
hidra tação ), que
cromatografia líqui da de alta
pode levar à agregação por ação
reso luçã o e troca
de interações
iônica. A cromatografia de penn
hidrofóbicas .
eação gélica é útil
para fracionamento de peptídeos
solúveis em água.
O nitrogênio solúvel em TCA
e o nitrogê
Para o isolamento de peptídeo
nio solúvel em ácido fos fotún
s homogêneos são
gstico apr'es entam
nece
ssan as técnicas adic iona
correlação significativa com a idade
i s , como a
e com a inten
cromatografia de troca iônica
sidad e do flavo r do queij o Ched
(KUCHROO e FOX,
dar. Som ente
1983). Resultados obtidos com
amin oácid os e peptídeos com
a combinação de
mass a molecular
diálise, solubilização em etano
menor que 600 são solúv
l 70%, cromatografia
eis em ácid o
de penneação gélica e cromatogr
fosfotúngstico , demonstrando
afia de troca iônica
que esse índic e é
indicaram que a fração solúvel
depe nden te da capa cidad e
em água em queijo
de prote inase s e
Cheddar é constituída de pequ
pept idase s prese ntes no queij
enos peptídeos, com
o em hidro Jisar a
gran de hete roge neid ade ( K
caseí na até pequ enos pept ídeos
UCH ROO e F OX,
e aminoácidos
1983b). TIEL MAN e WART
(FARKYE e FOX, 1990).
HES EN (1991) em
pregaram cromatografia líqui
da de alta resolução
A proteólise resulta na formação
de novos
para caracterização de pept
grupos a-amino, que podem ser
ídeos e aminoácidos
medidos por meio
em queijo Cheddar.
de diferentes reagentes, tais como
: negro de ami
O objetivo do presente traba
do, ácido trinit robe n zeno
lho foi desen
sulfô nico , Iítio
volver uma metodologia analí
tica para a determi
ninh idrin a, cádm io-ninhidrina
e f1uorescamina.
nação dos teores de nitrogêni
Esse s métodos apresentam as
o total, nitrogênio
vantagens de não
solúvel em pH 4,6 e nitrogêni
serem dependentes de efeitos
o solúvel em ácido
indiretos, como a
tricIoroacético 1 2%, por meio
solubilidade específica, e de medi
da estim ativa dos
rem uma conse qü
prótons liberados a partir da reaçã
ência direta da proteólise. Entre
o do formol com
tanto, apesar do
os grupos amino das proteínas
bom desempenho, são onerosos
e dos produtos ori
e nece ssitam de
ginados da proteólise durante
mão-de-obra especializada (FOX
a maturação de quei
, 1989; FARKYE
jos.
Procurou-se obter métodos simp
e FOX, 1990).
les, baratos e
confiáveis que possam vir a
ser utilizados pelas
F OLK ERT S M A e F OX (1992)
dese nvol
indú
strias de laticínios para avaliação
veram um méto do para monitora
da proteólise
mento da fase
durante a maturação de queij
final da proteólise em queijos,
os.
correspondente
à form ação de amin oáci dos
livre s , utili zand o
2. MATERIAL E MÉTODOS
reag ente com po s to de cádm
io e ninh idrin a.
B OUT ON e GRA PP 1N (199
4) compararam os
2.1. DES ENV OLVIMENTO DOS
méto dos emp rega ndo ácido
MÉTO
fos fotú ngs tico e
D
OS
ácido trini trobe nzen osulf ônico
para es timar o
níve l de amin oáci dos livre
em quei jos
Os métodos baseados na reaçã
matu rado s,
o com fonnol
conc luind o
que o
méto do
para avaliação de proteólise
em queijos foram de
espe ctro foto métr ico, que
emp rega o ácid o
senvolvidos no Laboratório de
trinitrobenzenosulfônico, pode
Análise Físico-Quí
ser utilizado em
mica de Alimentos, do Departame
subs titu i ção à dete rmin ação
nto de Tecnologia
pelo méto do de
de Alimentos da Universidade
Kjel dahl em fi ltrad o o b
Federal de Viçosa
tido com ácid o
(Viçosa, MG). Foram empregad
fos fotú ngst ico.
as amostras de queijo
Prato doadas por indústrias de
laticínios do Estado '
Não exist e método eletroforé
tico padrão
de Min as Gera is. Foram
utili zado s solu ções ,
para queijos, e a comparação
entre resultados de
reagentes, vidraria, equipamen
diferentes laboratórios é freqü
tos e utensílios nor
entemente difícil.
malmente encontrados em labor
Em geral, o comportamento
atórios de contro
eletroforético dos
le de qualidade de indústrias de
queijos está mais relacionado
laticínios.
com as atividades
do coagulante residual e da plasm
ina. A utilização
2.2. C OMP ARA ÇÃO ENT RE
de gel contendo sulfato de dode
MÉT ODO S
cil-sódio ou uréia
DE ANÁLISE
não é recomendada. Os melh
ores resultados fo
ram obtidos com gel de polia
crilamida contendo
Foram analisadas 12 amostras
gel empilhador e negro de
de queijo Pra
amido ou Page Blue
to doadas por uma indústria de
G90 como reveladores (SHAL
laticínios do Estado
ABI e FOX, 1987;
de Minas Gerais, pertencentes
FARKYE e FOX, 1990).
a três lotes diferen
tes, sendo quatro queijos de cada
lote. Os queijos,
digitalizado por
arvoredoleite.org
Rev. Inst. Latic. "Cândido Tostes", Set/Out, n9 295, 50: (5): 15-29, 1995
após a salga e secagem, foram embalados em pelí
cula plástica, a vácuo, e enviados sob refrigeração
para a cidade de Viçosa, MG. A maturação foi
realizada a 12!lC, em câmara fria, na Usina-Piloto
de Laticínios da Universidade Federal de Viçosa.
Foram realizadas determinações dos teores
de nitrogênio total, nitrogênio solúvel em pH 4,6
e nitrogênio solúvel em ácido tricloroacético 12%,
e m duplicata, empregando-se os métodos d e formol
desenvolvidos neste trabalho e o método de Kjeldahl
(GRIPON et alH, 1975), como método de referên
cia. As análises foram feitas após 10, 20, 30 e 40
dias de maturação , e, para cada período de
maturação, foram analisadas três amostras perten
centes a lotes diferentes.
Análises dos teores de umidade, gordura e
cloreto de sódio (KOSIKOWSKI, 1977) foram
executadas em todas as amostras, em duplicata. Os
teores de proteína foram calculados a partir das
determinações de nitrogênio total pelo método de
Kjeldahl (GRIPON et alii, 1975). Para a conver
são do teor de nitrogênio total para percentual de
proteína, utilizou-se o fator 6,35 (KARMAN e
VAN BOEKEL, 1986; VAN BOEKEL e
RIBADEAU-DUMAS, 1987). Esses resultados per
mitiram calcular as relações entre gordura e extra
to seco e entre proteína e gordura nos queijos.
Os dados obtidos foram analisados por meio
do coeficiente de correlação linear entre os méto
dos. A precisão (repetibilidade) dos métodos foi
estimada por meio do cálculo do coeficiente de
variação das diferenças entre duplicatas (KRAMER
e TWIGG, 1982).
2.3. ANÁLISES DE DIFERENTES TIPOS
DE QUEIJO
Foram analisadas amostras de queijos Prato,
Danbo, Gouda e Parmesão doadas por indústrias de
laticínios do Estado de Minas Gerais e uma amos
tra de queijo Gouda holandês adquirida na França.
Foram realizadas determinações dos teores
de nitrogênio total, nitrogênio solúvel em pH 4,6
e nitrogênio solúvel em ácido tricloroacético 12%,
e m duplicata, empregando-se os métodos de formol
desenvolvidos neste trabalho e o método de Kjeldahl
(GRIPON et alii, 1975), como método de referên
cia. Os dados obtidos foram analisados por meio do
coeficiente de correlação linear entre os métodos.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 . DESCRIÇÃO DOS MÉTODOS DE
S E N V O LVIDOS
N o desenvolvimento dos métodos, o s me
lhores resultados foram obtidos com a extração
Pág. 18
Rev. Inst. Latic. "Cândido Tostes", Set/Out, n2 295,
das frações nitrogenadas dos queijos em solução de
citrato de sódio. Para a determinação de nitrogê
nio total, empregou-se diretamente a suspensão de
queijo, enquanto para as frações nitrogenadas solú
veis empregaram-se os filtrados correspondentes
às precipitações cOm ácido clorídrico (até pH 4,6)
e ácido tricloroacético.
Os melhores resultados na etapa de titulação
foram obtidos com solução de hidróxido de sódio
0,05 moI/I para determinação de nitrogênio total,
e com solução de hidróxido de sódio 0,0 1 molfl
para determinações de nitrogênio solúvel em pH
4,6 e em ácido tricloroacético 12 %. Soluções com
concentrações maiores resultaram em baixa sensi
bilidade, enquanto soluções com concentrações
menores geraram dificuldades na detecção do pon
to final da titulação.
A descrição detalhada dos métodos desen
volvidos é apresentada a seguir, e as técnicas ana
líticas são esquematizadas na Figura 1 .
3.1.1. SOLUÇÕES E REAGENTES
50:
(5): 15-29, 1995
Pág. 19
80 ml água destilada 40-45 llC
40 mI citrato de sódio 0,5 molfI
NT
NS pH 4,6
- Água purificada.
- Ácido clorídrico 1,41 mols/l, solução
reagente.
- Ácido tricJoroacético 24% (m/v),
solução reagente.
- Citrato de sódio 0,5 molfl, solução
reagente.
- Fenolftaleína 1 % (m/v) alcoólica
neutralizada, solução indicadora.
- Formaldeído 35-40 % (v/v), para
análise.
- Hidróxidode sódio 0,0 1 molfl, solução
volumétrica.
- Hidróxido de sódio 0,05 moI/I, solução
volumétrica.
- Hidróxido de sódio 1 moI/I, solução
reagente.
NS TCA
. Cerca d e 7,5
12%
mI NaOH 1 molfI
3 . 1 .2. VIDRARIA
- Bastão de vidro.
- Balão volumétrico com tampa,
capacidade de 200 ml.
Béquer, capacidade de 100 ml.
- Béquer, capacidade de 250 m!.
- Bureta, capacidade de 10 ml, intervalo
de graduação de 0,05 mI.
- Frasco erlenmeyer, boca estreita,
capacidade de 125 ml.
- Pipeta graduada, capacidade de 20 ml,
intervalo de graduação de O,lm!.
- Pipeta graduada, capacidade de 10 ml,
intervalo de graduação de O, lml.
Pipeta graduada, capacidade de 5 ml,
FIGURA 1 - Representação Esquemática dos Métodos para Avaliação de Próteólise em Queijos
Baseados na
Reação com Formol.
digitalizado por
arvoredoleite.org
Rev. lnst. Latic. "Cândido Tostes", Set/Out, n!! 295, 50: (5): 15-29, 1995
intervalo de graduação de O, lmI.
- Pipeta graduada, capacidade de 1 ml,
intervalo de graduação de O, lmI .
- P ip eta v olumétrica, capacidade d e
100 m I .
- P i p eta v olumétrica, capacidade d e
5 0 mI.
- P ip eta v olumétrica, capacidade de
20 ' m I .
Proveta graduada, capacidade d e 100 ml,
intervalo de graduação de 1 mI.
3.1.3. EQUIPAMENTOS
- Balança semi-analítica ou analítica.
- Liquidificador doméstico.
3.1 .4. UTENSÍLIOS E OUTROS
- Copo plástico para liquidificador,
capacida�e de 500 mI.
- Espátula de aço inoxidável.
- Funil de vidro, haste longa, ângulo de
60 2, diâmetro de 10 cm.
- Haste com base e pinças duplas para
bureta.
- Haste com base e suporte para funil
de vidro.
- Papel d e filtro quantitativo para
precipitados gelatinosos, baixo teor de
cinzas, diâmetro de 12,5 cm.
- Pipetador de b orracha.
- Pisseta plástica, capacidade de 500 ml.
- Termômetro com escala de O a 1002C,
intervalo de graduação de 1 gC.
3.1.5. FATOR ACIDEZ DO FORMO L
Transferir, com auxílio de pipetador de bor
racha, 2 ml de formaldeído 35-40% (v/v) para um
erlenmeyer de 125 ml. Adicionar 10 ml de água
destilada e 1 ml de fenolftaleína 1 % (m/v) alcoóli
ca n eutral i zada. T itular por uma s olução d e
hidróxido d e sódio 0,05 moI/I até coloração rósea
nítida e persistente (pH 8,3). O volume gasto cons
titui o fator acidez do formol.
3.1 .6 . TÉCNICAS ANALÍTIC AS
Pág. 20
queijo triturad o, dir etamente e m um copo d e
liquidificador. Adicionar 8 0 m l de água destila
da a 40-45 !lC e 40 ml de solução de citrato de
sódio 0,5 mol/I . Bater em liquidificador por 7
mino M ovimentar cuidadosament e o c op o d o
liquidificador para facilitar o desaparecimento
da espuma. Transferir quantitativamente a sus
pensão de queijo para um balão volumétrico de
200 ml, fazendo várias lavagens com pequenos
volumes de água desti lada . Acrescentar água
destilada em quantidade que não ultrapasse a
marca de referência do balão volumétrico. Res
friar em água corrente até 20 gc. C ompletar o
volume com água destilada até a marca de refe
rência do balão v olumétrico. Inverter o b alão
várias vezes para uniformizar a suspensão.
Rev. lnst. Latic. "Cândido Tostes", Set/Out, nQ 295, 50: (5): 1 5-29, 1995
acrescentar 1 5 ml d e água destilada. Filtrar atra
vés de papel de filtro. Pipetar 20 ml do filtrado
para um erlenmeyer de 125 ml . Adicionar 20
ml de água d es t i lada e 1 ml de sol u ç ã o d e
fenolftaleína 1 % (m/v) alcoólica neutralizada.
Acrescentar, utili zando uma bureta e sob cons
tante agitação, aprox i madamente 2,5 ml d e
solução d e hidróxido d e sódio 1 moI/I. Titular
por uma s oluçã o de hidróx i d o d e sódio 0,0 1
moi/I até c ol oraçã o rósea nítida e persistente
(pH 8,3). Adicionar, com auxílio de pipetador
de b orracha, 2 ml de formaldeído 35-40%(v/v).
Esp erar 20 s e t i tu l ar n ovamente p or uma
solução de hidróxido de sódio 0,0 1 moi/I até
col oração rósea nítida e persistente (pH 8,3).
Calcular o teor de nitrogênio solúvel em pH
4,6 por meio da fórmula abaixo:
3.1.6.2. DETERMINAÇÃO DE NITROGÊ
NIO TOTAL
P i p etar 20 ml da suspens ã o de qu ei j o
para u m erlenmeyer d e 1 25 m l . Adicionar 2 0
ml d e água d es t i lada e 1 ml d e' s olução d e
fenolft aleína 1 % (m/v) alcoólica neutralizada.
Titular por uma solução d e hidróxido de sódio
0,05 mol/l até coloração rósea nítida e persis�
t ent e (pH 8 , 3) . A d i c i onar , c om auxí l i o d e
pipetador d e b orracha, 2 m l d e for m ald eído
35- 40 % (v/v) . Esperar 20 s e titular nova
mente por uma s olução d e hidr óxido d e sódio
0,05 moI/I até coloração rósea nítida e persis
tente (pH 8,3).
Calcular o teor de nitrogênio total por meio
.
da fórmula abaixo:
NT
=
(rnl FAF)
-
X
C
X
1400
g
Sendo:
N T ... teor de nitrogênio total (mg/100g);
ml .. .. ml de solução de hidróxido de sódio
gasto na 2l! titulação;
FAF .. fator acidez do formol;
C ...... concentração (moI/I) da solução de
hidróxido de sódio; e
g . . .. .. . gramas de amostra, considerando
se a diluição efetuada (1 g).
3.1 .6 .1 . PREPARO DA AMOSTRA
3.1.6.3. DETERMINAÇÃO DE NITROGÊ
NIO SOLÚVEL EM pH 4,6
P icar todo o qu eijo em pequenos cubos
ou r etirar uma amostra não inferior a 1 00 g,
preferencialmente com aux íli o de uma sonda.
Bater em liqu i d i ficador até formação d e uma
massa uniforme. Pesar com exatidão, utilizan
do balança analítica ou semi-analítica, 10 g d o
Pipetar 100 ml da susp ensão de quei j o
para u m béquer de 250 m l . Adicionar, com au
xílio de pipetador de borracha, vagarosamente
e sob agitação moderada, 10 m) de solução de
ácido clorídrico 1,41 mols/1. Aguardar 5 min e
NS PH 4, 6 =
(rnI - FAF)
X
C
X
1400
g
Sendo:
NS pH 4,6: teor de nitrogênio solúvel em
pH 4,6 (mg/lOOg);
ml . .. . ml de solução de hidróxido de sódio
gasto na 2l! titulação;
FAF .. fator acidez do formol;
C . . . . . . concentração (moI/I) da solução de
hidróxido de sódio; e
g . ... .. . gramas de amostra, considerando
se as diluições efetuadas (0,8 g).
3.1.6.4. DETERMINAÇÃO DE NITROGÊ
NIO SOLÚVEL EM TCA 12 %
Pip etar 50 ml da suspensão de q u ei j o
para um béquer d e 2 5 0 m l . Ad ici onar, com
aux í l i o d e pipeta d or de b orracha, vagar osa
m en t e e s ob agitação m o d erada, 50 ml d e
solução d e T CA 24%. Aguardar 1 5 min e fi l
trar através d e . papel d e filtr o . P ipetar 20 m l
d o filtrado para um er l en m ey er d e 1 2 5 m l .
Adici onar 20 ml d e água desti lada e 1 ml d e
s o l u ç ã o d e fenolftaleína 1 % (m/v) alcoólica
n eu t r a l i za da . Acresc entar, u t i l i za n d o uma
bureta e s ob constante agi tação, aproximada
mente 7,5 ml de s olução d e hidróxido de sódio
1 moI/I. Titular por uma solução de hidróxi d o
d e s ó d i o 0,01 m oi / I até coloração r ós ea níti
da e p er s i s t en t e (pH 8,3 ). A d i c i onar, c om
auxí l i o de pip etad or de b orracha, 2 ml d e
formaldeído 35-40 % (v/v). Esperar 2 0 s e ti
tular novamente por uma solução de hidróxido
d e s ód i o 0,01 m ol/l até col oração rós ea nít i
da e p ersistente (pH 8,3) .
Calcular o teor de nitrogênio solúvel em TCA
Pág. 2 1
12% por meio da fórmula abaixo:
NS TCA 1 2 %
=
( ml - FAF)
x
C
x
1400
g
Sendo:
NS TCA 12%: teor de nitrogênio solúvel
em ácido tricloroacético 12% (mg/
100g);
ml ... ml de solução de hidróxido de sódio
gasto na 2l! titulação;
FAF . fator acidez do formol;
C . .. . . concentração (mol/l) da solução de
hidróxido de sódio; e
g .. . . . . gramas de amostra, considerando-se
as diluições efetuadas (0,5 g).
Os métodos desenvolvidos apresentaram
limites de detecção inferiores a 4 mg/ l00g para
NT e 1,5 mg/100 g para NS em pH 4,6 e para
NS em TCA 12%, compatíveis c om a utiliza
ção em análises de rotina.
Pela descrição acima d epreende-se que as
técnicas analíti cas são simples e rápidas, empre
gando materiais de uso comum em indústrias de
laticínios, o que permite prever a sua aplicabilidade
para avaliação de proteólise em queijos.
3.2. C OMPARAÇÃO ENTRE MÉTODOS
DE ANÁLISE
As Figuras 2, 3 e 4 apresentam as cor
r elações entre os mét od os d e K j eldahl e de
formol para d et erminação d e NT, NS em pH
4,6 e NS em T CA 12% em quei j os c om 1 0,
20, 30 e 40 dias de maturação. No Quadro 1
encontra-se a c omposiçã o físic o-química dos
quei j os analisados. Os resultados são médias
de três r epet i çõ es, anal isadas em dupl i cata.
V isualiza-se que o método d e formol d et ecta
menores teores de nitrogênio do que o méto
do de K j eldah1. Este comportam ent o está de
acordo com o fundamento do mét od o, s egun
do RICHMOND e M IL L ER ( 1 906), q u e de
m onstraram q u e cada gru p o ami n o presente
na molécula d e proteína, capaz d e reagir com
o forma l d eí d o , c or r esp on d e a um m o I d e
protóns e q u e a reação em presença de exces
so de form a l d e í d o é, provavelmen t e , c om
pl eta e mu i t o rápida . Desta forma, o métod o
de formol não d etecta todo o nitrogênio pre
s ente nas moléculas d e proteínas, peptídeos e
aminoác i d o s d os qu ei j os , c om o oc orr e n o
m é t o d o d e K j el d a h l , mas d et e r m i na,
esp ec i f i cam ent e, o nitr ogêni o presen t e n os
grupos amino livres. Isto possibilita a sua uti-
digitalizado por
arvoredoleite.org
Pág. 22
Rev. Inst. Latic. "Cândido Tostes", Set/Out, nQ 295, 50: (5): 15-29, 1995
Kjeldahl
FIGURA 2 - Teores de Ni
trogênio Total (mg/100g)
Determinados pelos Méto
dos de Kjeldahl e de Formol,
em Função dos Dias de
Maturação dos Queijos. Re
sultados Médios de Três Re
petições, Analisadas em
Duplicata. Coeficiente de
Correlação Igual a 0,91.
FormoI
170
3720
11
3700
o
KjeklahI
FormoI
o
165
3680
Rev. Inst. Latic. "Cândido Tostes", Set/Out, nQ 295, 50: (5): 15-29, 1995
o
Kjeldahl
Fonno!
350
I
li!
o
160
11
bl)
El
s.l
11
FIGURA 4 - Teores de
Nitrogênio Solúvel em
Ácido Tricloroacético
(mg/ l OOg) Determina
dos pelos Métodos de
Kjeldahl e de Formol,
em Função dos Dias de
Maturação dos Queijos.
Resultados Médios de
Três Repetições, Ana
lisadas em Duplicata.
Coeficiente de Correla
ção Igual a 0,99.
155
362p
150
3600
40
30
20
Dias de maturação
KjeIdahI
55
11 Kjeldah!
o Fonno!
45
li!
o
35
li!
FIGURA 3 - Teores de
Nitrogênio Solúvel em
pH 4,6 (mg/ lOOg) De
terminados pelos Mé
todos de Kjeldahl e de
Formol, em Função dos
Dias de Maturação dos
Queijos. Resultados
Médios de Três Repe
tições, Analisadas em
Duplicata. Coeficiente
de Correlação Igual a
0,99.
o
25
200
15
150
10
25
�
�
Z0Jl 200
111
E
20
150
15
100
10
20
10
30
40
Dias de maturação
FonnoI
400
350
30
..
250
<
3640
10
35
0Jl
8
�
40
Kjeldahl
o Fonno}
300
8
o
� 3660
Pág. 23
30
20
Dias de maturação
40
lização para avaliação de proteólise em quei
jos, pois o método estima o grau de hidrólise
protéica a partir da quantificação dos grupos
a m i no l iberados, capazes de reagir c o m o
formol, após a quebra de ligações peptídicas
das moléculas de proteínas e de peptídeos que
o c o r r e m à m e d i d a que o processo de
maturação avança.
QUADRO 1 - Composição Físico-Química dos
Queijos Prato. Resultados Médios de Três Repeti
ções, Analisadas em Duplicata
Constituinte
Teor (%)
Umidade
Gordura
Proteína bruta
Relação gordura/estrato seco
Relação proteína bruta/gordura
Cloreto de sódio
39,3
33,4
23,2
55,0
69,5
1,4
Os coeficientes de correlação linear en
tre os métodos de Kjeldahl e de formol para
determinação de NT, NS em pH 4,6 e NS em
TCA 12% foram 0,91, 0,99 e 0,99, respectiva-
mente. Isto indica que, em bora existam dife
renças entre os valores absolutos de nitrogê
nio, o aumento da proteólise ao longo da
maturação dos queijos foi estimado com alto
grau de associação pelos dois métodos.
Os coeficientes de variação percentual das
diferenças entre duplicatas, encontrados "para os
dois métodos, foram bastante baixos, conforme
apresentado no Quadro 2, mostrando que houve
baixa variabilidade nos resultados de determina
ções em duplicata, realizadas em condições pa
dronizadas e pelo mesmo analista. É importante
ressaltar que as estimativas da precisão
(repetibilidade) dos métodos são equivalentes.
"
Nas Figuras 5 e 6 são apresentadas as cor
relações entre os métodos de Kjeldahl e de
formol para as relações NS em pH 4,6/NT e NS
em TCA 12%/NT, que permitem avaliar a con
versão das proteínas em peptídeos de alta e bai
xa massa molecular, respectivamente. Obser
va-se que o método de formol apresentou valo
res superiores ao método de Kjeldahl, resultan
do em escalas mais expandidas, que podem fa
vorecer o acompanhamento da proteó1ise em
queijos pelas indústrias de laticínios.
Os cálculos dos coeficientes de correla
ção linear entre os métodos de Kjeldahl e de
digitalizado por
arvoredoleite.org
Pág. 24
Rev. Inst. Latic. "Cândido Tostes" , Set/Out, nQ 295, 50: (5): 15-29, 1995
Kjeldahl
FIGURA 5 Relação
(%) entre os Teores de
Nitrogênio Solúvel em
pH 4 ,6 e Nitrogênio
Total (mg/l00g), De
terminados pelos Mé
todos de Kjeldahl e de
Formol, em Função dos
Dias de Maturação dos
Queijos . Resultados
Médios de Três Repe
tições, Analisadas em
Duplicata. Coeficiente
de Correlação Igual a
0,99.
Formol
11
11 Kjeldahl
10
o
Formol
25
9
11
CIl E-<
Z z
��
'(; ..,f
20
'g. �
� �
o
7
111
6
40
30
20
10
Dias de maturação
Kjeldahl
Formol
25
10
•
Kjeldahl
o Formol
o
8
20
111
E-<
CIl Z
Z
__
,g
�
�
�
--- S!
FIGURA 6 - Relação (%)
entre os Teores de Nitrogênio Solúvel em Ácido
Tric1oroacético 12 % e
Nitrogênio Total (mg/
100g), Determinados pelos Métodos de Kjeldahl
e de Formol, em Função
dos Dias de Maturação
dos Queijos. Resultados
Médios de Três Repetições, Analisadas em Duplicata. Coeficiente de
Correlação Igual a 0,99.
6
15
J[ �
� EIl)
111
4
2
10
30
20
Dias de maturação
Análise
Método
Coeficiente de variação (%) das diferenças entre duplicatas
Nitrogênio total
Kjeldahl
1,73
Formol
1 ,31
Nitrogênio solúvel
Kjeldahl
3 ,1 7
em pH 4,6
Formol
3 ,14
Nitrogênio solúvel
Kjeldahl
4 ,9 2
em TCA 12%
Formol
2 ,96
- as técnicas analíticas são simples e
rápidas, empregando material de uso
comum em laboratórios "de controle
de qualidade;
o método de formol estima o grau de
proteólise por meio da quantificação
dos grupos amino liberados durante a
maturação dos queijos;
- o acompanhamento da proteólise em
queijos Prato ao longo da maturação
indicou um alto grau de associação
entre os resultados obtidos com os
métodos de Kjeldahl e de formol;
- os métodos de Kjeldahl e de formol
alta
precisão
apresentaram
(repetibilidade); e
- a análise de queijos comerciais indi
cou que o método de formol é aplicá
vel a diferentes tipos de queijos, com
alta correlação com o método de re
ferência (Kjeldahl).
3.3. ANÁLISE DE DIFERENTES TIPOS DE
Q U E IJ O S
10
40
Pág. 25
QUADRO 2 - Coeficientes de Variação Percentual das Diferenças entre Duplicatas dos Métodos de Kjeldahl
e de Formol, para Determinações de Nitrogênio Total, Nitrogênio Solúvel em pH 4,6 e Nitrogênio Solúvel
em Ácido Tricloroacético 12%. Resultados Médios de Três Repetições (n = 12)
formol para as relações NS em pH 4 ,6/NT e NS
em TCA 12%/NT forneceram o valor de 0,99
para ambas as relações, indicando uma alta as
sociação entre as avaliações da proteólise
realizadas pelos dois métodos.
15
5
Rev. Inst. Latic. "Cândido Tostes", SetfOut, nQ 295, 50: (5): 15-29, 1995
Nas Figuras 7, 8 e 9 são apresentadas as
correlações entre os métodos de Kjeldahl e de
formol para determinação de NT, NS em pH
4,6 e NS em .TCA 12 % em queijos Prato, Danbo,
Gouda, Gouda holandês e Parmesão. Os resulta
dos são médias de três repetições, analisadas
em duplicata. Os coeficientes de correlação li
near foram 0,98, 0,97 e 0,98 para as determi
nações de NT, NS em pH 4 ,6 e NS em T CA
12%, respectivamente .
Nas Figuras 10 e 11 são apresentadas as cor
relações entre os métodos de Kje1dahl e de formol
para as relações entre NS em pH 4,6 e NT e entre
NS em TCA 12% e NT, com coeficientes de corre
lação linear de 0,94 e 0,98, respectivamente.
Os resultados obtidos indicam a aplicabilidade
do método de formol para avaliação de proteólise,
deduzindo-se que a utilização do método pelas in
dústrias de laticínios pode viabilizar o acompanha
mento da maturação de diferentes tipos de queijos.
SUMMARY
Analytical techniques for determination of
total nitrogen, pH 4.6 soluble nitrogen and TCA
12% nitrogen were developed. The formol method
estimates
the
rate
of
protcolysis
though
quantification of amino groups released dyring
cheese ripening. Analysis of cheeses collected
10
CON CLU S Õ E S
5
Foram desenvolvidos métodos baseados na
reação com formol para avaliação de proteólise
em queijos. Foram analisadas 16 amostras de quei
jo Prato e os resultados obtidos indicam as seguin
tes conclusões:
- os métodos desenvolvidos apresenta
ram limites de detecção compatíveis
com a utilização em análises de rotina;
from the market hav e showed that the formol
method can be succesfully aplied to different types
of cheeses, giving a high correlation as compared
to the reference method.
BIBLIOG RAFIA
A LO N SO , L.; RA M O S , M . ; M ARTIN
HERNANDEZ, M. C. Proteolisis en queso:
digitalizado por
arvoredoleite.org
Pág. 26
Rev. Inst. Latic. "Cândido Tostes", SetfOut, n!! 295, 50: (5): 15-29, 1995
Kjeldahl
5400
Fonn ol
r 550
l
5100
I
'0
4800
500
.. Kjeldahl
Fonnol
450
....:.
FIGURA 7 - Teores de Ni
trogênio Total (mg/1 00g)
de Queijos Adquiridos no
C omércio, D eterminados
pelos �étodos de Kjeldahl
e de Form ol . Resultados
�édios de Análises em Du
plicata. Coeficiente de
Correlação Igual a 0,98.
400
4500
Rev. Inst. Latic. "Cândido Tostes", SetfOut, n!! 295, 50: (5): 1 5-29, 1 995
Kjeldahl
FonnoJ
1000
300
11 Kjeldahl
900
o
800
250
Fonnol
700
200
150
500
4200
300
3900
o
11
11
o
o
Prato
Gouda
Danbo
..
400
250
..
3300
Gouda
holandês
FIGURA 9 - Teores de Ni
trogênio Solúvel em Ácido
Tricloroacético 12 % (mgl
100g) de Queijos Adquiridos
no C omércio, Determina
dos pelos �étodos de
Kjeldahl e de Formol. Re
sultados �édios de Análises
em Duplicata. Coeficiente
de Correlação Igual a 0,98.
600
350
3600
Pág. 27
300
200
200
150
100
Prato
Pannesào
..
..
o
o
100
o
50
o
Gouda
Gouda
holandês
Danbo
Pannesào
Queijo
Queijo
Kjeldahl
Formo!
Kjeldahl
Formol
25
60
300
1200
11
1000
250
.. Kjeldahl
o
Kjeldahl
o Formol
20
50
Formo!
11
200
800
11
15
150
o
600
o
FIGURA 8 - Teores de
Nitrogênio Solúvel em
pH 4,6 (mg/ 1 00g) de
Queijos Adquiridos n o
Comércio, D etermina
dos pelos �étodos de
Kj eldah l e de Formol.
Resultados �édios de
Análises em Duplicata.
Coeficiente de Correla
ção Igual a 0,97.
o
11
400
100 .
50
11
o
200
Prato
Gouda
holandês
Gouda
Queijo
Danbo
Parmesão
40
11
FIGURA 1 0 - Relações
( % ) entre os Teores de
Nitrogêni o Solúvel em
pH 4,6 e Nitrogênio To
tal de Queijos Adquiridos
no Comércio, Determi
nados pelos �étodos de
Kj eldahl e de Formol.
Resltltados �édios de
Análises em Dupli cata.
Coeficiente de Correla
ção Igual a 0,94.
11
o
o
10
30
5
20
Prato
Gouda
Gouda
holandês
Danbo
Parmesão
Queijo
digitalizado por
arvoredoleite.org
Rev. Inst. Latic. "Cândido Tostes", Set/Out; nQ 295, 50: (5): 1 5-29, 1995
Kjeldahl
Fonnol
20
r
18
.. Kjeldahl
o
16
Pág. 28
55
50
Fonno\
45
14
Cl) E-<
12
��
'-' Sl
10
Z�
J� <t!
U- u
� E-<
� S
CI)
..
111
40
11
FIGURA 1 1 - Relações
( % ) entre os Teores de
Nitrogêni o Solúvel em
TCA 1 2 % e Nitrogênio
Total de Queijos Adqui
ridos no Comércio, De
terminados péí os Méto
dos de Kj eldahl e de
Formol. Resultados Mé
dios de Análises em Du
pli cata. Coeficiente de
Correlação Igual a 0,98 .
35
o
8
o
30
o
6
25
4
20
2
O
15
Prato
Gouda
Gouda
Danbo
Pannesão
Queijo
ASTON , J . W . & CREAMER, L . K .
Contribution of t h e components of the
water-solubl e fracti on to the flavour of
Cheddar cheese . New Zeal and Jou r n al
of D airy
S c�ence
a n d Tech nology,
2 1 : 229-4 8 , 1 9 8 6 .
ASSOCIATION O F OFFICIAL ANALITICAL
Official
m ethods of
CHEMISTS.
analysis . 40.ed., Virginia, 1 9 84. 1 1 4 1p.
B OUTON , Y. & GRAPPIN , R . Measurement
of proteolysis i n cheeese: rel ati onship
between phosphotungstic acid-soluble N
fraction by Kj e l dahl and 2,4,6tri n i troben zenesu Iphoni c acid-reacti ve
groups in water-solubl e N . Jou r n a l o f
D airy Research , 6 1 : 43 7-40, 1 994.
.
CIFUENTES , A.; DE FRUTO S , M.; DIEZ
MASA, J. C. Analysis of whey proteins by
capi 1 1 ary el ectrophoresis using buffer-
FOX, P. F. & LAW, J. Enzymology of cheese
ripening. Food Biotechnology, 5 : 23 9-62,
1 99 1 .
GRAPPIN, R . ; RANK, T. C . ; OLS ON, N . F.
Primary proteolysis of cheese proteins
during ripening. Journal of Dairy Science,
6 8 : 53 1 -40, 1 9 8 5 .
containing polymeric additives. Journal
of D airy Science, 76: 1 8 70-5, 1 99 3 .
DESMAZEAUD, M. J. & GRIPON, J. C. General
mechanism of protein breakdown duri ng
ch eese ripening. Milchwissensch aft, 32:
7 3 1 -4, 1 97 7 .
FARKYE, N. Y. & FOX, P. F. Obj ective indices
of cheese ripening. Trends in Food Science
& Technology, 1 1 : 37 -40, 1 990.
FOLKERTSMA, B. & FOX, P. F. Use of Cd
ninhydrin reagent to assess proteolysis in
cheese during ripening. Journal of Dairy
Research , 59 : 2 1 7-224, 1 99 2 .
FOX, P. F . Rennets a n d their action i n cheese
manufacture and ripening . Biotechnology
and Applied Biochemistry, 10:522-35, 1988.
Pág. 29
SHALABI, S . I . & FOX, P. F. Electrophoretic
analysis of cheese: comparison of methods.
lrish Jou r n a l of Food Scie n c e a n d
Tech nology, 11 : 1 35-5 1 , 1 9 8 7 .
TAWAB , G . A. & HOFI, A. A. Testing cheese
ripen i n g by rapi d chemical tech n i ques .
Indi a n
J ournal
of
D airy
Science,
1 9 : 3 9-4 1 , 1 96 5 .
GRIPON, J. C.; DESMAZEAUD, J . ; L E BARS,
D . ; B ERGERE, J . L. Etude du rôl e des
micro-organismes et des enzymes are cours
de la maturation des fromages. Le Lait,
55: 502- 1 2, 1 97 5 .
Norm as
ADOLFO LUTZ.
a n a l í ticas do Ins titu to Adolfo Lutz:
TIELEM AN , A . E . & WARTHESEN, J . J .
C o mpari s i on
of t h r e e
extrati on
procedures to caracterize Cheddar cheese
proteol ysi s . Journal of Dairy Science,
74 : 3 6 8 6 - 9 4 , 1 9 9 1 .
INSTITUTO
métodos químicos e físicos para análise de
alimentos . 3 .ed. S ão Paul o, 1 985. 553p.
K O S IK OW S K I , F. C heese and fer m en ted
milk foods . 2 . e d . Ann Arbor, Edwards
B rothers, 1 97 7 . 7 1 1 p.
& TWIGG, B . A. Q u ality
cont rol for the food indus try. 3 . e d .
KRAMER, A .
C onnecticut, AVI, 1 9 8 2 . v. l , 556p.
holandês
frac cionami ento de l os compuestos
nitrogenados.
Revis t a E s p a fiola de
Lecheria, 3 : 3 6 -4 1 , 1 9 8 8 .
Rev. Inst. Latic. "Cândido Tostes", Set/Out, nQ 295, 50: (5): 1 5-29, 1 995
VAKALERIS, D. G.; OLSON, N. F. ; PRICE, W.
v.; KNIGHT, S. G. A study of the ripening
of D ariworld and Cheddar cheese with
special emphasis on proteolysis. Journal
of D airy S cience, 4 3 : 1 05 8 -67, 1 960.
VENEMA, D . P. ; HERSTEL, H.; ELENBAAS,
H . L. D eterminati on of the ripen ing time
of Edam and Gouda cheese by chemi ca\
analysis, N etherl ands Milk and D airy
Journal, 4 1 : 2 1 5-26, 1 9 87 .
KUCHROO, C. N. & FOX, P. F. Fractionation
of the w ater-soluble-nitrogen from
Cheddar cheese: chemical m ethods.
Milchwissenshaft, 37 : 65 1 - 3 , 1 9 8 2 .
VIS SER, S . Proteolytic e n zymes an d th eir
relation to cheese ripening and f1avor: an
overvi e w. Journ al of D airy S cience,
76 : 3 29-50, 1 99 3 .
KUCHROO, C. N. & FOX, P. F. A fractionation
scheme for the water-solubl e-nitrogen in
Milchwis sensh a ft,
Cheddar cheese.
3 8 : 3 89-9 1 , 1 9 8 3 a .
WALSTRA, P .
KUCHROO, C . N. & FOX, P. F. Fractionation
of th e w ater-soluble-ni trogen from
Cheddar cheese: chromatographic methods.
Milchwissen s h a ft, 3 8 : 76-9, 1 9 8 3 b .
M ILLER, J . C . & MILLER, J . N . Basic
stati sti cal m ethods for anal yti cal
chemistry. A n alyst, 11 3 : 1 3 5 1 -6, 1 9 8 8 .
& JENNES S , R .
D airy
chemistry and phisics . New York, John
Wiley
&
S ons, 1 984. 423p.
WOLFSCHOON, A. F. Índices de proteólise em
alguns q u eij os bras i l ei ros . Boletim do
Leite, 6 6 1 : 1 - 8 , 1 9 8 3 .
YVON, M . ; CHABANET, C. ; PELISSIER, J . P.
Solubi li ty of pepti des in tri chloroacetic
acid (TCA) sol uti ons . Hypotesis on the
precipi tati on mechanism . In ternation al
Jou r n a l of Pep tide and
Research , 3 4 : 1 66-76, 1 9 8 9 .
Protein
POMERANZ, Y. & MELOAN, C . E. Food
analysis: theory and practice. 3 .ed. New
York, Chapman & Hal l , 1 994. 778p.
FOX, P. F. Proteol y s i s duri n g cheese
manufactudng and ripen i n g . 10urn al of
Dairy Science, 72: 1 3 79-400, 1 9 89.
FOX, P. F. Food chemistry. Cork, University
College, 1 99 1. 20 1p.
digitalizado por
arvoredoleite.org
Rev. Inst. Latic. IICândido Tostesll, Set/Out, nQ 295, 50: (5): 30-35, 1 995
Pág. 30
ISOLAMENTO, CARAC TERIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE
LA CTOCOCCUS LA CTIS SUBSP. LACTIS VAR. DIA CETYLA CTIS
Isola tion, characterization and identification of Lactoccocus lactis subspecies lactis varo
diacety lactis
Antônio Hamilton Chaves *
Adão José Rezende Pinheiro **
Magdala Alencar Teixeira **
Mônica de Oliveira leite ***
RESUMO
Objetivando o isolamento do Lactococcus lactis subsp. /actis varo diacetylactis, amos
tras de soro de queijo (pingo) foram coletadas na região do Serro, Minas Gerais. As amostras
devidamente diluídas em tampão fosfato foram semeadas nos meios Purpura de Bromocresol
Carbonato e M- 1 7 . Para caracterização dos isolados foram realizados os seguintes testes:
Gram, creatina, catalase, capacidade de coagular o leite a diferentes teperaturas ( 100 Cf 7-30
dias, 21, 40 e 45° Cf48h ), crecimento em meio com 4 e 6,5% de cloreto de sódio, crescimen
to em meio com diferentes pH ( 6,5; 9,2 e 9,6 ), capacidade de hidrólise da arginina, compor
tamento no "litmus milk", capacidade de redução do azul de metileno e capacidade de fermen
tação da ribose, sorbitol, rafinose, ramnose e dextrina. De um total de 140 "isolados" iniciais,
foram obtidos seis isolados de Lactococcus lactis subsp. lactis var. diacetylactis.
1- INTRODUÇÃO
O isolamento de culturas aromatizantes
no Pais deve reduzir a sua depêndencia de simi
lares estrangeiros.
Por volta de 1 890. STOCH, na Dina
marca e CONN, nos Estados Unidos, estudaram
cultivos n aturais para i mprimir mais sabor e
aroma na manteiga. Esses cultivos foram obti
dos de cremes que apresentaram acidez mais
elevada e maior intensidade de sabor e aroma
(FOSTER, 1 965).
Em 1 936, MATUS ZEWSKI et al ii, ci
tado por C OLLINS ( 1 962) trabalharam com
um Streptococcus que fermentava o ácido cítri
S treptococcus
de
den o m i n an d o -o
co,
diacetylactis .
Em 1 983, BRIDGE e SNEATH, citados
por BUCHANAN e GIBBONS ( 1 984), dividi
ram o gênero S treptococcus em seis grupos :
Streptococcus piogêni cos, Streptococcus oral ,
S treptococcus
Enterococcus,
l áti cos,
Streptococcus aeróbicos e outros Streptococcus.
Em 1 9 8 5 , foi proposto que os
Streptococcus láticos fossem classifi cados em
*
**
***
um novo gênero: Lactococcus, baseado nos es
tudos de hibridização do ácido nucléico, rela
ções imunológicas de superóxido dismutase, es
truturas do ácido lipoteinoico, tipos de lipídios
e composlçao de á c i d os graxos e
menoquinon a . (SCHLEITER et a1ii e LUDWIG
et alii, citados por KONDO, 1 989; S ANDINE,
1 988).
E m 1 9 8 6 , o gên ero Lactococcus foi
aprovado pel a União Internacional das Socie
dades Microbiológicas (AMONYMOS, citados
por KONDO, 1 989, SANDINE, 1 98 8) . De acor
do com a nova nomencl atura, o Streptococcus
lactis e o Streptococcus lactis subsp. l actis varo
d e s i gn ar-se
a
passaram
di acetyl actis
Lactococcus l actis subsp . l actis e o
S treptococcus l actis subsp. cremoris como
Lactococcus lactis subsp. cremoris (SANDINE,
1 988).
SANDINE, citado por KONDO ( 1 989),
sugeri u que as estirpes de Lacto co c c us lactis
subsp. lactis, que usam o citrato para formar
di aceti l , fossem denominadas L a c t o c o c c u s
lactis subsp. lactis varo diacetylactis.
Mestre em Ciência e Tecnologia de Alimentos
Professores Titulares da Universidade Federal de Viçosa
Professora Assistente da Universidade Federal de Minas Gerais
Rev. Inst. Latic. IICândido Tostes
Q;
1 1,
Set/Out, nQ 295, 50: (5): 30-35, 1 995
d o ácido lático
láticos) são constituídos de duas
espécies: Streptococcus lactis, hoje Lactococcus
e L a c t o c o c c u s raffi n o l a c t is. O
/actis
Lactococcus lactis, dividi-se em três subspécies:
Lactococcus lactis subsp . lactis, Lactococcus
lactis subsp. cremoris e Lactococcus lactis subsp.
v aro diacetylactis (BUCHANAN e
lactis
GIBBONS, 1 984; SANDINE, 1 9 8 8 ) .
Desde o reconhecimento d o diacetil por
VAN NIEL c i ta d o por KEEN AN & B ILLS
( 1 968), como o principal componente do flavor
das culturas para manteiga, muitos trabalhos têm
sido realizados visando aumentar sua produção
por meio de culturas láticas.
O objetivo deste foi isolar, caracterizar
e identifi car, a partir do pingo da região do
Serro, M.G., Lactococcus lactis subs. lactis varo
diacetylactis capazes de produzir substâncias
aromatizantes, principalmente diacetil.
Streptococcus
(Streptococcus
2- MATERIAL E MÉTODOS
O presente trabalho foi real i zado nos
l aboratórios do D epartamento de Tecn ologia
de Alimentos da Universidade Federal de Viçosa
(UFV). Amostras de soro de queijo (pingo) fo
ram coletadas em fazendas da região do Serro,
M i n as Gerais e transportadas, em cai xas de
isopor, com gelo e água aos laboratórios.
Após dilui ção com tampão fosfato, as
am ostras foram semeadas ("pour-plate") n o
meio Púrpura de Bromocresol -Carbonato, i n
cubadas a 3 0° C/48h. Colônias típi cas, foram
coletadas com alça de platina, em pl acas com,
preferencialmente, 30 -50 colônias. Todos os
"isolados" foram inoculados em Leite Desnata
do Reconstituido esterili zado (LDR) com 1 2 %
ESD e incubados a 30° C/24h. Após crescimen
to, as culturas foram submetidas aos testes de
gram, creatina e catalase pelo menos, por duas
vezes. Somente os isol ados cocos gram-positi
v os, creatina positiva e catalase negativa fo
ram manti dos. As culturas que apresen taram
mais de um tipo de microrganismo (impuras)
pelo exame mi croscópi co foram semeadas no
meio M- 1 7, d e onde se isolou cinco colônias
típicas. Os isol ados considerados puros foram
distribuidos em tubos contendo LDR ( 1 5 % ESD)
e congelados a - 1 5° C. Um tubo de cada isolado
foi usado para repicagens semanais, dando con
tinuidade aos testes necessários à caracteriza
ção e identificação.
digitalizado por
Pág. 3 1
A caracterização e i denti fi cação dos
i sol ados foram feitas de acordo com
BUCHANAN & GIBBONS ( 1 9 8 4) ; SPECK
( 1 976); FOSTER ( 1 965); GARVIE & FARROW
( 1 9 8 2) seguindo o esquema de i dentifi cação
(Figura 1 ) . Todos os testes foram real izados,
no mínimo, em duplicata . Foram "isoladas" do
meio Púrpura de Bromocresol-Carbonato 1 40
colônias, 20 por amostra . Após reisol amento
das culturas consideradas impuras no meio M17 e a realização dos testes de gram, segundo
PELCZAR et alii ( 1 98 1 ) , da creatina (FURTA
DO, 1 989; NIELSEN & ULLUM, 1 9 89) e da
catalase (SPECK, 1 976), restaram 1 02 culturas
que foram testadas quanto a coagulação do LDR
( 1 2 % ESD) a 1 0, 2 1 , 40 e 45 ° C; crescimento
em presença de 4 e 6,5 % de cl oreto de sódio
(BUCHANAN e GIBBONS, 1 984), hidrólise da
1 9 65;
arg1l11l1 a (COWAN e STEEL,
MICOLAJCIK, 1 964; REDDY e t a lii., 1 969);
crescimento em meio com pH 6,5; 9,2; e 9,6
(BUCHANAN e GIBBONS, 1 9 8 4) e; compor
tamento no "litmus milk". Posteriormente, seis
i sol ados, prováveis Lactoco ccus, foram testa
dos quanto à redução do LDR ( 1 0 % ESD) em
presença de 0 , 3 % de azul de meti l en o ,
AMERICAN PUBLIC ASSOCIATION ( 1 978),
e à fermentação da ribose,
rafinose, ramnose, dextrina e sorbitol (SHARPE
e FRIYER, 1 966; KING e KOBURGER, 1 970)
e, a produção de diaceti l e acetoina pelo teste
da creatina.
3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
De um total de 1 244 i sol ados, obti dos após
reisolamento no meio M- 1 7, somente 1 02 (8,4
% ) eram gram-posi tivos, creati na positiva e
catal ase n e g ativa, S e gundo BUCHANAN e
GIBBONS ( 1 9 8 4) as bactérias d o gênero
Lactococcus são cocos positivos, catal ase ne
gativas, sendo que o Lactococcus lactis subsp.
lactis varo diacetylactis é creatina positiva.
Dos 1 02 isolados, apenas seis apresen
taram características do L a c to c o c c us lactis
subsp. lactis varo diacetylactis, conforme Qua
dro 1 2.
S egundo HAMMER e BABEL ( 1 957)
as estirpes do Lactococcus lactis subs. lactis
varo diacetylactis reduzem o azul de metileno
e, de acordo com BUCHANAN & GIBBONS
( 1 984), crescem no leite contendo 0,3 % desse
indicador.
arvoredoleite.org
Rev. Inst. Latic. "Cândido Tostes", SetjOut, n� 295, 50: (5): 30-35, 1995
Pág. 32
A
t a
Agar Púrpura de bromocresol - Carbonato ( a)
Gram + (e)
1
LDR - 12% ----7 (Creatina d) (e)
Catalase - (e)
Agar M - 17 (b)
Gram + (e)
LDR [2%
� � :�����:��)
[
Isolados
�
1O C + (e)
45 C - (e)
NaCI 6,5% - (e)
pH 9,6 (e)
�
1
Lactococccus
3 - Enterococos
4 - Aeróbicos
5 - Outros Streptococos
QUADRO 1- Testes para caracterização dos isolados
-
do ácido lático
Lactococcus
lactis
raffinolactis
pH 9,2 + (e)
R. azul de metileno + (e)
Ribose + (e)
Rafinose - (e)
Ramnose - (e)
Sorbitol - (e)
subsp.
cremoris
pH 9,2 - (e)
R. azul de metileno - (e)
Ribose - (e)
Rafinose + (e)
Ramnose + (e)
Sorbitol + (e)
Lactococcus lactis
subsp.
lactis
subsp.
lactis
e
40 C - (e)
NaCI 4 % - (e)
H. arginina - (e)
Dextrina - (C)
subsp.
Creatina + ( e)
Lactococcus lactis
Lactococcus lactis
varo
lactis
varo
diacetylactis
(a) Speck ( 1 976)
(b) Foster et alli ( 1 965)
(c) Garvie & Farrow ( 1 982)
(e) Buchanan & Gibbons ( 1 984)
FIGURA 1- Chave para identificacão de
Lactococcus
(12 % ESD) , (C)
10
��
Lactococcus lactis
C oagulação do LDR
C ulturas
Lactococcus
Pág. 33
e 1 027F6), fermentaram a rafinose, sendo, por
essa razão, classificados como Lactococcus lactis
subs. lactis varo diacetylactis atípicos. Segundo
GARVIE & FARROW ( 1 9 8 2 ) , o teste da
dextrina serve, (além da hidrólise da argi nina,
do crescimento a 40 o C e do crescimento em
presença de 4% de NaCl), para diferenciar os
Lactococcus lactis subsp. lactis e Lactococcus
lactis subsp.
lactis varo diacetylactis
do
Lactococcus lactis subsp. cremoris; os dois pri
meiros fermentam a dextrina.
Quatro desses ( 1 332, 1 320A9, 1 3 1 2 A l
e 1 027F6) produziram diacetil e acetoina n o
período esperado, e dois ( 1 092B6 e 1 07 8 E)
apesar de bons produtores de diacetil e acetoina,
foram relativamente l entos, conforme QUA
DRO 2 . Devido apresentarem picos diferentes
de produção de diacetil e acetoina, devem cons
tituir, provávelmente, estirpes diferentes .
Após os testes de "carboidratos", (QUA
DRO 3); um ( 1 078E) apresentou resultados tí
picos do Lactococcus lactis subsp. lactis varo
d i a c e tylactis,
c o n forme B UCHANAN e
GIBBONS ( 1 9 8 4) ; três ( 1 3 3 2 , 1 092B6 e
1 3 12Al); fermentaram o sorbitol; dois ( 1 3 20A9
mos r
1
1
Rev. Inst. Latic. "Cândido Tostes", SetjOut, nll 295, 50: (5): 30-35, 1995
21
40
Crescim e n to a 30 C
N a CI ( % )
45
4,0
6,5
*
6,5
Redução
" l i tm u s "
PU
9,2
9,6 30C 2 1 C 4 0 C
L. diacet.
+
+
+
-
+
-
+
+
-
+
+
+
1 332
+
+
+
-
+
-
+
+
-
+
+
+
1 078E
+"
+
+
-
+
-
+
+
-
+
+
+
1 027F6
+
+
+
-
+
-
+
+
-
+
+
+
1 32 0 A 9
+
+
+
-
+
-
+
+
-
+
+
+
1092B6
+
+
+
-
+
-
+
+
-
+
+
+
1 31 2 A 1
+
+
+
-
+
-
+
+
-
+
+
+
*Hidrólise da arginina
QUADRO 2 - Resultado dos testes de creatina e de redução do azul de metileno com os isolados do
gênero Lactococcus-,-
diacetylactis
Lactoccus
40 C + (e)
NaCI 4 % + (e)
H. arginina + (e)
Dextrina + (c)
lactis subsp. lactis
Creatina - (e)
Redução do azul
de Metileno
Escores dos
Testes de
Crestina
Picos de produção
de diacetil
(horas)
L. diacetulactis (A)
+
4
1 7 -24
1 332
+
1
1 7 -24
1 07 8 E
+
3
24 - 3 6
Culturas
1 0 2 7F6
+
4
1 7 -24
1 3 20 A 9
+
4
1 7 -24
1 09 2 B 6
+
3
36-48
1 3 1 2A l
+
1
1 7 -24
(A)
=
Cultura comercial
digitalizado por
arvoredoleite.org
Rev. Inst. Latic. "Cândido Tostes", Set/Out, nll 295, 50: (5) : 30-35, 1 995
4-
C O N C LU S ÃO
G ARVI E ,
Dos 1 244 "isolados", foram i dentifica
dos seis Lactococcus lactis subsp. lactis varo
diacetylactis, quatro dos quais bons produtores
de diacetil e acetoina. Os resultados permitem
concluir que o. isolamento deste microrganismo
é viável , e, devido ao pequeno percentual obti
do, deve ter prosseguimento, visando aumentar
o número de culturas que possam atender a de
manda d a indústria láctea naci onal .
E.
L
Pág . 34
&
FAR ROW,
J.
A.
E.
Streptococcus lactis subsp. cremoris (Orla
j ensen) comb-nov and Streptococcus Iactis
subsp. dia c e tylactis (Matuszewski e t aI)
nom . rev., comb. novo Int. J. gf Systematic
Bacteriol ogy. Vol . N 4, p. 45 3
4 5 5 . OcL
1 9 82 .
Rev. Inst. Latic. "Cândido Tostes", Set/Out, n !! 295, 50: (5): 30-35, 1995
NIELSEN, E. W.
&
ULLUM, J. A.
Pág. 35
SANDINE, W. E. New nomenclature of the non
techonol ogy. 2. ed. Danish Turnkey Dairies.
rod-shaped lactic aci d bacteri a.
Pag o 1 -8 1 . 1 9 8 9 .
70: 5 1 9-52 1 , 1 9 8 8 .
PELCZAR, M. ; REID, R . & CHAN, E. C. S .
Microbiologia.
Biochi mie.,
SHARPE, M. E. & FRIYER, T . F. Identification
São Paulo. ed. Mcgraw-HilI
of the lactic acid bacteria. In : Identification
do Brasi l . Vol . 1 . p. 75, 1 9 8 1 .
methods for microbiologist. ed. B. M. GIBB
& F. A. SKINNER. Part A. Academic Press,
HAMMER, B . W . & B AB E L , F . J .
D a i ry
bacteri ol ogy. 4 e d . New york, John Wi ley
& Sons, Inc.
1957. 6 1 4p .
REDDY, M . S . ; VEDAMUTHU, E. R.; WASHAM,
C. J.; REINBOLD, G. W.
medium for separating StreptococCllS lactis and
Streptococcus
cremoris,
London, 1 966. 1 45p.
Diffferencial· agar
SPECK, M. L. Compedium of methods for
Appl. Microbiolog.,
examinatioll
1 8 (5): 755-9. 1969.
of foods.
the
Washington, APHA,
1 976. 7 0 1 p .
QUADRO 3 - Fermentação de "carboidratos" pelas bactérias do gênero Lactococcus
SorbitoI
Ribose
Culturas
Rafinose
Ramnose
D extri n a
-
+
L. di acet.
+
-
1 332
+
+
1 07 8 E
+
-
-
-
1 02 7F 6
+
-
+
-
1 3 20A9
+
-
+
-
+
-
-
+
-
-
+
1 092B6
+
+
1 3 1 2A 1
+
+
+
-
+
+
a) BUCHANAN & GIBBONS ( 1 9 84)
b) GARVIE ( 1 982)
KEENAN , T. W. & BILL S , D . D .Metabolism
5- BIBLIOGRAFIA
ASSO-
A M E R I C AN PUBLIC HE ALTH
CIATION.
Standard
methods
for
e x a m i n at i o n g..f d a i ry pro d u cts .
the
1 4ed.
Washi gton, 1 97 8 . 4 1 6p .
BUCHANAN, R. E.
&
G I B B O N S , N. E .
manual
Wi lkins Company, 964p . 1 9 8 4 .
COLLINS, E. B. CuItures identity a n d selection.
In: Symposium on
I.
COWAN, S . T. & STELL, J. K . Manual for the
of
compounds by lactic starter
1 96 8 .
of some group N streptococci. J. Dairy Sci.,
5 3 (4) : 403-409, 1 970.
KONDO, J . K . Gene cloning and
transfer in
dairy Iactococci. In: Symposi um
Genetics
of l actic acid bacteria. J. Dairy S ei ., 7 2 :
3 3 8 1 -3 3 8 7 , 1 9 8 9 .
lactic starter cultures.
Dairy Sci. , 45: 799-804, 1 962.
i d enti fi c at i o n
volatile
KING, S . N . & KOBURGER, A .J. Characterization
d etermi n ati ve
gf
bacteriology. 9 ed. Baltimore, Wi11iams and
B ergey's
of
culture. J. Dairy Sci ., II ( l O) 1 56 1 - 1 5 6 7 ,
m e d i c ai
bacteri a .
Cambridge University Press, 1 96 5 . 2 1 7p .
FOSTER, W . C . M i crob i ol ogi a de � l ec h e .
Zaragoza, Ed. Herrero, 1 96 5 . 4 8 1 p .
FURTADO, M. M. Fundamentos básicos da fa
bricação de queijos semi-cozi dos, Viçosa
MG, UFV, pag . 57-60. 1 9 8 9 .
M I C O L A J C I K , E . M . S i n g l e broth for the
A EPAMIG - Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas. Gerais, através
do "Instituto de Laticínios Cândido Tostes ", lançou em julho, por ocasião
do XIII e XIV Congressos Nacionais de Laticínios, dois livros sobre
diversas variedades de queijos de vaca e cabra e a tecnologia de
fabricação dos mais afamados queijos do mundo; além de um glossário
com mais de 1 00 variedades de queijos e anexos estatísticos sobre o setor.
differenciation of Streptococcus lactis from
Strep t o c o c C llS c re m o ris . 1.
D a i ry S ei . ,
Informações
4 7 (4 ) : 4 3 7-43 8 , 1 964 .
NIELSEN, E. W.
&
tech o n ol ogy.
2.
D airies.
Área de Difusão de Tecnologia
ULLUM, J. A.
ed.
D a n i sh
Pag o 1 -8 1. 1 98 9 .
Dairy .
Turn key
CEPE/ILCT/EPAMIG - Caixa Postal
Fone:
(032) 224-3 1 1 6
183 - 36045-560 - Juiz de Fora - MG
Fax: (032) 224-3 1 13
digitalizado por
arvoredoleite.org
Pág. 36
Rev. Inst. Latic. "Cândido Tostes", Set/Out, nQ 295, 50: (5) : 36-44, 1 995
Pág. 37
5 0 : ( 5 ) : 36-44, 1 995
Rev. Inst. Latic. "Cândido Tostes", Set/Out, n a 295,
QUEIJOS EM EMB ALAGENS COM ATMOSFERA MODIFICADA
C h eeses in m od ified a t m o s p here p a ckagin g systems
Rosa Maria Vercelino Alves
7
RESUMO
Foi feita uma discussão sobre os princípios parâmetros críticos associados à tecnologia de acon
dicionamento de queijos em embalagens com atmosfera modificada. Também foram revistos os princi
pais estudos de vida útil de queijos em atmosfera modificada da literatura nacional e internacional.
HISTÓRICO
5 -----
do ainda um grande crescimento do uso dessa
tecnologia entre 1 993 e 1 995 (MAPAX . . . , s . d . ) .
Os primeiros experimentos de acondi
Na França e s s a tecnol o g i a e s t á sendo
ci on amento de al imentos em embal agens com
utilizada para pães, aves, pizzas e carnes cozi
atmosfera modificada d atam de 1 8 8 3 , com o
das, mas o m aior crescimento tem sido obser
uso de dióxido de carbono (C0 2 ) e monóxi d o
vado para vegetais e saladas preparadas. Outra
de carbono (CO) e m embalagens de carne fres
área de recentes desenvolvimentos é a de so
ca (CAKEBREAD, 1 993) .
bremesas lácteas (CAKEBREAD, 1 993 ) .
N o s EUA o uso dessa tecnologia é re
Comercialmente, o processo não foi uti
li zado até os anos de 1 920 - 1 930 quando deu
cente, mas é esperado que o mercado ameri ca
se início ao uso de embalagens de carcaças bo
no ultrapasse o mercado Europeu quando esta
vinas e de cordeiros com gás carbônico (C02 )
durante o transporte refri gerado da Austrália e
tecnol ogia for mais explorada (MAPAX . . . , s . d ) .
LIOUTA S ( 1 9 8 8 ) dis cute muitos fatores q u e
Nova Zelândia para a Ingl aterra. Durante os
c on t r i b u í r a m para este atraso n o u s o d e
anos de 1 940 e 1 95 0 foram construídos arma
tecnologia de A M n o s EUA, e m relação à Euro
zéns para estocagem d e maçãs frescas com at
p a . Entre e l e s , os m a i s i mp o rt antes s ã o : a
mosfera controlada, obtendo um prolongamento
grande extensão geográfica e o grande raio de
efetivo da vida útil da fruta. A partir de então,
distribui ção d e p rodutos nos EUA, o que faz
apli cações comerci ais de gases n a preservação
com que sej a n ecessário um maior período de
de alimentos ficaram restritas à estocagem com
vida útil para a tecnologia ter chance de utiliza
atmosfera controlada e em embalagens de trans
ção; d i ferentes forças motrizes que impulsi o
porte contendo carnes e frutas (D AY, 1 992) .
nam a busca p o r novas tecnologias ( n a Europa
Embalagens de v arej o , com atmosfera
é o varej o e n os EUA são os fabri c an tes de
modificada para carnes, começaram em 1 974 na
embalagem e os consumidores), e também dife
França, mas o grande sucesso de "marketing" acon
renças nos c ostumes, pois os europeus fazem
teceu na Inglaterra, em 1 9 8 1 , quando uma em
compras mais freqüentemente e têm uma mai
presa local decidiu utilizar essa tecnologia para
or preferência por produtos fres cos.
Segundo FARBER ( 1 99 1 ) , exemplos de
carne vermelha fresca e obteve sucesso nas vendas
devido à excelente apresentação do produto.
al imentos que estão sendo comerci al i zados em
Durante os anos de 1 990 a 1 993, houve
embalagens com atmosfera modificada na Amé
uma considerável diversificação de produtos em
rica do Norte são: carnes vermelhas frescas, car
embalagens c om atmosfera modificada, tanto
nes cozidas, aves (carcaça inteira e partes), ovos
no Reino Unido como na França, que represen
cozidos e sem casca, queijos, peixes (só no Cana
taram, respectivamente, cerca de 4 9 % e 2 6 %
dá), saladas preparadas (embalagem institucional),
d o mercado d e atmosfera modificada em unida
des produzidas na Europa durante o ano de 1 992
(CAKEBREAD, 1 99 3 ) .
E m 1 992, o mercado d e embalagens com
-�"""'\s e vários tipos de sanduíches.
No Brasil o m ercado de e m b a l a g e n s
J.II
atmosfera modificada é pouco expressi
v o . Em embalag ens d e ' varej o se restri nge a
AM no Reino Unido estava dividido, conforme
apl i cações para massas frescas, queij os com
ilustrado na Figura 1. No Reino Unido era espera-
o l e a d u ras
em
fra ç õ e s
(pedaços) ,
pi z z a s
ada no Reino Unido em 1 992 (% em unida
FIGURA 1 Mercado de embalagens com atmosfera modific
_
des) (CAKE BREAD , 1 993).
mercad o instituc ional é restrito ao acondic iona
mento de cortes de aves e folhosos (alface ).
PARÂMETROS CRÍTICOS
Para que ocorra um aumento efetivo da
vida útil do produto, em condiçõ es seguras , a apli
cação da tecnolo gia de acondic ionamento em em
da
balagens com atmosfera modificada depend e
nco
otimiza ção do sistema , que está associa do a ci
8;
p ar âmetro s c r í t i c o s ( H O T C H K I S S , 1 9 8
,
LIOUTA S , 1 9 8 8 ; SARAN TÓPOU LOS & SOLER
1 9 8 8 ; DAY, 1992 ;):
•
•
naturez a e qu alidade i n i c i al do pro
duto;
especificidade d a mistura gasosa em
relação ao produto;
•
controle da temperatura;
•
propriedades da embalagem;
o
eficiência do equipamento de acondicionamento.
Natureza e qualidade inicial do produto
a
ficadas não melhoram a qualidade inicial, apenas
conta
a
Se
ados.
prolong
mais
períodos
por
mantêm
minação microbi ológica inicial for alta, a ação do
gás carbônico é menor, podendo até ser completa
mente ineficaz . Desta forma, é muito importante as
boas práticas sanitárias durante a fabricação ou ma
nuseio do produto (DAY, 1992).
MOIR e t a I. ( 1 993) comprovaram que a
ação de C02 foi mais efetiva na inibição do de
senvolv imento de pseudom onas em queijo Cottage
1
c o m c o nt a g e n s i n i c i ai s de l O do q u e com
1 0 3 UFC/g.
SMITH et aI. ( 1 990) evidenc iam que a
idade da populaç ão microbi ana também influen
cia o efeito inibidor do C0 2 ' Se uma bactéria es
tiver na fase de crescim ento exponen cial (fase log)
e não na fase de adaptação (fase lag) o efeito do
C0 2 é menor.
Especificidade da mistura gasosa
A mistura gasosa usada em embalagens
com atmosfera modificada é escolhida de forma a
atender as necessidades específicas de cada pro
Em relação ao produto, os princip ais fa
tores que devem ser conside rados no acondic io
nament o com AM são: o pH, a atividad e de água,
a carga microb iana inicial (númer o, idade e tipo
de microrganismos patogênicos e deterioradores)
e a qualidade organo léptica.
A qualidade inicial do produto , em termos
ser
m i c robioló gicos e o rganol épticos , deve
imprescindivelmente boa, pois as atmosferas modi-
digitalizado por
duto (DAY, 1 992). Para queijos, os gases mais
comunente utilizados são : o gás carbônico (C02 )
e o nitrogênio (N2 ), combinados ou não.
°
C 02
a p re s e nt a
p ro p r i e d a d e s
bacteriostáticas e fu ngistáticas e retarda o cresci
mento de muitos tipos de fungos e bactérias. Se
gundo DANIELS
et
ai. ( 1 9 85), muitos estudos têm
demonstrado que a ação do C0 2 é mais efetiva
quando a flora deterioradora do alimento é predo
minante gram-negativa, aeróbica e de bactérias
arvoredoleite.org
Rev. Inst. Latic. "Cândido Tostes", Set/Out, n!! 295, 50: (5) : 36-44, 1 995
efetiva quando a flora deterioradora do alimen
Pág. 38 .
observadas em acondicionamento de queijo tipo
to é predo m i n ante gram-negativa, aeróbica e
C ottag e
de bactérias psicrotróficas. ° efeito global do
K O S I K OW S KI & B R OW N , 1 97 3 ) . S egundo
C02 é o prolongamento da fase de adaptação e
MOIR et a I . ( 1 993), para queijo Cottage é ne
o aumento do tempo de geração de microrga
nismos (DANIELS et aI. , 1 9 8 5 ; DAY 1 992 ) .
cessário l i mitar a concentração de C02 no es
Muitas pesquisas foram feitas tentando
el ucidar o mecanismo de ação do C02 sobre a
( S C O TT
&
S M ITH ,
1 97 1 ;
paço-l ivre das embal agens em 40 % (v/v) , com
b a l a n ç o de
N2' para se e v i tar alterações
organol épti cas i n desej áveis no produto.
° N2 é um gás quimi camente in erte e
célula microbiana e, recentemente, os resulta
a) Perm eabilid a d e aos gases
tura 3 5 % C02 e 65 % N2'
A embalagem d e v e s e r barreira a o s ga
Em relação a queijos maturados por fun
gos (Camembert, Gorgonzola, etc .) alguns au
ses para manter a atmosfera modifi cada ao re
tores alertam que o uso de embalagem com at
exterior para o interior da embalagem .
ção ao C02, é usado como gás de enchimento,
microrganismos (DANIELS et aI. , 1 98 5 ; DAY,
1 99 2 ) . FARBER ( 1 99 1 ) resumiu as teorias em:
evitando o colapso da embalagem, quando o C02
embal agem. ° N2, quando substitui completa
i nstitucionais ou de transporte ("bulk") (DAY,
1 992) .
alteração nas fun ções da membrana
mente o oxigênio (02), evita o crescimento de
Além da combinação de gases, também
das células, incluindo efeitos na cap
é i mportante a quantidade de m i stura gasosa
tura e absorção de. nutrientes;
microrganismos aeróbios e as reações de oxida
ção (DAY, 1 99 2 ) . Também é importante para
i n ibi ção direta de enzimas ou dimi
diluir o oxigênio residual na embal agem .
•
•
d as
r e a ç ões
° uso de oxigênio não é recomendado
enzimáticas;
para queijos e sim para alguns tipos de alimen
penetração n a membrana da bactéria
tos mais susceptíveis ao d es env olvimento de
e alteração do pH intracelular;
mi crorganismos anaeróbicos patogêni cos como
alterações diretas nas propriedades fí
peixe, em frutas e v egetais, para manter a res
sico-químicas das proteínas.
piração aeróbica e na manutenção da cor ver
melha de carne fresca (DAY, 1 9 92 ) .
A efetivi dade do C02 geralmente au
Não existe u m consenso sobre a s pro
menta l in earmente com o aumento da concen
tração n a fai x a de 2 0 a 60 % , enquanto o au
porções de utilização de C02 e N2 em embala
m en t o d o efe i to é m en or em c o n c entraç õ es
Alguns autores sugerem para queijos em geral,
acima de 50-60 % (SMITH et aI. , 1 990) . Entre
estocados sob refrigeração (O a 5°C), misturas
tanto, o C02 não retarda o crescimento de to
c o m o : 1 0 -40 % C02 e 90- 6 0 % N2 ( G U I S E ,
dos os tipos de microrgani smos. Por exempl o,
1 994; LOUI S , 1 9 94) ou 60- 1 00 % C02 e 40-
gens com atmosfera modificada para queij os.
existe um acréscimo de bactérias lácteas na pre
0% N2 ( SMITH e t aI. , 1 99 0 ; BERNE, 1 994;
sença de C02 e baixos níveis de 02, porque esta
EMPAQUES de ... , 1 99 3 ) . A util ização de N2
é uma condição ideal de desenvolvimento deste
puro é recomendada por LIOUTAS ( 1 9 8 8 ) .
tipo de bactéri a que é m i croaerófi l a . ° C02
O utros autores sugerem mi sturas por
também é menos efetivo para inibir leveduras
(D AY, 1 99 2 ) .
classes de queijos, como na publicação MAPAX
(s .d) que apresenta: 80- 1 00 % C02 e 2 0-0 % N2
20 %
C on ce ntraç õ e s d e C 0 2 men ores q u e
tendem
a n ão i n i b i r o cres c i m en t o
mi crobiano satisfatoriamente, a 40 % pode ocor
para queijos duros; 80-90 % C02 e 2 0- 1 0 % N2
para queijos duros fatiados e 20-40 % C02 e 608 0 % N2 para queijos maci os.
rer o colapso da embalagem, dando um aspecto
Recomendações mai s específicas por
de vácuo, porque o C02 se dissolve na gordura
1 9 94 ) e também
tipos de queijos são feitas por FIERHELLER
( 1 99 1 ) e WOODS ( 1 99 2) que indicam para quei
permeia o material de embalagem mais rapida
jos em fatias (Mozarela, Suíço) a mistura gaso
mente que o 02 e o N2 '
sa de 30% C02 e 70% N2 e 1 0 0 % N2 ' respecti
d o s a l i m entos (BERNE,
Em adição, produtos de l aticínios po
v am e n t e .
S e g un d o
FAR B E R
( 1 99 1 )
e
dem apresentar alterações d e s abor/odor em
SUBRAMANIAM ( 1 99 3 ) , q u eijos r a l a dos e
atmosferas com a l to teor d e C02' S e g u n d o
fatiados do comércio usam a composi ção 3 0 %
MAPAX (s . d) , produtos de laticín i os com alto
C02 e 70% N 2 ' e queijos duros como o Cheddar
teor de creme de leite tendem a se tornar aze
são comu m en te embal a d o s e m 1 0 0 % C 0 2 '
dos, ácidos ou talhados. Essas alterações foram
LOUIS
( 1 9 86)
comenta
que
um
q u eij o
tores associados
l i vre da embal ag em/q uan t i d a d e d e ali men to,
manho da embal agem) como: 1 0-40 % C02 e
mai or é o potencial de prolongamento d a vida
90-60 % N2 para embal agens de v arej o e 30-
útil do produto (SARANTÓPOULOS & SOLER,
1 00 % C 0 2 e 7 0 - 0 % .N2 p a ra embal a g e n s
volume do espaço-livre da embalagem e a quan
quantidade do gás necessária
de permeabil i dade e maior volume do espaço
queijos duros e macios por tipo de mercado (ta
dentro da embalagem, ou seja, a relação entre o
à
para inibição mi crobi ana. Quanto menor a taxa
Também existem recomendações para
permeabilidade através da embalagem e m rel a
taxa
embalagem e o volume do espaço-livre são fa
após o acondici onamento nas embalagens (DAY,
1 99 2 ; SUBRAMANIAM, 1 993) .
bioquímicos que ocorrem dentro das células dos
da
A taxa de permeabilidade aos gases da
do se deseja que a maturação do queijo continue
efeito negativo em vários passos enzimáticos e
nuição
dor do produto e impedir a entrada d e 02 do
mosfera modificada pode ser problemático quan
devido
se dissolve n o produto ou permeia o material de
Pág. 39
Camembert do mercado europeu util i za a mis
dos têm demonstrado que o C02 apresenta um
à
s u a b a i x a s o l ub i l i d a d e e m e n o r
Rev. Inst. Latic. "Cândido Tostes", Set/Out, nQ 295, 50: (5) : 36-44, 1 995
1 9 8 8 ) . ° material de embalagem deve ser bar
reira ao 02 e também ao C02 que, normalmen
te, está presente em concentrações bem acima
da atm osférica (0,03 % ) . Geralmente, as taxas
de permeabi l i dade C02/02 e 02/N2 apresen
tam relações médias de 3 a 5. Recomendam-se
tidade de produto. Geralmente recomenda-se a
rel ação volume de gas/volume de produto na
faixa de 3 : 1 a 1 : 1 (DAY, 1 992 ) .
C o n trole d a tem peratura
m a ten a l s
d e embal a g e n s com t a x a de
permeabi li dade ao oxigênio menor que 50cm 3 /
2
m /dia/atm para acondi cionamento com atmos
fera modificada (D AY, 1 99 2 ) .
b ) Permeabilidade a o vapor de águ a
A apl i cação da tecnologia de embala
gens com atmosfera modificada não substitui a
necessidade de refrigeração, durante o preparo,
A embalagem também deve ser barreira
ao vapor de água, para impedir a perda de umi
dade dos queijos, o que provocaria alteração na
d i s t r i b u i ç ã o e comerc i a l i z a ç ã o do produto
textura, perda de peso e comprometeria a apa
rência, conforme exposto no item 2 . 1 . 3 .
A redução d a temperatura, além de re
de permeabi l d i ade ao v apor d e água (TPVA)
(HOTCHK I S S , 1 9 8 8 ; DAY, 1 99 2 ) .
tardar o desenvolvi mento mi crobi ológico, fa
v orece a ação inibi dora do gás carbônico na
deterioração do produto, porque aumenta a so
lubilidade do gás no alimento.
Além d e interferir n a v i da útil , o con
trole da temperatura é um fator de segurança
para mui tos al imentos , onde existe o risco de
DAMSKE ( 1 990) recomenda u m a taxa
para embalagens de queijos com atmosfera mo
2
d i ficada de 0,5g água/ l 00poI /dia ( 7 , 8 g água/
2
m / d i a) , mas não especi fi c a as condi ções do
teste em termos de temperatura e umidade re
lati va. ALVES et a I.. ( 1 994) apresentam que a
embalagem hoje utilizada para queijo Mozarela
m i cr o r g an i smos
em peça, no Brasil, tem uma TPVA n a faixa de
2
1 2 a 30g água/m /di a a 3 8 °Cf90 % U R . Essa
Geral m ente, recomendam-se temperaturas n a
faixa d e 0-30C (LIOUTA S , 1 9 8 8 ; DAY, 1 99 2 ;
bém é uma boa referên cia, uma vez que o de
d e s e n v ol v i m e n t o
de
patogênicos, como o Clostridium (DAY, 1 99 2) .
EMPAQUES de . . . , 1 99 2 ,) ou 4 a 60C (MAPAX,
s .d) para produtos de laticíni os acondicionados
em embalagens com atmosfera modifi cada.
Proprie d a d es àa e m b al agem
DAY ( 1 99 2 ) inumerou vári as caracte
rísticas que devem ser consideradas na escolha
do tipo de embal agem, para acondici onamento
de alimentos com atmosfera modificada. Entre
elas, as que mais se aplicam para queijos são:
digitalizado por
faixa de permeabili dade ao vapor de ágúa tam
sempenho
d e stas
embalagens
têm
sido
sati s fatóri o para i m p e d i r a desi dratação d o
qu eijo Mozarel a e m peça.
c) In tegridade d o fec h a m e n to
É
essencial que a termossoldagem seja
hérmetica, de modo a manter a atmosfera gososa
desej ada ao redor do produto.
d) Propriedades mecânicas
Materiais utilizados em embalagens com
arvoredoleite.org
Rev. Inst. Latic. "Cândido Tostes", Set/Out, n9 295, 50: (5) : 36-44, 1 995
atmosfera modificada devem apresentar resi s
d u r a n te
o
m an u s e i o ,
transport e
PVC/PEBD
MAPAX, s.d.);
e
comercialização do produto. Caso a embalagem
•
tos devem ser arredondados, para impedir da
de
•
cas "anti-fog" (permitir que o frescor do produto
seja visível para o consumidor), barreira aos va
•
ser ou não encolhível e apresentar custo compa
fi1mes flexíveis usados n a confecção de sacos
de embalagens de varejo ("pillow pack") e tam
pas de embalagens plásticas rígidas; fundos de
embalagens plásticas rígidas e sacos para acon
d i c i on ar
grandes
p orções
( e mb a l a g e n s
institucionais o u de transporte) .
Os filmes para embal agens fl exíveis e
as tampas apresentam estruturas como:
DAMSKE, 1 990; D AY, 1 99 � ; FIRST
MAP. . . , 1 9 9 3 ) ;
CeIo
PV D C/PEBD
ou
ou
ou
O PA-PVD C/PEBD
O PA/PEBDL e PA/ E V O H/PEBDL
o revesti mento de PVDC, a apl icação
de metalização e o uso de resinas como EVOH,
PA, OPA são os responsáveis pela barreira aos
gases das estruturas. A barreira à umidade é obti
da pelos filmes de PEBD, pelo revestimento com
PVDC e metalização (GARCIA et aI. , 1 9 89) . O
PEBD
também
é
responsável
pela
termosselabilidade. O PET, o B OPP e o CeI o
fornecem às estruturas resistência mecânica, bri
lho e são um ótimo substrato para impressão.
Outra sugestão de material selante para
os sacos de grandes volumes é o uso do PEBDL,
sistênci a à tração (ALVES , 1 992) .
Nas embalagens rígidas o PVC, PP e PS
são os responsáveis pela ri gidez, sendo que o
PVC e o PS apres entam maior faci l i dade de
EVA
a de PVC/PEBD, sendo freqüente seu uso com
EVA
(DAMS KE, 1 990) ;
PA-PVDCjPEBD
PA/PEBD ; PA/EVOH/PEBD (D AY,
termoformação. As estruturas PS/EVOH/PEBD
(DAMS KE, 1 990; D AY, 1 992) ;
•
mercado
EVA
(DAMS KE, 1 990) ;
B O PP-PVDC/PEBD
o
que confere term oss ol dagens com melhor re
P.ET-PVD C/PEBD ( M APA X , s . d . ;
•
para
(SMITH
et
e a PP/EVOH/PP não são transparentes como
p i gm entação.
Efi c i ê n c i a d o e q u i p a m en to d e a c o n d icio
namento
a l. , 1 990; D AY, 1 992);
•
PA/PEBD (SMITH e t aI. , 1 990)
•
PA/EV OH/PEBD ( S MITH
OPA/ionôm ero (LOV I S , 1 9 8 9) ;
e t a l. ,
1 990);
PET-PVD C/PA/PEBD
•
O último item determinante d o sucesso
da tecnologia é a eficiência da máquina de acon
dicionamento. S ua operação deve ser otimizada
em termos de nível de evacuação, nível de inje
(LOV I S ,
1 986);
PET o u BOPP - metal i zaç ão/PEBD
(DAY, 1 9 92)
e acrílico - BOPP - PVDC (WOODS,
1 992) .
As chapas para fundo de embalagens rí
gidas são compostas por estruturas como:
da m i stura gasosa desej ada, que dilui o ar ao
r e d or do produto, antes da embal a g e m ser
sado, o ar é extraído do interior da embalagem
por um processo de vácuo e em seguida a pres
são é reconstituí d a com a i nj eção d a mi stura
ção
de
m i s t u ra
gasosa
e
p arâmetros
de
termossoldagem, a fim de se obter uma modifi
cação e fi c i ente da atmosfera no interior da
embalagem e soldagens herméticas que não per
mitam trocas gasosas.
O tipo de equipam ento a ser uti li zado
depende d o produto e d o tipo d e embal agem
desejada e são duas as técnicas uti lizadas para
modi fi car a atmosfera no interi or da embal a-
Pág . 4 1
confirmados p o r K O S IK O W S K I & BROWN
( 1 973) que evacuaram e injetaram C0 2 ou N2
puros em potes de PVC contendo queijo Cottage
e selaram com alumínio. Esses autores verifica
ram que o q u eij o m anti n h a excelente s abor ,
odor e textura p o r 45 d i a s a 4 0 C , n a s duas at
mosferas m od i fi cadas. D epois deste período
ocorreram alterações sensori ais devido ao de
gasosa desejada.
senvolvimento de um sabor azedo, fermentado
ESTUDOS DE VIDA ÚTIL DE QUEIJOS
EM ATMOSFERA MODIFICADA
aram queijo Cottage acondi cionado sob diver
e alterações na textura.
MANIAR et aI ( 1 994) t ambém av ali
sas atmosferas ( l 00 % C02; 7 5 % C 02/25 % N2 e
(JENKINS & HARRINGTON, 1 99 1 ) .
i mpedir alterações organolépticas no produto),
atmosfera modifi cada podem ser divididas em:
ou
1 99 2 ) ;
pores orgânicos e livre de odores estranhos (para
mercialmente para queijos �m embalagens com
transporte
gemo N o sistema d e fluxo d e gás o a r dentro da
termossoldada. No s istema de vácuo compen
i nstituci onal são:
consideradas como: transparência e característi
As embalagens sugeri das e usadas co
1 992;
E a s estruturas d o s sacos para embala
gens
tível com o do produto.
( D AY,
APPLICATIONS for . . . , s . d ) .
nos na embalagem e conseqüente perda do gás.
Algumas outras características podem ser
P S / E V O H/PEBD
Rev. Inst. Latic. "Cândido Tostes", Set/Out, n9 295, 50: (5) : 36-44, 1 995
embalagem é substituído por um fluxo contínuo
PP/EVOH/PP (LOVIS, 1 9 86) ;
seja rígida (por exemplo, uma bandeja) os can
e) Outras c a r a c terísticas
1 9 92;
(DAY,
®.
tência à perfuração, para assegurar a integrida
de
Pág . 40
A l iteratura sobre queijo acondicionado
em embal agens com atm osfera m o d i fi cada é
muito restrita. A maioria das publicações inter
n ac i o n ais trata de estudos feitos com qu eij o
Cotta g e .
Segundo CHEN & HOTCHKISS ( 1 993),
o queijo Cottage apresenta uma vida-de-prate
leira de 21 a 28 dias sob condições comerciais
de refri geração. Os fatores limitantes desse pe
rí o d o
são
o
p s i crotrófi c as
Pse u d o m o n as ,
crescimento
de
gram- n e gati vas
Proteus,
bactérias
como
A e ro m o n as ,
ou
Alcaligenes sp, que causam um indesejável "off
fl a v o r s " ,
a form ação
de p i g m e n t o s e de
limosidade; e o crescimento de bolores e leve
duras, como, Geotrichllm, Penicililllll, Mucor e
A lternaria q ue também c ausam alterações no
1 00 % N2) e seus resultados indicaram a atmos�
fera com 1 00 % CO2 a que melhor preservou
as característi cas sensori a i s do q ueijo por 28
d i as 4°C . O produto foi col ocado em uma em
bal a gem barreira a gases e a composi ção ga
sosa d o espaço-l i v r e s e m an te v e i n �l terada
durante
a
estocagem .
amostras em ar atm osfér i c o .
A partir d e 1 992, os trabalhos c o m quei
jo Cottage envolveram a inoculação de micror
ganismos e o acompanhamento d a sobrevivên
cia e/ou crescimento dos mesmos durante um
certo temp o . CHEN & HOTCHKI S S ( 1 9 9 1 )
in ocul aram 1 0 3 VFC/g d e uma m istura d e três
bactérias
( Pse u d o lll o nas
desses microrganismos deterioradores em quei
S C OTT & S M ITH ( 1 9 7 1 ) av a l i aram
amostras de queijo Cottage, estocadas entre 34°C por 10- 1 2 dias. As amostras foram acondi
ci onadas em potes de PS que eram manti dos
abertos dentro de dessecadores de v i dro onde
foi feito um fluxo de 1 00 % C0 2 , 100% N 2 ou
ar atmosféri c o . S u as conclusões foram que o
C0 2 retardou o desenvolvimento de bactérias
psicrotróficas e mesófi1as, mas causou uma al
teração sensorial no queijo (sabor ácido ou aze
do), o que poderia ser julgado como positivo ou
negativo dependendo da preferência do consu
m i dor. Em atmosfera de 1 0 0 % N 2 não houve
aumento de v i d a úti l , porque embora não te
nham sido verificadas alterações sensori ais, as
de
atmosferas modificadas, m as aumentaram n as
sabor/ o d o r , t e x tura e aparênci a . A s s i m , a
jo Cottage.
cotagens
ram sem alterações n o p roduto s ob d i v ersas
tecnologia de atmosfera m od ifi cada tem sido
estu dada vi sando control ar o desenvolvi mento
As
p s i crotrófi cas e b actér i a s l áti cas p ermanece
d eteri oradoras
flll o re c e ns ,
gram - n e g at i v a s
Pse u do m o n as
a e u ru g i n osa e Pse lldolll o n a s m a rg i n a ta) em
queijo Cottage que foi posteriormente acondi
cionado em potes de vi dro de tampa metál ica,
contendo 3 5-40 % de C0 2 no espaço-livre. Seus
resultados indicaram que o C02 dissol vido ini
bia o crescimento de bactéri as gram-negativas
em queijo Cottage.
Posteriormente, esses mesmos autores,
inocularam três cepas de Listeria lllonocytogenes
e Clostridi u lll sp o roge nes em queijo Cottage
acondicionado em tubos de PS com e sem C0 2
e envolvidos por um fi1me plástico alta barrei
ra que foi termoencolhi d o . A concentração de
C0 2 no espaço-livre era de 35 % (v/v), e o pro
duto foi estocado a 4 e 7°C. Foi observado um
crescimento de Listeria na amostra sem C02 de
1 04 para 1 07 VFC/g após 28 e 7 dias a 4 e 70C,
contagens de bactérias foram sem elh antes às
do produto em ar atmosféri co.
Mais tarde, esses resultados não foram
digitalizado por
respecti vamente, o que i n d i c a que exi ste um
r i s c o d e q u e ij o C ot t a g e ser um v e í c u l o de
Iisteriose nas condições de comerci alização, sem
atmosfera
m o d i fi c a d a .
As
c o n t a ge n s
de
arvoredoleite.org
Rev. 1nst. Latic. "Cândido Tostes", SetfOut, nº 295, 50: (5) : 36-44, 1 995
Pág. 42
Clostridiu m spo rogenes a 4 e 70C e Listeria
Na l i teratura bras i l eira encontram-se
m o nocytogenes a 40C tiveram uma redução no
dois estudos envolvendo a tecnologia de atmos
queij o em atmosfera de C02' Após 63 dias a
fera modificada para queijos.
7 0 C , h ou v e um a u m e n t o n as c o n t a g e n s d e
Listeria de 1 04 para 1 0 5 UFCfg n o queijo com
S ARANTÓPOULOS et ai. ( 1 993) ava
li aram queij o Mozarela de l eite de búfala, no
C02' Segundo os autores, esses resultados indi
formato de bol as, acondicionado com três sis
cam que o uso de atmosferas de C02 para au
temas de embal a g en s : atmosfera m od i fi cada
(50 % C02/5 0 % N2) , vácuo parcial ( 1 2 ,5 pol
mentar a vida útil de queijo Cottage não repre
senta um aumento de risco do desenvolvimento
de
l i st e r i o s e
ou
b otul i s m o
(CHEN
Hg) e ar atmosférico (convenci onal ) , estoca
&
das a 7± 1 °C. Foi verificada uma redução signi
HOTCHK1S S , 1 99 3 ) .
MOIR
et
Pse u do m o nas
( 1 99 3 )
a lo
flu o re s c e ns,
fi cati va
no produto em atmosfera modifi cada e, neste
sistema, a vida útil foi de 24 dias, limitada por
alterações
embal agens passaram por um fl uxo de C02 e
que limitou a vida útil do queijo em 1 1 e 10 dias,
i n ibição do crescimento das Pseudomonas nos
queijos em atmosfera de C02' Observou-se um
aumento na duração da fase de l atência e uma
ção foi m a i o r no produto estocado à menor
A estabilidade de queijo parmesão rala
vada alteração sensorial n o produto contendo
do com 3 2 % de umi dade e acondici onamento
C 0 2 ' Ta mbém não h o u v e cres c i m en t o de
em atmosferas com alto teor de C02 ( 1 ,5 litros
C02fkg produto) foi avaliada a 2 5± 2 °C. A em
Liste ria m o nocytoge nes, tanto n o produto em
C02 como em ar o que discordou dos resultados
balagem utili zada foi um filme co-extrusado de
de CHEN & HOTCHK1S S ( 1 99 3 ) , para o pro
PA/EVOH/PEBD, com taxas de permeabili dade
duto convencional acondici onado em ar atmos
a o o x i g ê n i o e a o gás c arbôn i c o d e 3 , 8 6 e
2
1 0 , 8 7 c m 3 (CNTP)/m / d i a a 1 a t m , 2 5 0 C e
Para um t i p o especial de queij o " S aint
75 % U R ,
Paulin", foi feito um estudo em embalagens com
respecti v a m e n t e .
Não
foram
verificadas alterações físicas e químicas no pro
atmosfera modificada por P1ERG10VANN1 et
duto durante 1 24 dias de estocagem, e após este
denominado
período as contagens de mesófilos e de bolores
e leveduras foram de 4,2 0x I 05 e 5,00x 1 04 UFC/
"Tal eggio cheese" . Foi avaliada a aplicação de
quatros diferentes atmosferas ( 1 00% N2' 1 0 %
g, respecti v am ente . C ontudo, aval i ações sen
C0 2f90 % N2 ' 20 % C0 2/80 % N2 e 3 0 % C0 2/
7 0 % N 2 ) versus o si stema convenci onal que
soriais definiram uma vida útil de 98 dias e os
embal agem com as diferentes atmosferas con
alterações
fatores limi tantes de acei tabi l i dade foram as
consisti a de um envoltório de papeI/PEBD. A
3 semanas de estocagem a 6±20C, foi conside
rada
como
a
melhor
opção
a
a tm o s fera
1 0 % C 0 2/90 % N2 por ser a preferida em um
painel
s e n s o ri al .
°
desenvolvi mento
m i crobi ológico n os q uatro t i p o s de tratamen
tos, analisado por contagens total e de bolores
e leveduras, foi semelhante.
An discussion about the most important
c r i t i c aI factors relationship w i th cheeses i n
modified atmosphere packaging technology was
done. The principal shelf life studies on modified
atmosphere cheeses of the internaI and externaI
literature were also reviewed.
'
de
sabor,
cor
e
agl o m e r a ç ã o
(SARANTÓPOULOS e t a i. , 1 995).
C ONSIDERAÇÕES FINAIS
Através desta revisão, verifi ca-se que
Fra n c i s c o , 1 n n ov at i v e Expos i t i o n s I n c . ,
1 9 9 0 . p . E-3 .
D A N I EL S ,
J.A.;
KRIS HNAMU RT H I ,
R.;
RIZVI, S . S .H. A review o f effects o f carbon
dioxide on microbial growth and food quality.
J ournal of Food Protection, Des Moines,
D AY,
Key-wor d s :
M o d i fi ed
atmosphere
packagi n g ;
Cheeses; Criti cs parameters.
B . P. F.
Guidelines for t h e good
m an u fac t u r i n g
and
handling
of
m od ified a t m os phere packed foo d
products. G l o ucesters h i re , T h e C amp den
Food and Drink Research Association, 1 992.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
79p . (Technical Manual n . 34) .
pinas, v.4, n . 5 , p . 7 - 8 , 1 99 2 .
S .T. ; PADULA, M . Embal agem para quei
j o s . In :
_ _; _ _; _ _ ; __ .
produtos
de
E m b a l a ge m p ar a
l atic í n i o s .
Campi n as ,
CETEA/ITAL, 1 99 4 . cap . 2 , p . 2 1 -3 7 .
A P P L I C AT I O N S
for
cheese
-
Multivac
packag i n g m a chi n e s . Wol fert s ch w e n d e n ,
Multivac, [s .d]
6 p . (catál o g o) .
BERNE, S . MAP-p i n g the future with CAP
abi lity. P repared' Foods, C h i cago, v. 1 63 ,
n . 3 , p . l 0 l - l 02 , 1 04- 1 05 , 1 994.
C AK E B R E AD ,
D.
European
m arket
developments and opportunities for MAP.
In :
M APACK ' 9 3 ,
Proceed i n g s . . .
Gree n v i l J e ,
H e rn d o n ,
EMPAQUES de atmósfera modifi cada. Indús
tria Alimentícia, Chicago, v.4, n. 1 1 , p . 7 2 7 4 , 1 99 3 .
ALVES, R . M . V. ; GARCIA, E . E. C . ; DANTA S ,
1 99 3 .
Insti tute
of
Packaging Professionals - IoPP, 1 99 3 . 3 0p.
CHEN, J . H . & HOTCHK IS S , J.H. Effect of
dissolved carbon di oxide on the growth . of
psychrotrophic organisms in cottage cheese.
J o u r n a l of D a iry S c i e n c e , C h a m p a i g n ,
v . 7 4 , n . 9 , p . 294 1 -2945, 1 99 1 .
são poucas as informações disponíveis na lite
CHEN, J . H . & HOTCHKIS S , J . H . Growth of
ratura naci onal e i nternacional sobre acondici
L iste ria m o n o cyto g e n es and Clostridi u m
onamento de q ueij os em embal agens com at
spo roge nes in cottage cheese in m o d i fi ed
mosfera modificada. D esta forma, é importan
atmosphere packagi n g . Journal of Dairy
Science, Champai g n , v.76, n . 4 , p . 972-977
te a realização de estudos nesta área, que apre-
DAMSKE, L.A. .
M o d i fi e d atm o s p h ere
packaging of dairy products - machinery and
v. 4 8 , n . 6 , p . 5 3 2- 5 3 7 , 1 9 8 5 .
cado brasileiro. Informativo CETEA, Cam
mês.
tagem inici al de Pseudomonas. Não foi obser
extrusado de estrutura EVA/PVDC/EVA. Após
SUMMARY
ram que materiais com taxa de permeabilidade
2
ao 02 de 60cm 3 ( C NTP)/m / d i a a 2 4 0 C ,
modificada, estocados a 70C pelo período de 1
Pág. 43
m ateri a I s . In : PACK ALIMENTAIR E ' 90 ,
S a n Fran c i s c o , 1 99 0 . Proceedings . . . S a n
ALVES, R.M.V. PEBDL - Uma opção no mer
n amento de q ue ij o Mozarela c om atm osfera
temperatura e também n o que havia menor con
volvido por um s aco fabricado com fil m e co-
tecnol o g i a .
gasosa do espaço-livre das embalagens indica
90 % U R e 1 atm são adequados para acondicio
redução na velocidade de crescimento. A inibi
s i stia de um pote termoformado de PVC, en
econômica e m ercado para a uti li zação desta
respecti vamente . As anál ises de composi ção
estocado a 5 e 1 5 0C e foi demonstrada uma
q u e ij o
senta um grande potencial técnica, viabilidade
° d e s e n v o l v i m en t o
mi crobi o l ó g i c o d o produto e m v á c u o parc i al
uma tampa de alumínio, a concentração de C02
um
s e n s o ri a i s .
foi similar ao do produto em ar atmosférico, o
no espaço-livre foi de 40% (vfv). ° produto foi
com
b ac t é r i as
psicrotróficas aeróbicas e de fungos e leveduras
N2 de tal forma que, após o fechamento com
( 1 993)
de
i n o c u l aram
Cottage, acondicionado e m potes d e P S , e as
a lo
cres c i m en t o
Pse u do m o nas
p u tida e L iste ria m o n o cytoge nes em q u e ij o
féri c o .
no
Rev. 1nst. Latic. "Cândido Tostes", SetfOut, nQ 295, 50: (5): 36-44, 1 995
FARBER, J . M . M i crobi ol o g i cal aspects o f
modified-atmosphere packaging tech n ology
: a revi ew. Journ al of Food Protection,
Des Moines, v.54, n . 1 , p . 5 8 -70, 1 99 1 .
FIERHELLER, M . G .
M o d ifi ed atmosph ere
packa g i n g o f m i s cell aneous products . In :
O ORA I K U L ,
B.
&
S T I LE S ,
M.E.
M o d i fi e d a t m os p h e r e p a c k a gi n g o f
foo d s . New York, El l i s H o rw o o d , 1 9 9 1 .
capo 8 , p . 246-260 .
FIRST MAP cheese pack with resealable label .
Packaging Review, Tonbridge, v. 1 9, n . 1 ,
p . 2 3 , 1 99 3 .
GARCIA,
E.E.C.;
PAD UL A ,
SARANTÓPOULOS, C.I.G.L.
M.;
Embalagens
plásticas: propriedades de barreira. Campi
nas, CETEAfITAL, 1 9 8 9 . 44p.
G U I S E , W. M AP for e x te n d e d s h e l f- l i fe .
P a c k a gi n g, L o n d o n , v . 6 4 , n . 70 1 , p . 3 - 9 ,
Dec.fJan . 1 99 3 - 1 994.
, HOTCHKISS, J.H. Experimental approaches to
determining the safety of food packaged in
modifi ed atmosph eres . Food Technology,
Chicago, v.42, n.9, p . 5 5 , 60-64, 1 9 8 8 .
digitalizado por
arvoredoleite.org
Pág. 45
Rev. Inst. Latic. "Cândido Tostes", SetjOut, nQ 295, 50: (5) : 45-48, 1 995
Rev. Inst. Latic. "Cândido Tostes", Set/Out, nQ 295, 50: (5): 36-44, 1 995
Pág. 44
o USO DE LIPASE NA FABRICAÇÃO DE QUEIJOS
JENKI N S , W.A & HARRINGTON J . P. Dairy
products .
I n : ___ & ___ .
PAC KAGING
foods with plastic. Lancaster, Techn om i c ,
1 99 1 . c a p o 9 , p . 1 45 - 1 7 1 .
KOSIKOWSKI, F. V. & BROWN, D.P. InfIuence
of carbon dioxide and nitrogen on microbial
populations and shelf life of cottage cheese
and sour cream. Journal of Dairy Science,
Champa i g n , v . 5 6 , n . l , p . 1 2- 1 8 , 1 973 .
LIOUTAS, T. S .
ChaIlenges of control Ied and
m o d i fi e d atmosph ere p a c k a g i n g : a food
company's perspective. Food Technology '
Chicago, v.42, n . 9, p . 7 8 - 8 6 , 1 9 8 8 .
LOU I S , P. J . Cheese packa g i n g .
Euro p e a n
and
World
Packaging
N ewsletter
Report, Alexandria, v. 1 9, n . 8,
p.6, 1 98 6 .
LOUIS, P.J. Modified atmosphere packaging i n
Europe. European Packaging Newsletter
and World Report, Al exandri a, v.27, n .7,
p . I -4 , 1 99 4 .
LOUIS , P.J .
Progress o n modified atmosphere
{llCl<aging.
Newsletter
Europe a n
Packagin g
and
World
Report,
Alexandria , v . 2 2 , n . 3 , p . 6 , 1 9 8 9 .
M APA X ™ .
The o p t i m a l s o l u t i o n of
m o d i fi e d a t m o s ph er e . L i d i n g õ , A G A ,
,
[ s . d] . 3 8p .
M O I R , C . J . , E Y LE S , M . J . ;
DAVEY LA .
by packa g i n g ' in atmosph eres conta i n i n g
dioxide.
Food
Microbiology,
London, v. l O, n A, p . 3 4 3 -3 5 1 , 1 99 3 .
PIERGIOVANNI, L . ; FAVA, P. ; M O R O , M .
Shelf-life extension o f Tal eggio ch eese by
m o d i fi e d atmosphere packa g i n g . Italian
Journal of Food Science, Roma, v. 5 , n . 2 ,
p . 1 1 5 - 1 27, 1 9 9 3 .
The use of Iipase in cheeses processing.
de com longo prazo. Alimentos Qualida
de & Produtividade, Rio de Jan e i ro, v. 1 ,
n . 2,
Geo Kardel
*
Múcio Mansur Furtado
*
João Pedro M. Lourenço Neto
*
p . 1 8 - 1 9, 1 9 95.
SARANTÓPOULOS, C.I.G.L.; ALVES, R.M. V. ;
�
MORI, E . E . M . ; VENEGA, M . A . Efeitos d
emba l a g em com atmosfera m od i ficada n a
preservação de queijo parmesão ralado. Co
letânea do ITAL, Campinas, v.25, n. 1 , p.677 9 , 1 99 5 .
S ARANTÓPOULO S , C . I . G . L . ; OLI VEIRA,
L.M.; EIROA, M.U.; SHIROSE, I . Effect of
MAP on q uality and sh elf-I i fe of buffalo
mozzare l l a chees e . In : IAPRI - WORLD
CONFERENCE ON PACKAGING, 8 , S ão
P a u l o , 1 9 9 3 . Pro c e e d i n gs . . . , C a m p i n a s ,
CETEA, 1 9 9 3 . v . 2 , p. 63 7-650.
SARANTÓPOULOS, C.I.G.L. & SOLER, R.M.
ção, ruminantes jovens são a l i mentados com
RESUMO:
Lipas es são enzi mas capaz es de atacar
o
l ipídios do leite, como triglice rídios, l iberand
vão
que
longa,
ejou
curta
ácidos graxos de cadeia
a
acentuar o sabor e o aroma dos queijos durante
lipases
maturação. Existem basicamente 3 tipos de
com aplicação na fabricação de queijos:
m ente o l e i te contém de 1 a 2 mg de l ipasej
flexíveis e semi-rígidas .
litro.
em
s h e l f ! i fe and s p e c i a l as atmosph eres .
Journ al of Food Science, Chicago, v . 3 6 ,
n . 1 , p . 7 8 - 8 0, 1 97 1 .
SMITH, J.P. ; RAMASWAMY, H.S . ; SIMPSON
�
technology. Part 11: storage aspects. Trends
in Food Science & Technology, Cambridge,
coagulantes e Iipolíticas de forças variadas, além
É
muito ativa e pode causar sabor rancido
l ei t e
cru,
esp e c i al m e n t e
se
este
fo r
ou processos a lternat i v os d e resfri a m e nto e
aquecimento. Esta lipase pode desempenhar um
papel importante na formação do gosto pican
te típico de queijos Parmesão e Provolone ela
borados com l eite cru.
m o d ified
o f fo o d s .
Glasgow, Blackie Academic & Professional '
1 99 3 . c ap. 8 , p . 1 70 - 1 8 8 .
derivada dos tecidos pré-gástricos (pa
n antes j ovens, tais como cordeiros, cabritos e
b e zerros .
S ão
também
conh e c i das
como
esterases g á stricas ou pré-g ástri cas. Pode-se
apresentar sob duas formas:
Sob e s t a forma, s ão veicul adas n o cha
mado coalho em pasta, já que são extraídas
do
estômago
de
r um i n a n tes
(esterases gástricas) . Para estimular sua produ-
*
sas razões, o coalho em pasta é cada vez menos
b) Pó
resulta nte da dessec ação do tecido pré
gástric o macera do e l avado, o qual é posteri
ses
(estera
pó
em
eite
l
com
sturado
mi
e
orment
i
p ré-gás tricas) . Assi m , evitam -se as contam
É
ão
n ações e i mpurez as mencion adas n a produç
da
m
dosage
da
s
do coalho em past a . Atravé
se
e
d
o
p
pó
no
te
presen
ca
íti
l
po
i
l
atividade
em
ajustar c o m facilida de a "força" da l ipase
pó. É o tipo de l i pase mais utilizad o na indús
tri a de l aticínios mundia l, sobretu do nos Esta
dos Uni dos .
É
derivada geralmente de leveduras ou
fungos. Os microorganismos mais utilizados são:
Mucor m iehei
- Aspergillus niger
- Aspergilus oryzae
- Phizoupus arrhizus
a) Pasta
d i re t a m en t e
de impurezas físicas e microbiológicas. Por es
LIPASE MICROBIANA
l ato, epig l ote e esôfago) ou gástricos de rumi
WOOD S , S . Le grand fro m a g e .
C a n a di'an
Packaging, Toronto, v.45, n.9, p . 5 8, 1 992.
destruída na pasteuri
, LIPASE ANIMAL
É
S UBRAMANIAM,
P. J .
Miscell aneous
appl i cati ons. In : PARRY, R . T. Principies
É
zação do l eite.
v. l , n . 5 , p . 1 l l - l l 8 , 1 99 0 .
and
a p p l i cations
of
a t h m os p h ere
packaging
vi amente, a pasta resultante conterá enzimas
homogenei zado ou submeti do a forte ag itação
S COTT, C . R . & SMITH, H . O . Cottage cheese
D e v e l op m e n t s in fo od p a c k a g i n
m aceração j untamente com s eu conteúdo. Ob
Está presente naturalmente (endógina) no
trolada. In : NOVAS tecnologias de acon
dicion a m e n t o d e alimentos: embalagen s '
SBCTA, 1 9 8 8 . cap . 5 , p . 1 05 - 1 40.
l eite coagulado no estômago, o que obriga a sua
usado na indústria de l aticínios.
Embalagens com atmosfera modificada/con
Campinas, ITAL/
l eite; assim, a lipase secretada s e m istura ao
LIPASE NATURAL DO LEITE
leite cru, l i gada às mi celas de caseína. Geral
B.K.
Inhibition of pseudomonads in cottage cheese
carbon
PINHO, F. Atmosfera modificada: uma qualida
Estas l ipases são obti das de processos
fermentativos e seu uso na fabricação de quei
,
jos é menor, comparado à utilização de esterases
pré-gástricas.
Consultores Técnicos da Chr.Hansen Indústria e Comércio Ltda. Cx Postal 37 1 , CEP 1 3276-970,
Valinhos, SP.
digitalizado por
arvoredoleite.org
Rev. Inst. Latic. "Cândido Tostes", Set/Out, n!! 295 ,
MECANISMO DE AÇÃO
50: (5): 45-48, 1 995
Pág. 46
trabalhar c o m o leite cru, sobretudo p o r ques
·tões de padronização e segurança da fabricação.
No Q u a dro 1 a p r e s en t a - s e e s q u e m a
Para certos tipos de queijos é fundamen
ticamente o m e c a n i s mo de atuação da lipase
tal que ocorra l ipól i se , como se observa nos
sobre a gordura do queijo.
dados l i stados a seguir (P.F. Fox, 1 993, comu
Os glóbulos de gorduras encontram-se em
nicação pessoal) onde se apresenta a composi
emulsão no leite, na forma de triglicerídios, ou
ção média em ácidos graxos livres (mg/kg) em
seja, 3 cadeias de ácidos graxos esterificadas
alguns queijos curados:
l igação éster. Cerca de 20% dos ácidos graxos
Edam ............................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 3 5 6
são de cadeia curta, de
Mussarela .................. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6 3
4
a 10 carbonos (butírico,
caprói co, capríl i c o e cápri co) . A lipas e atua
Camembert ............. ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . 6 8 1
através da h idrólise da l igação éster, liberando
Prov o l o n e ... ...... . . . . . . . . . . . . . ............. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . 1 1 8
ácido graxos e convertendo o trig l icerídio em
Queijos de cabra . . . . .......... . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . .
di e monoalicerídio sucessivamente, até a com
Parmesão ... ....... . . . . . . ............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pleta separação em glicerol e ácidos graxos li
Roquefort ........................... . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 . 45 3
4 .558
4. 9 1 3
vres. Dependendo da estrutura, os ácidos graxos
livres (saturados ou insaturados, cadeia curta ou
Observa-se que nos 4 últimos queijos a
l on g a) são converti dos em outros componen
degradação da gordura é fundamental no pro
tes atrav és de r e a ç õ e s d i v ersas (oxi da ç ão
cesso de m aturação. No Roq uefort e, o mofo
d e s c a rbox i l a çã o , s ap on i fi c aç ão ) , como p o r
P e n icilliU11l é o g rande respon sável, mas nos
exemplo, aldeídos, cetonas, peróxidos, etc. que
outros queijos (Provolone, Cabra e Parmesão),
vão conferir o sabor e aroma típicos de queijos
geralmente feitos com leite cru, o papel da lipase
maturados. Leite de cabra e ovelha possuem um
do leite é essencial.
elevado teor de ácidos graxos de cadeia curta e
S e e l a for i nativada na pasteurização,
por isso apresentam aroma e sabor acentuados,
pode ser substituída pela l ipase pré-gástrica de
especialmente quando maturados por fungos do
cordeiro ou cabrito.
gênero P e n i cilli u 11l , cuj o s i stema l ipol ítico é
muito ativo. Muitas vezes a l ipase de origem
- C ONDIÇÕES DE USO DA LIPASE
ovi na ou caprina é adici onada ao leite de vaca
para se obter no queijo o flavor típico de um
É
muito importante que se conheça algu
produto el aborado com leite de ovelha ou de
mas condições e fatos sobre o uso da Iipase para
cabra . Em qu e ij os de o r i g e m i t al i an a (ex . :
que seja empregada com sucesso na fabricação
P a r m e s ã o , P e cori n o , etc) o u d o t i p o Azul
de queijos:
é essencial. Já em queijos como o Prato, Gouda,
a) A J ip a s e de be zerro é a de m e n o r
Minas, etc a l ipase não desempenha um papel
a t i v i d a d e . As l i pases de cordeiro e
cabrito são prati camente iguais, sen
do que a última é l i geiramente mais
U tilização na fabricação d e queijos
(homo
lipól ise. Mesmo queijos magros como
5 - Condições de fabricação (tempe
tornar p i c a n t e s , q u a n d o maturados
4 - Tratamento
do
l eite
o Parmesão (cerca de 23 %) podem se
gen eização, etc)
. adeq uadamente.
ratura de cozimento, etc)
g) A l i pase é uma e n z i m a que age na
Cada caso deve ser estudado separadamen
i n terface á g u a - gordura, já que os
t e . O uso e x c e s s i v o de l ip ase p o d e c a u s a r
tri g l i c erí d i os
c) A lipase atua na faixa de p H d e
5 ·a
fo rt e .
A adição de l ipase ao l eite pasteurizado
para a fabricação de queijos é feita para recom
b) A quantidade a ser usada é muito im::
por o sistema Iipolítico (já que a pasterurização
portante e poderá v ari ar de 2 a 1 2
destrói a l i pase natural) e conferir ao produto
gramas por 1 00 l i tros d e l eite. Este
um sabor mais picante. Queijos feitos com leite
teor estará em função de fatores como:
se
e n c o n tram
emul si fi c ados no l eite (pres ença de
9,
leciti na) . Qualquer processo qu"e au
mas sua melhor atuação é n a região de
m ente a exposi ção desta i n terface
6 , 0 a 6 , 5 . Isto quer d i z e r q u e um
como
Parmesão com pH 5,35 poderá desen
a g i ta ç ã o
do
l e i te
ou
homogeneização do creme, tende a in
volver mais sabor que outro com pH
tensificar o fenômeno da l ipólise.
5,10.
h ) A lipase é um agente enzimático des
d ) N a faixa d e temperatura d e 5 a 50QC
a l ipase é ativa, com ativ i dade má
tinado a intensificar o flavor picante
xima a 40QC. Acima de 509C, ocorre
de queijos maturados e, como tal, re
quer um mín i mo de tempo para sua
i n ativ ação gradativa da enxima e d i
atuação. Não se deve esperar que a
m i n u i ç ão da sua ati v i dade r e s i d u al
no queij o . Assim, recomenda-se que
si mpl es adição de l ipase ao l eite vá
p ara maior efet i v i dade, s ej am u s a
tornar p icante um Parmesão curado
por 4 ou
das d o s e s m ai ores (5-9 g/ 1 00 l itros)
5
semana s . Há um requeri
mento de tempo de m aturação, q u e
em queijo P armesão em cuj a fabri
será variável d e acordo com todas a s
c a ç ã o s e u t i l i z a t e m p e r a t u r a s de
con di ções a q u i men c i onadas (dosa
cozim ento acima de 509C. o mesmo
gem, tipo de queijo e sua compos i
r a c i o c í n i o deve ser a p l i c a d o ao
ção, processo d e fabricação, p H , con
Prov o l o n e , cuj a m as s a n a fi l a g e m
dições de maturação, etc) . Entretan
p o d e ati n g ir entre 5 0 e 60QC .
to, é fato comprovado que queijos fa
bricados com o uso adequado de lipases
e) Temperaturas moderadas de maturação
pré-gástricas se apresentam bem mais
podem estimular consideravelmente a
pi cantes que aqueles m aturados sob
lipótise e a formação do sabor picante
as mesmas con di ções (tempo e tem
no queijo feito com lipase. Um queijo
(Gorgonzola, Roquefort) o fenômeno da lipólise
i mportante na m aturação.
·
entre o teor de gordura do queijo e a
temperatura, etc)
rancificação o u saponificação do queij o .
por uma molécula d e glicerol, através de uma
Pág . 47
Rev. Inst. Latic. "Cândido Tostes", Set/Out, nQ 295, 50: (5) : 45-48, 1 995
Parmesão curado a 1 69C matura mui
peratura) , porém el aborados sem o
to mais rápido que outro curado a 1 2QC.
uso da enzima.
Obviamente alguns cuidados devem ser
observados com r e l a ç ão aos r i s cos
Fi n almente recomenda-se sempre o uso
eventuais provocados pela má quali
de l i pa s e em p l e n a a t i v i d a d e e n z i m át i c a . A
enzima deve ser estocada por no máximo 3 me
dade do leite.
ses, a t emperaturas entre 3 e 7QC e l i vre de
f) Parece não haver uma relação direta
umidade.
cru maturam duas vezes mais rápido que aqueles
feitos com l eite pasteurizado (o teor de lipase
Tipo d e queijo (isto é , composi
1-
do queijo é 10 vezes maior do que no leite), mas
devido
a
contam i n aç õ e s
e
m á q u al i da d e
microbiológica, n e m sempre é recomendável s e
ç ã o e m umidade, s a l , etc)
2 - Intensidade de sabor desejadà
3
-
Condições de maturação (tempo,
digitalizado por
arvoredoleite.org
ut, ng 295, 50: (5) : 45-48 , 1 995
Inst. Latic. "Când ido Toste s", Set/O
Pág. 48
Rev. Inst. Latic. "Cândido Tostes", Set/Out, ng 295, 50: (5) : 49-49, 1 995
Pág . 49
. REVISTA D O INSTITUTO DE LATICÍNIOS C ÂNDIDO TOSTES
O. L. Vargas
A revista do Instituto de Laticínios Cândido Tostes
(REVILCT) publicada em Juiz de Fora apresenta-se
no tamanho de 230mm por 1 60mm e é órgão do
Centro de Pesquisa e Ensino cio Instituto de Laticínios
Cândido Tos tes da Empresa de Pesquisa
Agropecuária de Minas Gerais. A REVILCT destina
se à publicação de trabalhos originais de pesquisa e
à veiculação de informações de interesse relevante
para o setor de leite e produtos derivados. A critério
da Coordenação Edi tori a l poderão ser abertas
exceções, a REVILCT poderá veicular artigos de
revisão bibliográfica e notícias de interesse geral.
(ii) Aos autores poderá ser solici tada a provisão
institucional de recursos financeiros para publicação
de trabalhos originais e impressão de separatas de
acordo com a disponibilidade de cobertura financeira
da REVILCT no período em questão. Neste caso a
REVILCT poderá orientar os professores e
pesquisadores na procura insti tuc ional de apoio
financeiro como por exemplo para pagamento de
fotolitos a cores .
(iii) Os artigos devem ser redigidos em português. Os
autores devem apresentar o trabalho incluindo título
e resumo em português e inglês. A bibliografia e as
normas complementares de citação devem estar de
acordo c o m a u l ti ma publ icação revista da
Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT
(NB - 66 revisada). Dar-se-á preferência à forma sem
destaque, onde o nome dos autores são escritos com
apenas as primeiras letras maiúsculas.
(iv) Os manuscritos em cópias originais devem ser
enviados datilografados em papel branco. ofícío 2,
2 1 6 m m x 330mm de 75 g m2, reservando-se as
seguintes margi nações: 1- margem esquerda de
40mm, 2 - margem direita de 25mm, 3 - margem
superior de 25mm, 4 - margem inferior de 25mm. Os
manuscritos devem ser datilografados em espaço
duplo em páginas de aproximadamente 30 linhas (no
máximo 34 linhas e 80 espaços ou caracteres por
linha). A Coordenação Edi tori a l poderá fazer
a l terações de pequeno porte aos manuscritos. As
a l terações de grande porte serão sugeridas aos
a utores juntamente com a dev o l ução dos
manuscritos a serem reajustados. As correções e os
ac résci mos encaminhados pelos autores após
protocolo de registro da entrada dos manuscritos
poderão ser recusados a critério da Coordenação
Editorial.
(v) Todos os manuscritos pretendentes ao espaço da
REVILCT dentro do subtítulo "Ciência e Técnica"
deverão apresentar um resumo em português no
início do trabalho e um "Summary" em inglês antes
da listagem da bibliografia.
(vi) A bibliografIa deve ser listada, em ordem alfabética,
pelo último nome do primeiro autor. As referências
bibliográficas Jevem ser citadas no texto em uma
das seguintes formas opcionais: Silva ( 1 980); Silva
1980; (Silva 1980); ou (Silva, 1 980: 35). As abreviaturas
de nomes de periódicos devem seguir as normas da
"World List of Scientific Periodicals".
(vii) As ilustrações devem ser feitas em nanquim preto e
branco e em tintas de desenho (Rotri ngs o u
(i)
-.
I lo�g:;)nD I
equivalentes) de cores variadas para reproduções
em cores. As ilustrações deverão ser planejadas em
função das seguintes reduções opcionais: 1) 1 ,5X; 2)
2,OX; 3) 2,5X; 4) 3,OX ou 5) nX sempre
calculadas com base na diagonal de um retângulo.
Dar-se-á preferência aos tamanhos impressos de 1 )
120mm por 90mm; 2 ) 60mm por 45mm; 3 ) 170mm
por 127,5mm. As bases das ilustrações deverão ser
consideradas como 1) 120mm; 2) 60mm; 3)
1 70mm. Os gráficos e as tabelas devem ser reduzidos
ao mínimo indispensável, apenas de acordo com as
exigências de um tratamento estatístico formal . As
i l ustrações e as tabelas devem vir separadamente
em relação ao texto e devem estar de acordo com
as normas usuais de tratamento e processamento
de dados. As fotografias não deverão ser recortadas,
as formas fotográficas originais devem ser mantidas
em tamanhos retangulares para espaços impressos
preferenciais indicados acima (lado menor dividido
pelo lado maior igual a aproximadamente 0,7). O
cálculo para previsão da redução das i l ustrações
deve ser fe ito de acord o com a orientação de
Papavero & Martins ( 1 983: 109). As ilustrações e as
tabelas deverão ser montadas separadamente do
texto, deverão conter indicações da sua localização
defi n i t i v a em relação à paginação do traba lho
devendo constar uma chamada n o texto. Na
montagem deverá ser obedecido um rigoroso critério
de economia de espaço através da divisão da página
em lauda esquerda e lauda direita. Para possibilitar
este aprovei tamento de espaço, a magni tude da
redução poderá ser aj ustada. A Coordenação
Editori a l o utorga-se o d i re i to de proceder as
alterações na montagem dos clichês e das pranchas
ou de solicitá-Ias ao autores. As legendas e os títulos
das il ustrações deverão ser dati lografados à parte
do texto e das pranchas. As i l ustrações enviadas
pelo correio deverão ser protegidas em forma de
pranchas de cartolina com uma proteção externa
em cartão duro ou em madeira, de forma a deixá-Ias
sempre planas, nunca encontrá-Ias. A CE não pode
responsabi l i zar-se pelas perdas e danos de
transporte.
(viii) Em nenhum caso (subtítulo, nomes de autores etc)
deverão ser usadas p a l avras escri tas só c o m
m a i us c u l as . N o c orpo d o texto s e r ã o gri fa dos
apenas n o mes genéricos e espec ífi cos e outras
palavras estrangeiras eventual mente usadas nas
referências bibliográficas, grifar .apenas os nomes
de livros e periódicos e seus respectivos vol umes.
(i x ) Para s i m p l i ficar, use nota de rodapé apenas na
pri mei ra pági na do traba lho, com as credenciais
p r e v i s t as p e l a P A B , v i s t o q u e o e m p r e g o
c o r r e t o d a n o t a d e rod a p é d e v e c o n s i d e r a r
regras espec í fi c a s .
(x) Todos o s artigos publi cados den tro do subtítulo
"Ciência e Técn i c a " serão reproduzidos em
separatas sem capa, em numero fi xo de 10. As
separatas acima desse número serão cobradas dos
autores a preço de custo. Os autores não receberão
provas para exame e correção, os originais serão
considerados definitivos.
digitalizado por
arvoredoleite.org
Download