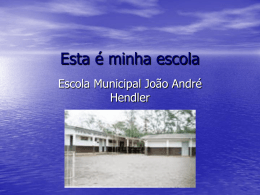BOSI, Alfredo. “Plural, mas não caótico”. In: BOSI, Alfredo. Cultura Brasileira. São Paulo: Editora Ática, 1987. [Vimos no curso alguns autores que apresentam o desafio de compreender e interpretar de um ponto de vista antropológico e sociológico a “brasilidade”, a “identidade brasileira” ou mesmo “a cultura brasileira”. Uma Antropologia realizada no Brasil e que também é do Brasil – no sentido de tomar justamente os valores culturais acerca do país como objeto de estudo; aquelas idéias que aparecem no imaginário social, no cotidiano, no chamado senso comum como naturais, como existentes “desde sempre”. Vimos como uma série de explicações de origem “determinista” tentaram dar conta de explicar ou justificar a “naturalidade” de uma série de imagens ou símbolos do Brasil (por exemplo, aquelas inspiradas no racialismo ou racismo científico, que buscava apresentar os dilemas nacionais como fruto de sua formação racial “miscigenada”, reproduzindo e mesmo criando preconceitos e baseando-se em discriminações]. - Esse texto de Alfredo Bosi começa com algumas questões. É possível falarmos em uma cultura brasileira unitária, coesa, definida por uma “característica mestra”? [Dá para pensarmos em uma única instituição social “mestra”, central, q eu ordena nossa vida social, como queriam aqueles e aquelas que diziam que era assim que sucedia em “sociedades simples”?] Dá para extrair dessa hipotética unidade a “expressão de uma identidade nacional”? [A relação entre a “cultura de um povo” e sua “identidade” é uma questão importante para a Antropologia. São conceitos que, se durante muito tempo foram pensados como coesos, unitários, hoje em dia são reconhecidamente plurais e contextuais. O que se busca na verdade é uma crítica dos discursos que produziram essa idéia de coesão ou unicidade ao longo do tempo, investigando quais os efeitos desse tipo de pensamento] - “Ocorre, porém, que não existe uma cultura brasileira homogênea, matriz de nossos comportamentos e dos nossos discursos. Ao contrário: a admissão do seu caráter plural é um passo decisivo para compreendê-la como um “efeito de sentido”, resultado de um processo de múltiplas interações e oposições no tempo e no espaço” (p. 7). [Esses questionamentos não são feitos somente em relação à identidade nacional, mas a quaisquer outras formas de identidades sociais ou culturais que durante muito tempo foram apresentadas como coesas e, mais do que isso, no singular. O que significa falar em “o” brasileiro ou “a” brasileira no singular? Esses termos dão 1 conta de expressar toda a multiplicidade de possibilidades de se ser brasileiro ou brasileira? Podemos pensar em exemplos de questionamentos similares acerca de identidades étnicas, raciais, etárias, sexuais, de gênero... Essa é uma crítica a um olhar muito “funcionalista”, preocupado com a coesão e com a manutenção da “ordem social” acerca das “identidades” e que faz sentido quando nos propomos a analisar a “identidade nacional”. É preciso analisar o contexto histórico, social e cultural onde as idéias ganham forma e, além disso, compreender como essas idéias são vividas pelas pessoas. E esse é o trabalho da Antropologia e da pesquisa etnográfica]. - [Bosi vai falar da separação, por exemplo, entre a “cultura das classes populares” e a “cultura erudita”; fala também na idéia de “cultura de massa”]. - “Há imbricações de velhas culturas ibéricas, indígenas e africanas, todas elas também polimorfas” – idéia de que o Brasil é formado pelo “contato interétnico” (p. 7). - Fala também nas “culturas migrantes”, tanto as externas (italiana, alemã, síria, judaica, japonesa), quanto as internas (nordestina, paulista, gaúcha, baiana etc.). Fala também que, desde a Segunda Guerra, a presença norte-americana vem representando uma fonte privilegiada no mercado de bens simbólicos [Daí, por exemplo, toda a preocupação com a chamada “americanização” dos costumes, ou com a “violência simbólica” que os EUA representariam no Brasil – por exemplo, a discussão trazida por Peter Fry, que em seu texto nos disse que o uso de categorias raciais “negro” e “branco” era visto, no Brasil, como “coisa de americanos”. Podemos pensar que uma discussão parecida se deu quanto ao uso do termo gay, que visaria uma mundialização da política de identidade gay e todas as discussões acerca das especificidades do contexto nacional como “híbrido” ou “misturado” (a idéia de “democracia racial” ou “sexual”). - “Tão notável multiplicidade produz, às vezes, aparências de caos (...) As expressões jocosas „geléia geral‟ e „samba do crioulo doido‟, inventadas para definir sarcasticamente o cadinho mental brasileiro” demonstram isso (p. 8). - Mas quando nos deslocamos da posição de espectadores para a de analistas, intérpretes ou mesmo criadores de cultura, entrevemos, nesse labirinto de imagens, algumas linhas de força mais claras que remetem a estruturas sociais diferenciadas [Essa é a tese dele] (p. 8). Nesse caso, a impressão de caos e nonsense ficará por conta do estilo de show alucinante “montado por essa gigantesca fábrica de sombras chamada civilização de massa”, ou “cultura de massa”. 2 - Bosi vai dizer que o uso e o sentido do tempo aparece como um princípio diferenciador de cada cultura que compõe o Brasil. Ele diz que o andamento dos meios de massa tem a ver com um tempo, ou com um ritmo próprio de uma “sociedade capitalista e feições internacionais”. “O imperativo categórico desse tempo social é o da fabricação ininterrupta de signos com vistas ao consumo total. TV e rádio 24 horas por dia, como os postos bancários”. Fala do cinema, da imprensa, do telefone, dos sistemas informáticos e das telenovelas e revistas de passatempo. [Poderíamos incluir nessa lista a internet]. Meios em que “a lei do maior número, no prazo mais breve e com o lucro mais alto determina o valor e o sabor” dos produtos. Para ele, “a montagem de bens simbólicos em ritmo industrial nos fornece um modelo de tempo cultural acelerado”. Diz que, nesse tempo, “as representações devem durar pouco, ou só enquanto o público der mostras de consumi-las com agrado”. “O sempre novo (embora não o sempre original, dadas as limitações fatais do produtor) comanda essa caricatura de eterna vanguarda que não hesita, porém, em valer-se de velhos clichês ou de periódicos revivals mal o assunto míngua ou morre” (p. 9). [Que exemplos podemos pensar, na chamada “indústria cultural”, acerca desse processo para o qual ele chama a atenção? Música?] - “O expediente mais cômodo de que lança mão o mercado cultural de um país dependente como o Brasil é o uso dos „enlatados‟ na TV (...) o conceito de „enlatado‟ poderia estender-se da esfera televisiva para a imprensa, onde se dão, tantas vezes sem comentário, notícias já prontas, vindas de agências internacionais”. A música americana é aqui muito difundida (p. 9). [Aqui percebemos a preocupação dele com aquela idéia da “importação” de idéias estrangeiras no Brasil. Há quem diga que esse processo acaba desestabilizando algo entendido como “cultura nacional”, ou “cultura brasileira”, como se a introdução de novos elementos numa cultura implicasse em desestabilização ou “perda cultural”. É uma visão um tanto quanto funcionalista da cultura. Há quem pense nesses processos de maneira mais relacional, colocando que elementos novos, “importados”, são sempre apropriados “à luz da cultura local” e que nesse processo não existe “perda cultural”, por a cultura desde o princípio é algo dinâmico, fluido e, portanto, passível de mudanças]. - Sobre a questão do tempo acelerado da indústria cultural, Bosi vai dizer que a cultura de massa “invade, ocupa e administra o tempo do relógio e o tempo interior do cidadão, pouco lhe importando as fronteiras nacionais” (p. 10). 3 - Segundo ele, uma das decorrências mais visíveis dessa imposição de um tempo acelerado da indústria cultural é a perda de memória social generalizada. Vai dizer que as imagens que a TV, por exemplo, projeta no nosso cérebro não são absorvidas, não dá tempo para isso. A TV, para ele, é um dos inventos mais complexos e requintados do nosso tempo. “O problema está na urgência da substituição e, daí, no caráter descartável que o signo adquire dentro do regime industrial avançado” (p. 10). - Para Bosi, “da corrente de representações e estímulos o sujeito só guardará o que a sua própria cultura vivida lhe permitir filtrar e avaliar. É como se a partir de outros ritmos que não o da indústria de signos, se pudesse filtrar esse tempo acelerado e lê-lo a partir de outras concepções. [Aqui ele indica um pouco esse processo reflexivo, de que novos elementos são sempre lidos à luz das culturas locais; de que esse processo não tem necessariamente a ver com imposição ou perda de valores culturais, mas com ressignificação ou ressimbolização]. - Mas qual seria essa “outra cultura”, capaz de resistir à civilização de massa? Para Bosi, as respostas bifurcam-se. Ou se trataria da chamada “cultura popular”, ou da chamada “cultura erudita”. É um contencioso, um debate. [De todo modo, nos faz pensar que o interesse pela chamada “cultura popular” ou pelos “modos de vida do campo” pode ter a ver com essa busca por uma cultura que escape aos meandros do “processo civilizatório” de uma cultura de massas industrial, não? Será que isso não deu fôlego ao interesse das ciências humanas paras culturas “populares”?] - Bosi vai dizer: “Ou se trata da cultura das classes pobres, iletradas, que vivem abaixo do limiar da escrita, ou se trata da cultura erudita, conquistada, via de regra, pela escolaridade média e superior” (p. 10). Ambas guardariam certa “capacidade de resistência”, intencional ou não. “Resistência” no sentido de “diferença” mesmo: “história interna específica; ritmo próprio; modo peculiar de existir no tempo histórico e no tempo subjetivo” (p. 10). - A temporalidade específica a cada “modo de vida” (popular ou erudito, da cultura popular ou da cultura erudita) ganha relevância – nenhuma das duas estaria montada a partir de um regime de produção em série, com linhas de montagem e horários regulados mecanicamente (indústria) (p. 10-11). - A “cultura popular” teria um tempo, ou uma temporalidade, própria. “O tempo da cultura popular é cíclico. Assim é vivido em áreas rurais mais antigas, em pequenas cidades marginais e em algumas zonas pobres, mas socialmente 4 estáveis, de cidades maiores. O seu fundamento é o retorno de situações e atos que a memória grupal reforça, atribuindo-lhes valor” (p. 11). [Idéia, por exemplo, de que na “zona rural” o tempo é marcado pelas estações do ano, ou pelos períodos de colheita – a sazonalidade dela marca a da vida social como um todo; ou a de que na cultura popular o tempo é “religioso”, marcado por eventos religiosos etc.]. - “Tempo sazonal, tempo do lavrador, marcado pelas águas e pela seca. Tempo lunar: tempo das marés, tempo menstrual. Tempo do ciclo agrário, da semeadura à ceifa, com a pausa necessária ao repouso da terra. Tempo do ciclo animal: do cio ao acoplamento, da gestação ao parto, da criação ao abate ou à nova reprodução” (p. 11). - “Sempre que uma inovação penetra a cultura popular, ela vem de algum modo traduzida e transposta para velhos padrões de percepção e sentimento já interiorizados e tornados como que uma segunda natureza. De resto, a condição material de sobrevivência das práticas populares é o seu enraizamento” (p. 11). [Aqui aparece a idéia mais reflexiva, de que novos elementos são sempre lidos à luz da cultura local, mas esse processo ainda aparece como se fosse necessariamente desestabilização, ou “perda cultural”. Esse conflito entre “velho” e “novo” levaria necessariamente ao desmantelamento do “velho”, que aparece como algo enraizado, o que evoca a idéia de que é algo que não muda, cujo tempo é cíclico, permanente. É uma visão de certo modo idealizada, também]. - De todo modo, o que Bosi busca é contrapor esse tempo de ciclo e enraizamento da “cultura popular” ao da indústria e comércio cultural. “Ciclo e enraizamento são processos que faltam, em geral, à indústria e ao comércio cultural. Os meios de comunicação nutrem-se da aparência do novo, que é pura serialidade. A TV, por exemplo, entretém uma relação descontínua com o público: ela precisa cortejar essa massa flutuante, atitude que a propaganda leva às últimas conseqüências mediante várias técnicas de aliciamento e sedução (...) Nas manifestações rituais das classes pobres há uma conaturalidade [mesma natureza] entre os eventos e os seus participantes. Uma festa popular identifica-se com os festeiros e os convidados: está neles, está entre eles. O mesmo ocorre com um desafio, uma cantoria, uma procissão, uma congada, um bumba-meu-boi, uma reza pelas almas. O distanciamento começa quando o turismo (ou a TV, paraíso do viajante de poltrona) toma conta dessas práticas: a festa, exibida, mas não partilhada, torna-se espetáculo. Nesse exato momento, o capitalismo se apropriou do folclore, ocultando o seu teor original de enraizamento” (p. 11). 5 [Essa é uma discussão muito parecida com a que fizemos, quando nos baseamos no texto de Peter Fry sobre feijoada e soul food, não? Ele se perguntava por que, no Brasil, diferentemente dos Estados Unidos, os símbolos culturais das camadas menos favorecidas ou subalternas foram sempre utilizados pela “indústria cultural” para produzir símbolos não desses grupos subalternos, mas de todo o país, da “identidade nacional”. Ele especulava se isso não tinha a ver com um processo no qual, apropriando-se dos símbolos das camadas pobres, as elites não podem destituir-lhes os possíveis significados contestatórios e se isso não impede que esses símbolos sejam tomados como “resistência” cultural; o Da Matta também fala disso quando analisa o Carnaval e o que chama de “dilema brasileiro”. Tem, então, nessa bibliografia uma tentativa de entender como e porque (de que modo e com que efeitos) os símbolos dos “subalternos” são apropriados pela “elite dominante” – aqui no texto de Bosi identificada como “indústria cultural” ou “indústria de massa” – e se isso não impede a formação de movimentos populares que visem transformar as hierarquias sociais. Não podemos esquecer que o contexto em que esses autores estão produzindo é o de início da abertura política e de fim da ditadura e que havia uma promessa no ar de que esses movimentos fossem se constituir – e, de fato, se constituíram – no país]. - “Quanto ao vasto mundo da pesquisa e da erudição (as ciências, a letra, a filosofia), foi sempre considerado a cultura por excelência. Em face do mercado atual de signos, a cultura „superior‟ guarda, ou procura guardar, alguma forma de liberdade interior sem a qual não exerceria nem a criação nem a crítica” (p. 12). - Bosi fala então numa “constante aspiração à autonomia” que marca a cultura “letrada” [e poderíamos pensar mesmo no campo propriamente “artístico”, da chamada “alta cultura”]. Como ele diz, “em princípio, a liberdade e a universalidade estariam no cerne e no horizonte da cultura erudita” (p. 13). “É a liberdade formal que permite ao artista manter o equilíbrio entre os dois principais modelos de formação simbólica: o ciclo e a série” (p. 13). [Mas é preciso tomar cuidado para não reificar, com essa idéia, a separação entre a cultura popular e a erudita; acaba havendo uma identificação da segunda às camadas médias e altas – não deixa de haver um idioma “de classe” social mantendo essa separação, e que pode ser problematizado. Por exemplo, em outro campo, poderíamos pensar na separação entre erotismo e pornografia; ou mesmo entre música clássica e música popular] - “Mas, quando vemos o texto em situação, tampouco parece viável repetir hoje certas formulações da Ilustração e do Liberalismo quanto à pura autonomia da cultura „alta‟. No seu dia-a-dia, os chamados homens cultos estão saturados de 6 esquemas ideológicos e de padrões de gosto que, no limite inferior, se enrijecem em racionalizações de classe (de teor elitista e populista) ou em preconceitos de grupo, suporte de vários ismos e contra-ismos que povoam a República das Letras” (p. 13-14). [Essa separação rígida pode servir para criar ou manter velhos preconceitos, como por exemplo a imagem estereotipada que se tem do iletrado, do “matuto”, do “caipira”, de “Jeca-Tatu” – maneiras de se criar distinções de classe e de gosto, de “estilos de vida”, entre aqueles localizados nas camadas sociais mais altas e o “povo”]. - Como diz Bosi, “até a mais „neutra‟ das tarefas eruditas pode ceder a esquemas de interpretação voltados para este ou aquele pólo do poder” (p. 14). - “O pensamento social pode, em outro sentido, servir de instrumento idôneo para a construção de ideais progressistas que promovam a maior socialização possível dos bens materiais e espirituais” (p. 14). - “No Brasil e, arriscaria dizer, no Terceiro Mundo, esse andamento é sinuoso e irregular, pois vem ora tolhido ora acelerado pelas relações entre o centro hegemônico (Europa, estados Unidos) e a nossa condição periférica e dependente. Uma percepção original e concreta da nossa própria existência tornase difícil e tende à ambigüidade ou a penosas oscilações, pois o intérprete nem sempre é capaz de relativizar as categorias gerais que aprendeu em escritos pensados a partir do Primeiro ou do Segundo Mundo. Daí, a urgência de estudos particulares rigorosos e de uma auto-análise mais acurada de nossos hábitos mentais, a fim de que certos modelos de maior prestígio não venham sobrepor-se ao nosso trabalho de campo e obstar uma visão nítida das coisas, sem a qual a própria ação política resulta ineficaz” (p. 14). [É uma crítica à utilização de idéias e conceitos forjados a partir de experiências sociais de determinados grupos em outros países, para a análise desses mesmos grupos em nosso país. Ele coloca então a necessidade, que já estava lá atrás anunciada pelos funcionalistas e por aqueles que inventaram a etnografia ou trabalho de campo, de que as categorias utilizadas nas nossas análises devem sempre partir dos contextos sociais e culturais que estudamos, onde fazem sentido, e não ser impostas, de fora, por um procedimento etnocêntrico – como faziam os evolucionistas sociais no século XIX] [Vale aqui mencionar um estudo recente e premiado que faz críticas à utilização de idéias estrangeiras para se pensar no camponês brasileiro. 7 ............................... Ferreira, Paulo Rogers. Os Afectos Mal-Ditos: o indizível nas sociedades camponesas. São Paulo: Editora Hucitec/Fapesp, 2008. - Nesse livro, o autor vai analisar o que chama de Texto Brasileiro Sobre o Rural (TB), uma produção na qual o corpo do camponês é apresentado sob a égide de uma semântica do dizível, havendo um silenciamento acerca das suas paixões, ou de seus prazeres (20). O que o autor chama de Corpo prêt-a-parler – já dado, definido, “bem-dito” (20). A sexualidade, então, aparece como temática subalterna quando se trata de analisar o mundo rural brasileiro (20). Esse TB perpetua um corpo casto (voltado ao matrimônio) e castrado (a libido se reduz à reprodução) para o camponês (21). O propósito da pesquisa, então, foi acrescentar as dimensões das intensidades e das paixões na análise do campesinato (21). Fez pesquisa de campo em um povoado no sertão do Ceará, no Brasil, que ele chama pelo nome fictício de Goiabeiras. E ele desloca seu olhar das casas camponesas, para as moitas camponesas, onde as práticas sexuais “indizíveis” ocorrem – por exemplo, as que ocorrem entre homens – entre aqueles que, no mundo público, exibem sua identidade heterossexual e sua sexualidade voltada ao matrimônio e à reprodução, e que, nas moitas, vivenciam os prazeres proibidos, silenciados. Mas o que mais nos interessa, aqui, é que o autor vai falar daquilo que chama de “importação de teorias” para interpretar o camponês (21-22). Como ele diz, “Goiabeiras me faz perceber a limitação da ideologia camponesa, instituída pela assimetria do TB, em recobrar apenas o plano oficial, hierarquizando valores” (p. 34). E se pergunta: “O que interpretar de uma noite de amor em que, ao raiar do dia, já está esquecida?” (p. 35). O capítulo 1 se chama “O imaginário instituído sobre as sociedades camponesas”. O autor questiona como se instituiu um imaginário sobre o corpo do camponês, a partir de uma sexualidade ajustada, integrada (p. 38). O que ele vai chamar de “o bem-dito corpo reprodutor do camponês” (39). Corre-se sempre o risco, ao analisar as comunidades rurais, ele vai dizer, de extrapolar as distinções presentes na sociedade do antropólogo como correspondendo à essência de todas as sociedades rurais (p. 39). Assim, por exemplo, a Divisão Sexual do Trabalho aparece como modelo central, dogmático, a ordenar a vida camponesa [como quando os antropólogos buscam uma única instituição a ordenar a vida social das chamadas sociedades “simples” ou “primitivas”] (p. 40). Ferreira fala de autores clássicos europeus que colocam o grupo doméstico como central para a compreensão do campesinato no geral (p. 46). Que eram, então, funcionalistas. Fala de outros que vão colocar a relevância do parentesco para um entendimento da subjetividade camponesa e sobre como existe uma subordinação do amor [que evoca escolhas individuais] à organização 8 social nas “sociedades camponesas” (p. 52). Fala sobre a visão utilitarista e economicista sobre o rural e sobre como a sexualidade aparece ligada à labuta, a estereótipos, nas obras sobre o campesinato francês por exemplo, que foram largamente utilizadas aqui para se falar do mundo rural brasileiro. O corpo camponês aparece como um corpo-funcional, voltado ao trabalho [o autor não menciona aqui, mas uma outra representação comum sobre o camponês, ou o “caipira”, está inversamente ligada ao trabalho e liga-se mesmo à idéia da “preguiça”, como o Jeca-Tatu de Monteiro Lobato]. Ferreira diz que o TB institui o ser camponês como classe-objeto, a fim de naturalizar uma identidade camponesa caricatural, por conta da criação de políticas públicas voltadas ao campo. E que se esquecem as contradições provenientes das práticas corpóreas do homem do campo, como é o caso das subjetividades e singularidades que emanam do “indizível nas sociedades camponesas”, que são as práticas das “moitas”, que ele se propõe analisar (p. 58). Ele vai dizer que o que vale para os teóricos do TB são as “estruturas” e as “funções” sociais e não as intensidades e as paixões (p. 58). A sexualidade no TB é sempre heterossexual (p. 60). - “A vida ordinária do camponês, e para além dela, está repleta de indizíveis, de atos inconfessáveis. Discursos-outros, linguagens corpóreas, silenciosas (...) A paixão e seus segredos, seus afectos, suas intensidades que movem o corpo, o faz rodopiar” (pp. 60-61). - Ele retoma Pierre Bourdieu, que inaugura o novo na literatura sobre sociedades camponesas – um camponês agente e não “agido”. Um homem do campo com subjetividade, contraditório, dúbio, estratégico” (p. 61). - Ele reclama que nenhuma alusão é dada às sexualidades fora da reprodução da espécie nas pesquisas sobre os camponeses. - O Texto Brasileiro Sobre o Rural (TB) é “uma palavra de Ordem, espécie de palavra régia estruturada” (p. 66), que, na visão do autor, ofusca as múltiplas possibilidades do corpo. E estava baseado no Texto Ocidental sobre o Campesinato, elaborado pelos economistas clássicos de fora (p. 80). - “Eis o que muitos pesquisadores das sociedades camponesas no Brasil e alhures fazem: “compram” de “bom grado” os discursos oficializados do homem do campo, e assim hierarquizam valores, pautados em uma moralidade ideal, em detrimento das paixões, estas que não esperam qualquer mata brotar” (p. 85)] - Nesse sentido, Ferreira exemplifica algo que Bosi está também questionando – a necessidade de que as categorias utilizadas e de que nosso olhar esteja sempre informado pelos contextos estudados, e a não imposição etnocêntrica de valores 9 ou de conceitos pré-formados, dados, acabados; de “pré-conceitos”. E a importância de estudos etnográficos que vão buscar justamente dar conta de explicar ou interpretar o vivido, o cotidiano, o dia-a-dia, o que Malinowski chamada de “carne, sangue e espírito” da vida social, como vimos]. .............................................. [Continuando o texto de Bosi] - “Não somos a Europa, evidentemente; mas tampouco somos a anti-Europa. O mesmo vale para os Estados Unidos e, apesar de tantos pontos de semelhança, também para os países da América de língua espanhola. Aprender o que somos, o que nos estamos tornando agora e o que podemos fazer, mediante um conhecimento histórico-comparativo denso e justo, é ainda tarefa prioritária das ciências humanas no Brasil” (p. 15). - Para Bosi, o Brasil é plural sim, mas não “caótico”. [Fazer o levantamento de todas as culturas que o compõem e divisar no cotidiano as relações entre vida simbólica, economia e política é, então, uma tarefa primordial para as ciências sociais e para as análises que, parafraseando Da Matta, buscam dar conta de entender e interpretar “o que faz o brasil, Brasil”]. .................. YATSUDA, Enid. “O caipira e os outros”. In: BOSI, Alfredo. Cultura Brasileira. São Paulo: Editora Ática, 1987. - “Dentre as muitas definições existentes para o nosso matuto, há uma que inegavelmente obteve consagração: trata-se do sujeito abobalhado, desconfiado, violento, preguiçoso, de modos grosseiros, „que não sabe vestir-se ou apresentarse em público‟ (Luís da Câmara Cascudo)”. Imagem que parece colada ao caipira (p. 103). - Vai analisar mais detalhadamente essa representação. - Yatsuda diz que se de um lado existe essa representação pejorativa do/a caipira, de outro se registra uma minoria preocupada em sentido contrário. Cita, por exemplo, Silvio Romero, para quem a cidade e a roça aparecem como pólos opostos, dois termos de uma antinomia social brasileira (p. 103-104). - Não há como compreender a oposição caipira x citadino sem levar em consideração o incremento da industrialização, que traz à tona a chamada “ideologia da modernização”. Nessa visão, o caipira representa o campo, o 10 “atraso”. Ele é tido como um elemento que impede o desenvolvimento da nação, centrado na zona urbana. Um entrave para que um país “subdesenvolvido” tornese “desenvolvido”. - Segundo o autor, essas idéias têm suas raízes ou seriam uma das versões do colonialismo. Uma espécie de “colonialismo interno” (p. 104). - Por ideologia do colonialismo, o autor está tomando um conteúdo que expressa a superioridade do colonizador: tudo o que se refere ao seu mundo é avaliado positivamente. É dinâmico, sensato, trabalhador, participa de uma civilização superior, e seu meio de expressão, sua linguagem, é meio de expressão de uma alta literatura. O colonizado, por outro lado, é sempre marcado negativamente. Assim, o nativo torna-se, “por natureza” [naturalização] preguiçoso, indolente, incapaz, idiotizado, sujo, violento, de fala rude que é incapaz de exprimir com precisão conhecimentos refinados ou sentimentos nobres (p. 104). - O próprio Monteiro Lobato, no seu início de carreira literária, imortalizou uma imagem “colonizada” do caipira por meio do Jeca Tatu – preguiçoso, indolente “por natureza” (p. 105). [Essa imagem é muito poderosa e acabou por se fixar por meio de um processo que não deixa de ser colonizador, no sentido de não dar voz ao caipira. Há um autor chamado Edward Said que vai falar sobre o modo como “O Oriente” aparece nos discursos ocidentais, sobretudo nos discursos acadêmicos. Ele vai falar em um Processo Orientalizador, que cria um estereótipo do Oriente e que não o deixa falar “por si próprio”, acerca “de si mesmo”. Ele é um autor-chave de uma escola de pensamento crítico recente chamada Pós-Colonialismo, que vai justamente pontuar essas questões. Podemos fazer um exercício similar ao pensarmos na imagem negativizada do “caipira”]. - Também há esforços no sentido contrário. Verdadeiros “atestados de simpatia” pelo caipira. O autor vai dizer, contudo, que essa simpatia raramente foi provocada por um sentimento humanista. “Acontece que, em determinados momentos de nossa história, a situação social e política criou condições para que o orgulho nativista se manifestasse. Assim, na época da Independência, promovida, como se sabe, pela classe dos descendentes europeus que se enriquecera com a atividade agrícola e a mineração – classe acertadamente chamada de „dominada por fora e dominante por dentro‟ – elege-se o índio como símbolo de brasilidade, de anti-lusitanismo. Da mesma forma, quando os cafeicultores do Oeste paulista que tinham fomentado a industrialização se vêem ameaçados pela mesma – agora nas mãos de imigrantes: Matarazzo, Gamba, 11 Crespi, Diederichsen, Lundgren, Klabin etc. – dizem-se caboclos, caipiras e alçam o matuto à condição de símbolo de resistência. Desse modo, o caipira é visto, à sua revelia, como portador de todos os valores referentes à terra” (p. 105-106). - Assim, por ser “o caipira” considerado apenas um receptáculo a ser preenchido segundo os interesses dos que dele fizeram uso, sua própria linguagem é muitas vezes esquecida (p. 106). - Segundo o autor, “apenas muito recentemente notam-se tentativas de redimensionar o matuto, paralelamente ao desenvolvimento de uma consciência crítica que se pretende infensa ao etnocentrismo. Estudos sociológicos e antropológicos, ao relativizar ao extremo o conceito de cultura, permitiram que se olhasse para o tema a partir de novas angulações” (p. 107). - Ele cita como a figura do matuto, ou caipira, aparece idealizada e romantizada, ou estereotipada, em uma série de autores consagrados da literatura nacional. Dentre eles, Bernardo Guimarães, Monteiro Lobato, Visconde de Taunay. - Fala tanto do sertanismo, ligado ao romantismo, quanto do regionalismo do século XIX (p. 108). Regionalismo que vai inclusive reagir (por meio de uma proposta naturalista ou realista) à tradição romântica que colocava o caipira como “pitoresco”, e vai buscar desexotizar o caipira (p. 109). - O autor mostra como Monteiro Lobato, que havia escrito sobre o caipira como estorvo, entrave à modernização, no começo do século XX, vai depois dar como causa de sua indolência as injustiças sociais, em 1948, após aproximar-se do Partido Comunista (p. 111). - Por fim, vai dizer que, contemporaneamente, “no esforço de conhecer o Brasil, as pesquisas sociológicas e antropológicas conferiram ao caipira o direito de estar entre seres humanos, nem idealizado nem tratado como animal, mas dotado de consciência, cultura própria e, apesar de explorado, participante do processo social” (p. 113). - “Enfim, o caipira, encarnando anseios e receios dos outros, teve seu significado mudado de acordo com pontos de vista que nele enxergaram apenas a projeção de valores ideológicos. Ora preguiçoso e violento como o índio, ora símbolo do verdadeiro Brasil formado por destemidos bandeirantes, só na atualidade, com o capitalismo plenamente implantado, é que aparece como personagem típico de uma formação social em gradativa decomposição” (p. 113). [Seu argumento é o de que só recentemente se passou a enxergar a linguagem caipira. E podemos pensar num duplo sentido: tanto a linguagem própria do 12 caipira ou era relegada a segundo plano ou inferiorizada em relação a uma linguagem “culta”; ou o caipira não falava sobre si por si próprio – falava-se dele, seja negativa, seja positivamente. Nesse sentido, cabe a nós pensarmos na importância de um trabalho etnográfico e antropológico acerca do/a caipira, já que a busca dessa ciência é justamente alargar a discursividade humana – compreender e interpretar como as pessoas vivem e o que pensam sobre o que vivem – no limite isso não deixa de ser “dar-lhes voz” para falar sobre si próprias]. 13
Baixar