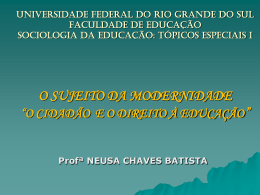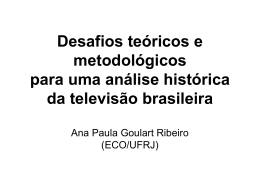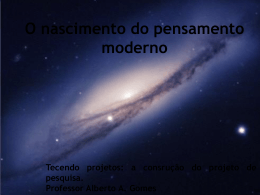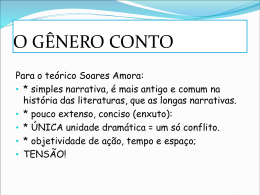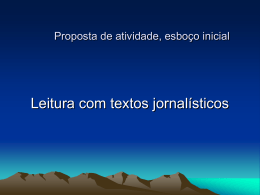O Demiurgo Moderno no Espaço Midiático: Conflitos de representação na cidade. 1 Walcler de Lima Mendes Junior O Demiurgo Moderno no Espaço Midiático: Conflitos de representação na cidade. Dissertação apresentada ao Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como requisito parcial à obtenção do grau de Mestre em Planejamento Urbano e Regional. Orientação: Professora Ana Clara Torres Ribeiro Professor Robert Moses Pechman 2 3 Walcler de Lima Mendes Junior O Demiurgo Moderno no Espaço Midiático: Conflitos de representação na cidade. Dissertação submetida ao corpo docente do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, como parte dos requisitos necessários à obtenção do grau de Mestre em Planejamento Urbano e Regional. Aprovada por: ....................................................................................................................................... Ana Clara Torres Ribeiro (Orientadora) Doutora em Ciências Humanas, pela USP ...................................................................................................................................... Robert Moses Pechman (Orientador) Doutor em História, pela Unicamp ....................................................................................................................................... Frederico Guilherme Bandeira de Araújo (IPPUR/UFRJ) Doutor em Engenharia de Produção, pela UFRJ ....................................................................................................................................... Renato Cordeiro Gomes (PUC-Rio) Doutor em Letras, pela PUC-Rio Rio de Janeiro 2005 4 Agradecimentos: À mestra de meditação Gurumayi Chidvilasananda pela mão dentro e fora do vaso. A minha mãe e a meu pai pelo desconhecimento do limite de dar-se. À amizade de meu irmão, fonte que nunca seca. Ao carinho da Tia Estela. À Ana Clara pelo carinho e pela nova amizade que desponta e promete. A Robert pela vontade incondicional de realizar esse trabalho e pelo afeto e amizade sempre renovados. À Mônica da Rádio Grande Tijuca. À Dona Zica de Vila Aliança. Aos amigos Maurício, Eduardo, Rangel, Nádia, Luís, Annie, Bruno, Celina e Carlota. Ao amor de Carolina que, dia e noite sempre ao meu lado, me faz crer no pequeno gesto como coisa extraordinária. 5 Resumo: O problema que atravessa todos os capítulos é o da despolitização e esvaziamento dos espaços públicos provocados pelas imagens da comunicação de massa substituindo a experiência direta da rua pela experiência indireta do que é assistido na TV. Baudrillard propõe que ou se está no acontecimento ou se está vendo o acontecimento pela TV. Se o acontecimento dá-se exclusivamente na tela, a rua torna-se um espaço virtual, um prolongamento do estúdio de TV. Como nos alerta Ítalo Calvino, não se deve confundir a cidade com o discurso que se faz dela. Os meios de comunicação de massa fazem crer que a cidade é o que a imagem diz ser, nada além, nada a mais. A cidade imagética substitui a cidade real. Mais adiante veremos como essa imagem afirmativa dos meios de comunicação de massa, em particular da TV, rouba dos habitantes da cidade a autoria do discurso, a criação cognitiva e singular do espaço vivido. No lugar do diálogo, a afirmação da imagem. No lugar do debate público, o simulacro de democracia oferecido em forma de espetáculo informativo, diariamente ao telespectador. A cidade do debate dá lugar a anticidade do consenso mudo. Dá-se o enfraquecimento da idéia de pertencimento, uma vez que a condição do consumo substitui a condição cidadã. O indivíduo, travestido de consumidor, torna-se insensível ao minguar das formas relacionais singulares que o conectava a história da cidade. A recuperação dos vínculos relacionais poderia restituir ao homem, mais do que o sentido de pertencimento, o sentido da imortalidade. A imortalidade, segundo Hannah Arendt, adviria da idéia de legado, de obra, de escritura que interfere e insere-se ao texto social. A conexão da história singular do indivíduo com a história longeva da cidade seria a chave da recuperação do desejo de cidadania. 6 Abstract: The question that permeates through all the chapters discourse over the depolitization and emptiness of public spaces provoked by the images of mass-communication that change the close experience of the streets by the indirect experience of watching TV. Baudrillard proposes that if someone is watching the events on TV, he can not be acting by the event as a subject. If the event happens exclusively on the screen, the street becomes a virtual space, a continuation of the studio. As Italo Calvino advises us, we can not confuse the city with the speech that is made about the city. The means of mass-communication make us believe that the city is exactly like the images showed on TV, nothing beyond that, nothing more than that. The imagistic city replaces the actual city. Further more, we will see the way how this affirmative image of the means of mass-communication prevents the inhabitants of the city from being the authors of their own speech, the cognitive creation of the daily space. The power ship of the images replaces the dialogue. Replacing the public discuss, the simulation of democracy is offered like news spectacle day by day to the audience. The city of debate loses space to the anti-city of the silent consensus. The idea of belonging (to the city) loses its power once the consumption condition replaces the citizen condition. The individual, turned into consumer, becomes insensible to the fading of the ways how he used to get connected to the history of the city. The recovery of those relation liaisons could give him back not just the meaning of affection, but also the meaning of immortality. The immortality, as Arendt says, would come from the idea of legacy, of work, of scripture which interferes and inserts itself in the social text. The connection of the singular history of the individual with the longevus history of the city would be the key to the immortality as Arendt speeches. 7 Sumário: De onde vem.............................................................................................................. 10 Introdução................................................................................................................. 15 Capítulo 1.................................................................................................................. 25 Exposição crítica do “estado das artes” da teoria da comunicação de massa no século XX. 1.1 O indivíduo faz a mensagem. O argumento e o contra-argumento. 25 1.2 A mensagem faz o indivíduo. A corrente crítica. 34 1.3 Não fazer a indústria cultural ou fazer a não-indústria cultural. 42 1.4 Introdução ao tema da indústria cultural na cidade do século XX. 50 Capítulo 2.................................................................................................................. 54 Sobre os filtros da indústria cultural e as narrativas da não-indústria. 2.1 Filtros. 54 2.2 Narrativas. 69 2.2.1 Das narrativas clássicas à narrativa benjaminiana. 69 2.2.2 O choque entre as culturas: nômade e colônica, na narrativa benjaminiana. 75 2.2.3 A temporalidade na narrativa: Cronos e Aion. 82 Capítulo 3.................................................................................................................. 87 O papel da televisão brasileira na construção de um modelo único de modernidade. 3.1 A primeira perna. 88 3.2 A segunda perna. 91 3.3 A terceira perna. 96 3.4 A televisão propõe a modernidade. 103 Capítulo 4................................................................................................................ 113 A criação autoral frente à lógica da indústria cultural 4.1 A construção do sujeito autoral: práticas, territórios e alteridades. 113 4.2 A rua encapsulada pelos limites técnicos e ideológicos da indústria cultural. 126 4.3 A personificação do sujeito autoral: a cumplicidade com a cidade pública. 133 4.4 O sujeito autoral na movediça condição pós-moderna. 139 Capítulo 5................................................................................................................ 152 A cidade reescrita pela prática cotidiana do demiurgo moderno. 5.1 A construção da imagem e a construção da cidade: conflito da modernidade. 152 5.2 Porque o excesso de ordenamento resulta no caos. 159 5.3 O demiurgo moderno. 165 5.4 O espaço-cidadão frente o olhar midiático. A prática demiúrgica. 170 Epílogo..................................................................................................................... 194 O demiurgo moderno em cena 8 Referências.............................................................................................................. 210 Lista de Gráfico e Tabela: Gráfico 1 .................................................................................................................... 53 Tabela 1..................................................................................................................... 112 Lista de Figuras e Fotos: René Magritte........................................................................................................... 204 Ceci n’est pas une pipe. Giselle Beiguelman................................................................................................... 204 Ceci n’est pas un Nike. Propaganda do Morumbi Shopping….............................................. 205, 206, 207, 208 Evgen Bavcar............................................................................................................ 209 9 De onde vem... Entre os anos de 2002 e 2003 exercendo os cargos de jornalista e produtor de documentários para a Fundação Bento Rubião e para a ONG Koinonia Territórios Negros tive a oportunidade de entrar em contato com uma série de iniciativas comunitárias que, na periferia dos “acontecimentos noticiados”, esperneavam pelo direito de visibilidade. Verificaremos no decorrer da dissertação porque a visibilidade seria decisiva à perpetuação dessas iniciativas, interferindo diretamente em seus resultados. Como exemplos dessas iniciativas destacou-se: 1) A luta dos quilombolas da Ilha de Marambaia contra a Marinha do Brasil, primeiro pelo reconhecimento do grupo como quilombo, depois pelo reconhecimento do direito de uso da terra, atualmente em poder da Marinha. 2) A criação da Rádio Grande Tijuca que atende às comunidades do Borel e adjacências. Essa rádio (que começou como “rádio poste1”, transformando-se em “rádio pirata”, e, finalmente em rádio comunitária) é caracterizada pelo desejo de ser uma voz da comunidade que se antagoniza à representação da favela como lugar da violência e do medo, como promovida pelos meios de comunicação de massa. 3) A criação do centro de recreação e atividades culturais de “Vila Aliança” em Bangu, sob a direção de Dona Zica que, junto à associação de moradores, atende crianças e jovens através de atividades esportivas, artísticas e educativas, com ênfase no teatro, dança, futebol, capoeira e leitura de contos infantis. 4) A iniciativa da escola comunitária de música: Meu Kantinho, Centro de Cultura, do músico Sebastião Cloves, violonista da Velha Guarda da Mangueira, que desenvolve um trabalho voluntário voltado para os moradores da região da Penha Circular. O centro é um foco de resistência e divulgação de gêneros musicais genuinamente brasileiros como o samba e o choro. Acontecem no local várias festividades como festas juninas, Festa de N. S. da Penha, Santa Cecília e São Jorge. 5) A criação da TV1 Radio poste faz referência a um sistema de alto-falantes presos a vários postes de luz da comunidade interligados a uma central de transmissão de sinal radiofônico. 10 ROC, TV comunitária a cabo que, a preços subsidiados, disponibiliza uma quantidade considerável de canais de vários países (Espanha, Itália, França, Inglaterra, Portugal, etc.) aos moradores da Favela da Rocinha, abrindo opções de programação ao monopólio da Rede Globo. 6) A formação do Corpo de Dança da Maré, com 63 integrantes, adolescentes, da Favela da Maré, organizados pelo Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré, que resultaram em três espetáculos: Mãe Gentil, Danças da Maré e Folias Guanabaras. Uma das integrantes declarou: “Depois que entrei no grupo de dança comecei a freqüentar lugares bonitos, viajar para São Paulo, Salvador, de avião, fico triste de ver meus pais que trabalham tanto sem ter oportunidade de viver as mesmas coisas” (VARELLA, 2002, p.109). Essas e outras iniciativas com que tive contato direto, apesar de tratarem de causas singulares, tinham em comum pertencerem ao mesmo rol das iniciativas de sujeitos e objetivos comunitários. Mais do que isso, pelos discursos de seus sujeitos, percebi que essas iniciativas tinham outro elemento em comum, uma espécie de alteridade comum. Algo como: “nós, dominados, injustiçados, excluídos e os outros, a elite, o poder, o dominador”. Buscando identificar de forma mais precisa quem seriam esses outros, ou o que positivaria essa alteridade, discutiu-se algumas possibilidades. Essa alteridade poderia dizer respeito ao poder político oficializado, porém muitas dessas iniciativas tinham apoio parcial ou total de alguma instância do executivo seja a nível federal ou municipal. Sendo assim, o poder governamental não poderia responder como sujeito representante da alteridade comum que suspeitava existir. Era especifico demais. Poderiam ser os sujeitos das classes sociais privilegiadas, as elites, como um corpo único e coeso que causa os desequilíbrios sociais ao beneficiar-se da má distribuição de renda. Porém ao localizar a elite como sujeito constituidor de alteridade perdia-se objetividade, perdia-se foco, tendo em vista que o discurso que alimenta a idéia da luta de classes chega de forma fragmentada aos sujeitos das iniciativas comunitárias e, mais que isso, raramente é produto de seus próprios discursos. O discurso da 11 luta de classes serve ideologicamente e igualmente aos objetivos de um vereador ou de um cantor de rap. O fato é que a “elite em geral” não chegaria a constituir uma alteridade palpável, um sujeito concreto no contexto cotidiano das comunidades. Seria vago demais. Suspeitei então do olhar maniqueísta da mídia que se chocava com o discurso dos sujeitos das iniciativas, atingindo todas as comunidades empobrecidas. Aquilo que é dito, mostrado e produzido pela mídia sobre essas comunidades não correspondia à realidade cotidiana. O discurso da violência e da degeneração social como estigma naturalizado da comunidade empobrecida é a marca dos noticiários que, em geral, não estão interessados no cotidiano comunitário, mas no extraordinário violento, a ponto de sugerirem que esse extraordinário seja o cotidiano das comunidades. Não se nega que haja a violência como sintoma dos desequilíbrios sociais, do esgarçamento do tecido social que resulta em auto-isolamento, segregação e exclusão. Porém, suspeita-se da forma como a violência é apresentada pela mídia que, ao despolitizar o conflito da injustiça social, forma opiniões que se conjugam com os discursos da intolerância, da cidade segregada, da necessidade do uso extremo da violência oficial que teriam por conseqüência a falência dos espaços públicos e a imposição de uma ordem privada e individualista sobre uma ordem pública. Sob a lógica do privado, a cidade em sua concepção democrática que serve de palco às heterogeneidades, dissídios e debates corre o risco de transformar-se na cidade da intolerância e da indiferença, onde o indivíduo operaria de duas maneiras: impondo seu comportamento privado sobre o espaço público ou negligenciando o espaço público. As duas práticas levariam ao mesmo risco de esgarçamento social. É claro que os sujeitos da mídia não seriam uma espécie de “tipo puro” a constituir a alteridade. Porém, é possível pensá-los como os sujeitos que, direta ou indiretamente, reproduzem e justificam os discurso dos dominadores, contribuindo à perpetuação das relações de exploração e das estruturas de distribuição desigual de recursos entre as classes sociais. 12 Aceitando que o “espetáculo2” expulsa para além das fronteiras da existência tudo o que lhe escapa, chega-se a um impasse. Se por um lado os sujeitos das iniciativas repudiam a leitura que os veículos de comunicação de massa fazem de seu cotidiano, por outro necessitam desses veículos para sobreviver e existir além das fronteiras da comunidade. Ao constatar o conflito, percebi que os sujeitos das iniciativas referidas ainda que múltiplos e singulares, não constituíam a totalidade das vozes descontentes com o discurso dos media3. Havia outros sujeitos, além dos sujeitos das iniciativas de ordem comunitária, que também se antagonizavam ao discurso midiático. Da mesma forma, não seriam apenas as comunidades empobrecidas que sofreriam esvaziamento de significados e singularidades pela leitura solapante da mídia. A cidade, a polis, como um todo, também sofreria esvaziamento de significados com a despolitização do conflito gerado pelos interesses antagônicos dos que nela habitam. Essa despolitização, ao gerar intolerância, deixa entrever que a cidade como ela é, é inviável, apontando então para a falência dos espaços públicos que acolhem a forma de vida cidadã do indivíduo. Aos sujeitos das iniciativas somar-se-iam os sujeitos autorais, os autores que propõem uma nova “escritura” urbana, uma re-leitura da cidade que se antagoniza à leitura despolitizante dos media. A exemplo do sujeito das iniciativas, o sujeito autoral, estaria submetido ao mesmo impasse, visto que também necessitaria do “espetáculo” para fazer-se existir. Em princípio, pensei nos sujeitos autorais como escritores, poetas, compositores, pintores, fotógrafos, cineastas, escultores, músicos e autores em geral que, frente às condições e limites impostos pelos media às suas criações, estivessem esperneando, assim como os sujeitos das iniciativas de cunho comunitário. O sujeito autoral esperneia por ver-se também 2 Segundo Guy Debord a sociedade do espetáculo substituiu a sociedade de consumo, revelando-se como uma forma mais sutil e eficiente de reprodução do capital e perpetuação do sistema capitalista. Esse autor será retomado no decorrer da dissertação. 3 Sujeitos da mídia. 13 obrigado a submeter-se à lógica da mídia para se fazer ouvir, porém, o faz com a lucidez de que a mídia não é um fim em si, mas um remédio, um instrumento paliativo com o qual se é obrigado a conviver até que haja uma solução ao impasse. A partir daí, proponho uma complementação do sujeito autoral. Além do sujeito das iniciativas comunitárias e do autor que produz representações através da arte e da literatura, a categoria do sujeito autoral completar-se-ia com o cidadão comum que, através de sua leitura e comportamento cotidiano, também produziria representações da cidade que se antagonizariam com a leitura despolitizante da mídia. O sujeito-cidadão, capaz de perceber o minguar do seu espaço, o “espaço-cidadão”, buscaria através de ações organizadas ou individuais (pequenos gestos que contradizem a crença na barbárie) reverter o discurso da cidade midiática, despolitizada, carente de espaço-cidadão à qual denominaremos de anticidade. O descortino da anticidade (propondo que exista uma cidade onde a ágora, lugar do dissenso e do debate democrático, prevaleça sobre a acrópole, lugar de adoração), justifica a construção do sujeito autoral como vestígio de algo que se antagoniza aos media. 14 Introdução: A primeira questão que pode intrigar o leitor diz respeito à pertinência de se dissertar sobre a indústria cultural e suas antinomias em um instituto de planejamento urbano. Guy Debord, em “Sociedade do Espetáculo”, afirma que o “espetáculo” somou-se ao “urbanismo” nas tarefas de isolar, pacificar e controlar a força resultante do encontro das massas de trabalhadores na sociedade capitalista. O urbanismo é essa tomada de posse do meio ambiente natural e humano pelo capitalismo que, ao desenvolver-se logicamente em dominação absoluta, pode e deve agora refazer a totalidade do espaço como seu próprio cenário”. (DEBORD, 1992, § 169). “O urbanismo é a concretização moderna da tarefa ininterrupta que salvaguarda o poder de classe: a manutenção da atomização dos trabalhadores que as condições urbanas de produção tinham perigosamente reunido. A luta constante que teve de ser levada a cabo contra todos os aspectos desta possibilidade de encontro descobre no urbanismo o seu campo privilegiado. O esforço de todos os poderes estabelecidos desde as experiências da Revolução Francesa, para aumentar os meios de manter a ordem na rua, culmina finalmente na supressão da rua. << Com os meios de comunicação de massa a grande distância, o isolamento da população mostrou-se ser um meio de controle ainda mais eficaz>>, constata Lewis Mumford, em ‘Através da História’, ao descrever um mundo doravante único. Mas o movimento geral do isolamento, que é a realidade do urbanismo, deve também conter uma reintegração controlada dos trabalhadores, segundo as necessidades planificáveis da produção e do consumo. A integração do sistema deve apoderar-se dos indivíduos isolados em conjunto: as fábricas como as casas da cultura, as aldeias de férias como os grandes conjuntos habitacionais, são especialmente organizados para os fins desta pseudocoletividade que acompanha também o indivíduo isolado na célula familiar: o emprego generalizado dos receptores da mensagem espetacular faz com que o seu isolamento se encontre povoado pelas imagens dominantes, imagens que somente através deste isolamento adquirem o seu pleno poderio (DEBORD, 1992, §172). Para Debord o “espetáculo” reintegra, sob o controle dos interesses do mercado, aquilo que o urbanismo havia separado. Entender esse somatório de forças – que apontam para um fim específico, a perpetuação e onipresença do sistema capitalista – justificaria o desenvolvimento dessa dissertação em um instituto de planejamento urbano, propondo um diálogo interdisciplinar entre a comunicação e o urbanismo. 15 Há uma questão presente em todos os capítulos que ora emerge e dirige a narrativa ora dialoga com outras questões ora é pano de fundo. Mas está sempre presente. Essa questão diz respeito à onipresença da indústria cultural e à percepção aflitiva de que toda ação, manifestação, comunicação e troca, enfim toda a sociabilidade do indivíduo encontra-se constantemente vulnerável ao poder persuasivo da indústria cultural. Durante a onda neoliberal que se formou ainda na década de 1970 e desaguou sobre o pensamento crítico nas décadas de oitenta e noventa, empurrando-o para a periferia dos debates político, econômico e cultural, atirou-se ao descrédito qualquer referência às questões mais caras à Escola de Frankfurt. As alegorias apocalípticas de Adorno e Horkheimer, o pessimismo benjaminiano, a concepção de um indivíduo programado e robotizado pelos comerciais de TV davam lugar à idéia de interação, de troca entre emissor e receptor. Isto é, toda mensagem emitida teria uma volta, uma complementação, positivada pela interpretação do receptor transformado, a posteriori, em emissor. Ressuscita-se McLuhan4 que acredita no surgimento de um novo homem adaptado às novas condições sociais dadas pela comunicação de massa. Nem melhor, nem pior, esse novo homem deixaria para trás seu antepassado “gutenberguiano”, limitado pela comunicação impressa, da mesma forma que o homo-sapiens evoluiu do homo-erectus. Ao homem pós gutemberguiano cabe abraçar os novos meios de comunicação, as mídias5, visto que não é dada outra condição de existência que não seja a que lhe obriga a conviver com os meios de comunicação de massa. Esse novo homem precisa aprender a lidar com desafios, técnicas e possibilidades inimagináveis na Galáxia de Gutenberg que se eclipsa com o surgimento do rádio, do cinema e da TV. É indefensável a justificativa de McLuhan ao propor a naturalização da cultura, como algo dado, que flui inexoravelmente à revelia do indivíduo, seguida do aculturamento da 4 McLuhan é um dos primeiros teóricos da comunicação a afirmar, já na década de 50, que a relação dos meios de comunicação de massa com o indivíduo pressupõe uma troca e não uma persuasão. 5 Mídia significa soma de meios. 16 natureza, como se as transformações técnicas pertencessem à mesma categoria das transformações biológicas. Porém o que mais incomoda no pensamento mcluhaniano é a passividade, quase reacionária, do autor frente à onipresença dos meios de comunicação de massa. O entendimento de que o indivíduo “naturalmente” evolui de uma galáxia para outra – considerando que os massmedia configurem uma galáxia – propõe que o indivíduo deve aceitar de forma naturalizada a comunicação de massa penetrando, compondo e resignificando tudo o que lhe rodeia. Considerando-se ainda que a comunicação de massa pressupõe meios e veículos de massa para se concretizar e lembrando que tais veículos, enquanto empresas privadas, possuem um dono que deseja, acima de tudo, rentabilidade, lucro e acumulação, pode-se, pela via oposta da teoria mcluhaniana, chegar às mesmas teorias, hoje taxadas de conspiratórias e apocalípticas que moveram a Escola de Frankfurt na primeira metade do século XX. Isto é, os meios de comunicação de massa e seu artífice maior, a televisão, penetram os espaços privados e públicos transformam as cidades e os domicílios, persuadem e interferem sobre toda a ação humana buscando, como toda empresa privada, realizar e satisfazer suas necessidades de lucro. Acende-se um cigarro pensando em Bogart, James Dean ou em qualquer outro ícone fumante de sedução. Não se acende um cigarro porque, se pessoas inteligentes consomem cigarro com porcentagens menores de alcatrão e nicotina, pessoas que não fumam serão conclusivamente mais inteligentes... mascando chicletes. A questão inicial dessa dissertação, sobre a ação dos meios de comunicação de massa – quer para frankfurtianos, quer sob a ótica de McLuhan – sugere um problema que apresentaremos e tentaremos encontrar saída durante o percurso. O problema diz respeito a como nomear aquilo que escapa do domínio da indústria cultural. Isto é: como nomear “quem” ou “o que” (se é que existe) escapa da galáxia pós-gutenberguiana de McLuhan. A 17 aflição de dar nome ao indizível visto que, aparentemente, tudo ou é ou está contido pela “Galáxia de McLuhan”, é o problema que propomos. Como tópos da ação de resgate do objeto não-indústria cultural tem-se a cidade, a metrópole do século XX. A cidade como habitat de pessoas, sujeitos e indivíduos, contendo espaços públicos e privados estaria contida pela galáxia mcluhaniana. A transformação do indivíduo gutenberguiano em um indivíduo da comunicação de massa sugere uma transformação tal qual na cidade moderna. A cidade baudelaireana, da primeira metade do século XIX, e a cidade ítalo-calviniana, da contemporaneidade, são exemplos dessa cidade moderna. Compreender a ordem dessas modernidades sob a influência da comunicação de massa é fundamental na composição do objeto, considerando-se que a cidade é o único lugar possível à materialização da não-indústria cultural. Afirma-se isso – e isso será retomado adiante – tendo em vista que a cidade, na condição de epicentro da comunicação de massa, difunde seus modelos, formas e valores a uma periferia sempre ávida por centralidade. Segundo a lógica marxista, é no cerne do capitalismo que as transformações nas relações de dominação capital-trabalho tem maiores chances de se realizar. Da mesma forma, acredita-se que apenas no cerne dos espaços metropolitanos, cujos indivíduos estão perfeitamente instrumentalizados para lidar com a mensagem midiática, será possível identificar uma resistência, ainda que desarticulada, manifestando-se em pequenos gestos, criando pequenas arestas e ruídos na galáxia da comunicação de massa. O fenômeno urbano de massificação do consumo, do comportamento e da linguagem estende-se à periferia de forma mais eficaz quanto mais se tornam eficazes os meios e mensagens da comunicação de massa. Nos propomos analisar esse duplo movimento – metropolização dos costumes e desenvolvimento da comunicação de massa – buscando captar na construção do problema pistas e sintomas que permitam suspeitar da existência de algo que escape do espetáculo como proposto por Debord, algo que aponte uma fissura na dominação 18 anunciada do espaço público. Essa dominação, só no Brasil, só na Rede Globo, abrange quase 80 milhões de telespectadores diariamente entre o Jornal Nacional e a novela das oito6. Metade da população brasileira que assiste a Rede Globo todas as noites recebe uma mesma seleção e abordagem dos acontecimentos, uma mesma leitura do mundo. Considerando-se que a leitura ou tradução de algo original (ou de existência anterior) já pressupunha um ato de criação, assistir o mundo pela TV significa conhecer um mundo criado a posteriori, segundo as determinações técnicas e ideológicas dos media. Sob o mundo midiatizado há o mundo cotidiano. A rua, os caminhos entre o domicílio, o trabalho e o lazer atravessados por sinais de rádio freqüência e por inúmeros outdoors. Entre esses dois espaços – cidade vivida e cidade midiática – constrói-se a relação de dominação do midiático sobre o real. Através da análise dessa relação de dominação propomos efetuar as investigações em busca das fissuras. No intuito de facilitar o esforço do leitor, faremos uma análise de cada capítulo, destacando o que há de mais pertinente no caminho da construção do objeto. No capítulo um localiza-se as principais correntes que protagonizaram os debates sobre a indústria cultural no século XX. Introduz-se o debate que diz respeito às relações entre a mensagem, o indivíduo e o espaço público constrangidas pela comunicação de massa. Acredita-se que analisar a indústria cultural como categoria é o primeiro passo para a construção do objeto não-indústria cultural. No capítulo um introduz-se a idéia de como, no decorrer do século XX, o espetáculo promovido pela indústria cultural vai gradativamente 6 Os cinco programas de maior audiência no ano de 2004 pertenceram a Rede Globo, foram, respectivamente: Novela III (das oito), Novela II (das sete), Jornal Nacional, RJTV II (segunda edição) e A grande família. Em um universo de 3.274.126 domicílios, 55% dos telespectadores assistiam à novela das oito, 52%, à novela das sete, 47%, ao Jornal Nacional, 44%, ao RJTVII e 42%, ao programa A Grande família. No mesmo período a TVE não ultrapassou a marca de 1% de audiência em nenhum de seus programas. A Bandeirantes teve sua melhor pontuação com o programa de auditório “Sabadaço” que atingiu 5%. O SBT foi quem mais se aproximou da Rede Globo atingindo a marca de 19%, na Sessão das Dez e 16%, no Cine Espetacular que exibem filmes americanos. Estes dados são referentes à semana de 07 de Junho a 13 de Junho de 2004, sobre a Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O mesmo quadro na R.M. de São Paulo apresenta uma pequena perda de audiência da Rede Globo, que, todavia, mantêm-se acima dos 40% de audiência em todos os seu programas enquanto que os filmes do SBT chegam à 22% e a 17%. Fonte: Ibope mídia. 19 ocupando todos os espaços da sociedade a ponto de tornar imperceptível o que lhe escapa. Como observa Debord, se nas ditaduras a queima de livros ou a perseguição política dá-se sob um território específico e que, para além das suas fronteiras, há os que riem do poder do ditador, sob a onipresença do espetáculo, torna-se quase impossível zombar de seu poder ou ao menos saber que em algum lugar há quem se ria dele. Se, no primeiro capítulo, a análise centra-se no poder persuasivo das mensagens nos meios de comunicação de massa, no capítulo dois aborda-se o próprio meio da comunicação de massa, analisando suas características, seus limites técnicos e ideológicos e seu funcionamento. A indústria cultural funciona como uma espécie de filtro no qual tudo que o atravessa é atomizado e reconstruído segundo a lógica do espetáculo. A cidade, como espaço de conflitos e palco de choque entre interesses antagônicos, não passaria ilesa por essa nova forma de dominação. Debord propusera que o espetáculo substitui o urbanismo na tarefa de ordenar e controlar a cidade segundo a lógica do capital reproduzindo-se sob as novas condições do espetáculo. Essas novas condições dizem respeito à dominação e, a posteriori, à substituição da cidade senettiana7 de carne e pedra pela cidade midiática. Analisa-se como a comunicação de massa estaria impondo sua lógica funcionalista, obediente às necessidades do mercado sobre uma condição humana que não só sempre necessitou do território, como sempre necessitou narrá-lo. Ainda no segundo capítulo começa-se a propor o sujeito autoral, partindo-se das análises de Walter Benjamin e outros autores sobre a importância da narrativa clássica, direta e histórica frente à nova condição da comunicação midiatizada e capturada pelos veículos de massa. É dado o primeiro passo na construção do sujeito que materializaria e traria à esfera da existência uma força antagônica capaz de revolucionar a dominação do espetáculo. 7 No livro “Carne e Pedra” de Richard Sennett, a metáfora da carne diz respeito aos habitantes que se percebem acolhidos ou não pela cidade e a da pedra às construções que tornam a cidade acolhedora ou não aos seus habitantes. (SENNETT, 2003) 20 No terceiro capítulo analisa-se como a indústria cultural atua sobre a representação do espaço, penetrando as instâncias públicas, compactuando com o poder político e com as condições sociais favoráveis à sua implantação e desenvolvimento. Toma-se como exemplo o papel da indústria cultural na construção de um modelo único de modernidade no Brasil do século XX a partir de um projeto de integração nacional8. Dialoga-se com autores que analisaram a construção da modernidade brasileira, com ênfase em três aspectos – econômico, político e urbano. Esse cruzamento tem por objetivo propor a figura de um tripé, onde cada perna representa um dos três aspectos analisados e sobre os quais assenta-se a construção do “ser moderno brasileiro”. De fato, em sua fase embrionária, ainda na década de 1920, a indústria cultural no Brasil é implantada sobre as estruturas arcaicas de uma elite, faminta pela modernidade que a Europa irradiava. A partir da constatação desse ambiente favorável, ao mesmo tempo xenófilo e envergonhado de seu passado, observa-se o avanço territorial dos meios de comunicação de massa no Brasil, percebendo a chegada do cinema, do rádio e da TV, paralelamente à da luz elétrica nas regiões do país. Analisa-se como a TV é utilizada como um poderoso instrumento às necessidades político-econômicas de galvanizar os desejos, os hábitos e a cultura da população brasileira, primeiro em torno de um mesmo ideal de nacionalidade, depois em torno de um mesmo padrão de consumo. Propõe-se a idéia de como o fim do regime militar e o automático retorno da democracia política no país só se tornaram possíveis após quase vinte anos de catequese midiática, persuadindo a população a adotar os padrões de comportamento e consumo dos modelos de família de classe média urbana sugeridos pela telenovela. Analisa-se como a TV é utilizada, primeiro arregimentando as singularidades de um país continental em torno de um ideal único de nacionalidade e senso 8 “A história da televisão brasileira, a partir de 1965, vinculou-se por um lado à família Marinho e por outro ao regime ditatorial implantado no país pelos militares a partir de março de 1964. Ambos trabalharam num projeto chamado: integração nacional. Em 1965 foi criada pelo governo militar a - Empresa Brasileira de Telecomunicações - (EMBRATEL) com o lema: a comunicação é a integração. O objetivo era a integração da sociedade brasileira e, pela ideologia, manter a dominação via a comunicação”. (GUARESCHI; MAYA; BELTRÃO; 2002, p. 1). 21 cívico, propondo um pacto em relação ao caminho de construção do país adotado pelo governo militar, depois, pari passu, substituindo esse pacto por outro que diz respeito à construção de um modelo universalizado de consumo. No capítulo quatro retoma-se o caminho de construção do sujeito autoral, propondo-o como o sujeito que, através de sua prática, expõe o esvaziamento e a despolitização dos conflitos urbanos promovidos pelos meios de comunicação de massa. Analisa-se como esse sujeito autoral9 confecciona um tecido simbólico que adere ao espaço vivido, construindo narrativas que buscam interromper o esvaziamento do espaço público, ao mesmo tempo em que se caracteriza como alternativa à leitura que a industria cultural faz da cidade. Literatura, cinema, fotografia, pintura, música e artes em geral prestam-se como representações do espaço urbano e como vozes que questionam a leitura racionalizante, convergente e mercadológica da indústria cultural. No capítulo cinco propomos a forma mais completa da construção que materializa aquilo que escapa do espetáculo. Essa construção, mais do que o sujeito autoral, visto que não é necessariamente um artista, caracteriza-se por reescrever a escritura urbana, através de pequenos gestos, leituras e olhares sobre o espaço cotidiano de forma a propor, em suas práticas, uma nova escritura urbana, onde o espaço-cidadão, a ágora moderna, reassuma o “centro” da cidade. Esse sujeito proposto está plasmado no cidadão comum, no indivíduo que percebe o minguar do espaço-cidadão. Atende-se à necessidade de nomear esse sujeito e sua prática de forma a trazê-los a esfera das existências e não mais denominá-los pelo que não são: não-indústria cultural, isto é o que escapa ideologicamente da indústria cultural. Sujeito e prática estão dentro, mas esperneando, provocando a fissura. Para nomear o sujeito e a prática buscou-se analogia com uma representação platônica denominada de demiurgo. Na 9 Utiliza-se o termo autoral para sugerir que a prática autoral é comum à categoria de sujeito. Essa prática não configura, obrigatoriamente, a necessidade de se classificar o sujeito como um autor, visto que autor remete às idéias de função, de especialização e de criação individual que não produz, necessariamente, interferência no espaço público. Autoral estaria ligado à idéia de prática que interfere no espaço público. 22 construção platônica o demiurgo exerce o papel de copiar o mundo das idéias transformandoo em matéria. Sendo assim a construção platônica do mundo apresenta três níveis: no nível mais elevado encontra-se o mundo desmaterializado das idéias, a verdade sem sombras, o bem supremo, o mundo perfeito onde não há dúvidas. No nível intermediário há o demiurgo que tem a função de transformar as idéias perfeitas do mundo superior em matéria. No nível inferior encontra-se o mundo material, o mundo dos homens que é criado a partir da tradução que o demiurgo faz do mundo perfeito das idéias. Assim, segundo Platão, o mundo seria imperfeito, cheio de dúvidas e sombras, porque as idéias perfeitas ao sofrerem a tradução do demiurgo, isto é, ao serem materializadas, se transformariam em matéria imperfeita. O demiurgo moderno que propomos como construção teria a função inversa do demiurgo clássico, que seria traduzir em forma de representações o mundo materializado dos homens e devolver a esse mundo uma visão mais clara, menos alienada e mais afetuosa de si. Porém, sobre sua cabeça, no lugar do mundo perfeito das idéias platônicas paira, pesadamente, como uma impropriedade da física, a estrutura onipresente e onipotente do espetáculo guydebordiano que vilipendia a tradução do demiurgo moderno, transformando-a em mercadoria, em valor de troca, que alimenta o mundo superior da elite midiática, da arte midiática, da literatura midiática10, do esporte midiático11, da ciência midiática e da política midiática12. 10 Os livros mais vendidos no Brasil, entre 2004 e 2005, têm alguma relação com a mídia. Seguem alguns números e a relação entre o autor, a obra e a mídia: “Roberto Marinho” de Pedro Bial, 30 mil exemplares (apresentador do programa Big Brother Brasil); “Por um fio” de Dráuzio Varella, 150 mil (apresentador do Fantástico); Mad Maria de Márcio Souza, 17 mil (mini-série da Rede Globo); “Amor é prosa, sexo é poesia” de Arnaldo Jabor, 90 mil (apresentador do Jornal Nacional); “Jornal Nacional – A notícia faz história”, 70 mil (livro sobre o noticiário de TV); “A fantástica volta ao mundo” de Zeca Camargo, 20 mil (apresentador do Fantástico). (Revista Veja, Edição 1893. Ed. Abril. Ano 38 n° 8, São Paulo, 23/02/2005) 11 Como exemplo do poder midiático interferindo no campo do esporte vale citar a reportagem do jornal Folha de S. Paulo, 28/5/00: "A ingerência das emissoras de TV no futebol está prejudicando o Corinthians, segundo o técnico Oswaldo de Oliveira, que está irritado por ter de jogar hoje (segunda) e terça. Serão dois clássicos seguidos, o primeiro pelo Paulista, contra o São Paulo, e o segundo contra o Palmeiras, pela Taça Libertadores. Ele queria ter jogado ontem pelo Paulista ou então que a partida da Taça Libertadores fosse na quarta ou quinta-feira, para haver mais tempo de preparação. – ‘Toda vez que a gente luta por uma mudança, vem a TV com os seus interesses ou outras coisas não-técnicas impedindo isso’, disse. Coincidência ou não, o jogo da Taça Libertadores foi marcado para um dia em que a TV Globo vem perdendo audiência para o SBT. – ‘O futebol hoje não vive só de técnica, mas de multi-interesses. São ingerências e participações que fogem da minha alçada de treinador’”. Outro exemplo no mesmo jornal: “Anabolizada pela Rede Globo, o Stock Car tenta crescer: Os nomes, quase todos, são os mesmos de sempre: Ingo Hoffmann, Paulo Gomes, Chico Serra, 23 Essa construção será mais e melhor abordada no capítulo cinco de forma a apresentar-se como a materialização do objeto “não-indústria cultural” que passaria a ser denominado pelo que é, e não mais pelo que não é. Uma vez denominado, o objeto ascenderia de forma mais clara e concreta ao plano da materialidade, para que dele já não se pusesse mais em dúvida a própria existência13. Xandy Negrão... A categoria também é velha conhecida do público que freqüenta os autódromos. A Stock Car, porém, inicia hoje em Interlagos sua 22ª temporada com um carro novo e pretensões elevadas. E o motivo principal é um só: com a ajuda de Galvão Bueno, dono de 30% de uma equipe, os dirigentes conseguiram um inédito apoio da Rede Globo, que passou a ver nas provas uma opção para ganhar audiência nas manhãs de domingo. (...) Até o regulamento foi alterado nas negociações com a Rede Globo”. (Folha de S. Paulo, 28/5/00) 12 “O país estava saindo de um regime militar e entrando numa redemocratização, descartando aquela velharia. Mas morre o Tancredo e entra o Sarney, que transforma o ACM em ministro das Comunicações. O ACM distribui repetidoras da Rede Globo pelo país inteiro para caciques regionais. Então, os velhos coronéis, que tendiam a desaparecer, voltam com uma tevê, repetindo a Globo nos seus estados e anunciando com verba do governo deles próprios na sua própria televisão. E esses caras estão no congresso, barrando todo processo de modernização”. (Fernão Lima Mesquita, em entrevista à Carta Capital, 26/01/2005. São Paulo, ano XI, n° 326). Dos 500 deputados federais, 80 deles são donos de canais de rádio e TV, associados a grandes grupos empresariais de comunicação. 13 Justificando a existência das bestas fantásticas do folclore (mula-sem-cabeça, lobisomem, caipora, etc.), há um ditado nordestino que diz: se o bicho tem nome é porque existe. 24 Capítulo 1 Exposição crítica do “estado das artes” da teoria da comunicação de massa no século XX. ahtttmallarmé tttttttttttttttttttt acarneétriste ttttttttttttttttttt eninguémttlê ttttttttttttttttttt tudottexiste ttttttttttttttttt praacabaremtv14 (Augusto de Campos) 1.1 O indivíduo faz a mensagem. O argumento e o contra-argumento. Antes de iniciar esse capítulo, a título de esclarecer as categorias indústria cultural, espetáculo, mídia e comunicação de massa é importante observar que toda essa terminologia, guardada as diferenças que cada autor abordado utiliza15, diz respeito a uma relação de dominação que se dá entre os media, que são os sujeitos que detêm os meios de produção de representações referentes à indústria cultural, e os consumidores (telespectadores, ouvintes, leitores, espectadores, audiência, público), cuja capacidade de produzir representações está subjugada às condições da indústria cultural. Além disso, considerando-se a crescente hegemonia da televisão, em relação aos outros meios de comunicação, no mundo inteiro e, em particular no Brasil16, faremos referência à TV ou ao poder persuasivo da TV como o que melhor exprime aquilo que se diz da 14 tvgrama 1/ Tambeau de Mallarmé: Augusto de Campos. CD: Poesia é risco. Guy Debord refere-se ao “espetáculo” como um novo padrão do capitalismo; Adorno refere-se à indústria cultural como um termo mais adequado à comunicação de massa tendo em vista que esse tipo de comunicação não advém das massas e sim de uma elite midiática; McLuhan adota sem restrições os termos comunicação de massa e cultura de massa em sua crítica à Adorno e a Escola de Frankfurt. 16 Segundo pesquisa do Grupo de Mídia em 2000, mais de 39 milhões de lares, (o equivalente a 87,4% dos domicílios do Brasil) possuem um ou mais televisores. A Rede Globo, a maior emissora do Brasil, cobre quase a totalidade dos municípios brasileiros. Seu sinal chega a 99,77% dos domicílios com aparelhos de TV do país. Em termos de publicidade, as emissoras de TV detêm a maior fatia da verba destinada a anúncios: 55,5%. Veja o “Gráfico 1”, na p. 58, com os dados da distribuição da verba de publicidade entre os meios. 15 25 indústria cultural17. Também as categorias indivíduo, sujeito e pessoa terão um tratamento especificado. Sendo assim, define-se: indivíduo como o cidadão, o sujeito de direito, o ser político. Sujeito como o que tem a possibilidade de se transformar em autor, o sujeito da práxis18. Pessoa como forma referente aos círculos sócio-privados, as relações familiares e pessoais, onde se adquire um nome ou uma identidade particular. O debate introdutório que se sugere como ponto de partida dessa dissertação trata de expor as principais correntes da teoria da comunicação que tem por campo a relação entre a indústria cultural de massa e os espectadores e por objeto as conseqüências dessa relação nos indivíduos e nos espaços cotidianos. Eco (1978), em “Apocalípticos e Integrados” fez uma análise, sui generis, criticando o modelo de tribunal utilizado pelas correntes da teoria da comunicação de massa. Sendo assim, como se estivessem diante de um tribunal – cujo réu é representado pela indústria cultural e a vítima, pelos espectadores – apocalípticos e integrados que fazem, respectivamente, os papéis de acusação e defesa apresentariam seus argumentos, denegrindo ou enaltecendo os efeitos da comunicação de massa no indivíduo. Eco, através dessa construção, critica o modelo das análises sobre a indústria cultural e suas conseqüências que vigorava até aquele momento. Ao alertar para esse modelo de tribunal, onde é necessário acusar ou inocentar, o autor parecia ter revelado o segredo do movimento das mãos do mágico que realiza o truque diante dos olhos pasmados da platéia. A panacéia da teoria da comunicação de 17 Ainda em se tratando do poder de aceitação da televisão apresenta-se dois exemplos: 1)Durante o programa Big Brother Brasil da Rede Globo, 28.5 milhões de votos eliminaram um dos integrantes do programa. Esse número representa mais da metade dos votos, 53 milhões, que elegeram o presidente Luís Inácio Lula da Silva, em 2002. (O Globo, domingo, 13 de fevereiro de 2005, pg.22, Ancelmo Góis, Caderno Rio). 2) Notícia do Jornal “O Globo” sobre pesquisa do Ibope, referente ao desempenho de audiência da novela das oito horas: “Senhora do destino bate um novo recorde, oitenta e um, em cada cem televisores ligados no horário, na quinta feira, captavam a trama”. Fora os picos de audiência, segundo a mesma notícia, a novela é assistida, todas as noites, por no mínimo 40 milhões de espectadores em todo o país. (O Globo, domingo, 13 de fevereiro de 2005, pg.4. Segundo Caderno.). 18 “Razão prática (nous praktikós) é a expressão de Aristóteles que interpreta práxis como uma conduta modificadora da individualidade dentro da comunidade, portanto como uma identificação entre ser e fazer ,vínculo profundo entre o homem e sua obra”. (SODRÉ, 2002, p.47). 26 massa estava exposta para delírio dos comunicólogos, professores e estudantes de comunicação. O problema é que ao despolitizar o debate da comunicação caracterizando-o como um jogo dicotômico por princípio e maniqueísta por resultado, Eco corre o risco de estar, com uma roupagem mais sóbria e requintada, reproduzindo o discurso não crítico que apóia toda voz que põe sob ressalvas os que denunciam a manipulação dos desejos e o solapamento das singularidades que os meios de comunicação de massa provocam na sociedade. Em sintonia com o que Eco propõe, Certeau (1985) afasta do centro da discussão os efeitos da comunicação de massa e os substitui pela leitura que cada indivíduo/espectador realiza daquilo que vê. Certeau afirma que o uso que esse espectador faz daquilo que “consome” na tevê, em forma de imagem, diferencia-se individualmente. A comunicação estaria ainda sujeita a imprevistos externos (ruídos, perturbações, interferências, interrupções) que ocorreriam durante a leitura que o receptor faz da mensagem. “Como o leitor camponês, que estava acostumado a um sistema de transmissão oral utiliza o jornal e a televisão?”. (1985, p.5) Certeau propõe a idéia de um telespectador que “passeia dentro da imagem como o caçador furtivo passeia dentro do bosque, da floresta do proprietário. Ele caça algo que justamente ignoramos”. (1985, p.5) Certeau confere ao espectador/consumidor uma autonomia generosa, ao observar que no momento da compra diversos fatores vão influenciar o consumo de determinado bem. Esses fatores seriam mais determinantes do que a propaganda. Quando uma dona de casa ou um pai de família vai ao supermercado, considera alguns elementos extraordinariamente complexos – como aquilo que já existe em casa na geladeira, as pessoas convidadas e seus gostos, o desejo de lhes oferecer determinado prato, o que encontra no supermercado, o que é mais caro, o que é menos caro (1985, p.7). 27 Conclui-se que, segundo Certeau, a ação da publicidade sobre a decisão final do consumidor arrefeceria diante de uma miríade de fatores contingentes (alheios a relação consumidor - mensagem) que se manifestam na hora da compra. Certeau acredita que diante da prática do consumo, o indivíduo assuma características antropofágicas. Fazendo uma analogia com a Escola Antropofágica da “Semana de 22”, para o autor, o consumidor assimilaria o produto transformando-o, antropofagizando seu conteúdo. O caráter estrangeiro dos materiais semânticos, culturais, políticos, não impediam uma revolução em termos, uma assimilação, a qual no fundo constituía consumo. (...) Trata-se de uma antropofagia não ritualizada, não visível, e que obriga a que se perceba que o essencial não é aquilo que o praticante come, atravessa ou vê, mas sim o que ele faz daquilo que come, vê e atravessa. Ou seja, a questão essencial é aquilo que ele fabrica com a imagem da TV, com os utensílios eletrodomésticos, com a rua que cruza, etc (1985, p.6). A questão fundamental a ser levantada sobre as colocações de Certeau é: se seria possível ignorar a ação e os resultados da indústria da propaganda, apoiada por índices, pesquisas e números que sustentam os orçamentos milionários do setor e concordar que as contingências da hora da compra influenciam o consumidor mais do que a mensagem que ele absorve pela televisão19. De toda forma, o autor não resolve nenhum problema ao deslocar o epicentro do fenômeno da comunicação para o consumidor, tendo em vista que, a exemplo das correntes dicotômicas da teoria da comunicação, Certeau continua preso à idéia de adivinhar ou adiantar a reação do consumidor. Isto é, ao invés da propaganda, o que orientaria o consumo é o que o autor diz que orienta: “aquilo que já existe em casa na geladeira, as pessoas convidadas e seus gostos, o desejo de lhes oferecer determinado prato, o que encontra no supermercado, o que é mais caro, o que 19 Afinal o garoto-propaganda das Casas Bahia fez as vendas da rede triplicarem e sufocarem o concorrente Ponto Frio com o singelo refrão que perguntava: Quanto você vai querer pagar? Esse é um fato do mercado observado após a análise dos resultados da campanha. O Índice de Audiência medido pelo IBOPE determina o valor da cota publicitária de cada emissora dentro de cada horário, estabelecendo contrastes de custo substanciais para a veiculação de uma peça publicitária entre, por exemplo, a Rede Globo e a Rede Record. Se o resultado da ação dos media sobre o público consumidor fosse relativo, como o quer Certeau, dificilmente o empresariado estaria disposto a arcar com os custos que envolvem as campanhas de publicidade e muito menos a lógica do mercado funcionaria da forma rígida que se apresenta. 28 é menos caro”. Finalmente dizer que aquilo que “se come, atravessa ou vê” não importa é o mesmo que ignorar o fato de crianças e adultos do mundo inteiro envenenarem-se diariamente com a comida dos fast-foods, cujos índices de gordura ultrapassam, em muito, as recomendadas pela OMS (Organização Mundial de Saúde)20. Everardo Rocha ao analisar as relações entre indústria cultural e consumidores observa que a comunicação de massa não obriga a nada. Sua arma é a persuasão. Isto é, o seu poder se define como persuasão, o que significa dizer que ela é vazia de poder e plena de persuasão. No intuito de persuadir, os anúncios vendem um mundo ideal cujos personagens têm plena consciência de suas relações entre si e o espaço que os cerca. Propaganda e novela apresentam uma sociedade onde todos se conhecem e todos sabem o que, quando, onde e como fazer o que deve ser feito. O autor propõe que o “centro da publicidade é a relação e não o indivíduo. Relações humanas que ocorrem numa sociedade de lucro. Uma sociedade ideal”. (1995, p.48). O autor afirma que “dentro da indústria cultural existe uma sociedade” e que, sendo a indústria cultural um fato social, seria também fruto da criação da mesma sociedade que a recepta. Dizer que a comunicação de massa é vazia de poder é questionável, considerando que a persuasão é um tipo de poder: o poder de persuadir. Logo a industria cultural não pode ser vazia de poder. Propor a existência de um mundo de relações perfeitas que ocorre dentro dos comerciais é admitir que o simulacro substitui o real com vantagens. É propor que o imagético é o lugar do acontecimento, da relação perfeita, da sociedade racionalizada e programada para atuar sem criar. Esse modelo de sociedade, ainda que para o autor sirva de modelo a ser alcançado, não seria possível no espaço público da rua, plena de acontecimentos inesperados que obrigam ao indivíduo agir politicamente, negociar e dialogar com o outro, com o inesperado. 20 “Big Mac, 490 calorias, é o sanduíche mais vendido e o carro-chefe do cardápio da rede McDonalds no Brasil. Diariamente são engolidos cerca de 180 mil unidades. O índice de gordura é alto, 46% do seu total calórico vem da gordura, o que é muito acima da média recomendada pela OMS”. Carta Capital, 12/01/2005. 29 A exemplo de Certeau, Barbero também vai afirmar a leitura plural que o telespectador pode fazer da mensagem da TV, onde uma lógica da produção de mensagens negocia com uma lógica do uso que se faz dessas mensagens. O plural das lógicas do uso não se esgota na diferença social das classes, mas essa diferença articula as outras. Os hábitos de classe atravessam os usos da televisão, os modos de ver, e se manifestam – observáveis etnograficamente – na organização do tempo e do espaço cotidianos (2003, p.312). Ainda sobre a relação entre indústria cultural e espectadores, Barbero refere-se aos “ideologistas” (os apocalípticos de Eco), como sendo aqueles que condenam a indústria cultural – “A ideologização impediu que se interrogasse qualquer outra coisa nos processos além dos rastros do dominador”.(2003, p.291) Ou, ainda, quando afirma que: Entre emissores-dominantes e receptores-dominados, nenhuma sedução, nem resistência, só a passividade do consumo e a alienação decifrada na imanência de uma mensagem-texto nunca atravessada por conflitos e contradições muito menos lutas (2003, p.291). No outro lado, segundo o autor, posicionam-se os “cientificistas” (o mesmo que Eco chama de integrados) que afirmam: “Chega de ideologia e denúncias, sejamos sérios e comecemos a fazer ciência” (2003, p.201). O paradigma hegemônico é reconstituído com base no modo informacional, com um revival positivista que proibia a problematização de tudo aquilo que não tivesse a correspondência de um método (2003, p.201). O autor defende a idéia de que a massificação é estrutural à sociedade moderna e tal fenômeno independeria dos meios de comunicação de massa. Dessa forma, haveria uma “impossibilidade de que as massas fizessem efetivo seu direito ao trabalho, à saúde, à educação e à cultura sem massificar tudo” (2003, p.322). Por fim, o autor não concorda com uma leitura externa que percebe a indústria cultural “pura e simplesmente como instrumento de dominação”, ignorando a tradução que os receptores fariam dos 30 produtos simbólicos transmitidos. Sendo assim “essa leitura coloca como pressuposto precisamente o que deveria investigar: qual a posição efetiva que a indústria cultural ocupa no campo simbólico desses países” (2003, p.323). Aníbal Ford “rejeita a versão simples e mecanicista das hipóteses hipodérmicas e manipulatórias (...) que faz do receptor um ser passivo, uma página em branco (1999, p.263). Ford segue observando que “diferentes lógicas transitam na mídia” (1999, p.264), no que diz respeito não só a apropriação de elementos contraditórios à cultura de elite, assim como a complexidade da apropriação desses elementos pelo imaginário social. Canclini afirma que: “Muitas das perguntas próprias dos cidadãos – a que lugar pertenço e que direitos isso me dá, como posso me informar, quem representa meus interesses – recebem sua resposta mais através do consumo privado de bens e dos meios de comunicação de massa do que nas regras abstratas da democracia ou pela participação coletiva em espaços públicos”(2001, p.37). Canclini também vai compartilhar da idéia de troca e mediação entre dominadores e receptores deixando de lado as análises que percebem, unicamente, relações de dominação. “A comunicação não é eficaz se não inclui também interações de colaboração e transação entre uns e outros”(2001, p.76). O autor propõe que há uma negociação entre produtores e consumidores, um pacto onde “as massas populares na esfera pública foram deslocando o desempenho da cidadania em direção às práticas de consumo” (2001, p.50). Dessa forma, a idéia de consumo, segundo o autor, guarda em si o aspecto da participação na disputa do que é produzido pela sociedade. As observações dos autores acima têm por objetivo apontar uma saída às relações de dominação, desqualificando a indústria cultural como ferramenta de dominação a serviço da persuasão e educação da massa. Para tanto, os autores evocam um possível caráter participativo do receptor, no que tange a leitura da mensagem 31 midiática. Independentemente das intenções dos autores, esse caminho aponta para uma despolitização da relação produtor-consumidor que só beneficia a manutenção da estrutura de comunicação de massa que já se encontra instalada há tempos na sociedade. Isto é, quanto mais as estruturas privadas das grandes empresas de comunicação despolitizam os espaços públicos e quanto mais a condição de cidadão é substituída pela de consumidor, menos perceptível torna-se a relação de dominação, tendo em vista que, uma vez naturalizada na sociedade, nada se manifesta à parte dessa relação, a ponto de parecer obscuro nomear fenômenos e sujeitos que poderiam pertencer a uma possível categoria por hora pensada como “não-indústria cultural”. Afinal, que sujeito ou fenômeno pode fazer-se conhecido em âmbito público sem pertencer ou ser atravessado pela estrutura da comunicação de massa?21 Retornando a Apocalípticos e Integrados, Eco afirma que a TV... [...] sabe que pode determinar os gostos do público sem necessidade de adequar-se supinamente a eles. Em regime de livre concorrência, ela se adequa, sim, a uma lei da oferta e da procura, mas não em relação ao público, e sim aos comitentes. Educa o público segundo os intentos dos comitentes. Em regime de monopólio, adequa-se a lei da oferta e da procura face ao partido no poder (1978, p.348). Eco conclui essa idéia afirmando que: “uma civilização democrática só se salvará se fizer da linguagem da imagem uma provocação à reflexão crítica, não um convite à hipnose” (1978, p.353). Eco admite que há uma espécie de dobra no tempo, uma fratura que ocorre após um certo período frente ao aparelho de TV, quando a 21 Sobre a monopolização da comunicação, especificamente no Brasil, apresentam-se os seguintes dados referentes ao ano de 2002 e levantados pelo Instituto de Estudos e Pesquisas em Comunicação: Seis redes nacionais de televisão (Globo, SBT, Record, Bandeirantes, CNT e Rede TV!) controlam 667 veículos do país: 309 canais de televisão, 308 canais de rádio e 50 jornais diários. Às redes de televisão, somam-se outros quatro grandes grupos de mídia, os grupos Abril, Folha, RBS e Estado. Estas empresas juntas controlam tudo o que se vê, se escuta e se lê no país. A Rede Globo é a empresa que mais concentra mídia no Brasil, controlando redes de TV por assinatura (Globosat, Sky e Net), rádios (CBN, rádio Globo), jornais (O Globo, Valor Econômico, Extra, Diário de São Paulo), revista (Época), internet (Globo.com), editora de livros (Editora Globo), gravadora (Som Livre) e uma produtora de filmes (Globo Filme). Mais de 40% dos brasileiros vêem a rede Globo de televisão todos os dias, o que representa mais de 50% da audiência total. (Fonte: Grupo de Mídia, 2004) 32 percepção da mensagem deixa de ser voluntária e torna-se hipnótica. A partir dessa dobra se estabeleceria a passividade (1978, p.364). Em “Os meios de comunicação”, McLuhan expõe sua teoria sobre meios quentes de alta definição e meios frios de baixa definição22. Segundo McLuhan, a TV pertenceria à categoria de meio frio por ser de baixa definição (McLuhan tinha por referência a TV da década de 60), logo ela teria a capacidade de permitir uma grande participação da audiência, constituindo-se num meio que possibilitaria a compreensão e não a alienação. McLuhan é classificado por Eco como um integrado que via na TV benefícios que se estenderiam a uma democratização do saber e do ensino na sociedade23. Sobre a participação do telespectador, McLuhan afirma que: “A imagem da tevê exige que, a cada instante, fechemos os espaços da trama por meio de uma participação sensorial que é profundamente cinética e tátil” (1964, p.352). O autor acrescenta ainda que: “Como a baixa definição da teve assegura um alto envolvimento da audiência, os programas mais eficazes são aqueles cujas situações consistem de processos que devem ser completados” (1964, p.359). Teixeira Coelho afirma que essa participação defendida por McLuhan deve ser entendida como complementação. “A audiência complementa os dados que um meio tido como de baixa definição, como a TV, fornece incompletamente. (...) Complementar é uma operação longe, e não pouco, da participação” (1988, p.51). Teixeira Coelho observa que a TV de hoje já não pode ser vista como de baixa definição, concluindo que a teoria de McLuhan está duplamente equivocada. Tanto no sentido conceitual, visto 22 “Um meio frio (...) dá muito mais margem ao ouvinte ou usuário do que um meio quente. Se um meio é de alta definição sua participação é baixa. Se um meio é de baixa definição sua participação é alta”.(McLuhan,1964:358) 23 Eco foi quase generoso com McLuhan, se compararmos sua análise com a de Guy Debord: “McLuhan, o primeiro apologista do espetáculo, que parecia o imbecil mais convencido do seu século, mudou de opinião ao descobrir finalmente, em 1976, que <<a pressão dos massmedia empurra para o irracional>> e se tornaria urgente moderar-lhe o uso”. (DEBORD, 1992,§ XII). 33 que complementar não é participar, quanto no técnico, visto que a qualidade da imagem da TV de hoje já não pode ser classificada como de baixa definição. 1.2 A mensagem faz o indivíduo. A corrente crítica. Segundo Teixeira Coelho, “há uma diferença estrutural que caracteriza o produto de cultura de massa, que é o fato de não ser produzido por quem o consome” (1988, p.9). Por exemplo, o carnaval pode ser classificado como produto de massa: ao ser capturado pelas câmeras de TV e transmitido para milhões de espectadores, ao adequar-se às necessidades do espaço e do tempo de transmissão, ao submeter-se às regras do mercado que estabelece contratos de patrocínio, enredos aludindo as empresas patrocinadoras24 e custos de participação para os integrantes, ao aderir a uma estética não conflitante com os valores morais e nacionalistas que regem a transmissão da TV (o nu e a crítica social, a exemplo dos enredos sobre as religiões africanas, vêm minguando). Pela soma de todas essas características, pode-se classificar o carnaval, capturado pela indústria cultural, como um produto de massa. Porém, basta visitar os espaços de criação, produção, ensaio, enfim, de preparação do desfile de carnaval, para entender, mesmo em se tratando de grandes escolas de samba, porque a visão espetacular da indústria cultural é incompleta. Freqüentando os ensaios, a quadra, o barracão, a escolha do samba enredo, a confecção das fantasias, alegorias e carros, percebe-se um outro carnaval, que se dá à revelia da câmera. Ainda assim, a presença de uma única câmera escudada por um refletor é suficiente para que tudo se transforme e todos se comportem de acordo com o modelo estético proposto pela indústria cultural. Basta uma visita de um representante da mídia para que todos sambem, riam e dêem 24 O enredo da Mangueira de 2005 citava diretamente o slogan da Petrobrás, empresa que financiou o desfile da escola de samba: “O carnaval é a pura energia e a energia é o nosso desafio”. Por outro lado nenhum dos dezesseis enredos de 2005 aludia às religiões ou a cultura de origem africana. 34 respostas evasivas, e aplaudam aos gritos de “é campeão”. Quando a TV se vai, tudo volta à rotina complexa, rica, plena de trocas e reciprocidades. Bourdieu afirma que... [...] a visão cotidiana de um subúrbio, em sua monotonia e seus tons cinzentos, não interessa a ninguém, não diz nada a ninguém e aos jornalistas menos ainda. Mas se por acaso se interessassem pelo que ocorre realmente nos subúrbios e desejassem realmente mostrá-lo, isso seria extremamente difícil. Nada é mais difícil do que fazer sentir a realidade em sua banalidade, (...) evocar o ordinário de maneira que as pessoas vejam a que ponto é extraordinário (1997, p.28). Champagne, ao analisar o comportamento, de moradores diante das câmeras de TV, em um bairro degradado de imigrantes no subúrbio de Paris, faz menção ao mesmo fato. O autor afirma que a mídia tende a fabricar a representação do exótico, seja do cotidiano degradado e violento de um banlieue sob a ótica da TV francesa, seja da euforia extravagante do carnaval sob as lentes da Rede Globo. Trata-se sempre do mesmo modelo estereotipado no qual a classe desprivilegiada é pouco ouvida e quando fala, o faz reproduzindo o discurso já esperado pela mídia. Mais exatamente, os jornalistas tendem, sem o saber, a recolher o seu próprio discurso sobre os subúrbios e encontram sempre, à toa nos conjuntos, à espera dos meios de comunicação, pessoas prontas a dizer, ‘para passar na televisão’, o que eles têm vontade de ouvir (CHAMPAGNE, 1997, p.69). O discurso crítico à indústria cultural afirmaria que há uma grave diferença entre a calamidade pública e a calamidade publicada. O mesmo se aplicaria às festas e manifestações oriundas de relações sociais que, ao longo de um processo de dominação, reproduzem a estética e a ordem midiática. Teixeira Coelho afirma que o telespectador tem uma relação indicial com a TV. A TV persuade no sentido de tornar essa relação indicial crível. Onde a TV mostra poça entende-se chuva, onde mostra fumaça entende-se fogo, quando mostra um carro entende-se realização, se mostra uma mulher loira entende-se beleza, se mostra um pobre entende-se ladrão. Ao telespectador cabe complementar as lacunas com signos indiciais. As lacunas têm uma causa e uma conseqüência. A causa é de ordem técnica e 35 diz respeito à velocidade, a quantidade e a forma ininterrupta como as imagens são transmitidas pela TV. A conseqüência é de ordem ideológica e diz respeito à função educadora e moralizante da TV no sentido de formar uma massa de indivíduos despolitizados, alienados e míopes aos mecanismos de reprodução social, dispostos a trocar sua condição cidadã pela de consumidor. O índice é um signo efêmero, de vida curta que depende em tudo da duração da vida de seu objeto. (...) O conhecimento do índice não possibilita o conhecimento do objeto significado, a não ser sob aspectos muito restritos (COELHO, 1988, p.63). Ao ocultar o objeto e oferecer em seu lugar o índice, a mensagem da TV aparenta esclarecer o fato. Porém, é como querer entender a chuva pelas poças no chão. O índice é apenas um ângulo, um matiz, uma visão sobre um fenômeno maior que nunca é mostrado por inteiro. Os sujeitos da TV argumentam que não há tempo, tendo em vista o custo e a linguagem da TV. Essa é a justificativa para os media selecionarem os índices segundo seus interesses, transformando a realidade na virtualidade que lhes convém. Isto é, a causa técnica justifica a conseqüência ideológica. Coelho afirma que, para o espectador, não há tempo da intuição disparar mecanismos de análise sobre o que se está consumindo. Devido às causas técnicas do meio só há tempo para constatações ligeiras e superficiais estruturadas na leitura dos índices que nunca apontam para a coisa em si. Coelho conclui, então, que “o problema com a Indústria Cultural não é tanto o que ela diz ou não; (...), mas sim o modo como diz”. (1988, p.69) Toda a Indústria Cultural vem operando com signos indiciais e, assim, provocando a formação e o desenvolvimento de consciências indiciais. Isto é: tudo, signos, consciências e objetos, é efêmero, rápido, transitório; não há tempo para a intuição e o sentimento das coisas, nem para o exame lógico delas: a tônica consiste apenas em mostrar, indicar, constatar. Como o que ocorre com o índice, de certo modo, o que é dado ao receptor é alguma coisa já conhecida. Às vezes, já conhecida pelo próprio receptor. Não há revelação, apenas constatação, e ainda assim uma constatação superficial – o que funciona como mola para a alienação. O que interessa não é sentir, intuir ou argumentar, propriedades da consciência icônica e simbólica, mas, apenas, operar (COELHO,1988, p.70). 36 Adorno, ao tratar da relação entre indústria cultural e espectador, afirma que: O espectador não deve ter necessidade de nenhum pensamento próprio, o produto prescreve toda reação: não por sua estrutura temática – que desmorona na medida que exige o pensamento – mas através de sinais. Toda ligação lógica que pressuponha um esforço intelectual é escrupulosamente evitada. Os desenvolvimentos devem resultar tanto quanto possível da situação imediatamente anterior, e não da idéia do todo (1985, p.128). Evitar o esclarecimento da “idéia do todo” e buscar encadeamento a partir da “situação anterior” é exatamente o que Teixeira Coelho observa como linguagem indicial dos meios de comunicação de massa, ou da indústria cultural, como prefere Adorno. Baudrillard fala do aniquilamento do “objeto real, pelo próprio conhecimento adquirido sobre ele”. Como se a TV ao apropriar-se do objeto transformando-o em informação, em simulacro, provocasse sua evanescência, restando “apenas traços sobre uma tela de controle” (1993, p.148). Usando como exemplo os conflitos da emancipação da Romênia em 1989, onde em Timisuara uma pilha de corpos foi estrategicamente simulada e encenada para as câmeras filmarem, o autor afirma que “o problema não seria o do escândalo da desinformação, mas o da própria informação como escândalo” (1993, p.147). A libertação da Romênia simulada na TV como a vitória da democracia sobre o comunismo asfixiante, soou de forma artificial e ficcional, talvez pela pouca familiaridade dos novos donos do poder com os meios de comunicação. Muitas testemunhas romenas falam da perda do acontecimento, da percepção ou da experiência viva que eles possuem pela imersão na rede midiática, por essa prisão domiciliar na tela televisual. Os espectadores vivem sua revolução como exotismo, como esoterismo das imagens, atualidade de um estúdio, eles próprios espectadores exógenos e turistas de uma história virtual. Ao simulacro incondicional do acontecimento corresponde o exotismo incondicional dos figurantes da história (1993, p.148). 37 Baudrillard propõe que quando a TV e o estúdio convergem todos os olhares para si, tornando-se o palco exclusivo do acontecimento, decreta-se a morte da rua. A partir do momento onde o estúdio torna-se a central revolucionária e a tela o único lugar de aparição, todo mundo acorre ao estúdio para figurar a todo custo na tela, ou ainda, se reagrupa de preferência na rua sob a mira das câmeras. A rua inteira torna-se um prolongamento do estúdio, isto é, um prolongamento do não-lugar do acontecimento, do lugar virtual do acontecimento. A rua torna-se também um espaço virtual. (...) Quando todas as informações, todas as diretivas partem da televisão, como se faz, como fazem milhares de telespectadores para estarem ao mesmo tempo diante da televisão e nos lugares da ação? Existe aí uma impossibilidade (...) que sela a hegemonia definitiva do virtual. O único acontecimento nesta história (Revolução Romena em 1989) é, portanto, o do virtual (1993, p.148). Quando os supostos sujeitos da revolução, a população romena que estaria clamando por liberdade, não se reconheceu nas imagens da revolução que a TV mostrava é porque a experiência, o acontecimento real , de fato, nunca chegou a se concretizar além das câmeras. Baudrillard afirma que o excesso de informação sobre um objeto passa a produzi-lo, emulando-o, confundindo-o até substituí-lo. De fato a irrupção da informação (e da democracia, e dos direitos do homem que, presume-se, faça parte dela) substitui precisamente a intervenção militar. (...) Maravilhosa substituição! A informação possui todos os direitos, posto que regulamenta o direito à existência (1993, p.151). Finalmente no que tange o fazer, a prática, Baudrillard percebe como a manipulação desavergonhada que o novo governo romeno fez das imagens na tela da TV... [...] deram uma lição de liberdade, não exatamente por tê-la atingido, mas por nos envolver em um falso processo de libertação política, indexada de fato por nossa demanda ocidental de os libertar. Através de sua revolução simulada, eles nos reenviam gentilmente o que esperávamos deles, segundo a astúcia especular do conformismo, que cega suas vítimas.(...) Eles nos mostraram que a liberdade ia até esse ponto, até a manipulação aberta e cínica dos fatos, enquanto nós praticamos uma manipulação envergonhada. Nós nos agarramos às formas morais e condicionais da liberdade, eles vão até a forma incondicional, paródica, da liberação pela imagem – da liberação da imagem, pois não se sabe porque, a imagem, uma vez liberada, não teria o direito de mentir; esta é sem dúvida uma das funções vitais, e é ingênuo pensar que iríamos libertá-la em nome da verdade – tão 38 ingênuo quanto pensar que os romenos iriam se libertar em prol de uma democracia verdadeira (1993, p.153). Para Baudrillard, se a imagem da mídia destruiu o acontecimento, também ocorreu “um tipo de acontecimento que acabou com a credibilidade da imagem” (1993, p.154). A imagem rouba o fazer, a autoria, a possibilidade dos sujeitos de uma possível revolução real inscreverem sua prática revolucionária no contexto histórico do país, para cometer “um crime de simulação, do seqüestro da imaginação, dos afetos e das perversões de centenas de milhões de pessoas” (1993, p.154). A exemplo de Baudrillard, Sodré, em Antropológica do espelho, também chama a atenção para a evanescência da rua como espaço político, afirmando que a despolitização da cena pública25 aponta para uma nova forma de sociabilidade, pautada no entretenimento performático do consumo individual. Com as mudanças profundas nas formas clássicas de sociabilização e participação social, está chegando ao fim a coincidência entre as dimensões do espaço público e do espaço político, típica do clássico modelo de Estado republicano no Ocidente. (...) Na medida em que o Estado se transnacionaliza, ou pelo menos assim se orienta, e a política torna-se uma dimensão autônoma da vida social, limitando progressivamente as decisões legislativas, as comissões especializadas e as instâncias tecnoburocráticas,(...) debilita-se o princípio de publicidade dos assuntos de Estado e restringem-se os temas de debate em geral. Não se trata da ‘morte da política’, anunciada pelo discurso pós-modernista, e sim da retirada da atividade política da cena pública e de sua localização em sistemas especialistas (composto de assessores técnicos, peritos, burocratas financeiros, etc.) (SODRË, 2002, p.39). Paralelamente a esse fenômeno, Sodré propõe que a hiper-qualificação das práticas profissionais origina formas individualistas e despolitizantes de organização do trabalho que passam a vigorar no lugar dos sindicatos e partidos políticos. Essa especialização profissional paradoxalmente convive com uma moderna forma de 25 Segundo Sodré, Público diz respeito: “a designação do controle ou do ordenamento estatal da vida social. Depois é o espaço onde a sociedade torna visível tudo aquilo que tem em comum, inclusive a semiose coletiva resultante da representação que os grupos sociais fazem de si mesmos. Na república moderna, o fenômeno político centralizou ao longo de séculos o espaço público, por ser o modo adequado de acolhimento do conflito social”.(SODRÉ, 2002, p.39). 39 dominação carismática e narcísea que toma curso entre as complexas instâncias tecnoburocráticas do poder. Sodré afirma que ao mesmo tempo em que a argumentação dialética dá lugar à fascinação tecno-narcisista (objetivada pelo consumo individualizado de mercadorias de status) o entretenimento passa a justificar o uso do espaço público no lugar da práxis política. O espaço público da contemporaneidade é cada vez mais construído pelas dimensões variadas do entretenimento ou da estética, em sentido amplo. (...) Profundamente afetada pela esfera do espetáculo, a vida comum torna-se médium publicitário e transforma a cidadania em performance tecnonarcíseca. (...) Disso resulta a prevalescência da mídia na cena pública de hoje (2002, p.40). Sodré conclui essa idéia propondo que a política passou a responder de forma muito mais direta à lógica do entretenimento e do espetáculo do que às especificidades de seu próprio campo. Hoje de fato a política (...) tende a ser vivida virtualmente e de modo espasmódico pelos cidadãos, ao sabor de gostos e humores idiossincráticos, como fato de mentalidade e costume, sem que as causas e as questões públicas tenham maiores conseqüências para a sociedade como um todo. O que na esfera pública se experimenta como puro ethos é absorvido por todas as técnicas de consenso e controle que confluem para a mídia (2002, p.44). Para o autor essa “estetização generalizada do mundo termina impondo-se como uma decisão moral” (2002, p.75). A mídia invade outros campos e passa a prescrevêlos, a criar um novo ethos dentro desses campos como forma de controle. Ainda que se reconheça que ela não impõe nada, essa prescrição pode determinar os rumos de uma guerra ou da política econômica de um país, emulando desde novas formas midiáticas para o mercado imobiliário, como os condomínios da Barra da Tijuca, até modelos pasteurizados de estilos musicais para o mercado fonográfico. Dá-se na prática uma epifania banal, que advém do poder midiático de prescrever o nome adequado para as coisas, de ‘batizar’, segundo os cânones da modernidade tecnológica e comercial. Nomear como bem se sabe, implica apropriar-se de algum modo daquilo que se nomeia, mas pode também implicar a própria criação daquilo de que fala, do 40 mesmo modo que a observação de um fenômeno é capaz de modificar tanto o observado como o observador (SODRÉ, 2002, p.61). Esse monopólio da nomeação dos fenômenos praticado pela indústria cultural torna-se claro na forma como a mídia, em parceria com o poder público e algumas ONG’s, propõe o desarmamento como solução à violência. Durante a campanha do desarmamento a imagem de armas sendo esmagadas por um rolo compressor ou sendo destruídas pela polícia tornou-se corriqueira nos telejornais. O teórico que acredita na participação do telespectador diria que: o que se faz com essa imagem é o que vale a pena ser analisado. Assim muitos telespectadores podem olhar para essa imagem, concordando com a campanha, discordando ou mesmo tirando vantagens, como a produção de armamento artesanal que é trocado, em média, por duzentos reais (valor médio de qualquer arma entregue para a campanha). A questão por trás dessa questão é que nenhuma das leituras ou reações do indivíduo sobre a imagem da campanha pode pôr em risco uma contestação maior sobre o problema da violência. Ou sobre qual seria a melhor estratégia para o combate da violência. A TV oferece um bestiário imensurável de imagens para ocupar a imaginação do telespectador. O que ele vai fazer com esse repertório, pouco importa aos produtores de imagens, contanto que a imaginação do telespectador funcione dentro desses limites. Isto é, dentro dos limites do espetáculo, tudo o que é produzido a partir dele presta-se apenas para reafirmá-lo como estrutura de dominação. O perigo de se deslocar o problema em direção ao indivíduoreceptor é ainda maior quando se percebe que por trás dessa individualização do receptor guarda-se a desesperança do pensamento de esquerda no que tange uma recuperação da consciência de classe, de uma organização entre sujeitos que contestem a lógica do espetáculo. A menos que se concorde que ludibriar o Estado com armas de mentira seja um ato revolucionário. 41 1.3. Não fazer a indústria cultural ou fazer a não-indústria cultural. Propõe-se agora deslocar a ótica do fazer e do não fazer, do campo político para o cultural, observando que se a rua despolitizada tornou-se o lugar da performance, é preciso, mais do que nunca, controlar essa performance também. A diferença entre fazer ou não fazer a cultura que se consome, articula-se com a necessidade do controle da performance que justifica a dominação da indústria cultural. Cultura popular e cultura superior implicam em produzir aquilo que se consome como produto cultural. Nelas existe uma aproximação entre o ethos do autor e o do receptor. Na cultura de massa essa aproximação, dado o caráter universalizante, é impossível. Definindo a cultura não massificada (popular ou superior), Antônio Augusto Arantes observa que: Fazer teatro, música, poesia ou qualquer outra modalidade de arte, é construir com cacos e fragmentos um espelho onde transparece com as suas roupagens identificadoras particulares e concretas o que é mais abstrato e geral num grupo humano, ou seja, a sua organização que é condição e modo de sua participação na produção da sociedade. Esse é, a meu ver, o sentido mais profundo da cultura popular ou outra (1981, p.77). Arantes analisa o processo de apropriação e tradução que a industria cultural pratica ao “recriar” as manifestações da cultura popular: Através de um esforço realizado em geral em nome da estética e da didática, enxugam-se os eventos artísticos denominados populares de características consideradas inadequadas ou desnecessárias, sob o pretexto de revelar-lhes mais claramente a estrutura subjacente (1981, p.20). Por produção empresarial é possível também se entender produção de TV, tendo em vista que os processos de homogeneização e desterritorialização praticados pela leitura da produção televisiva sobre o local, corrompem e esvaziam a manifestação popular com o pretexto de torná-la acessível à massa. 42 Para Arantes, a sociedade, mesmo transformada em sociedade de massa pela indústria cultural, permanece estruturalmente heterogênea, visto que “ela possui em suas raízes uma heterogeneidade real que é resistente a esses mecanismos”(1981, p.45). O autor observa que essa resistência se dá nos processos tanto de interpretação diferenciada de um conjunto de símbolos, quanto de recriação de formas de sociabilidade que se contrapõe aos padrões dominantes. Um exemplo é o uso dos jardins de um palácio (idealizado pela estética dominante como um lugar de contemplação e paz) para prática de esportes, de brincadeiras de criança, para escutar música ou abrir uma cesta de piquenique. Essa apropriação popular do monumento ou do espaço sagrado, para uso não previsto pelas instituições dominantes, é perceptível em inúmeros exemplos pela cidade. Porém, deve-se refletir até que ponto esse uso diferenciado do monumento já não estaria prescrito e incorporado pelo território midiático. A TV hierarquiza os personagens da novela em “núcleos” – rico, pobre e classe média – determinando se os personagens vão ao parque contemplar a natureza, filosofar ou jogar futebol, escutar música alta e comer um “churrasquinho”. Se a heterogeneidade que Arantes defende reproduz os núcleos da novela, ela não tem nada de resistência; se as formas de sociabilidade têm por modelo as atitudes e linguagens dos personagens da novela, elas não têm nada de imprevisível sequer na interpretação dos símbolos26. Adorno e Horkheimer vêem o indivíduo num beco sem saída, encapsulado na massa da sociedade moderna. Representante da Escola de Frankfurt, Adorno fez, na 26 “A liberdade de escolha da ideologia, que reflete sempre a coerção econômica, revela-se em todos os setores como a liberdade de escolher sempre a mesma coisa. A maneira pela qual uma jovem aceita e se desincumbe do date (encontro) obrigatório, a entonação no telefone e na mais familiar situação; a escolha das palavras na conversa e, até mesmo, a vida interior organizada segundo os conceitos classificatórios da psicologia profunda, vulgarizada, tudo isso atesta a tentativa de fazer de si mesmo um aparelho eficiente e que corresponda, nos mais profundos impulsos instintivos, ao modelo apresentado pela Indústria Cultural. (...) Personality significa para elas pouco mais do que possuir dentes deslumbrantemente brancos ou estar livre do suor nas axilas e das emoções. Eis aí o triunfo da publicidade na Indústria Cultural, a mimese compulsiva dos consumidores, pela qual se identificam as mercadorias culturais que eles, ao mesmo tempo, decifram muito bem” (ADORNO, 1985, p.156). 43 primeira metade do século XX, uma análise bastante pessimista da indústria cultural. O autor afirma que a indústria cultural busca confundir as diferenças entre o espaço real e o imagético: Quanto maior a perfeição com que suas técnicas duplicam os objetos empíricos, mais fácil se torna hoje obter a ilusão de que o mundo exterior é o prolongamento sem ruptura do mundo que se descobre no filme (1985, p.119). Adorno também vai perceber, na quantidade e na velocidade com que as imagens passam diante dos olhos dos espectadores, fatores inibidores a atividade intelectual. Para o autor, não há mais forma de arte que sobreviva além da indústria cultural ou, além da forma do consumo: Mas o que é novo é que os elementos irreconciliáveis da cultura, da arte e da distração se reduzem mediante sua subordinação ao fim de uma única fórmula falsa: A totalidade da indústria cultural (1985, p.127). Segundo Adorno, uma vez reduzida ao aspecto de mercadoria, frente à indústria cultural, a arte nega ao espectador o prazer. Essa subjugação, caracterizada pela repetição do sucesso, fruto da ideologia do negócio, teria por conseqüência a mecanização do lazer, pleno de técnica e vazio de conteúdo, “onde o prazer vira hábito e o produto prescreve a reação, provocando uma espécie de seqüestro da emoção” (1985, p.128). Adorno afirma que a reprodução em massa, a repetição exaustiva da mensagem, leva a sublimação do desejo ou da emoção. Assistir cenas de violência ou de sexo de forma compulsiva levaria a uma espécie de embotamento do olhar, de dormência dos sentidos que tornaria o indivíduo insensível à imagem. A produção em série do objeto sexual produz automaticamente seu recalcamento. O astro do cinema de quem as mulheres devem se enamorar é, de antemão, em sua ubiqüidade, sua própria cópia (1985, p.131). A arte renega sua própria autonomia incluindo-se orgulhosamente entre os bens de consumo que lhe confere o encanto da novidade (1985, p.145). 44 A mercantilização da arte se estende à informação27. Reproduzindo um diálogo entre um estudante americano e Noam Chomsky, Halimi expõe porque a mídia reproduz os interesses da classe dominante. O estudante pergunta: “Gostaria de saber como a elite controla a mídia”. Ao que Chomsky responde: “Como é que ela controla a General Motors? A pergunta não tem razão de ser. A elite não precisa controlar a General Motors uma vez que é sua proprietária” (HALIMI, 1998, p.48). Para Halimi a mídia compactua com o pensamento único da economia de mercado através de um apoio incondicional à sua ideologia e aos seus sujeitos. Culto à empresa, serenata dos grandes equilíbrios, amor pela mundialização, paixão pelo franco forte, proliferação das crônicas sobre a Bolsa de Valores, requisitório contra as conquistas sociais, obstinação em culpabilizar os assalariados em nome dos excluídos, terror pelas manifestações coletivas: esse pensamento único, essa lengalenga patronal tem sido martelada por milhares de instituições,organismos e comissões. (A mídia) lhes tem servido de ventríloquo, de orquestra sinfônica ao diapasão dos mercados financeiros que marcam o compasso de nossa existência num mundo sem sono e sem fronteiras (HALIMI, 1998, p. 69). Durante um debate organizado pela TF1, maior rede de TV francesa, um estudante pergunta porque no lugar de reduzir os salários da classe trabalhadora não se congelam os salários mais elevados. “O ministro presente ao estúdio pede-lhe para tornar mais clara a pergunta. (O mediador) acrescenta logo: Porque nesse caso não se compreende bem o sentido da pergunta”. Halimi observa que não foi o pensamento que se tornou único, mas a própria realidade (HALIMI, 1998, p. 85). Os sujeitos midiáticos já não conseguem enxergar outro mundo que não seja aquele ao qual servem e se inserem. Richard Harwood, veterano do Washington Post explica que: Outrora não descrevíamos a existência das pessoas comuns, fazíamos parte dela. Vivíamos nos mesmos bairros. (...) os repórteres tinham 27 Uma propaganda de um jornal de economia na televisão pergunta: “Quanto você acha que vale uma informação?” O locutor fala o nome do jornal e conclui: “Informação que não tem preço”. 45 um nível de vida ligeiramente superior ao de seus vizinhos operários. A partir dos anos 80 os repórteres têm um nível de vida ligeiramente inferior ao de seus vizinhos advogados e empresários. (...) E sua vida cotidiana torna-os efetivamente muito mais sensíveis aos problemas dos privilegiados do que à sorte dos trabalhadores que recebem um salário mínimo (HALIMI, 1998, p.94). A falta de sensibilidade do sujeito midiático às questões sociais reforça-se quando Halimi propõe a idéia do jornal ser vendido duas vezes: “primeiro ao anunciante, depois ao leitor” veiculando o “acoplamento entre felicidade e mercadoria” (HALIMI, 1998, p.96). A opção pelo dominador ficou clara em dezembro de 1995 quando, em ocasião da greve dos ferroviários e funcionários da RATP, a imprensa posicionou-se contrária à greve e a favor do Governo. O diretor do Le Point afirmou: “De um lado, a França que trabalha, deseja trabalhar e luta; do outro, a França com solas de chumbo, instalada em seus direitos adquiridos” (HALIMI, 1998, p.100). Outros comentários do Le Monde e do Le Figaro sobre a greve foram: “reação de lunáticos”; “grande exaltação coletiva”; “uma fantasmagoria”; “momento de loucura”; “deriva esquizofrênica” (1998, p.101). A greve prossegue e a imprensa tenta jogar a opinião pública contra os grevistas: “quilômetros de engarrafamento”; “usuários exaustos”; “empresas à beira da asfixia”; “contratações que não serão feitas”. Alguns comentários são realmente lacrimosos: “A greve dos transportes e o fechamento das estações de metrô em Paris jogaram na rua hordas de excluídos (...) que percorrem as ruas de manhã até de noite para não morrerem de frio” (1998, p.104). Apesar dos esforços da aliança do Governo com a imprensa, a greve não perdeu fôlego. Os ferroviários e os funcionários da RATP triunfaram. A reação da imprensa não poderia ter sido diferente: “E ainda por cima o crescimento desmorona”; “todos nós perdemos”; “toda essa depressão que nós acabamos de viver” (1998, p.107). O que talvez mais espante nesse fato, narrado por detrás da “narração” que a imprensa fez 46 do fato, é constatar que o país que serviu de exemplo a Halimi é tido, pelo senso comum, como o lugar da liberdade de expressão, da ação política e da justiça social. A informação tornou-se efetivamente um produto como outro qualquer, suscetível de ser comprado e vendido, rendoso ou dispendioso, condenado logo que deixa de ser rentável (HALIMI, 1998, p.17). No Brasil não faltam exemplos de manipulação da imprensa, os mais evidentes seriam: a cobertura da Rede Globo da greve dos metalúrgicos no ABC paulista, no final da década de 70. Os metalúrgicos entraram em greve e os militares tentaram dominar os sindicatos, prendendo Lula, então líder dos sindicalistas, baseados na lei de segurança nacional. No documentário “Muito Além do Cidadão Kane28”, compilado por GUARESCHI, MAYA e BELTRÃO, encontra-se o seguinte comentário de Lula, líder sindical à época: Não era para falar para a Rede Globo, porque ela mentia a respeito da greve, ela não dava o número correto de participantes, não dava as informações corretas, não dava as nossas deliberações corretas, não dava o número das pessoas paralisadas corretamente. Ela só informava sobre os interesses patronais (GUARESCHI; MAYA; BELTRÃO, 2002, p. 8). No mesmo vídeo Armando Nogueira, chefe de jornalismo da Rede Globo entre os anos de 1967 e 1989, comenta que, seguindo orientação do Governo Militar, dava-se o seguinte tratamento às matérias sobre a greve: "era para fazer uma abertura soft, sem som ambiente, sem trilha sonora e sem se poder ouvir os líderes sindicais, só se podia ouvir os líderes patronais". Segundo Fernando P. Brandão, repórter da TV Globo à época: O escritório central da Rede Globo permitiu que uma equipe de repórteres fizesse um documentário sobre as greves e os novos sindicatos. Ficou um material forte e muito bom, mas ele nunca foi 28 O documentário está até hoje censurado por imposição da família Marinho, que comprou os direitos de veiculação da peça com o intuito de impedir sua exibição. 47 apresentado, nem mesmo para a diretoria da Rede Globo. Foi censurado na chefia de jornalismo, neste momento não houve interferência do governo, foi uma decisão da Rede Globo (GUARESCHI; MAYA; BELTRÃO, 2002: 8). Nas eleições de 1982, a Rede Globo tentou eleger, através de manipulação grosseira dos resultados das pesquisas eleitorais, o candidato que tinha a preferência do Governo Militar. Luiz Carlos Cabral, produtor de notícias da TV Globo – RJ, afirma no mesmo vídeo que: Após a votação, houve por parte do aparelho repressor uma tentativa de fraudar o voto popular. Os conspiradores haviam alterado os programas oficiais dos computadores, para projetar uma derrota de Brizola e a vitória do candidato militar. Planejaram roubar as urnas cheias de votos para Brizola, no sentido de garantir sua derrota. Estava acertado que a Rede Globo condicionaria a população a aceitar o resultado. A conspiração foi descoberta e Brizola foi eleito (GUARESCHI; MAYA; BELTRÃO, 2002, p.9). Outro exemplo diz respeito ao Movimento das Diretas-já: A Rede Globo ignorou, durante largo tempo, o movimento popular em favor das eleições diretas no Brasil. Porém, em um dos comícios realizados em São Paulo, com enorme adesão popular, sentiu-se constrangida a registrá-lo, apesar de tê-lo feito de forma tendenciosa: em meio a uma extensa reportagem sobre o aniversário da cidade, o comício pelas diretas já aparece como uma das manifestações, apenas, com uma breve referência: (apresentador do Jornal Nacional) – ‘Festa em são Paulo, a cidade comemora seus 430 anos com mais de 500 solenidades. A maior delas foi um comício na praça da Sé’. Enquanto a Rede Globo tentava minimizar as manifestações, cinegrafistas amadores registravam mais de um milhão de pessoas nas ruas exigindo eleições diretas (GUARESCHI; MAYA; BELTRÃO, 2002:10). Por fim vale citar ainda o caso das eleições presidenciais de 1989 quando através de uma série de procedimentos a Rede Globo conseguiu persuadir a população brasileira a votar em um candidato escuso, travestido dos valores individualistas e reacionários da classe média. Vale lembrar, que esses valores, nesse momento histórico48 político, já estavam também difundidos pelas demais classes sociais, após anos de catequização da teledramaturgia nacional, ensinando o brasileiro a consumir e comportar-se. A Rede Globo começara, já há algum tempo, desde 1987, a apresentar ao país a até então obscura figura de Fernando Collor, governador do Estado de Alagoas. Collor era representado positivamente como o caçador de marajás, que resolvera o problema em seu Estado, o que estava bastante distante da realidade. Alguns fatos são apresentados no vídeo para justificar a aliança entre Collor e a Rede Globo. Por exemplo: em 1975, quando Lula presidia o Sindicato dos Metalúrgicos no ABC paulista, Collor oferecia uma festa no Rio de Janeiro para cinco mil convidados. Era sua festa de casamento com a filha de um milionário, sócio de Roberto Marinho. Lula e Collor vão para o segundo turno da eleição presidencial. A TV Globo organiza dois debates. Lula claramente ganha o primeiro. O segundo debate ocorreu três dias antes da eleição. No dia seguinte, a TV Globo apresenta um resumo montado para eleger Collor e deter Lula. Apresentou também, na mesma edição do Jornal Nacional, o resultado de uma pesquisa telefônica realizada durante o debate. Porém, a empresa que fez a pesquisa era a mesma que foi responsável pela construção da imagem eleitoral de Collor. Sobre este fato, declara Armando Rollemberg, então presidente da União dos Jornalistas: - ‘Foi um flagrante, um atentado à ética jornalista. Uma manipulação desavergonhada’. Por protestarem contra o episódio, Armando Nogueira, diretor de jornalismo, e Vianei Pinheiro, supervisor editorial, foram demitidos. Assumiu no lugar de Nogueira, Alberico Souza Cruz, o responsável pela edição resumida do debate. No resumo do debate, é importante destacar a fala de Collor. Ele conclama a população brasileira a unirse a ele e – ‘dizer um não definitivo à bagunça, à baderna, à desordem, ao caos, ao totalitarismo, à bandeira vermelha, e dizer um sim à nossa bandeira, a bandeira do Brasil, verde, amarela, azul e branca, esta aqui’. Aponta para o próprio peito onde há um botão com a bandeira brasileira (GUARESCHI; MAYA; BELTRÃO, 2002:10). No início do século, durante a primeira seção de cinema, organizada pelos irmãos Lumière em Paris, reza a lenda que as pessoas correram em direção da saída do teatro, atropelando-se umas as outras diante da imagem de um trem que, na tela do cinema, se aproximava. Pode-se afirmar que no decorrer do século XX, dá-se um processo de aprendizagem da leitura das imagens na indústria cultural. Ainda que os mecanismos de produção de imagens midiáticas evoluam, ainda que a mídia e o poder político se entrelacem e que as técnicas de persuasão e filtragem se tornem mais e mais complexas e imperceptíveis, sugerindo a arquitetura de um mundo imagético em 49 substituição da vida experimentada nos espaços públicos, considera-se que o espectador também evolua e posicione-se atento às transformações da indústria cultural. Saber ler as imagens da indústria cultural já é uma forma de resistir aos mecanismos de massificação. Isto é: “a lucidez é uma forma de resistência”.(HALIMI, 1998, p.150). 1.4. Introdução ao tema da indústria cultural na cidade do século XX. Segundo Muniz Sodré há uma coincidência temporal entre o fim dos “modelos clássicos de representação” e o surgimento de uma “nova ordem” que se estabeleceria com o predomínio do “visual” e dos “processos mecânicos de representação” que ocorrem nas cidades re-urbanizadas: A cidade contemporânea, pós-moderna, não mais se define como espaço/tempo da produção mercantil (século XIX), mas como espaço/tempo de reprodução de modelos, (produção serializada), de operações funcionais, signos, mensagens, objetos, equações racionais, enfim, de simulacros industriais, cuja origem é a tecnologia da indústria, cujo referencial é o próprio discurso tecnocientífico, e cujo valor de verdade é a eficácia, o bom desempenho (1994, p.25). Muniz Sodré percebe na crise da ideologia liberal clássica oitocentista uma mutação, cuja conseqüência será a despolitização da esfera pública. Essa despolitização “comporta melhor a consciência passiva do sujeito consumidor confinado ao seu bemestar privado” (1994, p.27). O autor vai observar que tendo características monopolistas que se harmonizam com os oligopólios e multinacionais da segunda metade do século XX, os meios de informação funcionaram “como dispositivos de mobilização e integração das populações apesar de se apresentarem dissimuladamente como mediadores político-pedagógicos” (1994, p.27). Tal funcionamento colocou os media, segundo Sodré, na posição de administradores indiretos do setor público. O poder dos media adviria do fato de serem... 50 [...] importantes indutores de hábitos, crenças e modos de percepção, com um projeto implícito de reorganização do espaço/tempo social, mas que precisariam de uma articulação vertical com a economia de mercado ou com uma tecnoburocracia estatal para exercer com mais força seu poder controlador (1994, p.129). O fato é que em nenhum outro momento histórico a sociedade mudou tanto e tão velozmente quanto no século XX, sofrendo as conseqüências da ação da indústria cultural com seus mecanismos de catalisação de desejos e esgarçamento de valores. Como exemplo dessa transformação, Luís César Ribeiro e Lena Lavinas (1997) apontam uma diferença escandalosa entre as “sinhás” de fins de século XIX e as “grãfinas” de meados do século XX. Nesses dois modelos de mulher percebe-se a transformação radical da família brasileira e do espaço urbano carioca como elementos que acompanham a transformação de valores tradicionais em favor da modernidade. (A sinhá) transita na rua enquanto membro de uma família rodeada de proteção. Há territórios que lhe são ainda interditados por não serem espaços sexualmente apropriados. Os espaços público e privado distinguem-se, fortemente, pelo corte de gênero (LAVINAS; RIBEIRO, 1997, p.44). (A grã-fina) revela uma outra representação da mulher e do seu lugar no espaço público. Ela aí está como indivíduo, independente do seu lugar na família. Os antigos territórios masculinos são agora investidos por ela, o que é vivenciado positivamente como sinônimo de uma nova modernidade. A contemplação sexualizada do espaço nem por isso desaparece, mas contempla a possibilidade de novas relações entre os sexos nesses espaços masculinos. (...) A modernidade se constrói também e, sobretudo, com a figura emblemática da mulher moderna na cidade. Ela conquista a rua, os cafés, a praia, (...) espaços de autonomia dos indivíduos frente às relações familiares (LAVINAS; RIBEIRO, 1997, p.44). Segue o texto do jornalista Wanderley Pinho, escrito na década de quarenta: Os últimos 50 anos encerram um período de grandes transformações em hábitos, costumes e maneiras nas várias camadas sociais brasileiras. Tais foram as mudanças que um ‘fluminense’ de 1895 não se reconheceria num ‘carioca’ de 1945; e as candongas, sinhás pálidas e tímidas de há meio século arrepiar-se-iam ao ver uma “grã-fina” de perna cruzada e escanhoada, coxas à mostra e corpo quase nu, de piteira e cigarrilha, a bebericar whisky, entre baforadas de fumo, num 51 bar de Copacabana, diante de um cavalheiro de tanga e peito desnudo (LAVINAS; RIBEIRO, 1997, p.44 apud PINHO, Wanderley29). A cidade dos casarões protegidos por jurupemas e gelosias, pelos muros altos, pelas copas das árvores, pelos dragões e leões de pedra estrategicamente adornando os portões de ferro, dá lugar ao prédio de apartamentos que aglomera os indivíduos sem lhes ferir a privacidade. Pela primeira vez a mulher emancipada, a mulher que trabalha, a secretária, a que tem um cargo no funcionalismo público – em franco crescimento nos anos 50 – valendo-se, entre outras, das transformações na forma de moradia, podia sair de casa e viver à revelia da figura masculina. Nos cinqüenta anos que se passam entre a sinhá e a grã-fina se há um fenômeno inédito na sociedade brasileira é o da implantação de uma indústria cultural em franca expansão (tendo por veículos o jornal, a revista, o rádio, o cinema e mais tardiamente a TV) e em sintonia com as novas diretrizes da produção industrial emergente, do consumo da classe média urbana e da administração da máquina do Estado que caminha em direção a Getúlio e Juscelino. Sodré percebe que a partir dos anos 60 há um aumento contínuo da produção de bens duráveis em paralelo aos gastos de propaganda. Segundo o autor, em 1976, o Brasil investiu mais em propaganda do que países de alta capitalização como Holanda e Suécia (1994, p.93). No auge da ditadura militar, a mídia e o Estado promoveram campanhas de persuasão, que buscavam gerar sentimentos ufanistas de aprovação ao regime, baseadas no crescimento artificial da economia e na expansão do mercado que beneficiava as famílias de classe média. No filme “Bye, Bye Brasil” de Caca Diegues, o circo mambembe percorria o Brasil em direção às cidades, vilas e lugarejos do interior do norte e nordeste brasileiro. Ao chegar e perceber as “espinhas de peixe”, antenas sobre os telhados das casas, a 29 PINHO, Wanderley, 1895 – Cinqüenta anos de vida social – 1945: alguns aspectos da evolução da alta sociedade. Revista Sul América, junho. 1945. p.35. 52 rotina era desviar a comitiva em direção a outro pouso visto que ali todos os habitantes estavam como que hipnotizados, não só pela sensação de perda de isolamento em relação ao resto do país, mas com a própria chegada da luz elétrica, novidade na maioria desses pequenos municípios em fins dos anos 70. As pessoas aglomeradas na pracinha assistiam, bestializadas, a tela azul instalada no coreto. É óbvio que a relação com a tevê, mesmo no interior do país, não será hoje a mesma que há vinte anos atrás. E mesmo que a tevê tenha desenvolvido sutilezas de convencimento e de persuasão em seu conteúdo imagético, igualmente as pessoas que cresceram assistindo televisão não terão a mesma leitura daqueles que, basbaques, a viram chegar simultaneamente à luz elétrica, e ser instalada no centro das praças dos muitos lugarejos do país. Porém, para uma TV que monopoliza e penetra a quase totalidade dos domicílios do país, é difícil negar-lhe o passo a frente nessa relação. Gráfico 1: Obs: Gráfico referente à nota n° 16 na página 25. 53 Capítulo 2 Sobre os filtros da indústria cultural e as narrativas da não-indústria. 2.1. Filtros Dolores, dólares... O verbo saiu com os amigos pra bater um papo na esquina, A verba pagava as despesas, porque ela era tudo o que ele tinha. O verbo não soube explicar depois, porque foi que a verba sumiu. Nos braços de outras palavras o verbo afogou sua mágoa e dormiu. O verbo gastou saliva de tanto falar pro nada. A verba era fria e calada, mas ele sabia, lhe dava valor. O verbo tentou se matar em silêncio, e depois quando a verba chegou, era tarde demais o cadáver jazia, a verba caiu aos seus pés a chorar lágrimas de hipocrisia30. (Lenine / Lula Queiroga) No capítulo anterior analisou-se a categoria indústria cultural através da apresentação de algumas das correntes teóricas mais relevantes do século XX que abordaram os efeitos da comunicação de massa sobre os receptores e o espaço. Neste capítulo, propõe-se continuar a análise enfatizando, em vez da mensagem, o próprio meio de comunicação de massa. Teixeira Coelho já afirmara que o problema não está em decidir se a mensagem veiculada pela TV é boa ou má. Para o autor, a questão se centra na forma pela qual a TV produz as mensagens, utilizando signos indiciais. Isto é, expondo somente os índices daquilo de que fala, omitindo, mais do que o objeto por inteiro, os mecanismos e processos que se relacionam com o fato. Logo o “meio”, independentemente da mensagem, apresentaria limites técnicos e ideológicos que comprometeriam o resultado da comunicação. Porém, são incontestáveis, a aprovação e penetração da TV como veículo de informação e comunicação em todos os seguimentos sociais. Segundo Guy Debord, a fácil aceitação da TV é o resultado de um excessivo aparato 30 Rosebud (o verbo e a verba). Lenine e Lula Queiroga. 54 técnico, por parte de quem a produz, somado a um excessivo desejo dos homens por imagens, por parte do consumidor que as decodifica. (DEBORD, 1992, § 200). O fato é que, para se inserir, a indústria cultural precisava, além do apoio do mercado, como ideologia, da tecnologia, como ciência e da política, como força aliada, um ambiente social favorável. E nada podia ser mais vulnerável à penetração da indústria cultural (primeiro através do rádio e do cinema, depois, de forma ainda mais eficaz, através da televisão), do que as salas de estar das famílias da classe média norte-americana na década de 50. Anselm Jappe31 afirma que a televisão funcionou como um ponto de fuga para os olhares cruzados da família norte-americana que não mais precisava encarar-se à mesa de jantar. A TV ganha a sociedade do tédio quando todos estão fartos de ouvir o avô falar das desventuras da guerra, o pai, da responsabilidade do trabalho e a mãe, da importância das boas maneiras e da aparência. Anselm Jappe observa que uma invenção técnica não se difunde se a sociedade não tem necessidade dela32. Isto é, a TV guarda em si uma funcionalidade que está para além daquilo que veicula. A contemplação passiva e o olhar imóvel são características de uma sociedade onde a ordem social impõe-se como fruto da alienação entre: o indivíduo e o mundo que se apresenta naturalizado, como se as relações de dominação e opressão fossem obra de deuses vingativos e não de sujeitos que se beneficiam dessas mesmas relações. O alcance da dominação confunde-se entre os matizes de uma estrutura fetichizada de produção e consumo de mercadorias. Marx podia afirmar, pela observação de uma simples mesa o quanto, ali, estavam implícitas relações de exploração, dominação e lucro33. Ao deixar-se seduzir pela 31 Segundo anotações colhidas da apresentação do autor no ciclo de seminários “Muito além do espetáculo”, Teatro Maison de France, 2003, organizado por Adauto Novaes com o apoio da UFRJ e da UFPR. 32 Um bom exemplo disso é a máquina a vapor cujo protótipo foi criado em Alexandria, mais de mil anos antes da Primeira Revolução Industrial. Porém, considerando-se a mão de obra escrava, esse invento não tinha função na reprodução de riqueza daquela sociedade, visto que os escravos seriam os únicos beneficiados pela adoção da nova tecnologia. Jappe, com essa história, chama a atenção para o fato de que a tevê exerce uma função necessária à própria reprodução da sociedade 33 “É evidente que o ser humano, por sua atividade, modifica do modo que lhe é útil a forma dos elementos naturais. Modifica por exemplo a forma de uma mesa. Não obstante a mesa ainda é madeira, coisa prosaica, 55 visão fetichizada do objeto34, pelo desejo de possuí-lo e pelo mistério da pseudocomplexidade da divisão social do trabalho sob o ethos capitalista35, o homem não é capaz de perceber a grandeza da exploração do trabalho pelo capital na qual se apóia a acumulação de riqueza na sociedade36. A estrutura fetichizada de reprodução do capital evoluiu entre os séculos XIX e XX até chegar no que Debord chama de Sociedade do Espetáculo. Debord afirma que a sociedade atual caracteriza-se por uma acumulação de tal ordem que as imagens das mercadorias passam a criar valor por si, despregadas do corpo dos objetos. “O espetáculo é o capital a um tal grau de acumulação que se torna imagem”. (DEBORD, 1992, § 34) Eugênio Bucci37 afirma que a mercadoria é produzida como signo, muito mais do que como objeto, o que a leva a circular antes como imagem. Quando a imagem passa a corresponder a maior parte do valor da mercadoria passa-se a pagar mais pela imagem, pelo espectro, pela fantasmagoria da marca, do que pela coisa em si. Segundo Jappe, a TV é o apogeu dessa forma pervertida de relação de troca, visto que, quando o fantasma se torna real, é a realidade que deve ocupar o lugar da fantasmagoria. A função fetichista da TV, segundo o autor, é fazer essa diferença, entre o que a TV mostra e o que ocorre de fato, desaparecer. Perde-se a noção da diferença entre o que material. Mas logo que se revela mercadoria, transforma-se em algo ao mesmo tempo perceptível e impalpável. Além de estar com os pés no chão, firma sua posição perante as outras mercadorias e expande as idéias fixas da sua cabeça de madeira, fenômeno mais fantástico do que se dançasse por iniciativa própria”. (MARX, 1968, p.79). 34 “Uma relação social definida, estabelecida entre os homens, assume a forma fantasmagórica de uma relação entre coisas. Para encontrar um símile, temos de recorrer à região nebulosa da crença. Aí os produtos do cérebro humano parecem dotados de vida própria, figuras autônomas que mantêm relações entre si e com os seres humanos. É o que ocorre com os produtos da mão humana, no mundo da mercadoria. Chamo a isso de fetichismo, que está sempre grudado aos produtos do trabalho, quando são gerados como mercadorias. É inseparável da produção de mercadorias”. (MARX, 1968, p.81). 35 “A mercadoria é misteriosa simplesmente por encobrir as características sociais do próprio trabalho dos homens, apresentando-as como características materiais e propriedades sociais inerentes aos produtos do trabalho; por ocultar portando, a relação social entre os trabalhos individuais dos produtores e o trabalho total, ao refleti-lo como relação social existente, à margem deles, entre os produtos do seu próprio trabalho”. (MARX, 1968, p.79). 36 Sobre esse fato apóia-se a afirmação de Marx de que ex-ante a mercadoria fechar o ciclo de reprodução do capital para transformar-se em valor de troca, os empregados já pagaram ao empregador com sua Força de Trabalho. O empregador nada mais faz do que retornar, ex-post a concretização do lucro, parte do capital resultante da transformação da mercadoria em valor de troca sob a forma fetichizada de salário. A percepção invertida da realidade faz crer que o patrão paga o empregado quando de fato o que ocorre é o oposto. 37 Segundo anotações colhidas da apresentação do autor no ciclo de seminários “Muito além do espetáculo”, Teatro Maison de France, 2003. 56 existe “dentro” e o que existe “fora” da TV. Tudo passa a ser entendido pela lógica do espetáculo. Daí o autor afirmar que o universalismo da TV a faz presente mesmo onde as mercadorias não existem – Amazônia, Patagônia, Afeganistão ou Albânia. Nesses lugares, a TV se faz presente como uma promessa de espetáculo. Porém é preciso entender o que é esse universalismo do espetáculo, que tem na TV seu principal veículo. Para Debord, “o espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas midiatizada por imagens”. (DEBORD, 1992, § 4). Logo a idéia de espetáculo diria respeito mais ao momento histórico da sociedade atual do que a um somatório de imagens produzidas por determinados sujeitos. “O espetáculo apresenta-se como uma enorme positividade indiscutível e inacessível. Ele nada mais diz senão: o que aparece é bom e o que é bom aparece” (DEBORD, 1992, § 12). Para o autor a função do espetáculo diz respeito à ordem e a manutenção das relações de dominação. A sociedade do espetáculo vive sob a ordem de um tipo inédito de agente regulador. “Ts’in Che Hoang Ti mandou queimar os livros, mas não conseguiu fazê-los desaparecer todos. Estaline levava mais longe a realização de um projeto semelhante no nosso século, mas, apesar das cumplicidades de toda espécie, fora das fronteiras do seu império, ficava uma vasta zona do mundo inacessível à sua polícia, onde se riam das suas imposturas. O espetacular integrado fez melhor, com novíssimos métodos, e operando desta vez mundialmente. A inépcia faz-se respeitar por todo o lado, já não é permitido rir dela; em todo caso, tornou-se impossível fazer saber que se riem dela” (DEBORD, 1992, § VI). Debord chama de espetacular integrado uma forma evoluída do espetáculo que antes se dividia entre: o espetacular difuso característico das pseudodemocracias ocidentais, tendo como melhor exemplo os Estados Unidos, e o espetacular concentrado característico dos totalitarismos do leste europeu e da Ásia. A primeira forma controlava pelo consumo conspícuo38 das novas mercadorias (eletrodoméstico, automóvel, vestuário, etc.) fruto do 38 Consumo conspícuo diz respeito ao consumo “nobre”, consumo de bens valiosos que as classes ociosas e abastadas praticam como forma de refinamento social, como instrumento de respeitabilidade. Porém, esse consumo, potencializado e divulgado pela indústria cultural, tem por destino estender-se às demais classes (média e baixa) como modelo a ser perseguido. “A classe ociosa está no topo da estrutura social em matéria de 57 desenvolvimento tecnológico que se deu a partir da segunda metade do século XX, a segunda controlava pela propaganda ideológica do Estado. O espetacular integrado é o somatório da alienação ideológica do Estado com a alienação gerada pelo consumo conspícuo. Debord define o espetáculo como “o reino autocrático da economia mercantil, tendo ascendido a um estatuto de soberania irresponsável, e o conjunto das novas técnicas de governo que acompanham este reino”. (DEBORD, 1992, § III). “A vontade de unificação do espetáculo levou a burocracia russa a converter-se, repentinamente, em 1989, à atual ideologia da democracia: isto é, a liberdade ditatorial do mercado, moderada pelo reconhecimento dos direitos do Homem espectador” (DEBORD, 1992, §195) Por outro lado os Estados Unidos vem apresentando, na era Bush, sinais claros de ordem totalitarista apoiada por elementos midiáticos e embalada pela ininterrupta pujança do consumo. Ë a convergência dos dois espetáculos, o difuso e o concentrado, na forma de espetáculo integrado. Para compreender que o espetáculo não trata exatamente de toda produção de imagem, vale citar a distinção que Francis Wolf39 propõe entre imagem transparente, não autoral, e imagem opaca, autoral. Enquanto a primeira, referente ao universo da TV e dos veículos de massa, quer ser substituta do mundo real, levando o olhar do espectador a cruzar a tela da TV que se apresenta como a própria realidade, a segunda, referente ao cinema autoral, se deixa ler enquanto imagem que fala do real, enquanto interpretação. Isto é, no filme autoral, o diretor traduz, na opacidade da imagem que cria, sua interpretação, seu olhar particular e narrativo sobre o real. Este olhar tem por objetivo esclarecer, alertar, pôr uma lente de aumento sobre o fato, no sentido de destacar a percepção de uma faceta do real e não substituí-lo. Anselm Jappe observa que quando desaparece a diferença entre o “fora” e o “dentro” da TV, estabelece-se o triunfo da eletrônica sobre o homem. É quando o desejo de beber torna-se consideração; e seu modo de vida, mais os seus padrões de valor, proporciona à comunidade as normas da boa reputação”. (VEBLEN, 1983, p.41) 39 Segundo anotações colhidas da apresentação do autor no ciclo de seminários “Muito além do espetáculo”, Teatro Maison de France, 2003. 58 o desejo de beber aquilo que se vê na TV. Para esse homem-mercadoria, haverá sempre um produto/imagem correspondendo ao seu desejo. O perigo que paira sobre a prática do consumo conspícuo de imagens transparentes, não-autorais, que buscam substituir o real, é que, nelas, o olhar atravessa a tela da TV e tem a ilusão de “tocar” a realidade sem perceber a filtragem que a TV realiza sobre o real. Ou melhor, sem perceber que o écran da TV é, em si, um filtro imagético e sintético da realidade tangível e vivida. Um filtro que substitui o mundo por uma escala reduzida de mundo e que, por sua vez, e equivocadamente, serve de modelo e referência para as negociações político-sociais que se dão na cotidianidade vivida40. Segundo Debord: “A alienação do espectador em proveito do objeto contemplado (...) exprime-se assim: quanto mais ele contempla, menos vive; quanto mais aceita reconhecer-se nas imagens dominantes da necessidade, menos ele compreende a sua própria existência e o seu próprio desejo”. (DEBORD, 1992, § 30). Quando olhamos a TV, acreditamos ver a própria realidade. O olhar atravessa o écran e mergulha nas imagens, aceitando-as, não como um substituto ou leitura do real, mas como o próprio real. Crê-se nas imagens, afirma Francis Wolf, como os cristãos iconófilos acreditaram ver, nos olhos da figura presa ao crucifixo sobre o altar das igrejas góticas, os olhos do próprio Cristo. Ou ainda, como os monges tibetanos, ainda hoje, acreditam ver, nos olhos pintados sobre um templo nas montanhas do Nepal, os olhos do próprio Buda. Sendo assim, a imagem perde seu caráter de imagem para se tornar, no lugar da representação, o próprio objeto que alude. Porém, considera-se que o poder de representar o Cristo ou o Buda é diferente da ilusão de crer que a realidade tem o poder de auto-representar-se. O que torna a ilusão da imagem na TV ainda mais complexa e eficaz – como substituta do real – é justamente a propriedade de auto-representação, uma espécie de hiper-realidade que se impõe e é percebida como única. Concluir sobre o mundo a partir da TV pode levar a um equívoco ainda maior do que o da crença nas imagens sacras, visto que a “realidade imagética” da TV é 40 Cotidiano vivido contrapõe-se ao cotidiano assistido do telespectador frente ao aparelho de televisão. 59 apresentada como se fosse construída por si própria, como um elemento autômato despregado da realidade. Tal ilusão, aparentemente fantástica, é de fácil percepção pela observação de sua antítese: aquilo que não está na TV – ou no espetáculo de uma maneira geral – torna-se um não fato, um não evento, quase uma inexistência. Em outras palavras, para que a coisa adquira corpo é preciso que antes exista na forma de imagem. Na forma de espetáculo. A TV nega, segundo Wolf, a subjetivação do jogo de fantasias e eventos do que é mostrado e não mostrado. O que não é mostrado simplesmente não existe ou não existiu. Tudo, a princípio, deve ser mostrado41. Se o que não está na TV não existe, explica porque a manifestação artística deixa-se filtrar e subjugar pelo espetáculo. Quando filtrada e subjugada pelo espetáculo, ela própria adquire as características dos elementos transparentes, de pouca singularidade e sem a marca da autoria. Um bom exemplo é oferecido pelos movimentos musicais subjugados, de forma extenuante, à indústria do entretenimento. Essa apropriação resulta em formas pasteurizadas e repetitivas, como o que se convencionou chamar de “pagode” dos jovens sambistas de passos coreografados nos programas de auditório, a música sertaneja embalada pela roupagem cosmopolita e artificial dos teclados e guitarras elétricas ou a música baiana com sua histeria espetacular e seus megaeventos feitos para passar na TV. É interessante observar como as formas tradicionais do samba, da música sertaneja e dos ritmos nordestinos, distanciados da indústria cultural, guardam muito pouco em comum com seus híbridos mercantilizados, visto que, não se adequam à forma da indústria, para que esta, por sua vez, os traduza na forma de imagem mercantilizada. Estes fenômenos são exemplos da realidade paralela (os híbridos industrializados) que se impõe sobre a realidade (as formas tradicionais) até tornar-se mais 41 A respeito disso, vale a pena citar a história de um museólogo que, ao ser entrevistado para o telejornal Hoje da Rede Globo, recusou-se a mostrar um espécime raro de concha marítima sob o argumento de que vulgarizaria o objeto expondo sua imagem a milhões de pessoas. A reação do repórter foi de espanto e incompreensão. 60 real do que o real42. Sobre a gravidade dessa violação que o espetáculo pratica sobre a cultura singular, Luis Antonio Batista, em “A cidade dos sonhos”, compara, as violências físicas às violências imagéticas afirmando que: “A realidade brasileira, nesse momento de pseudomodernidade política, continua em seu dia-a-dia, marcada violentamente por crimes, assassinatos de crianças e adolescentes, assassinatos de trabalhadores nas fábricas, assassinatos de singularizações via mídia eletrônica, assassinatos de direitos civis...” (1999:33). Essa opinião também é compartilhada por Wanderley Guilherme dos Santos, no que diz respeito ao monopólio dos meios de comunicação de massa no que tange a construção e destruição do caráter dos indivíduos. Em “Razões da desordem”, o autor defende que: “Ademais dos que detêm o monopólio legal do assassinato físico impune, existe a imprensa, que detém o monopólio do assassinato de caráter. Ela se beneficia da mesma irresponsabilidade que denuncia e os danos que causa não encontram reparação”.(1992:112) Esse assassinato de singularizações e de caráter justificaria o fato dos autoritarismos de Estado se apoiarem no controle e uso sistemático de imagens, filmes, símbolos e propagandas. A natureza afirmativa da imagem é o que a torna arisca ao debate43. Por exemplo, no documentário de Peter Cohen, “Arquitetura da destruição”, fica claro como o nazismo construiu, através da indústria cultural, rádio, cinema e propaganda, uma miríade de símbolos e conceitos rígidos sobre o belo e a perfeição que, sob o aval da medicina higienista e da arquitetura reformista, constrói a imagem de uma nova Alemanha, na medida em que assassina as singularidades. 42 Na região da Quixabeira no Estado da Bahia um grupo de trabalhadores rurais compôs uma música, chamada Quixabeira (nome de uma planta, de um ritmo e de um lugar) que foi gravada por artistas da capital para o carnaval de Salvador. Passado algum tempo, as próprias pessoas da localidade ao escutarem a música tocada pelos seus reais compositores, afirmavam: - “Mas isso é axé music de Salvador”. (Documentário da TV Cultura, 1995. Título: A quixabeira.). 43 Magritte, em sua famosa representação de cachimbo, afirma: “Ceci n’est pas une pipe”. Wolf completa a idéia do artista ao propor que nenhuma imagem de cachimbo é capaz de representar um não-cachimbo, daí o caráter afirmativo das imagens. Beiguelman ironiza o seqüestro do real pelo imagético, colando-o à forma mais óbvia da mercadoria de consumo como espetáculo, com sua obra intitulada: “Ceci n’est pas une Nike”. (Fotos: pg. 221) 61 Outro exemplo de como a indústria cultural detém o monopólio do caráter e da competência dos indivíduos, afirmando quem é bom e quem não é, foi o tratamento que a imprensa dispensou ao ex-reitor da UFRJ Carlos Lessa. Comecemos com uma matéria no sítio independente, “Portal dos Jornalistas”, que expunha esse tratamento da imprensa quando Lessa ainda exercia o cargo de presidente do BNDES. A matéria tratava das dívidas da Rede Globo para o BNDES e da postura de Lessa sobre a questão. “Ano passado (2003), destaca-se, o BNDES concedeu valiosa ajuda financeira - pelo menos 639 milhões de reais, em várias parcelas, negados a outros grupos de comunicação.(...) Só que os tempos, pelo menos no BNDES, são outros: - ‘A Globo não terá nada que os outros não possam ter’, declarou em dezembro de 2003 Carlos Lessa, novo presidente da estatal. Sobre essa nova realidade cabem algumas indagações. Por que será que Lessa ‘já foi demitido 34 vezes’, segundo o próprio, pela imprensa? É certamente a figura pública que mais ‘deixou’ seu cargo sem nunca ter sido sequer repreendido pela cúpula do governo. Fala o que quer. Critica quem quiser. E ninguém no governo reclama dele”. (www.jornalistas.com – 27/06/2004). Lessa, como é sabido, não completou o ano de 2004 na presidência do Banco. Ainda que muita conversa de bastidor e muita informação tenha circulado à época pela imprensa, tornando as causas da demissão no mínimo nebulosas, o tratamento despendido pela imprensa, em particular pela Rede Globo, sempre foi o de minar a sustentação política de Lessa44. Retornando à questão da substituição do real pelo imagético, segundo Jean Galard45, a terminologia usada pelos meios eletrônicos de comunicação, em particular a televisão, revela muito desse processo. É “o tempo real” que se contrapõe a um tempo irreal. É o “ao vivo” que 44 A estreita relação entre a mídia e a política no Brasil foi alvo dessa matéria sobre o repasse de verba do BNDES ao setor: “A dívida da mídia é inferior a um quarto do que deve o setor elétrico, no entanto deverá morder mais que o dobro do BNDES. A mazela financeira da Rede Globo explica o fato de as tevês terem sido priorizadas nas discussões do Congresso. A Globopar, dona de um passivo de US$ 1, 7 bilhão e cujo principal negócio é a tevê, seria a responsável pelo movimento patronal em direção ao Governo. Em levantamento exclusivo feito pelo Instituto de Estudos e Pesquisas em Comunicação, com a atual composição do Senado, é fácil identificar as afinidades midiáticas que atraem os políticos. Do total de 81 senadores, 36% estão ligados a veículos de comunicação – 14 dos 17 senadores do PFL, 11 dos 23 senadores do PMDB e 8 dos 11 senadores do PSDB. E é justamente no Senado, povoado de simpatizantes da mídia, que as discussões sobre o socorro do BNDES vêm ocorrendo”. (Revista Carta Capital. 14/04/2004). 45 Segundo anotações colhidas da apresentação do autor no ciclo de seminários “Muito além do espetáculo”, Teatro Maison de France, 2003. 62 se apresenta como antítese de um tempo morto. É o “em definitivo”, que é superior ao tempo da espera, seja pelo jogo de futebol, pelas notícias da guerra, ou mesmo pela rotina da telenovela diária. Esse tempo de espera torna-se um tempo de menor valor, irreal, morto, pausado. A simultaneidade de acesso ao fato, o “ao vivo”, mostrado como espetáculo, criam laços de conexão com o mundo, que têm por função substituir os laços de proximidade que a modernidade e o espetáculo destruíram. Substitui-se o próximo pelo distante, a miséria da nossa rua pela miséria da África. A experiência do “ao vivo” aproxima o distante, elimina a separação, estimula-nos a perceber como cotidianos fatos que, de outra forma, não teriam tradução no espaço/tempo vivido, como, por exemplo, uma guerra em um país do oriente. Para Nelson Brissac46, o que seduz não são as imagens da guerra, do combate em si, mas a própria simultaneidade do “ao vivo” como espetáculo. Isto é, a resenha feita pelo repórter de dentro do hotel a alguns quilômetros da zona do conflito ou mesmo de cidades que têm privilégio de centralidade sobre o resto do mundo como Londres e Nova Iorque. O que se problematiza é o quanto essa conexão, essa sensação de proximidade e participação imagética, estaria substituindo o diálogo e a participação em conflitos que ocorrem na porta da casa do telespectador. Renaud Barbaras47 identifica outra deformidade, ou limitação, quando a leitura do mundo e da cotidianidade dos eventos é limitada pelo campo imagético e subjugada à filtragem da TV. Barbaras, ao analisar a experiência da cera48, de Descartes, observa que a percepção do visível não está limitada ao olhar, mas inclui um somatório de elementos que dizem respeito à memória, educação, cultura, formação, lugar social e valores. A visão não seria então uma função exclusiva do olho, mas também do espírito. O que levaria a afirmar 46 Idem. Idem. 48 Descartes derrete um pouco de cera diante de uma platéia provando que a cera em estado líquido não guarda nenhuma das características visíveis da cera em estado sólido, no entanto, continua a ser percebida por todos enquanto cera. O filósofo quer provar, dessa maneira, que a percepção visual do mundo não se limita àquilo que os olhos vêem. 47 63 que a cera continua sendo cera, mesmo depois de derretida, seria um conhecimento total do objeto49. Por essa experiência Barbaras afirma que a mera visão não permitiria a apropriação do objeto, mas apenas a aproximação. A visão permitiria a aproximação, mas não o apoderamento total do que é visto. O autor conclui que há, inclusa na visão, uma forma de cegueira, onde o visto guarda, sempre em si, algo de invisível, algo que se aliena da percepção visual, por mais próximo que se esteja do objeto. Quando ocorre da visão sobre o objeto observado ser total, o processo deixa de ser visão ou aproximação e passa a ser conhecimento, apropriação daquilo que antes só se permitia ser observado. Para o autor, da mesma forma que a consciência guarda algo de desconhecido, a visibilidade comporta o invisível. Todo corpo guarda dentro de si um não-corpo, um espaço de transcendência invisível que não se materializa. Em tal profundidade é preservada a invisibilidade do visível. Sendo assim, a caminho da apropriação total do objeto, para cada mergulho que se faz, tornando visível o que era profundidade, abre-se outro campo invisível logo abaixo. O desejo de ver o não visto (todavia, sem aprofundar-se no conhecimento, sem realizar o mergulho em direção ao campo invisível) é o desejo do telespectador por imagens, sobre o qual se ergue a estrutura de fetichização imagética do espetáculo positivada no sucesso da televisão. Segundo Barbaras, ao operar através de uma saturação ininterrupta de imagens, a TV não apazigua os sentidos, tendo em vista que não realiza o movimento descendente até os espaços profundos das imagens que exibe. Lembremos aqui de Teixeira Coelho, quando reconhece na indústria cultural o paraíso do signo indicial. (1988:70) O índice é a forma de representação que emerge por associação direta ao objeto, sem jamais ser ou revelar a coisa em si. É conhecer a chuva pela observação das poças de água, ou o saber – arriscando-nos a uma analogia entre Platão e o índice – pela projeção das sombras na parede da caverna. Pode49 Vale citar aqui a dificuldade da percepção da perspectiva em quadros ou fotos, assim como a inutilidade de diferenciar as cores azul e verde, observadas em certas sociedades indígenas. 64 se então afirmar que o filtro televisivo, sob a análise de Barbaras, funciona como um muro, uma máscara, que impede – através de propriedades imanentes do meio como constância, quantidade e velocidade de imagens – o aprofundamento e a compreensão do que se vê. A exemplo de Barbaras, Evgen Bavcar50 também percebe as imagens produzidas em escala industrial como imagens não interiorizadas. Porém, como uma forma bastante singular de imagem não interiorizada. A imagem não-interiorizada de uma forma geral só consegue significar algo quando está próxima do objeto que faz referência. A exemplo das imagens refletidas no espelho, as imagens não interiorizadas desaparecem a medida em que o corpo que refletem se afasta, isto é, se o corpo se vai, a imagem no espelho desaparece. Porém, o mito da imagem produzida em escala industrial na TV– imagem bidimensional – é o de afirmar que essa imagem não só pode existir independente e distante do corpo tridimensional que a originou, como pode ser mais interessante que o próprio corpo em si. Bavcar alerta para a propriedade da imagem bidimensional na mídia , principalmente na TV, que circula a revelia do seu referente tridimensional. Para Bavcar, a passividade do telespectador é fruto do baixo valor interpretativo das imagens na TV. Isto porque, distanciadas do objeto da interiorização, as imagens permanecem à superfície, como a imagem do mito de Narciso refletida no lago. Porém, na TV (onde a imagem bidimensional circula a revelia do corpo que a originou), há a agravante da ausência do próprio Narciso que torna a punição moral da parábola – o afogamento de Narciso – irrealizável. Afinal, se Narciso não está à beira do lago como será punido? Para Bavcar, a TV torna-se então uma forma de prisão indireta, que condena o espectador a viver à superfície do lago, admirando as imagens não interiorizadas e livres de seus referentes. Bavcar chama esse estado de “prisão indireta” porque essa condenação tem como efeito negar ao espectador a experiência da liberdade narrativa que só a palavra 50 Segundo anotações colhidas da apresentação do autor no ciclo de seminários “Muito além do espetáculo”, Teatro Maison de France, 2003, reconhecido como curso de extensão universitária pela UFRJ e UFPR. 65 propicia. O poema helênico e sensual que descreve uma bela mulher é preterido pela imagem da mulher nua na revista masculina que se presta a infantilizar os homens e a amadurecer as crianças, que por sua vez, se tornam adultos infantilizados antes do tempo. A imagem da TV é inenarrável, não só pela quantidade, constância e velocidade, mas também por estar alienada do referente. É impossível narrar o mito, se Narciso não se apresenta para afogar-se no final da narrativa. O que cabe investigar agora é o quanto essa forma, carente de interpretação e de narrativa, que caracteriza as relações entre a indústria e o telespectador no espaço imagético da TV, não contaminaria os espaços de representação do cotidiano, persuadindo o indivíduo no exercício do diálogo, da política e das iniciativas de narração e representação do espaço, no sentido de substituir a leitura do pertencimento, da proximidade e da identidade pela leitura que reafirma os mecanismos da indústria cultural. A substituição do real pelo imagético, que é a questão central desse capítulo, não é hipotética. A imagem da indústria cultural ocupa os lugares mais óbvios das manifestações públicas. Um exemplo concreto deu-se no último carnaval (2005). Atores da novela da Rede Globo, Senhora do Destino, gravavam uma cena que reproduzia o desfile de uma escola de samba fictícia, Vila São Miguel, durante o desfile de uma escola de samba real a Acadêmicos do Grande Rio. Segundo a matéria do jornal, “O Globo”, não foi preciso ensaiar com o público que, momentaneamente esqueceu-se de que participava de um desfile real, onde desfilava uma escola de samba real e gritou em coro o nome da escola fictícia. Seguem trechos colhidos da matéria do jornal: Nem precisou ensaiar. O público que lotou o setor 1, a arquibancada popular do Sambódromo, não se conteve diante do bicheiro Giovanni (o ator José Wilker). Ele saltitou feito criança. (...) A arquibancada correspondia – Vila São Miguel, Vila São Miguel! Na madrugada de terça-feira o público confundia realidade e ficção. (...) O desfile? Bom, o público esqueceu a Grande Rio, escola da vida real e continuou a viver o sonho junto com Giovanni. (O Globo, 13/02/2005, p.4). 66 O fato do público se esquecer, momentaneamente, de que já participava de um sonho coletivo, o carnaval, para viver o sonho da indústria cultural, a filmagem de uma cena de novela, é o que mais chama a atenção. Se na excepcionalidade de um momento de festa e criação coletiva, popular e comunitária, a indústria tem o poder de se impor, imagina-se o quanto não o teria nos espaços cotidianos que encontram os sujeitos sem a mesma predisposição às práticas de representação. Walter Benjamim, em “O narrador”, alerta sobre a importância narrativa de certos autores do século XIX, como Baudelaire, Proust e Poe, cuja literatura buscava dar sentido à cidade e a sociedade moderna51 que se expandiam, velozmente, diante de seus olhos. Tais autores, sensíveis às rápidas transformações que desfiguravam os espaços e desorientavam seus habitantes, apressaram-se em narrar os fenômenos que ocorriam diante de si, através da interiorização e interpretação das imagens cotidianas, desbanalizando-as pelo olhar autoral e singular do escritor. Antes de seguirmos adiante tratando o conceito de narração, é importante observar que a difusão de saberes, de forma indireta, sem o contato direto com o autor original que criou a narrativa, não constitui um problema. A literatura de cordel, que viaja em folhetins impressos e os poemas da Grécia Antiga, A Ilíada e A Odisséia, que viajaram oralmente pelo mundo grego, seguiram esse princípio. Porém, segundo Olgária Matos52, quando a difusão indireta do saber é capturada pelos meios de comunicação de massa, são disparados dois processos. Em primeiro lugar, a inversão de sujeito e objeto, visto que a paixão surge da mercadoria cuja imagem passa a falar por si, desconectada de sua materialidade – é o sabão em pó que se transforma em superatletas travestidos de “maridos ideais”, é a cerveja que agrega multidões 51 Cidade moderna conceitua-se como aquela que surge em conseqüência do estabelecimento de uma nova classe dominante, a burguesia, que impõe sua própria lógica nas relações de dominação. Tal lógica, guiada por princípios de valorização do indivíduo, de reconhecimento dos direitos civis e respondendo às necessidades de reprodução do capital e do trabalho sob as regras do mercado, estrutura o novo ethos da sociedade e, conseqüentemente, da cidade moderna. 52 Segundo anotações colhidas da apresentação do autor no ciclo de seminários “Muito além do espetáculo”, Teatro Maison de France, 2003. 67 em torno de si sob o grito de “experimenta!”, é o automóvel que cuida da família com carinho. É o animismo animando a natureza e reificando a alma. Em segundo lugar, a submissão do desejo do homem à forma do objeto. Se, na Grécia clássica, a alma, a palavra e o poder da retórica e da troca de saberes eram os objetos imateriais do desejo de prestígio dos homens, na sociedade moderna a mercadoria é transformada em totem de adoração e, por ela, submete-se o indivíduo à espoliação das regras de funcionamento do mercado. Para Décio Pignatari, quem assiste a tevê é, em certa medida, também por ela assistido. Daí o autor inverter o pesadelo orwelliano, propondo que: “o Big Brother não é o olho onipotente e onipresente: é o próprio telespectador53”. (1989, p.488) De certa forma, a TV veio resolver a maior dificuldade da aplicação do panóptico foucaultiano na complexidade heterogênea e vária da cidade moderna: ao invés de um olho multifacetado a escrutar as infinitas áreas opacas, ângulos, becos, vilas, esquinas, travessas, divisórias, portas, janelas e alcovas da cidade, propõe-se o inverso, isto é, todos os olhos passam a desejar ver o olho panóptico, que não precisa vigiar, posto que o vigia é aquele que se quer exaustivamente vigiado. Controle de fora para dentro invertendo os muros da prisão que agora mais se parecem com os do castelo. Todos o admiram de fora. Sugere-se que o fora é uma extensão do que está dentro. Ao redor do castelo murado da indústria cultural, circundado pelas terras da cidade neofeudalista, vive a vassalagem que opera seu cotidiano de olho no muro e nos acontecimentos intramuros, rendendo votos de admiração ao rei, a corte e ao deus narcíseo midiático, que pretendendo “audiofalar de tudo, só pode audiofalar de si mesmo”. (PIGNATARI, 1989, p.488) 53 Durante o programa “Big Brother Brasil” da Rede Globo, 28.5 milhões de votos eliminaram um dos integrantes do programa. Esse número representa mais da metade dos votos, 53 milhões, que elegeram o presidente Luís Inácio Lula da Silva, em 2002. (O Globo, 13/02/2005, p.22). 68 2.2 Narrativas. “Esta peleja que fiz não foi por mim inventada. Um velho daquela época a tem ainda gravada. Minhas aqui são as rimas. Exceto elas, mais nada54”. (Leandro Gomes de Barros, 1865) 2.2.1 Das narrativas clássicas à narrativa benjaminiana. (Para Walter Benjamin) a narrativa tem origens remotas e corresponde a um tipo de experiência que só se realiza com dificuldade no mundo atual. (...) A narrativa é a expressão de um trabalho artesanal que se realiza sobre a matéria prima da existência (KONDER apud BENJAMIN, 2002, p.299). Pode-se afirmar que antes de orientar e localizar os homens no tempo e no espaço, através da criação e difusão das histórias de mitos, deuses, heróis e lendas, a narrativa prestase à construção de um mundo simbólico dos homens que se ergue sobre o mundo material da natureza. Obregón defende que: “desde o início, a inteligência do homem delineou mitos que lhe possibilitariam explicar o que ele descobria e da lembrança coletiva desses mitos ele construía as lendas que tornariam possível passar a história adiante” (2002, p.11). Enquanto os argonautas aventuraram-se pelo Mar Egeu até alcançar o Cáucaso, no mesmo século, os maoris e polinésios cruzaram o oceano aberto em dois sentidos, navegando para o Oceano Índico, a oeste, e para o Pacífico, a leste. Gregos e polinésios serviram-se de uma miríade de deuses, semideuses, lendas e heróis que se prestaram, não só à fixação de uma moral, uma ética, mas também à construção simbólica do espaço que, através das navegações, ia se tornando conhecido e mapeado. O mapeamento é o resultado da vivência com a narrativa que se constrói a partir do vivido. Obregón descreve assim uma lenda da cultura polinésia: Um dia, Mauí ficou cansado de ser deixado para trás quando seus irmãos mais velhos saíam para pescar e decidiu se esconder sob as tábuas do deque 54 Final da peleja de Manoel Riachão com o diabo. Cordel, cuja autoria perde-se no tempo. Essa versão data da segunda metade do século XIX, porém, como afirma seu autor: “um velho daquela época a tem ainda gravada”. 69 do parau deles. Uma vez no mar, seus irmãos não ousaram jogá-lo para fora, assim sendo deixaram que ele lançasse um anzol mágico feito de um osso de maxilar que sua avó Muri-Panga lhe dera e Mauri levou apenas alguns minutos para conseguir uma fisgada. Mas, quando ele tentou puxar sua presa, não conseguiu movê-la, nem mesmo com a ajuda de seus irmãos que reclamavam que o sol nascente estava batendo em seus olhos. Finalmente, a presa de Mauí saiu da água e era... uma ilha! Daí por diante, Mauí era sempre convidado a acompanhá-los e toda vez que jogava seu anzol mágico ele trazia uma outra ilha, sempre com o sol nascente em seus olhos. Quando alguém duvida dessa lenda, os polinésios perguntam: Se Mauí não pescou as ilhas por que existem conchas em seus topos? (OBREGÓN, 2002, p.22). Percebe-se, neste exemplo de cultura narrativa, como a lenda se presta, não só à construção e mapeamento de rotas e distâncias entre as ilhas (tendo em vista que elas “emergem”, ou melhor, são encontradas, sempre com o sol nascente), mas também como instrumento de auxílio na explicação dos fenômenos naturais, como, por exemplo: a presença de conchas nos topos das ilhas. Mesmo que a lenda não reproduza o fenômeno como concebido pela ciência, ela chega à mesma conclusão, isto é: pescadas ou não por um anzol mágico, as ilhas se elevaram de dentro do mar. Além disso, na tradição reforça-se a sabedoria dos mais velhos, visto que é a avó de Mauí que lhe dá o anzol mágico capaz de elevar as ilhas. Sobre a importância da narrativa na construção do saber há outros exemplos, como observa Obregón, citando ensinamentos da cultura helênica: “Zeus mandava suas pombas para o leste e elas retornavam do oeste, portanto, os gregos antigos sabiam que a terra era redonda” (OBREGÓN, 2002, p.25). As aventuras contidas na poesia homérica funcionavam como uma espécie de síntese da cultura grega clássica, onde se inseriam questões da mitologia, da moral, da ciência (no entendimento de fenômenos naturais) e do pensamento filosófico. Porém, o que mais interessa aqui é a percepção dessas narrativas como resultado de um somatório de tradições orais. Segundo Antônio Medina55, a Ilíada e a Odisséia, como as conhecemos, são o resultado do somatório de fragmentos pertencentes a uma oralidade plural que se estendeu 55 Segundo anotações colhidas da apresentação do autor no ciclo de seminários “Poetas que pensaram o mundo”, CCBB, Rio de Janeiro, 2003. 70 pelos quatro séculos anteriores à obra de Homero. Medina propõe a existência de muitos narradores (muitos “Homeros” anteriores ao Homero autor), cada qual pertencente a uma região, vila, cidade ou ilha do mundo grego. Cada um desses “Homeros-narradores” teria então se dedicado a um deus, um personagem, uma lição, um provérbio, uma moral, um fato referente à história e às singularidades de sua região, cidade ou lugar de pertencimento dentro do mundo grego. Homero teria sido o poeta final que sintetizou todas as “Odisséias” e “Ilíadas”, criadas pelos muitos “homeros” anteriores – buscando selecionar os seus melhores elementos narrativos – numa versão definitiva e escrita daquilo que, originalmente, e, por quatro séculos, foi de criação plural e pertenceu, exclusivamente, ao domínio da oralidade56. Para que Homero fizesse uma compilação ótima dessa oralidade continental e insular, fartamente espalhada pelos territórios e arquipélagos do mundo grego, seria obviamente necessário que entrasse em contato, in loco, com o maior número possível dessas culturas singulares. Por isso, Obregón propõe que Homero tenha sido um marinheiro, um navegador, por um certo período de sua vida. Homero diz: Há ocasiões em que o grande oceano fica escurecido por uma onda silenciosa. Ele sabe que um vendaval está a caminho; mas isso é tudo o que ele sabe e as ondas não podem iniciar sua marcha... até que o vento sopre regularmente em direção à terra vindo de um lado ou do outro (2002, p. 37). Obregón nos pergunta, “Quem se não um marinheiro poderia falar desta maneira? Portanto parece provável que em algum estágio da sua vida Homero tenha sido um marinheiro” (2002, p.37). Segundo o autor, Homero descreve de forma detalhada os equipamentos, as medidas e o desempenho específico de certos navios, além de expressar conhecimentos em marés, correntes e ventos. Esse fato nos remete ao aspecto nômade da narrativa que será discutido adiante. Por hora vale a pena guardar a sugestão de Obregón, a propor a idéia de um Homero navegador. 56 Pode-se pensar com base nesta idéia, porque Homero, sendo ateniense, não demonstrava nenhuma simpatia especial por seu povo de origem ao descrever, na Ilíada, a Guerra do Peloponeso entre atenienses e espartanos. 71 Outra marca dos poemas homéricos que reforça tanto o aspecto de oralidade quanto a pluralidade autoral da obra, é a estética de dupla, de pergunta e resposta. Essa estrutura de narração, segundo Antônio Medina, está muito próxima dos cantores de cordel ou dos repentistas do Nordeste brasileiro, onde a narrativa é equipada por um repertório de provérbios, lugares comuns e frases estandardizadas cuja escolha e utilização são determinadas durante o improviso. Logo, aquele que melhor souber empregar tais recursos distingue-se como bom repentista. O mais importante aqui é guardar a idéia de que a narrativa na Odisséia e na Ilíada é construída em duplas: um fala e o outro responde. O objetivo dessa volta, bastante generosa, pelo mundo de Homero é destacar a importância do diálogo na narrativa épica como fator de democratização da construção simbólica do espaço, observando que esse processo participativo e plural foi responsável pela elaboração de obras reconhecidamente fundamentais da cultura ocidental. A Ilíada e a Odisséia não foram resultado da ação monolítica de uma empresa, ou mesmo da genialidade isolada de um olhar que eleva da tábula rasa o grande monumento. Ao contrário, as obras em questão são o resultado de um processo que soma diversos olhares sobre uma seqüência de episódios históricos, cujas formas orais, por centenas de anos, sofreram transformações e traduções até que atingissem a forma final escrita e cristalizada por Homero. Obregón cita ainda outras obras que resultaram de processos narrativos, plurais e coletivos, como as “Mil e Uma Noites” na Bagdá do século VIII57 ou “as sagas islandesas”, ao fim do século X58. Em se tratando de sagas, não se deve deixar de citar “As Viagens de Marco Polo” cujo escrito reafirma o que foi colocado até aqui sobre a narrativa, não só por ter sido 57 Sobre Sherazade, personagem central que narra as mil e uma noites, Celso Francisco Maduro Coelho, em “Por que tanta saudade de Sherazade?”, afirma que: “(Sherazade) através das narrativas, avança, insistentemente, tanto para o futuro como para o passado, na medida em que recupera os contos da tradição oral” (2002,p.92). Walter Benjamin, em “Magia e técnica, arte e política”, observa que é através da reminiscência que o narrador “tece a rede que, em última instância, todas as histórias constituem entre si. Uma se articula na outra, como demonstram todos os outros narradores, principalmente os orientais. Em cada um deles vive uma Sherazade, que imagina uma nova história em cada passagem da história que está contando” (1985, p.211). 58 As sagas islandesas são “uma coleção de textos de história oral, geralmente recitada em festas por narradores épicos... (a palavra saga tem a mesma raiz que ‘sagem’ em alemão, ‘to say’ em inglês)” (Obregón, 2002, p.117). 72 concebido em primeira e terceira pessoas59 (o que sugere uma co-realização da obra, como se Marco Polo transcrevesse o relato de outros narradores), mas também por guardar em si, a idéia de troca cultural, de encontro e entendimento que se dá entre sujeitos heterogêneos, o encontro do ocidente com o oriente. A obra é farta dessa pluralidade de olhares na construção do mapeamento cultural, político e geográfico do oriente. Por trás da idéia da narrativa, tem-se uma preocupação em comum, seja no classicismo monumental de Homero, seja na modernidade fragmentada de Baudelaire ou na contemporaneidade esgarçada de Ítalo Calvino: produzir uma textualização do espaço que dialogue com o leitor\ouvinte, de forma a ampliar o seu entendimento dos fatos e processos que o rodeiam. O diálogo entre orador e ouvinte ocorre de forma endógena ao universo narrativo. É imanente a esse universo. Narrar é traçar uma ponte direta com o que é vivido ampliando a capacidade de leitura dos interlocutores sobre o objeto narrado. Não importa se o objeto narrado é a navegação mediterrânea, um arquipélago polinésio, as guerras do Império Tártaro sob o jugo da grã-cã, ou as cidades baudelaireana do século XIX e ítalo-calviniana do século XX. O desvelamento que a narrativa causa sobre o objeto narrado é conseqüência do processo narrativo participativo – orador-ouvinte, escritor-leitor. Propõe-se que a relação de comunicação estabelecida nos domínios da oralidade e da escritura – no que tange à cumplicidade e à participação dos agentes envolvidos – difere daquela que acontece no domínio do imagético-tecnológico, principalmente quando submetido às condições características da indústria cultural, mais especificamente da televisão. Narrar, sob as exigências técnicas e ideológicas da televisão, torna-se uma tarefa duvidosa, visto que, antes mesmo de propor um conteúdo, a narrativa precisa vencer o afastamento entre emissor e receptor, que tem por causas, não só a desterritorialidade que a 59 Segundo Cony e Alcure, “muitos duvidaram da veracidade dos relatos, considerados no início apenas uma coletânea de fábulas. Daí a preocupação do narrador, ora em primeira, ora em segunda pessoa, de afirmar a todo o momento que era verdade o que contava. Também, à medida que outros viajantes comprovavam dados significativos da narrativa poliana o livro e seu autor foram ganhando credibilidade” (2001, p.7). 73 tecnologia permite e impõe (satélites, ondas magnéticas, alta freqüência, etc), mas também a impessoalidade de sua mensagem produzida para a “massa” que personifica o lugar do ouvinte. Pode-se afirmar que a revelia do que foi dito até aqui sobre a narrativa, sua importância não estaria na monumentalidade dos grandes textos, como a Odisséia ou as Mil e Uma Noites, mas na sua capacidade de construir e representar soluções locais para problemas locais, através da interação que ocorre entre sujeitos locais. Citado por Francisco Assis S. Lima, em “Conto popular e comunidade narrativa”, assim se expressa Walter Benjamim, perplexo diante do espetáculo que a indústria cultural inaugurava no século XX: “a arte de narrar caminha para o fim. É como se uma faculdade que nos parecia inalienável, a mais garantida entre as coisas seguras nos fosse retirada. Ou seja: a arte de trocar experiências”.(1985, p.53). Aqui se estabelece o ponto culminante da questão narrativa: a troca de experiências pelo diálogo. Segundo Francisco Assis de Sousa Lima: [...] não se pode separar o conto do narrador do seu universo, do seu público. Mesmo a eleição do repertório e o jeito como é transmitido se define junto ao público [...] sua oportunidade, pontuação e eficácia orientamse através e em função de uma escuta participante (1985, p.55). A colocação de Benjamim sobre o desaparecimento da narrativa é reafirmada por Lima ao propor a ocorrência desse fenômeno, primeiro nas zonas urbanas e depois nas rurais. Pode-se entender que o afastamento, a impessoalidade e a massificação da mensagem no século XX são um forte indício do declínio da prática da narrativa benjaminiana. Segue-se com um comentário de Lima pontuado pelo depoimento de um de seus entrevistados: Na cidade de Barbalha, Francisco René Granjeiro, (...) declarou a existência, no passado, do hábito generalizado de contar histórias também em zona urbana. Para ele, tal atividade está restrita praticamente ao âmbito rural e aí já não se observa interesse igual ao de antes. Segundo seu parecer, ocorreria ainda uma tendência ao desaparecimento gradual dessa prática: Moço, a época feudal dos cavaleiros andantes era a época das histórias. No que eles viajavam... e quem viajava sabia de muita história! A época era muita atrasada e aonde chegava uma pessoa, naquele tempo, era obrigada a 74 contar uma história. Isso era de praxe, hoje não se usa mais isso, né? Porque desenvolveu mais a mentalidade do povo e o povo não adota mais. Agora nos sítios ainda também pode adotar, nos centros (cidades) fica mais difícil. Reduziu, digamos, oitenta por cento (LIMA, 1985, p.67). Esse mesmo entrevistado afirma, mais adiante, que há uns quinze anos foi-se definhando a prática de contar histórias em sua cidade. Esses quinze anos atrás, que o entrevistado se refere, localizam o declínio do hábito de contar histórias em sua cidade nos anos 70, quando ocorrem os maiores investimentos na área de telecomunicações. Lembremos que a Rede Globo em medos da década de setenta, com o apoio do Governo Militar, ampliou sua capacidade de transmissão via satélite, conseqüentemente, aumentando seu potencial de penetração em todo o território nacional. Frente essa realidade, Baptista propõe a maneira da indústria cultural enxergar o elemento singular, o outro: Coloco minha câmera em ritmo lento e registro que o indivíduo procurado no jornal com sua descrição detalhada não passava de uma grande invenção. No close percebo negros, desempregados, brasileiros; percebo a História do Brasil narrada por vagabundos, loucos e desclassificados. Os autoritarismos criam sempre um olhar único: o olhar poético, o olhar cínico, o olhar feminino etc. Para cada ocasião ou para cada identidade, um olhar específico que defenda territórios, nomes e ordens. Cada coisa em seu devido lugar. Os autoritarismos não gostam de cinema, nem de trapézios60 (1999, p.28). 2.2.2 O choque entre as culturas: nômade e colônica, na narrativa benjaminiana. Comparando os limites entre civilização e barbárie, Baptista cita Brodsky, para nos fazer entender que “o motivo pelo qual o colono (civilizado) teme o nômade (bárbaro) não é tanto porque este pode destruir sua casa, sua vida, mas porque o nômade compromete a sua idéia de horizonte”.(1999, p. 33). A aproximação entre a cultura construída a partir de práticas narrativas plurais e uma cultura itinerante, nômade, é o que se pretende analisar, 60 Vasconcelos observa que “A tevê é o efeito demonstração do desideratum primeiro mundo, assim como o cinema brasileiro sob a liderança intelectual de Glauber Rocha era o arsenal ideológico do terceiro mundo. Não é por acaso que com a morte do cinema (de Glauber) não só desaparece o ideário terceiro-mundista, como também este assume uma axiologia inteiramente negativa, ou seja, sinônimo de opróbrio, de vergonha, de fim de mundo” (1996, p. 96). Collor extinguiu a Embrafilme durante seu mandato. 75 reconhecendo, não somente, como a prática itinerante alimenta de pluralidade a narrativa local, mas como a sua ausência determinaria o olhar massificante da indústria cultural. Duas analogias apresentam-se: cultura nômade e pluralidade, que conduziria ao alargamento da experiência, e cultura colônica e autoritarismo, que levaria ao estreitamento da tolerância e ao solapar das singularidades, pondo em risco a troca de experiências pelo diálogo. Propõe-se traçar duas correntes dicotômicas. A primeira constituída pelos seguintes elementos: democracia – pluralidade – cultura nômade – necessidades do homem – criação participativa – experiência narrativa – proximidade – aceitação do singular. E a segunda constituída por: autoritarismo – distanciamento – olhar único – vida colônica – cultura monolítica – indústria cultural – interesse do mercado – necessidades do capital – supressão de singularidades. Se assim o for, pode-se afirmar, em contrário à observação do senso comum, que a cultura local, sujeita às invasões bárbaras, porosa à experiência nômade, é mais rica, em todos os sentidos, do que a cultura globalizada – hegemônica, desterritorializada e míope às nuances, às heterogeneidades e à sinergia do cotidiano vivido. Classificando os processos narrativos benjaminianos, que ocorrem na experiência direta do vivido, como antagônicos aos interesses e necessidades da indústria cultural, restaria ainda analisar de que forma a narrativa pluraliza-se ao ser construída com e a partir de uma cultura de ethos61 itinerante. Para analisar a pluralidade na narrativa benjaminiana como conseqüência da ação nômade, seria interessante aprofundar-se um pouco mais no conceito de “ethos itinerante”. Em “A razão nômade”, Sérgio Paulo Rouanet define assim o ato de viajar: Viajar é um ato de liberdade mesmo quando o lugar de destino é Orlando, na Flórida. Toda viagem tem sempre os mesmos momentos constitutivos: a partida, que reproduz ontogeneticamente o trauma do nascimento, o instante 61 “Na palavra ethos (...) ressoa o sentido de habitar, com toda a extensão e conexão dessa idéia. Ela designa tanto morada, quanto as condições, as normas, os atos práticos que o homem repetidamente executa e com eles se acostuma, ao se abrigar num espaço determinado. Daí significar também caráter e, por derivação, na retórica aristotélica, a imagem moral que o orador construía discursivamente para a platéia” (SODRÉ, 2002, p.45). 76 em que cada um de nós é expelido do útero para a viagem da vida, e filogeneticamento o momento em que os primeiros homens abandonaram sua pátria; o percurso, travessia biográfica recapitulando travessias préhistóricas; a chegada, novo habitat, savana, pradaria, floresta; e, sobretudo, o momento humano por excelência, que movimenta todo o processo, a viagem como desejo, a fantasia do novo, a esperança de chegar, o encontro com o país sonhado (1993, p.7). Depois de perceber todos esses elementos nos viajantes clássicos – Ulisses, Jasão, Marco Polo – e nos viajantes das grandes navegações pré-mercantilistas – Colombo, Vasco da Gama, Fernão de Magalhães – Rouanet nos propõe um outro tipo de viagem “que dispensa o viajante de um verdadeiro deslocamento físico, (...). Precisamos partir, sim, precisamos do trânsito e da chegada – mas não temos necessariamente que sair do lugar” (1993, p.9). Para tanto, Rouanet convoca o viajante flâneur, cuja viagem maior pressupõe narrar a cidade em que habita, narrar o espaço/tempo da cotidianidade de forma muitas vezes conflituosa e contraditória, mas jamais distanciada: “Moicano de Paris, o flâneur fareja rastros como quem caça, mergulha na multidão como quem se perde numa floresta, decifra pela fisionomia a história da vida de cada passante...” (1993, p.10). Rouanet convida a embarcar nas viagens narrativas de Walter Benjamin observando que: Antigamente o viajante atravessava continentes e singrava oceanos, cruzava com seus camelos a Cólchida e a Arábia Félix, enfrentava com suas trirremes as colunas de Hércules ou dobrava com suas caravelas o Cabo da Boa Esperança. O viajante moderno passeia pela cidade; não é mais o peregrino, o nauta, o corsário – é o flâneur. É o flibusteiro da modernidade, que perambula entre a margem esquerda e direita de Paris como Morgan viajava entre Tortuga e Cartagena (1993, p.21). Rouanet propõe que: “Enquanto para Weber o desencantamento é uma pré-condição para o capitalismo, para Benjamin, ao contrário, o capitalismo reencanta a sociedade eternizando o mito, em vez de secularizar o mundo” (1993, p.11). É objetivando o desvelamento desse encantamento, a desfetichização das relações e o esclarecimento dos fatos cotidianos, encobertos por uma mitologia moderna, que Benjamim propõe sua narrativa. Viajando de passagem a passagem, da margem direita à esquerda, passando por praças, ruas, cruzando as avenidas rasgadas por Haussmann para impedir a insurreição proletária e erguer um monumento ao poder burguês, o flâneur circula pela capital da modernidade, pela capital do capital. E viaja pelas 77 fantasmagorias da modernidade que brotam como uma flora noturna sobre esses suportes reais: o sonho da moda, o sonho da técnica, o sonho da arquitetura, o sonho do urbanismo, e o sonho-síntese, o sonho das passagens onde se condensam as energias oníricas da cidade (1993, p.11). Desvelar as relações fetichizadas pela mercadoria, em suas viagens de leitura da cidade, foi para Benjamin, instrumento e método narrativo, como o foi para Homero, a Argo e a leitura dos astros. Instrumento, como a embarcação e o desejo de cidade que levam ao destino, o mar ou a rua. Método, como o mapa e a leitura singular que representam o espaço, o oceano ou a cidade. Porém, há algo a mais a ser considerado: se para Homero, sua condição de viajante, de estrangeiro, é constituinte do processo de criação\compilação de sua obra, para Benjamin, ser estrangeiro, plural e nômade, é uma condição construída a partir de um método que é posto em prática ao narrar/traduzir a modernidade. Ao se permitir estranhar a cotidianidade – a mesma que o olhar blasé ignora, em longo suspiro de enfado – Benjamin provoca a fantasmagoria urbana com a curiosidade do olhar do estrangeiro e a pluralidade da perspectiva nômade frente à do colono, porém, em sua própria cidade. Dá-se a sinergia entre as categorias em discussão – narração, como elemento de desvelamento; olhar nômade, como elemento de pluralidade. A narrativa nômade numa perspectiva benjaminiana corresponde ao ato de sair pela cidade apreendendo. Trata-se do ato de perceber o novo nos trajetos cotidianos, realimentando-os, com o que já estava lá, e que, em muitos casos, sempre esteve lá, mas não era percebido. Se caravana e flâneur guardam por semelhança o ritmo lento de suas travessias e andanças, também guardam de si – enquanto narrativa antiga e narrativa moderna – diferenças estruturais e imanentes. Enquanto a caravana caminha objetivando a chegada, o pouso, às vezes já conhecido, às vezes não, o flâneur caminha, segundo Rouanet, em direção ao labirinto. A narrativa do flâneur busca tornar o conhecido, obscuro; a cidade, floresta; e, ele próprio, civilizado, em Moicano, em bárbaro. O viajante antigo, ao contrário, adentra o desconhecido para mapeá-lo e, ao fazê-lo, transformar o fantástico em cotidianidade, a 78 aventura em turismo. Porém, em ambas as práticas a pluralidade e o diálogo as retroalimentam, visto que flâneur e nômades, ao ignorarem muros e fronteiras, adquirem um estado de porosidade tal, isto é, estão de tal forma abertos, seja no desejo de chegar, seja no desfrute do caminho em si, que se transformam na antinomia que desafia o olhar colônico da vida intramuros. O civilizado – plasmado na substância monolítica do autoritarismo que reafirma a dominação – subjuga o outro, o bárbaro, sem perceber, a exemplo do poema de Cavafis 62 (À espera dos bárbaros), que os bárbaros poderiam ser a solução ao impasse da modernidade que encapsula a todos. O bárbaro que chega na forma de um circo que se instala nos arredores da cidade ou na forma de um avião que se arrebenta de encontro às torres mais altas da fortaleza, faz soltar o grito suspenso no ar, trás o sangue aos olhos, a paixão e o temor aos corações, a vida às ruas, a carne à pedra. “Por que tão rápido as ruas se esvaziam e todos voltam para a casa preocupados? Porque já é noite e os bárbaros não vêm. E a gente recém chegada das fronteiras diz que não há mais bárbaros. Sem bárbaros, o que será de nós? Ah! Eles eram uma solução”. (Constantino Cavafis) Ao decretar a morte da narração, enquanto arte da troca de experiências, Benjamin percebe o esgarçamento de uma sociedade que sofre processos encapsulatórios de ordem e controle através de inúmeros instrumentos que buscam normatizar e subjugar a rua, sob uma ideologia produtivista e racional. A rua se torna, cada vez menos, o espaço do cidadão, propício à práxis política, ao encontro inesperado, ao diálogo e à criação coletiva, para se transformar no espaço do controle, da produção, da ordem, do vigia, do olhar blasé, do olhar vazio, da desconfiança e da intolerância frente ao singular. A rua, frente o minguar da narrativa, assiste a epifania da criação unívoca da indústria cultural, cujo autor invisível traveste-se de mecanismos burocráticos, cada vez menos perceptíveis ao espectador, e que, 62 CANDIDO, Antônio. O discurso e a cidade. São Paulo: Duas cidades, 1993. 79 por sua fantasmagoria, têm o poder endógeno, quase divinatório de transmutar a razão iluminista do discurso científico na sacralização do Estado e do mercado – construções mitológicas da modernidade. O desespero de Benjamin frente ao mito se fundaria, então, na percepção desse retorno a uma sociedade de colonos xenófobos que rangem os dentes para os nômades, diante da possibilidade de terem seus horizontes transformados. Fecham-se as fronteiras, desviam-se os olhares, apontam-se às armas. O mundo adentra o século XX afundado em duas grandes guerras cujos soldados, ao retornarem, como observa Marcel Proust63, não têm o que relatar. A guerra moderna, segundo Benjamin, só permite a percepção da trincheira, a visão entrincheirada que resulta na não-experiência do fato, no não reconhecimento do outro, sequer do inimigo64. Se antes o outro – o bárbaro – estava do lado de fora, com o crescimento da cidade (e a ausência material dos muros reais) passa-se a conviver com a possibilidade do inimigo habitar o lado de dentro. A territorialização e o entrincheiramento, hierárquico e segregador, das classes sociais tornam-se assim inevitáveis: bairros étnicos frente os condomínios fechados, enclaves, gentrificações, guetificações, suburbanização (que resulta em bairros residenciais para grupos sociais homogêneos), esvaziamento do centro, espaços públicos controlados, indivíduos vigiados por câmeras de segurança, monopólio das telecomunicações, multinacionais da indústria cultural, marketing político milionário, imperialismo imagético, mercadoria imagética, dinheiro imagético, substituição do corpo pela imagem do corpo. Se Walter Benjamin suspeitou de algo aproximado com tal leitura da 63 “... abordei Roberto, cuja cicatriz na testa era mais augusta e misteriosa do que a marca deixada no solo pelo pé de um gigante. E não ousei fazer-lhe perguntas, e ele só me disse palavras simples, muito semelhantes às de antes da guerra, como se, a despeito dela, as criaturas ainda fossem o que dantes eram” (PROUST, p. 42.). 64 “Com a guerra mundial tornou-se manifesto um processo que continua até hoje. No final da guerra observouse que os combatentes voltavam mudos do campo de batalha não mais ricos, e sim mais pobres em experiência comunicável. E o que se difundiu dez anos depois, na enxurrada de livros sobre a guerra, nada tinha em comum com uma experiência transmitida de boca em boca. Não havia nada de anormal nisso. Por que nunca houve experiências mais radicalmente desmoralizadas que a experiência estratégica da guerra de trincheiras, a experiência econômica pela inflação, a experiência do corpo pela guerra de material e a experiência ética pelos governantes” (BENJAMIN, 1985, p.198). 80 modernidade, não é de se espantar sua atitude, de desalento e pessimismo, ao declarar o fim da narrativa como o fim da troca de experiências. Em “Magia e técnica, arte e política”, de 1936, Benjamin observa que: São cada vez mais raras as pessoas que sabem narrar devidamente. Quando se pede num grupo que alguém narre alguma coisa, o embaraço se generaliza. É como se estivéssemos privados de uma faculdade que nos parecia segura e inalienável: a faculdade de intercambiar experiências (1985, p.198). Benjamin defende que a “experiência que passa de pessoa a pessoa é a fonte a que recorreram todos os narradores. E, entre as narrativas antigas, as melhores são as que menos se distinguem das histórias orais contadas pelos inúmeros narradores anônimos” (1985, p.198). Exatamente como Antônio Medina propõe ter sido o processo de construção dos poemas épicos de Homero. Sobre a relação da prática narrativa com o nomadismo e o ofício de artesão, Benjamin articula, primeiramente, a idéia de duas famílias narrativas, uma nômade e outra sedentária: Quem viaja tem muito que contar, diz o povo, e com isso se imagina o narrador como alguém que vem de longe. Mas também escutamos com prazer o homem que ganhou honestamente sua vida sem sair do seu país e que conhece suas histórias e tradições (1985, p.199). Mais adiante, fazendo uma analogia entre o homem local (narrador de suas tradições) e o mestre artesão, Benjamin afirma que: “O mestre sedentário e os aprendizes imigrantes trabalhavam juntos na mesma oficina; cada mestre tinha sido um aprendiz ambulante antes de se fixar em sua pátria ou no estrangeiro” (1985, p.199). Se todo mestre sedentário foi um aprendiz ambulante num período inicial de seu aprendizado, pode-se pensar, então, que a arte de narrar originou-se sempre de um saber que vem de fora e que, no entanto, para acrescentarse como saber à tradição vinda do passado local necessitava encontrar ali condições ideais de aceitação, de porosidade, de intercâmbio e de desejo pelo outro, pelo diálogo com o outro. Se os camponeses e os marujos foram os primeiros mestres da arte de narrar, foram os artífices que a aperfeiçoaram. No sistema corporativo associava-se o saber das terras distantes, trazido para casa pelos imigrantes, com o saber do passado, recolhido pelo trabalhador sedentário (1985, p.202). 81 Se o trajeto se realiza vindo tal de “terras” distantes, qual de “tempos” distantes, isto é, vindo do estrangeiro ou do passado, o que importa é a idéia de “viagem”, de intercâmbio, sustentada em ambos os casos, como propõe Benjamin. “O saber, que vinha de longe – do longe espacial das terras estranhas, ou do longe temporal contido na tradição...” (1985, p.202). 2.2.3 A temporalidade na narrativa: Cronos e Aion. Sobre a temporalidade na narrativa, Coelho observa que Deleuze dividiu o tempo em duas categorias: “Cronos” e “Aion”. “Cronos só reconhece o presente entre as três dimensões do tempo. Apenas o presente preenche o tempo. Passado e futuro existem somente em relação a um presente” (COELHO, 2002, p.90). Cronos é o tempo do presente crônico e estendido que suprime o passado e o futuro, o tempo da televisão, cuja velocidade e quantidade de imagens não permite análise nem aprofundamento. Para Deleuze, na leitura de Coelho, Cronos é o tempo devorador de vidas, da mesma forma que, nas palavras de Pignatari, a revolução das telecomunicações devorou seus filhos consumistas: “O olho crocodílico da televisão cola e bricola. Tudo consome tendo em vista o consumo” (1989, p.488). “Aion”, por outro lado, é o tempo da narrativa que resgata a tradição do passado e aponta para o futuro que os narradores constroem a partir de novos intercâmbios. Deleuze propõe que a narrativa conserva o passado e o futuro na temporalidade, da mesma forma que Sherazade, em as Mil e uma noites, enriquece de passado e futuro o presente crônico e estendido do rei Shariar. Enquanto o rei está preso ao tempo de Cronos ele manda matar sistematicamente suas esposas, no dia seguinte à noite de núpcias. Ao mandar matar suas esposas o rei crê-se resguardado de qualquer traição. Porém, ao proceder assim, o rei também se condena a viver em um presente crônico interminável, sua relação com as esposas executadas não tem 82 passado, nem futuro. Sherazade, ao aceitar o desafio de casar-se, introduz a narrativa na vida do rei. Ao fazê-lo, Sherazade, não só o liberta de Cronos, como garante, ela própria, seu futuro, através da recuperação do passado. Quanto mais Sherazade vai ao passado em busca de suas histórias, mais caminha para o futuro. Na milésima primeira noite Sherazade pede clemência ao rei que, embebido pelo amor a Sherazade, já não quer mais vê-la morta. Dá-se a vitória de “Aion” sobre “Cronos”. É o que faz Sherazade ao longo das mil e uma noites. No momento em que já é dada como morta, mas ainda não morreu, narra suas histórias. Através das narrativas, avança, insistentemente, tanto para o futuro como para o passado, na medida em que recupera os contos da tradição oral (COELHO, 2002, p.92). Renato Cordeiro Gomes observa que a interrupção da narrativa significaria a morte de Sherazade: Certamente, ela que encarna o poder de sedução da narrativa, através da qual ousou exercer a sua coragem de narradora para vencer a morte e viver; ela sabia que silenciar a narrativa significava abrir mão da vida. Se para ela narrar é viver, o que poderia ensinar para seus conterrâneos do Oriente e aos seus leitores do Ocidente, é que a narrativa é uma estratégia contra a morte. Poderia também exaltar a narrativa como uma estratégia usada para sobreviver em tempos difíceis (2002, p.286). Gomes propõe, pensar na narrativa moderna, atual, como um antídoto contra a mídia, ainda que esta narrativa apresente-se interrompida, fragmentada e repleta de frases incompletas, isto é, maculada por certas características da comunicação midiática: “Esse antídoto – como declarou Ítalo Calvino – pode combater o vírus que ataca a vida das pessoas e a história das nações e torna todas as histórias informes, fortuitas, confusas, sem princípio nem fim” (2002, p.286). No filme “Céu sobre Lisboa”, de Win Wenders, o personagem “Frederico”, que representa um cineasta desiludido com as imagens midiáticas, afirma que “as imagens não são mais o que eram, não se pode confiar nelas. Antes contavam histórias e mostravam coisas, hoje elas vendem histórias e coisas. As imagens estão vendendo o mundo... e com um desconto enorme!” Depois do desabafo, a solução que o personagem encontra para sua crise remete à idéia, analisada neste capítulo, das imagens autorais, opacas, singulares, 83 que narram a realidade sem pretender substituí-la. O cineasta retoma sua velha câmera a manivela e, nas palavras do narrador torna “a criar imagens indispensáveis da cidade com seu coração de celulóide mágica”. Em contraposição à função da prática narrativa na sociedade que diz respeito a preservar o sentido das experiências intercambiáveis ou do diálogo, surge uma nova forma de comunicação com base na informação: o jornalismo, equipado e estruturado pela indústria cultural no século XX. “Se a arte da narrativa é hoje rara, a difusão da informação é, decisivamente, responsável por esse declínio” (BENJAMIN, 1985, p.203). Para Benjamin, a explicação desse fenômeno estaria no fato de que a “cada manhã recebemos notícias de todo o mundo. E, no entanto, somos pobres em histórias surpreendentes. A razão é que os fatos já nos chegam acompanhados de explicações” (1985, p.203). Para o autor, quando os fatos estão a serviço da informação não há o mesmo espaço interpretativo e interativo que se verifica quando esses mesmos fatos estão a serviço das práticas narrativas. Benjamin observa no declínio das práticas narrativas, a ascensão da estética burguesa e da imprensa sob a égide do capitalismo. Sendo assim, o autor articula uma diferença básica de temporalidade entre informação e narrativa: A informação só tem valor no momento em que é nova. Ela só vive nesse momento, precisa entregar-se inteiramente a ele e sem perda de tempo tem que se explicar nele. Muito diferente é a narrativa. Ela não se entrega. Ela conserva suas forças e depois de muito tempo ainda é capaz de se desenvolver (1985, p.204). Sob a lógica da informação “desaparece o dom de ouvir e desaparece a comunidade dos ouvintes” (1985, p.205). O autor observa que, ao contrário da notícia... [...] contar histórias sempre foi a arte de contá-las de novo, e ela se perde quando as histórias não são mais conservadas. Ela se perde porque ninguém mais fia ou tece enquanto ouve a história. [...] Quando o ritmo do trabalho se apodera dele – ouvinte – ele escuta as histórias de tal maneira que adquire espontaneamente o dom de narrá-las. Assim se teceu a rede em que está guardado o dom narrativo. E, assim, essa rede se desfaz hoje por todos os lados, depois de ter sido tecida há milênios em torno das mais antigas formas de trabalho manual (1985, p.205). 84 Percebe-se aqui como a informação estaria sintonizada com o tempo de “Cronos”, enquanto a narrativa, ao conservar em sua temporalidade o passado e o futuro, corresponderia ao tempo de “Aion”. Passado, por que está na sua gênese a tradição da oralidade. Futuro, por que depende das novas gerações para que se reproduza e sobreviva. Passado e futuro constituem o tempo narrativo como a memória e o devir constituem narradores e ouvintes. Em Benjamin, outro indício do fim da forma narrativa é percebido no declínio da prática de dar conselhos. O autor sugere que a verdadeira narrativa tenha em si... [...] uma dimensão utilitária, [...], o narrador é um homem que sabe dar bons conselhos. Mas, se dar conselhos parece hoje algo de antiquado é porque as experiências estão deixando de ser comunicáveis. Em conseqüência, não podemos dar conselhos nem a nós mesmos, nem aos outros (1985, p.200). Para o autor, aconselhar não é responder uma pergunta, mas dar continuidade ao que está sendo dito, ao problema narrado, de forma a, através de uma outra história que cruza o caminho da primeira, elucidar o problema com sabedoria que é “o conselho tecido na substância viva da existência”. O autor conclui afirmando que: “A arte de narrar está definhando porque a sabedoria – o lado épico da verdade – está em extinção” (1985, p.201). A questão do desaparecimento da arte de narrar, como conseqüência do afastamento e do esfriamento das experiências de troca entre os indivíduos, atravessa as preocupações de Benjamin diante da modernidade, por isso o autor propõe que a cidade de Paris deve ser lida através de sua literatura do século XIX. Olgária Matos65 afirma que Benjamin, ao traduzir Proust para o alemão, cria uma topografia afetiva, uma cartografia de práticas sociais da cidade de Paris, um mapa das relações e acontecimentos que a cidade permite. Isto é, Benjamin oferece uma leitura sensível às camadas geológicas da cidade, como se a cidade fosse um ente psíquico, onde tudo que nela ocorre deixa sua marca. Ao falar em camadas geológicas, Matos refere-se à convivência de elementos do passado, do presente e do futuro que emergem num bairro, numa rua, numa casa, numa ruína, num rosto, num pequeno gesto. 65 Segundo anotações colhidas da apresentação do autor no ciclo de seminários “Muito além do espetáculo”, Teatro Maison de France, 2003. 85 É a cidade como lugar possível das três temporalidades e não como lugar do presente crônico midiático. Para Benjamin, apesar do arrasamento, da destruição em larga escala executada pelas reformas de Haussmann, a literatura reacende recalques do passado que sobrevive em pequenos signos. Segundo Matos, o narrador benjaminiano busca trazer à luz da percepção esses fragmentos, da mesma forma que a psicologia freudiana busca no interior da pessoa, recalques da infância que continuam atuando sobre o seu presente psíquico. A tradução de um trauma, o resgate, por inteiro, de um passado – que, como um fantasma, teima em voltar ainda que em pedaços assombrando e arrastando suas correntes pelas ruas sem tradução das metrópoles atuais – seria a função da narração sob a ótica benjaminiana. Na modernidade benjaminiana dá-se o clímax do drama da sociedade oitocentista, quando o fetichismo corrompe a experiência urbana, substituindo, segundo Matos, objetos biográficos que contavam histórias, por objetos de status que respondem antes de tudo à lógica do valor de troca das mercadorias. A preocupação do narrador benjaminiano é ampliar a percepção da cidade, como lugar da troca de experiências e do diálogo, para que esta percepção não expire, encapsulada pelos limites do mercado e da reprodução do capital. 86 CAPÍTULO 3: O papel da televisão brasileira na construção de um modelo único de modernidade. Mama, olha eu no futuro, mandando um abraço pelo ciberespaço. Mama, eu não faço mais besteira ta tudo mudado eu virei vagabundo globalizado, mama, eu to virado, eu virei... Mama meu samba é guerreiro e qualquer distância é menor que a saudade Mama hoje tem batuque no terreiro já to avisado eu virei vagabundo considerado um siderado brasileiro Mama, no futuro a onda é diferente mas quem quiser igual tem solidão também A minha janela dá para o céu escuro mas aqui é o futuro Na cozinha lá de casa não tem gravidade se eu abro a torneira a água voa e as panelas saem para passear pela garoa Mama eu to à toa mas quando penso em você eu to seguro eu to no futuro66. (Lula Queiroga) Antes de iniciarmos a reflexão sobre os processos de formação e atuação da indústria cultural no Brasil é preciso refletir em que bases a idéia de modernidade ou de progresso se sustentou no Brasil no decorrer do século XX. Para tanto, é sugerida, como exercício de subjetivação, a elaboração da figura de um tripé sobre a qual se assenta essa modernidade e, por conseguinte, os mecanismos da indústria cultural no Brasil. A primeira perna do tripé diz respeito à formação autárquica das cidades proposta por Francisco de Oliveira, em “O Estado e o Urbano no Brasil”. Ao analisar o discurso do hibridismo brasileiro, este autor expõe as causas do nababesco crescimento das cidades brasileiras através de uma análise que parte da observação da relação capital-trabalho já na estrutura agro-exportadora do século XIX. A segunda perna aborda a questão da cidadania analisada historicamente, como proposto por Marshall (1967). Partindo da conquista dos direitos civis no século XVIII até seu apogeu, com o reconhecimento dos direitos sociais, no welfare state do século XX. Wanderley Guilherme Santos e José Murilo de Carvalho abordam como esse mesmo movimento vai se dar, ou melhor, não vai se dar no Brasil, tendo por conseqüência o surgimento de um modelo híbrido de cidadania. 66 Eu no Futuro. Lula Queiroga. 87 Por fim, a terceira perna discute os aspectos sócio-culturais e as opções que, na relação dominador-dominado levaram ao aumento da clivagem que afasta o Brasil 1, elitista, intelectual, cosmopolita e progressista, do Brasil 2, do trabalhador manual, da massa de mão de obra barata, excedente e excluída, segundo a leitura de Robert Pechman (1996). Porém, antes de começar este capítulo que tratará das conseqüências do desenvolvimento da indústria cultural no Brasil, levanta-se uma questão que não diz respeito à cultura brasileira, quiçá ao Brasil, e que, por enquanto, fica em aberto. Quando a comunidade latina residente nos Estados Unidos assiste pela TV a entrega do Grammy de música latina, onde são agraciados os produtores, intérpretes, músicos e compositores latinos que mais vendem discos naquele país, dá-se (na performance dos artistas em cena e no acompanhamento do telespectador em casa) um fenômeno que diz respeito de fato à cultura latino-americana? Ou cultura latino-americana seria algo que se passa a léguas do território dos Estados Unidos? Ou seria ambos? 3.1 A primeira perna: De posse dessa questão vamos começar abordando, sob a ótica de Francisco de Oliveira, a formação de um Brasil que adentra o século XX, a caminho da modernidade, produzindo uma sociedade, cuja elite quer se adequar aos novos mecanismos e modelos de mercado e produção da Europa, sem ter, contudo, se alforriado dos mecanismos e modelos praticados no século XIX. A idéia central de Oliveira, em “O Estado e o Urbano no Brasil”, é que o país reproduz em suas cidades – que despertavam para as atividades industriais, como Rio de Janeiro e São Paulo – a mesma autarquia colonial que se verificava no campo, nos latifúndios, nas grandes propriedades autônomas e auto-suficientes. Esse mecanismo de autarquização, ao mesmo 88 tempo em que acelera o inchaço das cidades, já antecipado pela “formação urbana dentro das condições da economia agroexportadora” (1982, p.38), impõe um modelo híbrido de industrialização que Oliveira vai chamar de “autarquia das cidades” (1982, p.41). A auto-suficiência da cidade em relação ao campo produzirá taxas de crescimento urbano no Brasil muito superiores às taxas de crescimento industrial. Na Europa as relações entre o campesinato e os proprietários ou entre os trabalhadores da indústria têxtil (localizada no campo) e os capitalistas vivenciaram uma complexa divisão social do trabalho que influiu diretamente não só no crescimento das cidades européias, permitindo uma distribuição da população mais homogênea entre o campo e a cidade, como também na organização dos trabalhadores. No Brasil, as relações entre os trabalhadores da indústria e o patronato partiram de um grau zero de organização da estrutura do trabalho em conseqüência, não só da escravidão, que perdurou por quase todo o século XIX, mas também do caráter patriarcal nas relações de trabalho remunerado. Quando a industrialização começa a ser o motor de expansão capitalista no Brasil, ela tem que ser simultaneamente urbana, e tem que ser fundamentalmente urbana porque não pode apoiar-se em nenhuma pretérita divisão social do trabalho no interior das unidades agrícolas [...]. A indústria no Brasil ou seria urbana ou teria muito poucas condições de nascer. Esse é, na verdade, o maior determinante do fato de que a nossa industrialização vai gerar taxas de urbanização muito acima do próprio crescimento da força de trabalho, empregada nas atividades industriais (OLIVEIRA, 1982, p.43). Este contingente acima da capacidade de absorção do mercado de trabalho urbano que ocupa a cidade como exército de mão-de-obra de reserva, constrangendo o valor do trabalho, é o que vai proporcionar, segundo Oliveira a formação de uma economia industrial e urbana no Brasil, ao longo do século XX . Na Europa, quando a economia clássica aponta, na primeira revolução industrial, que a divisão social do trabalho articula a cidade com o campo, indica a emergência de uma estrutura econômica que, contudo, não se verificará jamais no Brasil. Oliveira insiste neste ponto ao afirmar que: 89 O sociologismo vulgar olhou [o crescimento demográfico das cidades brasileiras pré-industrializadas] comparando apenas aumento da população e aumento da força de trabalho com os postos industriais criados pelo processo de industrialização, sem se dar conta de que essa industrialização exigia uma série de requerimentos que as cidades não ofereciam. Isto é, evidentemente, uma herança do padrão anterior de relações cidade-campo, que em novas situações projeta-se de outro lado: ao invés de autarquia dos campos, agora impõe-se uma autarquia das cidades, o que levou, por um lado, a que o processo de capitalização e acumulação dessa indústria tivesse que ser um processo de acumulação a taxas excepcionalmente elevadas. A indústria tinha que instalar toda uma complexa divisão social de trabalho no interior de uma unidade industrial, exigindo, portanto, graus de capitalização muito mais altos (1982, p.44). Com essa leitura de Oliveira introduz-se a idéia de que ser moderno no Brasil diz respeito a estar sintonizado com o que é urbano e industrializado67, no sentido de estar conectado aos fluxos de transferência de riquezas do mercado financeiro a partir da infraestrutura de serviços que existe nas cidades. Por oposição, ser arcaico e atrasado é pertencer ao que reproduz o modelo agrário e rural, com características autárquicas e patriarcais68. Ao contrário do cow-boy americano e do campesinato europeu, o nosso Jeca não terá do que se orgulhar. Por outro lado será a formação de um contingente de trabalhadores rurais e urbanos, em um território ainda desarticulado a nível nacional, que permitirá pensar no desafio de construir algo, com essa força de trabalho, que rompa com os valores da Belle-Époque frívola, minoritária e xenófila. Nesse período da história do Brasil articulam-se forças antagônicas que apontam para a necessidade de implantação de um Estado moderno mas, sobretudo, forte: tenentismo, burguesia industrial, classe operária, oligarquias rurais, burguesia cafeeira e trabalhadores rurais articulados em rebeliões. A Revolução de 1930 estabelece a passagem de uma ideologia higienista para uma trabalhista que organiza e controla a força do trabalhador urbano. A partir do marco de 30 destaca-se a figura de Getúlio que converge para si as forças antagônicas. 67 A burguesia cafeeira em São Paulo é um exemplo dessa industrialização dos processos de produção. O coronelismo cuja estrutura de produção conserva características autárquicas, com relações de dominação e regulação marcadas pelo poder privado e patriarcal é um exemplo desse arcaísmo rural. 68 90 É possível propor o marco de 1930 como sendo também o da gênese da industrialização nacional formada por uma classe operária de diversas nacionalidades e uma classe patronal que também está em formação, aprendendo a lidar com os instrumentos de controle da força de trabalho como, por exemplo, a formação de um exército de reserva de mão-de-obra. Politicamente será a Revolução de 30 que substituirá as oligarquias rurais por uma burguesia industrial, apoiada pelo Estado, como classe econômica mais influente nas instâncias do poder. Analisar esse fato, sem cair na esparrela da leitura comparatista do desenvolvimento do capitalismo entre países do centro e da periferia, possibilita pensar numa aproximação de modelos econômicos entre o Brasil e a Europa, no que tange a industrialização e a formação de uma modernidade nacional, ainda que híbrida ou antropofágica. Para a nossa análise, o mais importante na abordagem de Oliveira é perceber como o crescimento urbano em termos materiais e demográficos ocorre como uma forma do país e do Estado se modernizarem, burocratizando-se e especializando-se em práticas de controle e ordenamento da sociedade. 3.2 A segunda perna: A partir dessa análise de Oliveira, podemos desenhar a segunda perna do nosso tripé. A modernidade é construída, não só quase que exclusivamente sobre bases industriais urbanas mas, também, subjugada e assistida por uma forte regulamentação do Estado que nas primeiras décadas do século XX, age de forma a incentivar a clivagem social através de políticas de controle e segregação, como as reformas da Era Passos, a emulação do higienismo 91 que vinha do século XIX e a adoção de um modelo estético burguês, sintonizado ao capitalismo liberal e concorrencial praticado na Europa. Em “Cidadania, classe social e status”, Marshall propõe a consideração de uma divisão em três partes do conceito de cidadania: “chamarei essas três partes ou elementos, de civil, política e social” (1967, p.63). Em síntese, o elemento civil diz respeito aos direitos relativos à liberdade individual. O elemento político refere-se aos exercícios de representação e delegação de poderes nas esferas do legislativo e do executivo. O direito social corresponde à distribuição de bens e recursos que tem por objetivo último garantir ingresso e justiça social para todos na sociedade capitalista moderna, que é, em princípio, desigual. A conquista e a implantação desses direitos, que compõem a cidadania nos países centrais, obedeceram a um transcurso histórico que teve o século XVIII, como o das conquistas civis, o XIX, como aquele das conquistas políticas e o XX, como o das conquistas sociais. “Esses períodos, é evidente, devem ser tratados com uma elasticidade razoável, e há algum entrelaçamento, especialmente entre os dois últimos” (MARSHALL, 1967, p.66). Pode-se, então, pensar numa pirâmide de direitos que tem: 1) os direitos civis na base – a liberdade de ir e vir, pondo fim ao aprisionamento dos feudos, a liberdade de vender a força de trabalho, o que rompe com o monopólio dos artesãos, com as guildas, sobre o direito do trabalho. 2) os direitos políticos no meio – quando “a partir de 1883 adota-se uma série de medidas que têm o objetivo amplo de limitar os gastos com eleições em geral a fim de que candidatos de recursos desiguais pudessem competir em igualdade de condições” (MARSHALL, 1967, p.82). 3) os direitos sociais no topo – que dizem respeito à luta pelo fim das desigualdades, “pelo menos com relação aos elementos essenciais do bem-estar social” (MARSHALL, 1967, p.88). Os direitos sociais são incorporados ao “status da cidadania”. Cria-se “um direito universal a uma renda real que não é proporcional ao valor de mercado do reivindicador”. (MARSHALL, 1967, p.88). 92 Os direitos sociais nos países centrais são o resultado de um processo histórico marcado por conflitos, perdas e ganhos entre as forças do Estado, do Capital e do Trabalho. O direito social alcança seu estágio mais desenvolvido nesses países durante o período de vigência do Welfare State, quando, segundo Marshall, [...] o mínimo garantido foi elevado a nível tão elevado que o termo mínimo se torna um equívoco. A intenção é fazê-lo aproximar-se, tanto quanto possível, de um máximo razoável que os bens extras que (só) os ricos são capazes de comprar não serão mais do que luxos e ornamentos. O serviço oferecido, não o serviço que se compra, se torna a norma do bem-estar social (1967, p.96). Feita esta rápida análise da conquista de direitos nos países centrais, observa-se, agora, como tais categorias de direitos manifestam-se no Brasil. Segundo José Murilo de Carvalho, enquanto nas sociedades européias ocorre um longo processo de construção da cidadania69, no Brasil produz-se um híbrido entre o Estado e a sociedade que gera dependência ao reproduzir os anacronismos do patriarcalismo e, o que é pior, sem a garantia da liberdade civil e dos direitos sociais. Wanderley Guilherme Santos reconhece o híbrido brasileiro como resultado de um país cindido em dois: as instituições democráticas e sociais encontram-se restritas ao primeiro, enquanto o segundo permanece entregue ao mais completo estado de hobbesianismo, no qual o contrato, não passa de uma quimera, tal e qual as leis e os códigos institucionais. Por isso, a poliarquia70 – conceito moderno de democracia – brasileira restringe-se à pequena mancha institucional circunscrita por gigantesca cultura da dissimulação, da violência difusa e do enclausuramento individual e familiar. Aqui a avalanche regulatória do Estado não chega, ou não tem vigência e a institucionalidade é outra, muito diversa da arquitetura elaborada ao longo do primeiro governo Vargas e regulada desde então. É este híbrido que faz com que o governo governe muito, mas no vazio – um 69 Seja sob uma concepção liberal onde a ênfase se dá sobre as liberdades individuais e o Estado é posto sob controle; seja sob a ótica de um Estado burguês, como na Alemanha, onde o direito social é promovido pelo Estado e precede o direito civil. 70 “Define-se poliarquia por elevado grau de institucionalização da competição pelo poder (existência de regras claras, públicas e obedecidas) associado a extensa participação política, só limitada por razoável requisito de idade” (Santos, 1992, p.80) 93 vazio de controle demográfico, um vazio de expectativas legítimas, um vazio de respeito cívico (SANTOS, 1992, p.80). Segundo Santos, dois fatores vão deformar a idéia de uma poliarquia brasileira. Primeiro, e mais nítido, é o que diz respeito à função privada da política que se torna investimento econômico, num mercado de compra de votos e retro-alimentada por uma estrutura paternalista, onde o benefício social é travestido da idéia de pequenos favores, pequenos subornos que vão desde um saco de cimento até uma vaga no colégio, um leito de hospital, um emprego ou um serviço qualquer. O segundo decorre do fato de que devido à extensa regulação da política pela via do Estado, este se torna por um lado comprometido com os conflitos e disputas políticas e por outro (ao assumir a função de produtor de insumos para o segmento privado), torna-se alvo “da cobiça por postos percebidos como lugares privilegiados de administração das políticas públicas e com enorme repercussão na vida social”.(1992:91) Abre-se aqui precedente para um tipo de jogo político que compromete as regras do contrato, instituindo a compra de mandatos, o clientelismo e a corrupção; práticas ilícitas que privatizam71 de forma bárbara a suposta civilidade do espaço público (ou a modernidade do Estado), ao qual deveria originariamente e exclusivamente pertencer o exercício da política. O descrédito nas ações e nos espaços públicos e institucionais levaria à concepção de uma “cidadania não poliárquica – alienada eleitoralmente e refratária a políticos e a participação partidária” (1992, p.97). As funções básicas de uma poliarquia eficaz, a saber: previsão de segurança, proteção, previsibilidade e administração de justiça, não chegam a alcançar a extensão considerável do universo social brasileiro (1992, p.100). O acaso, isto é, a não reciprocidade entre contribuição e retribuição, penetra as relações de troca e convívio na sociedade. Por exemplo: o fato de um trabalhador agir de forma responsável ou eficiente, hoje, não o livra de ser despedido e atirado ao desemprego 71 Privatizam no sentido de pressionarem o poder para que o interesse privado prevaleça sobre o público. 94 amanhã. Tal fenômeno cria, então, um círculo vicioso onde a norma ineficiente gera descrença na norma, que gera a desconfiança sobre o outro (patrão, polícia, juiz), que gera um aumento da ineficiência da norma. A erosão das normas favorece a desconfiança que em breve se faz acompanhar do temor da convivência social. Os laços de solidariedade se diluem e os indivíduos voltam-se para si próprios, recusando-se ao convívio social. O privado se sobrepõe ao público (1992, p.109). Como observa o poeta Manuel Bandeira, citado por Wanderley Santos: “No Brasil é melhor que os homens da lei e da ordem, assim como os da imprensa não nos vejam” (1992, p.112). Para Santos, enquanto os dois primeiros “detêm o monopólio legal do assassinato físico, a imprensa detém o monopólio do assassinato de caráter” (1992, p.112). Relacionando essa análise com a de Francisco de Oliveira, pode-se pensar o quanto a ausência de uma ampla divisão social do trabalho, durante o período escravista e agroexportador do século XIX, deixa lacunas na construção da cidadania. Essa ausência teria levado ao amortecimento dos conflitos entre Estado, capital e trabalho, seja pela impossibilidade de se por em prática o conflito capital-trabalho, como o que se verificou nos países centrais (principalmente ao longo do século XIX), seja pelo não reconhecimento do espaço público como uma arena livre da mácula dos interesses privados. O benefício, em vez de representar uma conquista do trabalhador, é percebido como resultado de uma relação de favor que se dá, verticalmente, no bojo das relações entre o dominador (o capitalista ou o Estado patriarcal-populista), e o dominado (o trabalhador ou o excluído agraciado pelo assistencialismo que traveste de caridade o que deveria ser dever do Estado e um direito social agregado à condição cidadã). Tal percepção gera uma cidadania híbrida, onde direitos e deveres, participação e reivindicação, ação política e ação social encarnam mecanismos que, ao navegarem entre as instâncias do poder, ganham formas cada vez mais nebulosas. As conseqüências imediatas são o descrédito no contrato e o declínio do homem público que, ao privatizar suas ações e 95 interesses, devolve à sociedade as ameaças de um hobbesianismo fundado numa sociedade hostil, cujo indivíduo quando não está se prevenindo contra o outro, o ignora. Ao falar dos dois Brasis, um poliárquico institucionalizado e outro não, Santos conclui que: Existe, contudo, um outro país, embutido nesse primeiro (não se trata de uma dicotomia geográfica, nem social, mas institucional) e que, não obstante estar inscrito em nosso cotidiano, raramente as pessoas se advertem para a extensão em que vivem fraturadas entre dois sistemas (1992, p.93). Vale sublinhar que esse dualismo não diz respeito à classe, à inserção social ou ao nível cultural dos indivíduos. Sob a contingência da ocasião transita-se de um país para o outro conforme o interesse momentâneo e a necessidade do indivíduo. Podemos cruzar os sinais vermelhos, perder os verdes e sermos uns boçais conforme a urgência da necessidade cotidiana72. 3.3 A terceira perna: Aproveitando essa idéia dos dois “Brasis” onde ora se inscreve, ora não, a institucionalidade do contrato no Brasil, introduz-se, agora, a análise da terceira perna da figura que sugerimos sustentar a modernidade brasileira. Gilberto Felisberto Vasconcellos, ao analisar a crise de governabilidade instaurada entre os dois “Brasis”, observa que: Não é fácil colocar o Estado (dos interesses do Brasil 1) a serviço do Brasil 2, subcapitalizado. Todavia, governar apenas com São Paulo, o Brasil 1 afortunado, significa aumentar ainda mais o dualismo esquizofrênico entre os dois Brasis (1999, p.89). A afirmação do autor diz respeito aos dois governos de Fernando Henrique Cardoso na década de 90, mas também poderia incorporar os embates políticos travados entre Rui Barbosa, representante da modernidade urbana, e Pinheiro Machado, representante da tradição agrária ou a política café-com-leite até Washington Luís ou os planos, promovidos por Getúlio Vargas, de industrialização concentrada no sudeste. A despeito dos desequilíbrios político-econômicos, regionais e setoriais, promovidos tanto pelo Estado quanto pelos 72 Citação à música, “Podres Poderes”, do compositor Caetano Veloso. 96 mecanismos do mercado, a prática de pensar a modernidade nacional é anterior e está mais intimamente relacionada com a questão da cidade. Isto é, a questão da cidade é anterior à questão da industrialização, como elemento econômico com influência política. De fato, a indústria no Brasil só responderá com algum sinal de desenvolvimento, após a primeira guerra mundial, já na década de 192073. O que nos cabe perguntar, neste momento, é: quando as cidades se tornaram uma questão? Segundo Robert Pechman, em “O urbano fora do lugar?”, a cidade começa a emergir como um problema com o advento das políticas higienistas, ainda no século XIX. Serão os médicos-higienistas, com suas investigações sobre os agentes causadores das epidemias, nas suas suposições sobre a contaminação do meio urbano pelos miasmas, que inventarão os problemas urbanos (1996, p.332). O higienismo, enquanto saber laico, antípoda da visão caritativo-assistencial da “assistência médica religiosa” praticada na colônia, aponta para a nova ordem social. Ordem que se pretende: 1) moderna – enquanto saber científico –, 2) progressista – enquanto responsável pela defesa da reforma urbana – e 3) contemporânea – enquanto sintonizada ao paradigma estético da Belle-Époque européia. A despeito de tanta transformação, Pechman afirma que: O Rio, com seu centro renovado à la Paris, era a prova de quanto a inspiração urbanística ajudara a civilizar o país. O único problema era que o centro do Rio ficava na cidade do Rio e não em Paris e, mais que isso, ficava no Brasil e não na Europa (1996, p.334). Isso significava basicamente que o projeto de modernização, ou a idéia de “ser moderno”, transplantado da Europa por uma elite urbana e burguesa não previa em seu escopo o “ser brasileiro” e, muito menos, o “ser Brasil”, enquanto nação de contrastes e clivagens de 73 “A Guerra Mundial, entre outras, teve como conseqüência – para o Brasil, particularmente – a de funcionar como barreira protecionista, porque a indústria nacional foi compelida pelo mercado interno a produzir aquilo que antes era importado e agora não o podia ser por efeito do conflito militar. Com o mercado interno à sua mercê, livre da concorrência esmagadora do produtor externo, a indústria nacional operou grande avanço; a acumulação interna cresceu, não apenas devido ao surto industrial, mas também porque, reduzidos os investimentos estrangeiros aqui, reduzidas foram as retiradas de seus lucros. Claro que cessada a Guerra Mundial, tudo tenderia a voltar ao quadro antigo; mas aí os capitais nacionais haviam crescido, as relações capitalistas haviam se desenvolvido muito e a luta se travaria já em outro nível” (SODRÉ, 1978, p..55). 97 proporções imensuráveis. No século XIX, um país cortês, oficial e institucionalizado, conviveu com um país bárbaro e mestiço, cujas leis desmanchavam-se no ar, não por força de uma vontade revolucionária (como desejaria Marx, debruçado sobre sua escrivaninha na fria cidade de Londres) mas, pela explícita ausência dessa vontade, como Manuel Antônio de Almeida exemplarmente apresenta, deleitando-nos com “Sargento de Milícias”. No século XX, laico, racional e progressista, a justificativa de um país cindido recai sobre o fato do Brasil não ser a Europa, não ser branco, não ser cosmopolita, industrializado, refinado, letrado, higiênico. Pechman observa que a questão urbana no Brasil – os problemas urbanos – não foi abordada como na Europa, onde emerge vinculada a uma questão social. No Brasil a questão foi tratada como “problemas técnicos”, que pressupunham intervenções no equipamento da cidade, sem considerar a implantação de “uma política de reforma urbana baseada no pressuposto da necessidade de planejamento da cidade que enquadrasse seus problemas sociais derivados de uma má urbanização” (1996, p.336). Pode-se pensar nesta “má urbanização” como conseqüência de um somatório de fatores: poder público omisso, urbanização sem indústria, exclusão de um enorme contingente da população formado por negros e mestiços, crescimento populacional por conta de uma migração maciça (o crescimento da população é da ordem de 40% entre 1906 e 1920), enorme contingente de trabalhadores fragilizados por vínculos empregatícios precários, atirados ao subemprego e, às vezes, à criminalidade. Essa característica econômica de um aglomerado que não parava de crescer tanto espacialmente quanto em número de habitantes, numa cidade onde importante contingente da população fora escravo, ou filho de escravo, e que abrigava um grande número de imigrantes estrangeiros e nacionais, marcaria profundamente a vida urbana a partir do viés da provisoriedade e da oportunidade, típico das economias calcadas na especulação. Assim conviviam, num mesmo espaço urbano, operários, artesãos, trabalhadores de viração, malandros e toda uma fauna que vivia e era produzida nos poros da cidade (PECHMAN, 1996, p.337). No bojo desse crescimento, o autor identifica as raízes de um discurso antiurbano que carrega em si os ideais ruralistas que se contrapõem aos ideais urbanos. Tradição versus 98 modernidade: eis aí o paradoxo sobre o qual funda-se a sociedade brasileira do século XX. A sociedade brasileira ao mesmo tempo em que se urbaniza e caminha em direção ao “ser moderno”, de forma retrógrada, renuncia a cidade, denunciando-a como o lugar da degeneração do homem moderno que apontaria para a dissolução e o arrefecimento dos laços tradicionais e familiares do patriarcalismo agrário. Essa acusação que as vozes da tradição fazem à cidade, sob um olhar mais atento, poderia ser percebida menos como resultado de uma hipotética natureza pervertida da cidade, e mais como resultado da omissão das instâncias públicas e da implantação de políticas que, de forma mais ou menos explícita, levariam a fenômenos de exclusão e segregação da parte empobrecida da população, inviabilizando, à essa parte, o acesso aos mecanismos de reprodução social nos padrões morais da elite. Afinal como manter os bons costumes e a moral familiar em muquifos e cortiços que reproduzem a senzala e antecipam as favelas? Aos excluídos, caberia a informalidade. Fere-se um preceito básico daquilo que suscitou o advento da cidade moderna iluminista: a idéia da convivência possível entre diferentes e que diz respeito, também, à concepção de um espaço onde as oportunidades estivessem, a princípio, ao alcance de todos, tendo em vista que todos deveriam usufruir o que se convencionou chamar de direitos civis. De fato, as cidades brasileiras não são para todos, isto é, nelas não são disponibilizadas a todos as oportunidades de acesso aos recursos que garantem a reprodução e o bem-estar social. Os ideais liberais esbarram nas tradições autárquicas, quase feudais. A modernidade é interrompida quando a tradição se diz corrompida. Pechman então nos pergunta: “O urbano fora do lugar?”. Durante a maior parte do período da Primeira República74– caracterizado por esse paradoxo entre tradição e modernidade – são transpostos e incorporados (junto com a mão-deobra européia, branca e barata) ideais estéticos, as políticas de embranquecimento, e ideais 74 Que o Estado Novo convencionou chamar de República Velha. 99 políticos, o liberalismo, que são adotados pelo Estado concessionário (projetos de investimento público-privado) e, paradoxalmente, interventor, no que tange a intervenção estatal na habitação e o autoritarismo sanitário75 (os “bota-abaixo” de Pereira Passos, a campanha da vacina, o remodelamento dos centros das principais cidades, além da criação de uma cidade com ares republicanos que foi Belo Horizonte). Pode-se sugerir que a cidade serve como um instrumento de modernização do Estado, que ao modernizá-la moderniza-se a si próprio. O imigrante europeu em grande medida ocupará os postos de trabalho que poderiam ter sido destinados aos negros e mestiços que, por seu turno, são atirados às favas da exclusão ou às intempéries da estiva portuária. Os ideais aburguesados – míopes às questões sociais – aumentam o hiato que divide a sociedade entre inseridos e excluídos, ao mesmo tempo em que desperta o repúdio daqueles que representam a tradição. Muito embora, do ponto de vista da ação das elites, nem o liberal Rui Barbosa conseguiu estabelecer meios de estender o reconhecimento pleno dos direitos civis aos excluídos; nem o tradicional Pinheiro Machado, na defesa do poder descentralizado, usaria a força do caudilhismo de forma a promover a “ruptura da unidade territorial e dos controles federais que garantiam os códigos sociais mais amplos”. (GOMES, A.C., 2000, p. 496) 76 . Isto é, sob a aparência de ideais em confronto, nas instâncias superiores do poder, permaneciam como vítimas de um urbano fora do lugar, pessoas reais que compunham uma massa de desassistidos jamais alcançada, seja pela modernidade de Rui Barbosa, seja pela tradição de Pinheiro Machado. É notório o episódio no qual o então senador Pinheiro Machado presenteia o sambista João da Baiana com um pandeiro novo, já que o instrumento do músico fora confiscado pela polícia. Ou o famoso recital da primeira dama, Nair de Teffé, mulher do Presidente Hermes da Fonseca, 75 BONDUKI, Nabil G. Origens da habitação social no Brasil. São Paulo: Estação Liberdade/FAPESP, 1988, cap 1. 76 “Pinheiro, por reconhecer o risco da radical descentralização e especializar-se no trabalho de articulação de elites oligárquicas, tão imprescindíveis quanto ameaçadoras para uma política nacional; Rui por conformar seu liberalismo às condições da terra e denunciar a corrupção e a inépcia vigente no espaço público, que desejava dominante e sem vícios” (Gomes A.C., 2000, p. 496). 100 tocando o “Corta-jaca” no Palácio da República. Ou, ainda, a boa aceitação de Catulo da Paixão Cearense cujas “modinhas faziam sucesso nas reuniões lítero-musicais na casa do senador Hermenegildo de Morais e nos saraus de Mello de Moraes Filho” (VIANNA, 1995, p.45). Salvo esses casos isolados, o preconceito, a repressão e o desprezo que as elites devotam à cultura popular ou a tudo que represente coisa outra que não a estética da BelleÉpoque européia é inconteste. Porém, como observou Pechman, a crítica a essa estética urbano-europeizada da BelleÉpoque carioca ganhará mais fôlego com a semana de 22. A nova orientação é: no lugar de copiar valores e modelos estrangeiros identificados com o liberalismo republicano e que, segundo a crítica ruralista, estariam impregnados de artificialismos e desconectados da realidade do país, assumir as diferenças culturais, regionais, enfatizando as tradições, buscando reorientá-las no sentido de unificar o país, transformando o que era uma “massa amorfa de um país gigante e com costumes diferenciados, em povo” (PECHMAN, 1996, p.340). Pechman observa que os sujeitos dessa nova orientação (que aos poucos vai substituindo os ideais liberais até resultar no Estado Novo) ao preterirem a cidade ao campo, formulam o projeto da “regeneração do país mais pela questão da ordem do que pela questão da cidadania” (1996, p.342). Sendo assim, o “ser brasileiro”, isto é, o sentido de nacionalidade ou de identidade cultural, torna-se a grande questão que ocupa corações e mentes das elites do país, em detrimento dos direitos políticos, como se, uma vez resolvida a questão da identidade, naturalmente se chegasse ao amadurecimento da questão política. Substituindo a luta política pela busca de identidade cultural, intelectuais de todos os matizes participaram da elaboração das novas representações do que perceberam como político, pautadas pelas articulações possíveis entre identidade cultural e identidade nacional [...]. A negociação implícita no contrato social é substituída por uma solidariedade social vista como natural aos brasileiros, própria de sua identidade cultural e preexistente ao político, 101 fundada na bondade, cordialidade e na mistura racial (PECHMAN apud PÉCAUT77, 1996, p.342). Sobre esses três pilares – família, cordialidade e mestiçagem – constroem-se o homem social brasileiro que, uma vez pronto, daria sentido ao “ser brasileiro”. Nesta concepção, ainda que preservadas, as diferenças regionais já não representariam ameaça à unificação da nação como temiam os liberais, tendo em vista que aquelas três características seriam comuns a todos. Despolitizado e destituído de um sentido universal da cidadania e da conquista de direitos, o “ser brasileiro” abandona as mesuras do pince-nez, da sombrinha e da cartola, e adentra a tão esperada modernidade – dos anos 30 e 40 – sob os ritmos da indústria pesada, do samba exaltação e da política da boa vizinhança: “conduzida pela tripla via dos investimentos econômicos, da diplomacia e da glamourização da imagem da América Latina no cinema de Hollywood. É quando o Pato Donald vem ao Rio e conhece o Zé Carioca” (SEVCENKO, 1998, p.609). Sobre o escopo dessa transformação, flutuando pesadamente no ar, como uma impropriedade da arquitetura modernista, paira a enorme estrutura da ditadura populista de Vargas que, a um só tempo, esvazia a conquista de direitos com “bondade despótica” e, contraditoriamente, moderniza o Brasil preservando o que houve de mais arcaico e estóico nas relações de poder do país: o patriarcalismo. ....................................................................................................................................... Propomos agora um rápido balanço, um exercício de recapitulação daquilo que vem sendo construído, sob o signo de certas contradições, como o “ser moderno brasileiro”. Francisco de Oliveira ofereceu-nos a primeira perna ao propor a idéia de uma cidade autárquica que emulou em si os mesmos mecanismos de reprodução e dominação observados no campo. José Murilo de Carvalho e Wanderley Guilherme Santos forneceram a segunda perna de nossa construção ao perceberem como no Brasil a conquista dos direitos, sem 77 PÉCAUT, Daniel. Os intelectuais e a política no Brasil. RJ: Ed. Ática, 1990. 102 correspondência com nenhum dos dois modelos observados nos paises centrais, vai gerar a construção de um “cidadão”, ou “não-cidadão”, cujo reconhecimento e usufruto de direitos persistem como uma incógnita. Finalmente, Robert Pechman revela-nos a terceira perna da figura, com a análise de uma sociedade que aponta para o moderno, sem ter superado os cânones da tradição. Será sobre esse tripé, formado por elementos e forças antagônicas e contraditórias, que a sociedade brasileira receberá com gosto um novo elemento que – contando com a boa vontade de dominadores e dominados – será incumbido da formação e da unificação do nacionalismo construído sobre uma idéia comum de “Brasil” e de “ser brasileiro”. Esse elemento foi denominado nos anos 20, pelos frankfurtianos, de indústria cultural. 3.4 A televisão propõe a modernidade: Um real aí, é um real, é um real aí. Vendo pilha, bateria, fita-cassete, biscoito, paçoca, doce-de-abóbora, doce-de-coco, rádio-relógio, despertador do sono, não vendo é sonho, mas pode pedir, se não tenho, sei quem terá. Vendo pano pra cortina, vendo verso, vendo rima, carta pro rapaz e carta pra menina, eu vendo provas de amores. Por minha poesia e fantasia, quanto vai pagar? Com quantos reais se faz uma realidade? É preciso muito sonho prá viver numa cidade, grande jogo de cintura, entre estar esperto e ser honesto, há um resto que não é pouca bobagem.78 (Pedro Luís e Rodrigo Maranhão) Não nos propomos aqui fazer uma resenha histórica do desenvolvimento da indústria cultural no Brasil, porém, visamos o reconhecimento de como a indústria vai ganhando, pari passu, importância na construção de uma identidade cultural única para todo o território nacional. Começando de forma tímida, nos anos 20, através das metálicas vozes dos aparelhos de rádio apelidados carinhosamente de “capelinha”, a indústria cultural transforma-se no maior fenômeno de massa da cultura brasileira, a partir da televisão. Com seu poder de galvanizar e solapar linguagens e culturas, poder de unificação e persuasão que se expande à 78 Rap do real. Pedro Luís e Rodrigo Maranhão. 103 quase totalidade do território nacional entre as décadas de 70 e 80, a televisão cumpre a orientação, pós-República Velha, de construir a identidade nacional brasileira. Do “capelinha” à Rede Globo atravessa-se quase um século de transformações tecnológicas, cujas implicações político-sociais trataremos a partir de agora. Como foi dito, há uma mudança nas diretrizes da política brasileira a partir da década de 20. O propósito de construir o “ser brasileiro”, a identidade nacional, passa a nortear as ações políticas. Tal propósito coincide com a chegada do rádio que, emitindo sua voz a partir dos grandes centros, principalmente Rio e São Paulo, torna-se, nos anos 30, 40, 50, mais que a grande vedete nacional, a maior ferramenta de propaganda do governo, no sentido de persuadir, inculcar e re-educar a população segundo a ideologia do Estado Novo. Por trás das cantoras da Radio Nacional e da Radio Excelsior, do sucesso de Carmem Miranda e dos discursos inflamados de Getúlio existiam, como bem disse Vasconcellos, reinventando o Barão de Itararé “coisas a mais além das coisas a mais que dividiam o céu com os aviões de carreira”. Getúlio é o primeiro governante a desenvolver um departamento como o D.I.P. que, a um só tempo, funcionou como agência de propaganda e órgão de censura. Vieira percebe que, de modo geral, há uma relação bastante próxima entre autoritarismo e informação: A sobrevivência do Estado autoritário, cuja existência vai além dos projetos de liberalização política, ou seja, a permanência das relações autoritárias no Estado formalmente liberalizado (ou democratizado) muito depende da capacidade do grupo dominante de estabelecer e, depois, manter, fazer perdurar seu controle ideológico sobre a sociedade [...] mediante a manipulação dos mais diversos instrumentos, em particular os meios de comunicação de massa (VIEIRA, 1983, p.51). Como na base do poder perdura uma zona de conflito ideológico, segundo o autor, os meios de comunicação refletem uma aparente pluralidade de opiniões, que não passa de uma heterogeneidade restrita aos que ascendem aos mecanismos do poder. Os meios de comunicação de massas, malgrado seu inequívoco papel de instrumento de imposição ideológica a serviço do grupo dominante, representam também uma área de conflito, o que explica o cuidado e as 104 atenções que sempre mereceram do Estado burocrático-autoritário (VIEIRA, 1983, p.51). Vasconcellos, em “As ruínas do pós-real”, afirma que a democracia política experimentada na década de 1980 só foi “permitida” após 20 anos de catequese diária da Rede Globo ensinando ao povo brasileiro como “ser brasileiro moderno” através da persuasão a novos hábitos de consumo, da “shoppinização” das práticas de sociabilidade e da despolitização dos espaços públicos que foram esvaziados e perderam significados à medida que foram enriquecidos os espaços midiáticos. O autor comenta que: É preciso tomar cuidado para não considerar a história como resultado do embate de idéias, sem levar em conta o condicionante midiático da TV através do qual a política é feita a partir das últimas décadas (1999, p.23). Sobre a articulação entre a construção de nosso paradigma de modernidade e o desenvolvimento da Indústria Cultural no Brasil, cabe observar que, segundo Vasconcellos: Em 1970, seis anos depois do golpe de 64, a sociedade brasileira já estava completamente unificada pelo monopólio da TV em conexão com o poder central. É nessa TV que se encontra o paradigma de desenvolvimento rumo ao sonhado primeiro mundo (1999, p.25). O autor propõe que o modelo de modernidade para o qual o país deveria rumar foi desenvolvido no espaço midiático e aprovado pela população, sem questionamentos, através de uma ação invasora e persuasiva dos hábitos e espaços da cotidianidade. A idéia de um cidadão que consome, substituindo um cidadão que reivindica, soa bastante agradável ao regime militar que, sob o risco de se tornar anacrônico, vê-se obrigado a democratizar suas estruturas políticas até extinguir-se ao longo da década de 1980. A partir da abertura política, a televisão torna-se o aparelho que, dispondo do tempo livre das pessoas, apazigua ânimos, persuade e cria interesses através do fomento ao consumo privado. Cidadão passa a ser aquele que tem acesso ao consumo privado: consumo de plano de saúde, consumo de escola particular, consumo de transporte privado, consumo de segurança privada, consumo privado 105 de elementos que deveriam estar localizados no que Marshall havia denominado de bem-estar social, isto é, o serviço oferecido que se opõe ao serviço que se compra. O Brasil na tela da televisão é menos pobre e menos desigual que o Brasil de carne e pedra. Isto é, os personagens pobres das telenovelas são mais cidadãos do que o cidadão de carne e osso. Por consumir mais, ter mais acesso ao convívio com os ricos e mais mobilidade social, o pobre midiático da tele-novela é o exemplo de pobre que o pobre real tem para seguir. Diz uma velha piada russa que o capitalismo é um regime no qual pode-se pedir um bife pelo telefone e recebê-lo pela televisão. O pobre brasileiro consome a imagem de quase tudo o que já ouviu falar: carro do ano, dente bonito, perfume francês, curso de inglês no exterior, plano de saúde, Torre Eiffel, Disneylândia, cassino em Punta del Este, Club Med na Bahia, festas de celebridades, restaurantes da moda, mundo da moda, cartões de crédito internacional, produtos de rejuvenescimento, cirurgia plástica, produtos de emagrecimento, DVD, computador, TV digital, câmera digital, alimentação balanceada com produtos orgânicos, “personal trainer”, academia de ginástica computadorizada. Para não falar do dilúvio de marcas e grifes que catapultam o preço das mercadorias na mesma proporção que se tornam, enquanto grifes, objetos de desejo: Adidas, Givenchy, Paloma Picasso, Honda, Nike, Físico & Forma, Amil, Unibanco, Varig. A distância entre as coisas com grife e as genéricas determinariam, em última análise, a diferença entre quem é cidadão-consumidor legítimo e quem é cidadão consumidor de segunda categoria. Pode-se argumentar que a hierarquização dos homens não é invenção nem exclusividade dos brasileiros. Porém, uma sociedade que atinge níveis de desigualdade e exclusão sociais cada vez maiores, ocupando no ranking mundial posição comparável a de países com dinamismo econômico muito inferior, sugere a reflexão do quão penosa e frustrante vai se tornando a vida do consumidor pobre à medida que percebe o aumento do leque de consumo midiático, difundido em generosas proporções na TV, frente à inércia ou ao declínio de seu consumo material. 106 O consumidor de segunda categoria encontra-se submetido a um exercício masoquista, ao assistir o casal da telenovela travando jogos erótico-palatáveis, lambuzando-se de sorvete com grife e, como se não bastasse, acrescentando ao diálogo que este sorvete é muito melhor que aquele outro sorvete sem atrativos do pote de um litro. É desnecessário acrescentar que, para as possibilidades de consumo da maioria dos brasileiros aquele produto fetichizado é inacessível, o que não impede que sua imagem seja democraticamente consumida por esta mesma maioria. A idéia de inacessibilidade do pobre ao consumo, às vezes, torna-se uma armadilha às análises. Ela diz respeito a um padrão de consumo racional que, na prática das relações cotidianas de troca, fundamentada na livre escolha do indivíduo, muitas vezes não ocorre. Esse consumo racional não ocorre quando a prática do consumo está atrelada à idéia de ascensão à categoria de cidadão superior, legítimo, que consome produtos com grife. Numa sociedade na qual elementos garantidores de reprodução social – moradia, saúde, renda, educação – encontram-se cada vez mais atrelados à prática do consumo individual, pode-se pensar não ser tão irracional a opção de consumir produtos que reforcem a sensação de pertencimento ao status quo proposto pela figura de cidadão-consumidor legítimo, mesmo que isso implique em sacrifícios na qualidade de vida principalmente para o consumidor pobre. Essa prática, e é bom que isso fique claro, é tanto dos ricos quanto dos pobres, tendo em vista que todos, igualmente, percebem aquilo que confere o “selo” de cidadania ao cidadão, como elemento da prática do consumo privado, daí todos compartilharem da mesma crença ou necessidade de consumir produtos que nos qualifiquem como consumidores ou cidadãos de primeira categoria. Sobre esses produtos que reforçam a sensação de pertencimento a uma categoria privilegiada de cidadãos vale citar os resultados de uma pesquisa realizada para a TV-Roc79 79 A TvRoc, em parceria com o Observatório de Favelas e a Viva Rio, pesquisou sobre um universo de 2.500 pessoas na Rocinha, fazendo perguntas abertas, sem opções de resposta. A pesquisa foi feita através de 107 na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro. Segundo a pesquisa, 58% dos 200 mil moradores consomem sabão em pó da marca Omo; 53,6% consomem café Pilão e 69,04% consomem açúcar União; 97% têm aparelhos de televisão, dentre os quais 30,25% da marca Gradiente e 29,05% da marca Sony. De posse desses dados, podemos pensar na possibilidade da existência de um mesmo e único padrão de consumo persuadindo ricos e pobres, talvez porque a questão da cidadania, traduzida em consumo privado, seja igualmente percebida por todos, independentemente da classe social. Aliás, segundo estudo da FGV, feito com base nos microdados do Censo de 2000 do IBGE, 22% dos moradores da favela da Rocinha ganham até 79 reais, localizando-se assim abaixo da linha da pobreza. Porém, a renda média individual é de R$ 433 mensais. Considerando-se que a renda média nacional gira um pouco acima dos R$ 700 reais podemos concluir que a Rocinha não estaria entre as concentrações urbanas mais pobres do país, o que, aliás, justificaria o padrão de consumo observado anteriormente. É claro, que no Brasil, há um enorme contingente populacional que não consume produtos de primeira categoria, e não é nosso intento tentar provar o contrário. Segundo dados do IPEA, o Brasil tem 56,9 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha de pobreza e 24,7 milhões em situação de extrema pobreza. É claro que, para este contingente que representa quase metade da população brasileira, a solução é contentar-se com o consumo imagético dos produtos de primeira categoria apregoados na televisão e consumir as mercadorias de segundo escalão, o genérico, o “pirata”, o falsificado, o contrabandeado, a cópia80. Independentemente da marca, um produto que não falta nos lares brasileiros, superando o telefone, é a televisão. No Brasil, mais de 90% dos domicílios possuem pelo entrevistadores. O objetivo era conhecer melhor o perfil sócio econômico do usuário de TV paga das classes “C”, “D” e “E”. A TvRoc atinge a 30.000 casas e para sua instalação foram despendidos investimentos que ultrapassaram 3 milhões de dólares. A TvRoc transmite a programação de cerca de 28 canais que vão desde canais comunitários até canais internacionais como CNN, Discovery, Rai, Warner etc. www.tvroc.com.br. 80 Márcio Domingues, vice-presidente da Associação Brasileira de Licenciamento, calcula que as falsificações comprometam entre 30% e 35% do faturamento dos fabricantes oficiais de mercadorias, com um faturamento de R$ 2,4 bilhões. Segundo a Associação Protetora dos Direitos Intelectuais Fonográficos (APDIF), 40% dos CDs vendidos no País são falsos. Cristina Lara, gerente de marketing da Mattel, estima que 25% do mercado brasileiro de brinquedos sejam de produtos falsificados. (depoimentos e dados referentes aos anos de 2001 e 2002). 108 menos um aparelho de televisão e, como podemos ver através da tabela 281, a enorme penetração da televisão só diminui nos domicílios da classe “E”, cuja reprodução é indiferente à lógica de formação do cidadão consumidor de mercadoria imagética. Pode-se afirmar que se há um aspecto do consumo que não foi afetado (pelas ora péssimas ora inexistentes políticas de distribuição de renda no país) é o que diz respeito ao consumo imagético praticado através da televisão. A TV, como já afirmamos, foi e ainda é a principal ferramenta na construção do “ser moderno brasileiro”. Se durante a ditadura a TV82 prestou-se ao papel de ferramenta de unificação nacional e construção dos ideais patrióticos e ufanistas do Estado militar, é a partir de um processo paralelo de catequização, orientado pelo padrão de consumo das elites83, que se dá o avanço da ideologia liberal, onde o mercado e o consumo atravessam a quase totalidade das formas de sociabilidade. Sucumbindo às relações de troca, consumo e reciprocidade monetária que se ungem no desejo pelas mercadorias com grife, o brasileiro, a partir da abertura política, vota, consecutivamente, em dois produtos midiáticos: o “caçador de marajás, super herói das Alagoas” e o “professor-sociólogo poliglota da intelectualidade paulista”. Descontado o ano de 1993, quando uma parcela das classes “B” e “C” pôde visitar os paraísos artificiais de Orlando e Miami, o que foi consumido de imagem desmaterializada, o que foi consumido de bifes e hambúrgueres entregues pela televisão, é de grandeza 81 Tabela 1, página 123. A estreita relação entre a televisão e o Estado fica exemplificada no caso protagonizado pela TV Globo e o Governo Militar. “Marinho havia conseguido concessões para montar a TV Globo, mas não tinha dinheiro nem tecnologia, para tirá-la do papel. Entre 1962 e 1966, o Time-Life cedeu técnicos e injetou cerca de 4 milhões de dólares em valores da época, sem conhecimento dos órgãos reguladores. Ao vir a público, o acordo virou um escândalo e levou à criação em 1966, de uma Comissão parlamentar de Inquérito no Congresso e estimulou a edição da lei que proibiu a participação de estrangeiros em empresas de mídia. A CPI pediu a cassação da concessão da TV Globo, só que o regime militar intercedeu em favor de Marinho. O negócio com a Time-Life teve de ser desfeito, mas àquela altura a emissora brasileira já havia absorvido o capital e, principalmente, a tecnologia que a colocaria anos-luz à frente da concorrência. Depois da lei nenhum outro grupo de comunicação conseguiu arranjar parceria semelhante”. (Revista Carta Capital, 26/01/2005. Ano XI, n° 326). 83 Que facilmente pode ser confundido, não por acaso, com aquilo que se denomina de “Padrão Globo de Qualidade”. 82 109 incalculável. Calculável, mesmo, é o número médio de 3 a 4 horas diárias que o brasileiro, há vinte anos, passa em frente ao aparelho de TV. Assim, vai-se tecendo o novo brasileiro e a nova função da televisão: ontem, porta-voz do modelo de unificação; hoje, porta-voz do modelo de consumo. Nas palavras de Vasconcellos, em “O Príncipe da Moeda”, a idéia do Brasil Novo é... [...] ingressar na modernidade de Primeiro Mundo e competir no mercado internacional. Esta ilusão neo-etapista é formulada com base na Rede Globo: a TV do primeiro mundo é, ideologicamente, antiterceiro mundo” (1997, p.110). Do escândalo da Proconsult em 1982 ao “Lulinha, paz e amor” de 2002, ao longo desses vinte anos de democracia política, a transformação do povo em telespectador orienta o debate político positivado na super valorização da imagem e da performance dos sujeitos políticos no espaço midiático, em detrimento do conteúdo dos discursos e da performance nos espaços públicos. Vasconcellos afirma que a TV Globo, ao difundir um padrão imagético de primeiro mundo sobre um território de terceiro, cria um fenômeno de “periferização por dentro” (1997, p.33). Periferização por dentro diz respeito ao processo no qual um conjunto de forças heterogêneas – capital privado, o poder público e a população – somam-se para produzir uma empresa como a Rede Globo que aponta para as singularidades do país e as chama de periféricas. Trata-se de adotar um único projeto, modelo ou sentido de modernidade que, em última instância, impede a percepção de singularidades, forjando sotaques, vestindo a camisa do Flamengo nas crianças do alto Xingu, calçando tênis Nike nos pés de toda a juventude, envergonhando e sacrificando os que mediante tal padrão percebem-se periféricos ou excluídos. A partir do postulado da periferização por dentro, estamos devidamente instrumentalizados para buscar responder à questão levantada no começo do capítulo, relativa a cultura vídeo-musical produzida nos Estados-Unidos para consumo da comunidade latina daquele país. Em comum com a nossa periferização por dentro, a cultura latina nos Estados 110 Unidos é fruto da busca de um sentido de modernidade que ultrapassa a relevância do pertencimento a um território, limitada a ordem da fronteira cultural explicitamente nacional. Em outras palavras, a busca da modernidade teria superado a busca da identidade explicitamente territorial. A necessidade de “ser moderno”, obedecendo ao único modelo de modernidade captado pela percepção ocidental de evolução histórica “etapizada”, está na base de fenômenos tão distantes – todavia tão próximos – como o Grammy da música latina ou a eletrificação da música sertaneja. O caminho percorrido do charango de Cuzco à cantora Cristina Aguilera de Miami é o mesmo da viola de coxo a Sandy e Junior. Se, viajando do Peru aos Estados Unidos ou do Brasil 2 para o Brasil 1, chega-se ao mesmo lugar. Assim, pode-se imaginar o quanto a identidade territorial, no que tange à busca da modernidade, pode se tornar secundária. O “ser moderno” tornar-se-ia, sob os constrangimentos da indústria cultural, único, seja para um músico andarilho peruano, seja para uma cantora adolescente americana. Ambos tem em mente o mesmo Grammy latino como paradigma de sucesso. 111 Tabela 1 Levantamento Sócio-econômico Metropolitano 2000 Televisor / Domicílio Posse de Televisores – Por Classe Social Critério econômico - Brasil Total Classe A Classe B Classe C Classe D Classe E 50% 2% 17% 52% 81% 55% 30% 20% 45% 40% 12% 2% 15% 62% 36% 7% 1% 0% 2% 16% 2% 0% 0% 0% 4% 0% 0% 1% 6% 43% 1 2 3a4 5 ou mais Não tem tv População (em 13236 1000) 792 3010 4797 4047 590 População: total de domicílios da área pesquisada.Projeção - março/2000 (em mil domicílios). Tamanho da amostra: 27928 domicílios.Fonte: IBOPE Obs: Tabela sobre comentário na página 119. Ver nota n° 81. Situação da TV Aberta no Brasil em 2002: 6 redes, 360 Canais, 335 Canais Comercializados 41 milhões de domicílios com TV Penetração: 98% Cobertura geográfica: Globo - 100% SBT - 97% Band - 87% Rede TV! - 80% Record - 77% Audiência média: Das 07 às 12h - Globo 52% / SBT 31% / Outras 17% Das 12 às 18h - Globo 57% / SBT 20% / Outras 23% Das 18 às 24h - Globo 63% / SBT 20% / Outras 17% (Fonte: Mídia Dados 2002) Obs: Sobre esses números é importante lembrar que nos Estados Unidos há uma legislação, aprovada em 1975, que impede um mesmo grupo de ser proprietário de canais de televisão que atinjam mais do que 35% da audiência nacional. Essa mesma legislação limita o número de estações de rádio que um proprietário pode ter num mesmo mercado e que um mesmo grupo seja proprietário de canais de TV e jornais numa mesma praça. Esse controle tem por função restringir a ação oligopólica de grupos majoritários sobre a comunicação. Segundo Fernão Lara Mesquita, em “O perigo da concentração da mídia” (artigo publicado, O Estado de São Paulo, 16/01/2005), Bush, através de um jogo de subsídios, está tentando derrubar essa lei. 112 Capítulo 4: A criação autoral frente à lógica da indústria cultural Entrei por um lado saí pelo outro a cantar E quem quiser que invente outro lugar O meu paraíso lugar mais perfeito não há Faço do Borel a Shangri-lá84. 4.1 A construção do sujeito autoral: práticas, territórios e alteridades. Ao fim do capítulo anterior que analisa a modernidade no Brasil sob a influência da televisão chega-se a um impasse: a falta de uma perspectiva que nos revele a coesão social, sem constranger as múltiplas identidades regionais e territoriais. O que fazer? Parodiar o artista plástico Antônio Veronese85 e mudar-se para a idílica região da Provence na companhia de um excelente Bordeaux, do violino de Yehudi Menuhin, de uma coletânea de Borges e de nenhum ser humano num raio de 10 quilômetros? A princípio, tenhamos em mente que a análise do capítulo anterior responde a um enfoque sobre o local, a cidade, centro das decisões, em busca da concretização de um nacional, através das políticas de integração e modernização, ao mesmo tempo em que este é catapultado ao encontro do global, as relações político-econômicas do país com os países centrais. Tenhamos em mente, também, que escalas macro são amplamente favoráveis à percepção do hegemônico, do solapante, em detrimento do singular, de ação local. Ao trocar a escala nacional pela dimensão urbana, buscar-se-á, nesse capítulo, analisar a cidade pelo que pode ser pensado como não hegemônico ou, em última instância, pelo que não está em concordância absoluta com a lógica do espetáculo guy-debordiano. O objetivo é entender como que a cidade, conseqüência da experiência urbana, é “inventada” por uma infinidade de discursos. No desejo de construir a cidade em palavras, os discursos podem 84 Samba-enredo da Unidos da Tijuca, carnaval de 2005. Jorge Remédio, Sérgio Alan, Valtinho Júnior Depoimento de Antonio Veronese ao programa de TV, “A verdade de...”, apresentado por Fernando Pamplona na TVE. 25/04/2004. 85 113 somar-se, contradizer-se, reconhecer-se ou sequer ser percebidos como discursos de um mesmo significante: a cidade. Retoma-se o caminho de construção do sujeito-autoral86, iniciado no capítulo dois, identificando o sujeito da ação como o autor que, através de sua arte, expõe as práticas, de esvaziamento e despolitização do conflito urbano, promovidas pelos meios de comunicação de massa. O sujeito-autoral confecciona um tecido simbólico que adere ao espaço vivido, construindo narrativas que buscam interromper o esvaziamento do espaço público, ao mesmo tempo em que se caracteriza como alternativa à leitura que a indústria cultural faz da cidade. Literatura, cinema, fotografia, pintura, música e artes em geral prestam-se como representações do espaço urbano e como vozes que questionam a leitura racionalizante, convergente e mercadológica da indústria cultural. Duas dificuldades mais visíveis se apresentam: a primeira diz respeito ao desenvolvimento de uma classificação que distinga os infinitos discursos autorais, dos discursos da indústria cultural. A outra, complementar à primeira, trata da identificação dos porta-vozes, os autores desses discursos e em que medida esses discursos dividem sua autoria com uma multidão de vozes, ora respondendo ao discurso na simultaneidade que a contemporaneidade impõe, ora somando-se, como circunstanciais ao passado e à memória afetiva do autor. O discurso traduz as cenas desta cidade do presente e daquela cidade do passado, circunscritas ao mesmo espaço em diferentes temporalidades. Pensando no Rio de Janeiro, mas propondo o mesmo raciocínio para qualquer cidade moderna com vestígios nítidos de passado impressos no presente, a temporalidade dos discursos, numa cidade como essa, parece boiar sobre o plasma de metal e pedra, flutuando acima das análises e sínteses estritamente materiais. Como escreveu Caetano Veloso sobre 86 Utiliza-se o termo autoral para sugerir que a prática autoral é da natureza da categoria de sujeito. Essa prática não configura, obrigatoriamente, a necessidade de se classificar o sujeito como um autor, visto que autor remete às idéias de função, de especialização e de criação individual que não produz, necessariamente, interferência no espaço público. Prática autoral diz respeito a uma categoria de autor que produz representações que objetivam interferir no espaço público. 114 Salvador: “O melhor o tempo esconde, longe, muito longe, mas bem dentro, aqui, quando o bonde dava a volta ali”. O compositor encerra a canção afirmando: “Meu trabalho é te traduzir87”. Ler, traduzir, abarrotar de cognitivos o significante, a cidade. O que se pretende demonstrar é que, ao transferir a análise, de uma escala global, ou mesmo nacional, para a do espaço urbano, certas heterogeneidades saltariam aos olhos. A percepção do processo de representação dos espaços, quando reduzida à singularidade da pessoa, torna-se necessariamente porosa aos múltiplos discursos – inclusive aos da indústria cultural – que se somam, se contradizem ou se ignoram. Por trás de cada discurso autoral existe um sujeito autoral cuja manifestação pode plasmar a carne na pedra da cidade sennettiana88 ou propor o rompimento das estruturas, ora enxergando a cidade como sina, como castigo, ora reconhecendo-a como o espaço que melhor responde aos descompassos do desejo do ser moderno. Porém, seja na condição do bardo hedonista ou do arauto pressagiador, o sujeito autoral do espaço urbano, em suas criações, discursos, leituras e traduções, carece de uma classificação que, pelo menos, o distinga da indústria cultural, enquanto produtor de representações. Segundo Albert Levy, a “cena mediática” vem pari passo substituindo a “cena pública”, na medida em que transforma as representações em espetáculo, criando afastamentos e separações entre o visto e o vivido (LEVY, 1996, p.65). Manifesta-se uma sociabilidade fria marcada pelo consenso silencioso e pela conseqüente crise do espaço público que se torna ou o espaço da passividade, da não percepção, do registro condicionado e ágrafo das leis e sinais de trânsito ou o espaço caracterizado pela imposição das regras de conduta do espaço privado sobre o espaço público, refratário à teatralidade, às mesuras, às mediações e ao diálogo. Segundo Sennett, em “O declínio do homem público”, ao usar o 87 “Trilhos urbanos”. Caetano Veloso No livro “Carne e Pedra” de Richard Sennett, a metáfora da carne diz respeito aos habitantes que se percebem acolhidos ou não pela cidade e a da pedra às construções que tornam a cidade acolhedora ou não aos seus habitantes. (SENNETT, 2003). 88 115 espaço público, o homem moderno ou seria evasivo, por precaução e insegurança, ou seria egocêntrico, ao perceber uma situação propícia à exibição de sua personalidade. Sob essa ordem, o espaço público tornou-se inóspito às trocas de experiências e ao diálogo, assim como às práticas inspiradas no sentido de pertencimento, apoiadas na valorização da memória afetiva, na manutenção das manifestações culturais locais e no exercício político e cidadão. Sobre a importância da vida cotidiana, como esfera real, reproduzindo-se nos espaços cotidianos, que necessita ser controlada e dominada segundo os interesses de classe, Debord afirma que: A vida quotidiana é a medida de todas as coisas: do cumprimento ou melhor do descumprimento das relações humanas, do uso do tempo vivido, da busca da arte, da política revolucionária (DEBORD, 1961, p.3). Apesar disso, segundo o autor, o estudo da vida cotidiana é, em geral, encarado como algo de menor valor. Debord propõe que essa desvalorização do cotidiano não seria um fato acidental. A vida quotidiana não criticada implica o prolongamento das formas atuais, profundamente degradadas, da cultura e da política, cuja crise extremamente avançada se traduz em uma despolitização e em um neo-analfabetismo generalizado. Não obstante, se dirá: como podem existir pessoas que desprezem tão completa e imediatamente esta vida quotidiana, mesmo quando essas pessoas não são nada hostis a qualquer renovação do movimento revolucionário? Creio que isso é devido ao fato de que a vida quotidiana está organizada dentro dos limites de uma pobreza escandalosa. A pobreza da vida quotidiana não tem nada de acidental. É uma pobreza imposta, em cada instante, pela força e a violência de uma sociedade dividida em classes. Uma pobreza historicamente organizada de acordo com as necessidades históricas da exploração. O uso da vida quotidiana, no sentido de um consumo do tempo vivido está condenado pelo reino da carência de tempo livre e carência dos possíveis usos deste tempo livre. Assim como a história de nossa época é a história da acumulação da industrialização, também o atraso da vida quotidiana, sua tendência ao imobilismo, são os produtos das leis e interesses que presidiram essa industrialização A pobreza extrema da organização consciente, da criatividade das pessoas na vida quotidiana, traduz a necessidade fundamental da inconsciência e da mistificação em uma sociedade exploradora, em uma sociedade de alienação (DEBORD, 1961, p 4). 116 A alienação – fruto de um descompasso entre a vida cotidiana e a percepção do processo histórico no qual se insere a vida – sugere a existência de um controle, de cima para baixo, das práticas, dos sentidos e dos usos do espaço\tempo cotidiano. Esse controle diz respeito às técnicas e especializações dos usos e práticas que tornam o espaço cotidiano um espaço menor. Debord afirma que: A vida quotidiana, mistificada por todos os meios e controlada policialmente, é uma espécie de reserva para os bons selvagens que, sem sabê-lo, fazem marchar a sociedade moderna no compasso do rápido crescimento dos poderes técnicos e da expansão forçada de seu mercado. [...] A sociedade moderna está constituída por fragmentos especializados, mais ou menos intransmissíveis, e a vida quotidiana, de onde se corre o risco de estabelecer todas as questões de uma maneira unitária, é por isso mesmo o domínio da ignorância. [...] Através de sua produção industrial, esta sociedade usurpou todo o sentido dos gestos do trabalho (DEBORD, 1961, p.5). Ainda sobre o controle classista segundo os interesses do capital, a transformação do cidadão em consumidor – atomizado pelo consumo privado do espetáculo – levaria à desvalorização (despolitização) do espaço cotidiano, tanto pela repetição do gesto autômato quanto pela repetição do produto midiatizado que abarrota o espaço\tempo cotidiano privando-o do elemento criativo. Esta sociedade tende a atomizar as pessoas, convertendo-as em consumidores isolados, e a impedir toda comunicação. A vida quotidiana se converte em vida privada, domínio da separação e do espetáculo. Por conseguinte, o subdesenvolvimento da vida quotidiana não pode se caracterizar somente a respeito da sua relativa incapacidade de integrar algumas técnicas. Este traço é um produto importante, mas ainda parcial, do conjunto da alienação quotidiana que se poderia definir como a incapacidade de inventar uma técnica de libertação do quotidiano. De fato, existem muitas técnicas que modificam mais ou menos nitidamente certos aspectos da vida quotidiana: as artes domésticas, o telefone, a televisão, a gravação musical em discos, as viagens aéreas populares, etc. Estes elementos intervêm anarquicamente, ao acaso, sem que ninguém preveja nem suas conexões nem suas conseqüências. Este movimento, que introduz certas técnicas no interior da vida quotidiana, marcado em última instância pela racionalidade do capitalismo moderno burocratizado, adquire mais precisamente o sentido de uma limitação da independência e da criatividade das pessoas. Assim, as novas cidades de nossos dias demonstram claramente a tendência totalitária que caracteriza a organização da vida pelo capitalismo moderno: nelas os indivíduos isolados (isolados geralmente na estrutura da célula familiar) contemplam como se reduz sua vida à pura trivialidade do repetitivo, diante 117 da absorção obrigatória de um espetáculo igualmente repetitivo (DEBORD, 1961, p.5). Retomando a desvalorização da vida cotidiana, frente ao potencial revolucionário estocado em seu âmago, o autor desvenda porque para a classe dominante é imprescindível impor a ideologia da especialização das práticas, da racionalidade do consumo e do uso funcional dos espaços na cidade moderna, como moderadores e apaziguadores do possível conflito cuja liberdade de se manifestar residiria no poder do cotidiano desvelado: Devemos acreditar, por conseguinte, que a censura que as pessoas exercem sobre as questões relativas a sua própria vida quotidiana se explica pela consciência de sua insustentável miséria e, ao mesmo tempo, pela sensação, talvez inconfessa, mas inevitavelmente experimentada qualquer dia, de que todas as possibilidades verdadeiras, todos os desejos bloqueados pelo funcionamento da vida social, residiam precisamente nela e de nenhum modo nas atividades ou distrações especializadas. Nestas condições, mascarar a questão política que estabelece a miséria da vida quotidiana significa mascarar a profundeza das reivindicações da riqueza possível desta vida; reivindicações que não levariam a nada menos que a reinventar a revolução. (DEBORD, 1961, p.5). Para o autor, o potencial revolucionário do cotidiano diz respeito a cada sujeito questionar-se sobre o que verdadeiramente trás satisfação. Esse exercício de autocrítica levaria à uma politização da desvalorização que determinados meios técnicos (selecionados segundo as necessidades da dominação) impõem à vida cotidiana, privando-a do prazer da consciência autoral que existe, ainda que latente, encapsulada, em todo sujeito. Efetivamente, tudo depende do nível em que se coloca o seguinte problema: como se vive? Como alguém se satisfaz ou não se satisfaz? E isso, sem se deixar influenciar nem por um único instante pelos diversos anúncios que pretendem nos persuadir de que se pode ser feliz graças à existência de Deus, do dentifrício Colgate ou do C.N.R.S. (Conselho Nacional de Pesquisa Científica). Considero que o termo: ‘crítica da vida quotidiana’, também poderia ou deveria ser entendido com a seguinte inversão: a crítica que a vida quotidiana exercerá soberanamente a tudo o que lhe é exterior. O problema do emprego dos meios técnicos, tanto na vida quotidiana como fora dela, não é nada mais do que um problema político (entre todos os meios técnicos utilizáveis, só se pôs em prática aqueles que foram selecionados conforme o objetivo de conservar o domínio de uma classe). Pergunta-se, a vida privada está privada de que? Muito simples: da vida, a vida está cruelmente ausente. O indivíduo está privado de comunicação, até os limites do possível, e da realização de si mesmo. Deveria-se dizer: privado de fazer pessoalmente sua própria história. As hipóteses que pretendem responder positivamente à questão sobre a natureza da privação 118 não poderiam ser enunciadas, por conseguinte, senão sob a forma de projetos de enriquecimento; projeto de outro estilo de vida. Ou melhor, para se considerar que a vida quotidiana se encontra nos limites entre o setor dominado e o setor não-dominado da vida, ou seja, no lugar do aleatório, será preciso chegar a substituir o gueto atual por alguns limites constantemente móveis; trabalhar permanentemente na organização de novas possibilidades (DEBORD, 1961, p.5).89 Sobre o controle ideológico da vida cotidiana, analisa-se uma matéria de jornal, buscando destacar a forma como as práticas e os espaços cotidianos são tratados. Em entrevista ao Jornal do Brasil90, o sambista e escritor Nei Lopes afirma que com a shoppinização da Zona Norte “as identidades estão se perdendo”. Segundo o depoimento de Lopes, o subúrbio sustentou fundamentos preciosos da cultura do samba, da religiosidade africana, e dos hábitos de convivência que notabilizaram o estilo de vida carioca. “Acabaram os belos valores da suburbanice carioca, virou tudo um shopping-pop”. Lopes lembra do dia em que “entrou num ônibus, na Tijuca, e ganhou logo um pedaço de bolo. Os passageiros comemoravam o aniversário do trocador”. A matéria, buscando um tom conciliador (a contrapartida da ruptura das práticas sociais provocada pelas novas condições que o capital impõe sobre o espaço), afirma que o subúrbio transformou-se para melhor: os barracos das favelas já não são mais de madeira e zinco, a Praia de Ramos ganhou o “piscinão”, a Vila da Penha teve uma valorização imobiliária sem precedentes, a prefeitura substituiu os campos de terra batida por quadras de grama sintética, o comércio de rua encolheu em benefício do conforto do shopping, despejados pelas igrejas evangélicas, os cinemas foram para dentro do shopping, com segurança, ar refrigerado e estacionamento e a classe média freqüenta academias de ginástica como a Club Hum no Méier. 89 DEBORD, Guy. “Perspectivas da transformação consciente da vida quotidiana”. Esta exposição foi apresentada em 17 de maio de 1961 em fita magnética diante do Grupo de Investigações sobre a vida cotidiana. Org. LEFEBRVE, Henri. Centre d'études sociologiques del C.N.R.S.. Publicado no número 6 de Internacionale Situationiste (agosto-1961). Tradução para o espanhol de Eduardo de Subrats - publicada no caderno: Textos situacionistas sobre arte e urbanismo (anagrama, 1973) e na internet pelo Archivo Situacionista Hispano. Traduzido do espanhol. Sitio: www.geocities.com/autonomiabvr/princpl.html. Busca em : biblioteca virtual revolucionária. 90 Jornal do Brasil, Revista de Domingo, n° 1.331/ 4 de novembro de 2001. 119 Uma das lojas do Carioca Shopping vibra tanto com as novidades emergentes que se intitula Ares da Barra. [...] Se na Zona Sul a Fórum veste as patricinhas, na Zona Norte não dá outra: funkeiro veste Karapa”. (Sobre isso a matéria analisa que) “restou pouco do folclore – e isso não é um julgamento de valor – é apenas uma constatação. Não se cultua mais a emoção de ver Vilma sambar, mas as pepônias siliconadas da rainha da bateria. (pg.21) O shopping acabou com o comércio de bairro a ponto da família do Romário vender o botequim na Vila da Penha. (Em compensação) as famílias trocaram o frisson nojento dos ratos passando entre as pernas no Jardim do Méier pelo frisson geladinho da praça de alimentação dos novos templos de consumo, como o recentíssimo Carioca Shopping de Vicente de Carvalho (JORNAL DO BRASIL, Revista de Domingo, 2001, p.18). A matéria alerta para o choque cultural ao descobrir que o “Carioca Shopping tem agenda de shows gratuitos, mas sem samba no meio, pois segundo sua administração: quer qualificar a freqüência”. Desconsiderando a superficialidade atávica à informação nos veículos de massa, a matéria tenta achar um tom conciliador entre a perda de identidade e as transformações91 ao mesmo tempo em que credita às argumentações de Lopes os ares apocalípticos das teorias conspiratórias92. Ao leitor, há muito conformado com as rupturas e as histórias inconclusas da mídia, resta virar a página e ler a matéria seguinte elogiando a iniciativa das filhas dos socialites que cometem o “disparate” de trabalhar como vendedoras em butiques famosas dos shoppings da Zona Sul carioca. Vale a pena encerrar a análise da matéria com o depoimento do gerente de marketing do Carioca Shopping: Eu percebo que as pessoas estão usando o shopping como uma extensão de suas casas, para conversas que antes se faziam nas praças ou nos portões. De certo modo nós ocupamos um espaço de serviços abandonado pelo setor público (JORNAL DO BRASIL, Revista de Domingo, 2001, P.18). 91 “Na Vila da Penha o passado e a novidade andam abraçadinhos na muvuca da Fórmula Sport Beer. [...] Velhos e novos habitantes vão se conhecendo. E assim como a tradicional Tia Doca já arma o pagode da Velha Guarda da Portela no luxuoso palco do Olimpio, busca-se a definição de um subúrbio de futuro pouco nítido ainda”. 92 “Estou sempre de pé atrás contra isso tudo que vem de fora. Primeiro acabam com a língua impondo uma que a gente nem sabe bem qual é. Depois botam a mesma música para o mundo todo. Finalmente acabam com a moral e os bons costumes, com o respeito de filho para pai e tudo mais. E aí, quando está tudo como o diabo gosta vem uma tropa de mariners pra tomar conta. [...] O estigma sobre o subúrbio vem do abandono do poder público que nega infra-estrutura aos moradores”. 120 Francisco Ortega defende que a privatização da política e dos espaços públicos só pode ser combatida a partir de um re-posicionamento do sujeito, de uma mudança de atitude no nível das relações individuais. O medo ao diferente, aberto, indeterminado, contingente e desconhecido, leva-nos, sem dúvida, a procurar analogias, formas de adaptação e tradução em imagens próximas, que nas descrições de relações pessoais são as da gramática da família. Isso revela uma pobreza inimaginativa, nossa incapacidade de jogar, experimentar e brincar com o novo, o imprevisível e o aberto. [...] Nada diz que não possamos renovar nosso arsenal metafórico, procurar novas formas de nos descrevermos e imaginarmos. Lutar por um novo direito relacional, no sentido dado por Foucault, que não limite nem prescreva a quantidade e forma das relações possíveis, mas que fomente sua proliferação. Sem dúvida uma nova política da amizade deve apontar nessa direção (ORTEGA, 2002, p.124). Sobre a espoliação do sentido de amizade ou relacionamento, apresenta-se um exemplo de como a indústria cultural procura ocupar e substituir os espaços propícios às experiências de troca e formação de vínculos de amizade, através de representações de consumo que se espelham e reforçam o limite do modelo familiar privado, como colocado por Ortega. Numa propaganda do Banco Santander Banespa, vê-se na primeira página, em primeiro plano a imagem de uma mãe abraçada pela filha. Na página ao lado há uma folha de cheque onde está escrito: “Maria Angélica M. Sampaio, amiga desde 1982”. Abaixo, lê-se o seguinte texto: Todo mundo sabe como é um bom relacionamento. É aquele que é para a vida toda, todos os dias. Como o relacionamento que o Banespa tem com os seus clientes. Oferecendo as mais variadas opções de investimentos, poupança, planos de previdência e o atendimento mais completo. Venha construir você também um relacionamento com o Banespa. BANESPA E VOCÊ, UMA RELAÇÃO DE CONFIANÇA. 93 O ambiente que esgarça os laços da troca de experiências entre sujeitos no espaço público, o faz simultaneamente à valorização da cena privada sobre a cena pública ou do espaço midiático sobre o espaço cotidiano. Essa lógica revela muito da diluição dos referenciais de próximo e distante que fazem perceber um atentado à bomba na Europa, como 93 Revista Caras edição 589 – ano 12 – n° 7 – 18/2/2005. 121 sendo algo tão pertinente ao cotidiano de um cidadão carioca, quanto o alarmante índice de violência ou de desigualdade social, verificados tanto pelos números dos institutos, quanto pelo número de indigentes que se vê diariamente nas ruas, sob as marquises e os viadutos. A respeito desse avanço da representação midiática e distante sobre o espaço cotidiano e próximo vale citar o crescimento da rede americana CNN, inaugurada em 1980. Essa rede é fundada com o objetivo de transmitir noticiários via satélite, 24 horas por dia, para diversos países do mundo. Isso, na prática, significou oferecer imagens de fatos distantes e de forma ininterrupta para indivíduos que passaram a ocupar de forma mais sistemática o seu cotidiano como telespectadores desse tipo específico de fato. Abaixo, seguem os números da CNN. A CNN em 1980 tinha 1,7 milhão de assinantes e 225 empregados, hoje opera como uma das maiores e mais lucrativas companhias de notícias e informação do mundo, acessível em mais de 150 milhões de lares em 212 países, com cerca de 4.000 funcionários e mais de 800 afiliadas espalhadas pelo mundo todo. A CNN hoje não é mais só um canal. Além da CNN norteamericana, a rede é composta pela CNN International, a CNN Financial, a CNN Headline News, a CNN Sports Ilustrated, a CNN en Español e as parcerias internacionais CNN Plus (Espanha), CNN Turk (Turquia) e NTV (Alemanha).O grupo inclui ainda duas cadeias de rádio e 12 sites na Internet, que tiveram, em 1999, 6,7 bilhões de ‘page views’ (páginas visitadas). A rede, nesses 20 anos, destaca algumas performances, como a transmissão ao vivo do bombardeio de Bagdá (Iraque), durante a operação Tempestade no Deserto, em 91, na Guerra do Golfo, das imagens da queda do Muro de Berlim, em 1989 e da explosão do ônibus espacial Challenger, em 1986 (FOLHA DE SÃO PAULO, 01 junho,2000, p.25). Sobre a CNN, Laymert Garcia dos Santos, aponta as razões da emissora ter crescido, não por acaso, durante a Guerra do Golfo que representou o clímax do poder das imagens. Segundo o autor, entre as guerras do Vietnã e do Golfo, os militares americanos aprenderam uma lição que diz respeito ao poder das imagens. As imagens precisavam ser controladas porque elas também representam um campo de batalha, do qual o poderio bélico americano saiu vergonhosamente derrotado no Vietnã. 122 Convencidas de que o Vietnã não poderia se repetir, e que portanto a guerra não poderia aparecer como ela é na mídia mundial, as forças armadas americanas conseguiram solucionar com incrível sucesso um problema aparentemente insolúvel. A questão era: como tornar a não-cobertura da guerra a maior das coberturas? (SANTOS, 1993, p.159). O autor apresenta como a estratégia das forças armadas americanas dividiu-se em três etapas: O primeiro passo foi fazer com que o complexo industrial militar produzisse um enorme material de propaganda de guerra que pudesse passar por informação sobre a alta tecnologia do armamento e dos planos estratégicos do comando aliado. Muito do que se viu durante o conflito nas telas não passava de software gerado para manter a guerra no ar e, conseqüentemente, o telespectador sintonizado, sem, entretanto fornecer-lhe imagens reais do conflito (SANTOS, 1993, p.159). Comparar as situações vividas pelos personagens do filme “Three kings94” com as imagens assépticas da CNN, é um bom exercício do quanto a realidade da guerra pode ser mais bem percebida através da ficção de um filme. O passo seguinte foi bloquear completamente o trabalho dos jornalistas e correspondentes, assegurando para as forças armadas americanas o monopólio da difusão e produção da informação. Ouçamos o que diz Marcel Trillar, editor da rede de TV francesa, Antenne 2: ‘No campo, os americanos tinham preparado bem a coisa, implantado um duplo dispositivo , militar e midiático. No campo, o black-out era total. Não tínhamos nenhum acesso às fontes de informação. Em contrapartida, da exclusividade da qual dispunha, a cadeia americana CNN estava à disposição. Seus jornalistas faziam o que os mandavam fazer. Para os jornalistas estrangeiros como eu, não estava prevista outra função senão traduzir em francês a fala militar que transitava pelos pools americanos’. [...] Os jornalistas do mundo inteiro que haviam se precipitado para cobrir a Guerra do Golfo não contavam com esse confisco, não haviam tirado, como os militares, as lições dos conflitos anteriores.Os jornalistas ainda acreditavam na divisão do trabalho, ainda acreditavam que os militares fazem a guerra e que os profissionais de imprensa cobrem os acontecimentos. Os jornalistas ainda não sabiam que os militares já consideravam a cobertura um ato de guerra (SANTOS, 1993, p.159). O autor conclui afirmando que: 94 O filme narra a história de três soldados americanos que, logo após a rendição de Saddhan Russein, envolvemse numa tentativa quixotesca de salvar um grupo de refugiados do exército iraquiano e do próprio exército americano. As situações de desinformação, desorganização e improvisos, lembram o que se produziu no cinema como discurso crítico à guerra do Vietnã: “Apocalipse Now”, “Platoon” e “Nascido à 4 de Julho”. A imprensa, desinformada e perdida, está também caracterizada no filme.Título em português: “Três reis”. 123 O terceiro passo, importantíssimo, que tornou a não-cobertura da guerra a maior das coberturas foi apostar tudo na instantaneidade da transmissão ao vivo, que nos dá sempre a impressão de realidade. A guerra high-tech, a guerra eletrônica, veloz, fulminante, deveria acontecer imediatamente na televisão. Nenhuma distância no espaço, nenhum intervalo no tempo deveriam se interpor entre o telespectador, confortavelmente instalado em casa, e Bagdá, Dahram, Jerusalém, Riad, Tel Aviv... e aqui, os fluxos de imagens da CNN que vão se atropelando e se substituindo no vídeo, engata diretamente na descarga da ansiedade que faz de todos nós os voyeurs do destino dos outros e do nosso próprio destino.[...] Tudo se passa como se os jornalistas tivessem se alistado numa guerra que agora se desenrola em quatro frentes: três tradicionais – terra, mar e ar – e mais a frente das ondas eletromagnéticas. O campo de propagação da ondas hertzianas se torna também um campo de batalha.[...] Ora, se o teatro de operações engloba também a retaguarda, então, necessariamente, os telespectadores imóveis mas mobilizados também têm um papel militar a cumprir, os telespectadores também se tornam soldados antes do drama.[...] O papel do telespectador, papel patriótico, é informar-se, é fechar-se em casa e apoiar os militares assistindo ao que eles condescendem em mostrar, acreditando na sua miseen-scène, concordando com ela; é submeter-se de bom grado à varredura que os militares operam diariamente em escala mundial; é atender à convocação e dar uma força, ficando ligado; é aceitar tornar-se alvo dos flashes informativos disparados pelos militares, acolher a irradiação que eles emitem, aprovar a intensidade e a freqüência com que somos por eles alvejados. O papel do telespectador é entrar na mira da televisão, arma eletrônica (SANTOS, 1993, p.159). Retornando à análise do sujeito, podemos estabelecer que a primeira distinção entre o sujeito autoral – que cria a partir da troca de experiências e do diálogo – e a indústria cultural – que enxerga os indivíduos sob a condição de massa – diz respeito aos referenciais de próximo e distante. Enquanto o sujeito autoral necessita da proximidade, no mínimo emocional, com o significante, o segundo tem por diretriz, por prática, uma abordagem galvanizadora de singularidades, valorizando elementos tais como a adoção de uma linguagem universal (que muitas vezes resulta em vocabulário limitado e sem atrativos 95), a 95 Da literatura de cordel vale citar esse trecho de rico vocabulário intitulado Vozes de 137 animais como um contra-exemplo do que não é comunicação de massa. “Gralha e garça grasnando/ ouvi pantera rugindo/ também o pato grasnindo/ guará e lobo uivando/ gambá e lontra chiando/ o curiango piar/ ouvi doninha guinchar/ também o tigre rugir/ ouvi o peru garrir/ e a graúna trinar”. Autor: Raimundo Santa helena. 124 aparente imparcialidade (já que se produz para que todos a vejam), a impessoalidade (visto que em detrimento da marca da autoria, valoriza a marca do veículo 96) e a qualidade técnica. A segunda diferença que se estabelece entre o sujeito autoral e a indústria cultural, diz respeito à relação entre produção e participação dos elementos envolvidos no processo de representação do significante. Na indústria cultural, a participação confunde-se com a prática do consumo. Para a indústria cultural o apelo à participação é o artífice da persuasão ao consumo. Esse simulacro de participação ocorre de forma distanciada e subjugada à inflexibilidade dos limites técnicos, temporais e ideológicos da indústria cultural. Não há participação, mesmo porque, a mensagem já vem explicada e pasteurizada para o entendimento da massa. Para o sujeito autoral é fundamental que ocorra a participação efetiva do receptor na construção de sua representação que, por ser singular, não universal, é, propositalmente, incompleta, para que seja completada através da troca e do diálogo. A lacuna na obra autoral é o respiro da inspiração do autor que abre espaço para que a preenchamos com nossa imaginação. O cineasta Win Wenders em depoimento ao documentário, “Janela da Alma97”, afirma que: Se num livro a imaginação completa a palavra, nos antigos filmes de faroeste de John Ford, os longos planos do deserto permitiam ao expectador projetar sua imaginação para dentro do filme a ponto do espectador perceber-se ali, vagando naquele deserto. Hoje os filmes são fechados. O que você vê é o que você tem, não há tempo nem espaço para projetar a imaginação ali. Não há incompletudes. A falta de incompletudes é característica de todos os meios da indústria cultural, em particular, a TV, com sua lógica ininterrupta de emissão de imagens que, entre si, não respondem a nenhum contexto compartilhado a não ser o do consumo. No mesmo documentário, Wenders afirma que: 96 Não é raro observar que determinado artista, apresentador ou programa descaracteriza-se para se adaptar ao novo veículo. Exemplos não faltam: Serginho Groissman (mudou-se da TV Bandeirantes para a Rede Globo), Jô Soares (mudou-se do SBT para a Rede Globo), Fausto Silva (mudou-se da CNT para a Rede Globo), os grupos Casseta Popular do Rio de Janeiro e Planeta Diário de São Paulo (abandonaram suas publicações pelo programa “Casseta & Planeta” na Rede Globo). Em todos esses exemplos a descaracterização sofrida pelos sujeitos para adaptarem-se à estética do veículo é indiscutível. 97 Janela da Alma. Dir. João Jardim e Walter Carvalho, 2002. 125 A maioria das imagens que vemos estão fora de contexto, não tentam nos dizer algo, mas nos vender algo. Porém, há uma necessidade básica no homem, de que as coisas tenham um significado. Somos como uma criança que ao se deitar precisa ouvir uma história. Não tanto pelo que a história diz, mas o próprio ato de escutar uma história cria segurança e conforto. Mesmo quando adultos, amamos o conforto e a segurança criada pelas histórias. A estrutura da história cria um sentido. E nossa vida, em geral, carece de sentido. A terceira distinção entre o sujeito autoral e a indústria cultural diz respeito à maneira de relacionar-se com a rua. A percepção do espaço público como o espaço cidadão é a percepção que caracteriza a prática de criação do sujeito autoral. A rua é o palco da politização do indivíduo, lugar do diálogo e do dissenso que instiga o debate democrático, inspirando inúmeros olhares e escrituras. Por outro lado, sob a ótica da indústria cultural... [...] a rua é a forma alternativa e subversiva de todos os mass-media porque ela não é, como estes, suporte objetivado de mensagens sem resposta, rede de trânsito à distância, ela é o espaço aberto de troca simbólica da palavra, efêmera e mortal, palavra que não se reflete no écran platônico dos media (MELO apud BAUDRILLARD, 1988, p.15898). 4.2 A rua encapsulada pelos limites técnicos e ideológicos da indústria cultural. A rua, na análise de Melo, é “o palco privilegiado de uma ação simbólica” (1988, p.157). Os acontecimentos que se dão ali têm por características a “inscrição direta”, a cumplicidade com o “local” e com a “expressão imediata” a revelia de filtros ou qualquer outro meio externo e artificial que, por sua transparência, se faça passar por realidade. Assim, segundo a autora: As lutas sociais mediatizadas pela informação tendem a se desintegrar. A transgressão que passa pelos media adquire instantaneamente o comprimento de onda deles, metamorfoseando-se em modelos e signos, o que, em última instância, implica o esvaziamento de seu conteúdo revolucionário (1988, p.155). 98 Baudrillard, Jean. Para uma crítica da economia política do signo. Trad. Aníbal Alves, Lisboa, Ed. 70. 1981. p. 226. 126 Porém, esse esvaziamento tanto para Baudrillard quanto para Guy Debord, se dá de forma mais pungente no plano dos sentidos. Os sentidos, como que amortecidos pela velocidade e quantidade de imagens e sons ininterruptos, já não reagem. O indivíduo perde iniciativa principalmente no que diz respeito a protagonizar práticas políticas, visto que os veículos de massa têm a função explícita de controle persuasivo e educativo, primeiramente sobre o espaço privado da família, que, a seu turno, impõe sua condição sobre os espaços públicos. Baudrillard observa que “le suspense et le ralenti sont notre forme actuelle de tragique, depuis que l’accélération est devenue notre condition banale”. 99 (MELO apud BAUDRILLARD, 1988, p.187100) Essa velocidade (ou nova temporalidade) imposta pela mídia é o maior desafio à democratização da comunicação, diante de um conjunto complexo de novas tecnologias que se impõem para além da compreensão da maioria das pessoas que as consomem. Sobre essa falta de compreensão, Sevcenko observa que a tecnologia elevou o mundo a outro patamar: [...] não se pode romantizar a idéia de voltar para patamares anteriores, isso é irreversível. No entanto, isso não quer dizer que esse patamar terá de ser aquilo que as condições tecnológicas, pela sua própria lógica intrínseca, nos imponham. Para que assim não seja, é necessário compreender a sua história, compreender a estrutura dessa nova articulação, desse novo contexto econômico-tecnológico. Assim será possível criticar os seus limites e, simultaneamente, aproveitar os seus potenciais, a fim de pensar e formular alternativas a ele (SEVCENKO, 2002, p.44). Porém, enquanto a revolução tecnológica acelera a níveis inimagináveis, caracterizando a “Lei de Moore”, onde a cada dezoito meses multiplicam-se os componentes dos circuitos integrados tornando-os cada vez mais densos101. O espaço midiático não só 99 A interrupção e o retardamento são nossa forma atual do trágico, desde que a aceleração se tornou nossa condição normal. 100 Baudrillard. Les stratégies fatales: le cristal se venge. Paris: Grasset, 1983. 101 Sevcenko afirma que entre 1975 e 2002 “passamos por algo como dez revoluções tecnológicas sucessivas”. (2002, p.39). Sobre esse ciclo de transformações tecnológicas, vale citar as “nanotecnologias” que, no lugar do silício, trabalham com cadeias de carbono que possibilitam criar chips ainda menores e armazenar uma quantidade ainda maior de informação. 127 torna-se cada vez mais auto-referenciado, como passa a servir de referência a outros espaços – privados ou públicos – primeiro para a sociabilidade familiar e, a posteriori, para a que se dá na rua, com suas práticas e trocas cotidianas de experiências. A propaganda, o telejornal, o debate de candidatos e a novela criam mundos completos e complexos. Mundos que possuem sua própria temporalidade e territorialidade e que não correspondem necessariamente, ou melhor, independem da temporalidade e da territorialidade vivenciada pelo indivíduo. Muniz Sodré, em “A máquina de Narciso”, afirma que: No Brasil, como alhures, o discurso televisivo permeia, saturando, todo o espaço que cria: nada pode ser deixado vazio por essa ordem geradora de simulacros. A imagem enreda o olhar numa aparência de objetividade, de ausência de falhas, de capacidade de abranger todo o sentido possível: o vídeo é o espelho de um mundo em desvanecimento, mas simulado segundo as regras inexoráveis de uma produção monopolista que pretende demonstrar a onipotência da técnica e de um Estado que se dispõe a gerir tecnoburocraticamente o espaço social. E todo espelho, sabe-se, é poderosamente sedutor, seja ao olho do lúmpen do Morro da Mangueira, seja ao olho culturalmente armado dos donos do asfalto urbano (SODRÉ, 1994, p. 136). O morro e o asfalto estão, igualmente, subjugados e seduzidos pelo espelho da mídia. O espaço urbano é pari passu substituído pelo espaço do espetáculo. Como exemplo desse processo, Sevcenko descreve uma propaganda nos Estados Unidos na qual uma garotinha entediada ganha dos pais um programa de computador que lhe possibilitaria conhecer todas as maravilhas do mundo. Porém, para o autor, ocorreria exatamente o oposto... [...] porque se ela quisesse ver imagens das pirâmides do Egito, bastaria caminhar pelas ruas do bairro até a biblioteca mais próxima. No caminho, ela poderia conhecer aspectos da cidade, encontrar pessoas, ver o guarda, o jornaleiro, o florista, os varredores de rua, outras crianças, jardins, cachorros, borboletas, passarinhos; se fosse a uma biblioteca pública, é possível que encontrasse outras crianças, muitas provavelmente filhas de imigrantes, quem sabe até um filho de imigrante egípcio. E ela conheceria um egípcio de uma maneira muito mais viva, rica e criativa. Quem sabe até poderia vir a se casar com um egípcio. Mas o que o software lhe proporcionaria era exatamente o oposto (2002, p.43). O autor pergunta porque os pais seriam cúmplices de uma indústria que limita os horizontes de sua filha. Porque... 128 [...] a rua é perigosa, é imprevisível, cheia de estranhos, gente de outras culturas e tudo isso é imensamente perigoso, ameaçador e transformador. Se você quer garantir que aquela criatura vá ser exatamente o que você quer que ela seja é preciso que você a tranque, que a retenha e que incuta nela um conjunto único de valores (2002, p.44). Mais uma vez, fica claro porque a rua é o espaço antagônico aos interesses de monopólio e controle das representações que caracterizam a indústria cultural. Quando, no início desse capítulo, afirmamos que analisar os processos de representação/comunicação na escala urbana, substituindo a escala nacional ou global, resultaria noutro universo de questões, foi pensando em situações de diálogo e de reconhecimento do outro no espaço público. O mesmo diálogo e reconhecimento do outro que é negado à menina na propaganda. Sobre os sujeitos autores e suas práticas, sugerimos pensá-los como porta-vozes que tecem suas criações, seus discursos e propostas, a partir da matéria prima da rua. Os sujeitos autores seriam aqueles que na forma e conteúdo de suas representações estimulam a menina da propaganda a sair de casa, conhecer a rua, as pessoas e os bichos, no lugar de siderar-se na frente de uma tela. Quando o Deus cristão saiu definitivamente do cenário das decisões políticas, pelos idos do espírito hegeliano e da razão kantiana, para que os homens finalmente aprendessem uns com os outros, é certo que não havia menção a nenhuma interface de cristais líquidos, muitos menos a uma caixa de catodos catequizadores de desejos. Se o esforço de toda transformação moderna resultou na TV, desconstruindo a história, esvaziando os espaços públicos e despolitizando o indivíduo, talvez, tivesse sido melhor ter deixado Deus onde estava. Pelo menos, o Deus cristão, como alteridade à razão, era mais facilmente percebível do que o espetáculo como alteridade ao sujeito autoral. Para contrapor vozes a vozes, a invenção da rua contra a rigidez do simulacro, será preciso refletir ainda que minimamente sobre como funciona e a que mecanismo responde, aquilo que vemos na televisão. Nesse sentido Sevcenko afirma que o 129 [...] vácuo moral que nós sentimos hoje não é necessariamente uma ausência de valores é uma substituição de valores, com os quais historicamente a nossa civilização se sentia representada, por valores postos por uma nova ordem tecnológica, sobre os quais ainda não houve um processo críticoreflexivo a fim de que se possa compreender a escala das conseqüências que seu impacto terá tanto no sentido das transformações futuras quanto no das heranças mal resolvidas do passado (2002, p.42). A questão é que, em se tratando da rua ou da cidade, o olhar da indústria cultural responde às necessidades de reprodução da “nova ordem tecnológica”, de que nos fala Sevcenko, e que vem a ser a mesma “ordem” que substitui a “janela para o mundo” pelo “Windows 2000”. O fato é que, por mais que cresçam em número e diversifiquem sua programação em temáticas específicas, os canais de televisão102, ao apresentarem suas imagens do extraordinário das ruas das cidades, do Rio de Janeiro ou de Bombaim, emolduradas pelos limites técnicos e ideológicos do meio, deveriam frustrar as expectativas dos indivíduos, produzindo um desinteresse crescente. No entanto o efeito é oposto. Essa última frase foi colocada assim de supetão, propositalmente, para que, passo a passo, possamos dissecá-la. Os valores ou limites de ordem técnica dizem respeito à “nova ordem tecnológica”, na qual, aquilo que agrega mais tecnologia é necessariamente melhor. Seguindo essa lógica, a TV que emite a imagem com melhor qualidade técnica seria necessariamente a que produz os melhores conteúdos, a mais responsável ao lidar com o fato, a mais sensível ao lidar com o problema. Em nome dessa crença, vultosos investimentos são feitos numa corrida sem fim pela aquisição de novas tecnologias que tornam as anteriores obsoletas e vulneráveis à desconfiança dos telespectadores, quanto as mensagens por elas veiculadas. Na TV, qualidade técnica e conteúdo se confundem. Essa transformação é de tal ordem que um operador de ilha de edição de dez anos atrás não saberia atualmente qual 102 Cita-se a TV porque este tipo de veículo ainda é o que, em nossos dias, melhor reproduz o ethos monopolizador da indústria cultural. Ainda que a Internet e o computador venham conquistando espaço na cotidianidade dos indivíduos, sua capacidade de inserção exige uma série de pré-condições técnicas e de formação que limitam seu poder galvanizador e monopolizador como produtor de representações. Esses limites dizem respeito à educação média, familiaridade com a língua inglesa, familiaridade com os comandos e recursos do computador e da Internet, acesso a uma conexão eficiente e de custo razoável, acesso ou aquisição do próprio computador. 130 comando executar para simplesmente assistir às imagens no monitor. O paradoxo que se segue diz respeito à crença que articula, sem questionamentos, a qualidade técnica e a qualidade de conteúdo. Para impor-se ou mesmo acompanhar o padrão de tecnologia de ponta no mercado da indústria cultural são necessários vultosos investimentos. Para levantar o capital necessário a tais investimentos é preciso atender as expectativas dos grandes anunciantes que, por sua vez, respondem aos interesses do mercado e do capital. Considerando-se que o público espectador é formado, em sua maior parte, por trabalhadores e não pelos proprietários dos meios de produção de capital, conclui-se que, ao arcar com os custos de um padrão tecnológico de ponta, a empresa de comunicação compromete-se com os interesses daqueles que a financiam, seja como fornecedor, acionista, anunciante ou concessor do direito de transmissão. Chega-se então ao limite de ordem ideológica que emana os valores correspondentes ao funcionamento do mercado e da saudável circulação de capital que nem sempre coincidem com a idéia de produzir o melhor conteúdo ou com uma atitude de responsabilidade e sensibilidade diante dos fatos do cotidiano. A ordem temporal do espaço midiático diz respeito a uma temporalidade anti-histórica que sacrifica o passado e o futuro em favor de um prolongamento ininterrupto do presente. Tal temporalidade corresponde a uma dimensão de valores tanto ideológicos quanto técnicos. A TV é ininterrupta porque, ao ser assim, responde de forma mais eficiente à lógica da acumulação – afinal se ela vende tempo, materializa melhor que nenhum outro elemento a lógica capitalista do “tempo é dinheiro”. Ao ser ininterrupta, a TV responde de forma mais eficiente à ordem do simulacro, que objetiva substituir a rua, posto que, se a vida é ininterrupta, o simulacro assim o deve ser. O espelho, que serve tal ao lúmpen do morro da Mangueira, qual aos donos do asfalto urbano, necessita refletir e seduzir seus espectadores de forma ininterrupta. A TV, ao servir a todos, persuadindo todos a adotarem um modelo familiar privado que se impõe sobre uma ordem pública e política, contribui à desqualificação 131 do argumento da luta de classes, assim como à alienação da percepção das relações de dominação interclassistas. Num sentido filosófico estrito Marx estava certo quando afirmou que homem é equivalente a burguês, porque a pessoa humana individual, cujos deveres e obrigações [...] são exclusivamente com sua família, é precisamente o burguês (HELLER, 1998, p.80). Pode-se afirmar que nenhum outro mecanismo da modernidade tirou melhor proveito da morte do homem público, como percebida por Marx, do que a indústria cultural – caracterizada por produzir seduções imagéticas que se tornaram o significante do desejo de todas as classes sociais. Diante da socialização do consumo de imagens, cumpre-se a antípoda do idílio marxista. Uma revolução às avessas em que seremos todos iguais esta noite como milhões de pequenos, médios e grandes burgueses, assistindo a mesma novela das oito horas. A temporalidade do ininterrupto e insaciável desejo que plasma o “ser” e o “ter” numa mesma lógica, que responde ao ser/ter burguês, é a temporalidade que conecta a Mangueira aos donos do asfalto, fazendo crer que ali, assistindo à “novela das oito”, seremos todos iguais como consumidores de imagem. Não há passado de injustiças, nem futuro de esperanças. Há o presente ininterrupto de imagens que desfilam noticiários, propagandas, novelas, propagandas, futebol, propagandas, filmes de Hollywood, propagandas, programas de auditório, propagandas, programas políticos, propagandas, reality shows, propagandas, programas de entrevistas, propagandas, seriados, propagandas. A temporalidade de um presente contínuo e estendido, por ser imanente à própria estrutura da TV, frustra a necessidade de sentido que apela ao desejo de segurança, negando ao espectador escutar uma história que lhe traga conforto no fim. Ao fim da narrativa com início, meio e fim poder-se-ia relaxar, como a criança que dorme depois de escutar uma história, ou retornar ao cotidiano vivido, com a certeza de que a vida responde a uma ordem temporal. A TV subverte essa demanda com seu tempo sem tempo e suas sucessivas histórias, que se emendam umas às 132 outras sem ordem narrativa, sem fim, entrecortadas de propaganda, merchandising e imagens que vendem. Mesmo frustrado, permanece-se frente à TV. O motivo talvez tenha sua melhor explicação, pelo menos no que tange a realidade da sociedade brasileira, na substituição da condição de cidadão pela de consumidor que reparte a “massa” em dois grandes grupos: os consumidores de produtos de grifes, apregoados nos “horários nobres” da TV, e os consumidores de produtos genéricos e falsificados, simulacros das grifes para cidadãos de segunda categoria. A sensação de pertencer a um seleto grupo consumidor seria o que agrega 80 milhões de brasileiros assistindo à “novela das oito”, ainda que a sua contrapartida seja frustrar o sentido de sentido, que a falta de uma boa narrativa deixa suspenso no ar. 4.3 A personificação do sujeito autoral: a cumplicidade com a cidade pública. Uma vez percebido o mecanismo de representação dos media da indústria cultural e suas lacunas, no que tange às nossas expectativas de sentido narrativo, é hora de analisar como e porque a representação do sujeito autoral, da criação autoral, pode ser proposta como antípoda da indústria cultural. Por agora, podemos afirmar que a voz do sujeito autoral que se debate contra a ação tentacular e solapante da indústria cultural sobre o espaço da cidade é a que repensa e nos faz repensar a cidade que nos cerca. Porém, como a questão da cidade precede, e muito, a da indústria cultural, propomos um percurso que entendemos ser pertinente à construção e percepção do sujeito autoral. Através de alguns exemplos de leitura das transformações que as cidades do século XIX sofreram, propomos a construção do sujeito autoral, plasmado no escritor oitocentista, com o auxílio da literatura moderna que traduz em impressões as transformações das cidades. Vamos a eles. 133 Goethe, no ano de 1787, quando as cidades ainda caminhavam em direção à modernidade baudelaireana das multidões, deixaria a seguinte impressão de Nápoles: Caminhar confundido na tanta heterogeneidade em constante movimento é uma experiência saudável e peculiar. Tudo parece mergulhado numa grande corrente, onde cada um procura o seu próprio objetivo. No meio de tantas pessoas e tamanha excitação, sinto-me cheio de paz, sozinho, pela primeira vez. Quanto mais alto o burburinho das ruas, mais quieto eu me torno (SENNETT apud GOETHE, 1997, p.228103). Lendo essa passagem, é impossível não lembrar do conto “O homem das multidões” de Poe, cujo protagonista necessita da presença da multidão para sentir-se vivo. Lembremos ainda da passagem do halo atirado ao macadame que cobre de lama as ruas da Paris de Baudelaire, em “A perda do Halo”. Baudelaire propõe com o gesto a dessacralização do poeta urbano que, em nossa construção, corresponderia à gênese do sujeito autoral. Berman afirma que... [...] Baudelaire deseja obras de arte que brotem do meio do tráfego, de sua energia anárquica, do incessante perigo e terror de estar aí, do precário orgulho e satisfação do homem que chegou a sobreviver a tudo isso. Assim, A perda do Halo vem a ser uma declaração de ganho, a redestinação dos poderes do poeta a uma nova forma de arte (BERMAN, 1989, p.155). No poema em prosa intitulado “As multidões”, do livro “O spleen de Paris”, Baudelaire chega a afirmar que o poeta flâneur deve “épouser la foule”, desposar a multidão, substituindo o amor puro pela “santa prostituição da alma entregue por inteiro, poesia e caridade, ao imprevisto que surge, ao desconhecido que passa”. (1995:42) Proust, ao por o aristocrático Swann à caça de Odete pelas ruas de Paris104, impõe a lógica da multidão, que é vária e anônima, à psique da elite moderna. Em outras palavras, Swann, a procura de Odette, carrega em si o estado de multidão: Pois o que nós julgamos seja o nosso amor, o nosso ciúme, não é uma mesma paixão contínua, indivisível. Compõe-se eles de uma infinidade de amores sucessivos, de ciúmes diferentes, mas por sua multidão ininterrupta 103 GOETHE, Johann Wolfgang. Italian Journey, 1786-1788, trad. W.H. Auden e E. Meyer. Nova York: Pantheon, 1962. p. 202. 104 “Às vezes ia Swann às casas de rendez-vous na esperança de saber alguma coisa de Odette, sem no entanto ousar nomeá-la”. (1957, p.309). 134 dão a impressão da continuidade, a ilusão de unidade (PROUST, 1957, p.308). Em “Le ventre de Paris”, de Zola, a cidade se impõe como o tema principal do romance. Ela é a própria vida, no sentido de ser materializada como o ventre que submete seus personagens à realidade de suas condições sociais: Les Halles sont le Ventre et le Ventre, c´est la vie105 (1971, p.31) Paris mâchait les bouchées a ses deux millions d´habitants. C´était comme un grand organe central battant furieusement, jetant le sang de la vie dans toutes les veines106 (1971, p.28). Zola fala da cidade como se ela fosse, antes, uma personagem, um ser vivo, que contasse a sua própria história. A cidade dá sentido à vida das pessoas que abriga e à arte que dela se inspira. J’ai quitté mes chenets, et, ouvrant la fenêtre, j´ai regardé mon cher, mon grand Paris, affairé dans la cendre grise du crépuscule. C´est lui qui me parle de l´art nouveau, avec ses rues vivantes, ses horizons tachés d´enseignes et d´affiches, ses maisons terribles et douces òu l´on aime et òu l´on meurt. C´est son immense drame qui m´attache au drame moderne, à l´existence de ses bourgeois et de ses ouvriers, à toute sa cohue flottante, dont je voudrais noter chaque douler et chaque joie 107 (1971, p.37). Alexandre Dumas, em “Les Mohicans de Paris”, também constrói a partir da cidade e de seus habitantes, a problemática de sua obra: Les Romans, poète, c´est la société qui les fait, cherchez dans votre tête, fouillez votre imagination, creusez votre cerveau, vous n´y trouverez, en trois mois, en six mois, en un an, rien de pareil à ce que le hasard, la fatalité, la Providence, selon le nom dont vous voudrez nommer le mot que je cherche, vous n´y trouverez, dis-je, rien de pareil à ce que l´hasard, la fatalité, la Providence noué et denoué dans une nuit, dans une ville comme Paris!108 (VIII, p.62). 105 106 “Les Halles são o Ventre e o Ventre, é a própria vida”. (1971, p.31). “Paris mastigava, à boca cheia, seus dois milhões de habitantes. Era como um grande órgão central batendo furiosamente, lançando o sangue da vida em todas as veias”. (1971, p.28). 107 Deixando a lareira e abrindo a janela, admirei minha querida, minha grandiosa Paris, mergulhada nas cinzas do crepúsculo. É ela que me fala da “art-nouveau”, com suas ruas cheias de vida, seus horizontes marcados de tabuletas e anúncios, suas casas tenebrosas e doces onde nós amamos e morremos. É o seu enorme drama que me prende ao drama moderno, à existência de seus burgueses e de seus operários, à toda sua multidão flutuante, da qual gostaria de perceber cada dor e alegria. (1971, p.37) 108 Os Romances, poeta, é a sociedade que os produz, tente se lembrar, busque na sua imaginação, cave no fundo do seu cérebro, e não encontrará, em três meses, em seis meses, em um ano, nada parecido ao acaso, a fatalidade, a Providência, seja qual for a palavra que quiser dar ao que procuro, não encontrará, digo, nada parecido ao que o acaso, a fatalidade, a Providência constrói e desconstrói no decorrer de uma noite, numa cidade como Paris! (1998, cap. VIII, p.62) 135 O título de Dumas alude aos “bárbaros” que a modernidade urbana produziu. Dumas, ao chamar de moicanos os excluídos do processo civilizatório, alertava para a distância, a clivagem social que se produzia na Paris oitocentista, que, por um lado, afastava os excluídos dos privilegiados e, por outro, aos olhos dos privilegiados, aproximava aqueles excluídos da condição de espécie humana exótica, de senso moral e de prática cotidiana tão ou mais primitivos quanto seriam os dos ameríndios do oeste norte-americano. Em outras palavras, a Paris lida por Dumas revela uma clivagem social de tal ordem que o pobre ali mais se assemelharia em hábitos e valores a um moicano do que a um cidadão francês. Les Mohicans de Paris sont tous les déshérités de la fortune, de la gloire, du bonheur qui tous, suivant leur ambition personnelle, tendent à conquérir bien-être, réputation ou joie. Cette espèce de gens est nombreuse partout, peut-être a Paris un peu plus qu´ailleurs109 (1988, p.2671). Tais escavações literárias em busca dos resquícios arqueológicos da cidade moderna por entre os clássicos da literatura européia oitocentista, seguramente não teriam um fim próximo. Exemplos como esses, onde a representação, a criação autoral, dialoga com a multiplicidade de vozes e formas que compõem a cidade, são inúmeros, porém, não é nossa proposta fazer uma exposição enciclopédica dos autores e obras que documentaram a cidade como sendo a gênese e o resultado de uma nova concepção do espaço/tempo da sociedade moderna. Ainda que Proust tenha tido o refinamento perceptivo de ler o paradoxo da multidão na alma do indivíduo moderno que, fragmentado pela multiplicidade de sentimentos, vê-se como uma massa uniforme; ainda que outros autores como Balzac, Maupassant, Flaubert e Joyce tenham mergulhado na alma de uma sociedade, cuja prática construtiva é sempre precedida pela destruição do que havia antes, (seja na forma invisível da dissolução dos códigos de comportamento e moral, seja na forma materializada de vias e construções que 109 Os moicanos de Paris são todos os despossuídos da fortuna, da glória, da felicidade que toda pessoa, seguindo sua ambição pessoal, tende a conquistar, bem-estar, boa reputação e alegria de viver. Esse tipo de gente é numerosa por toda parte, talvez um pouco mais em Paris do que em outras regiões. (1988, p. 2671). 136 desaparecem sob o entulho haussmaniano), ainda que se considere a extrema transição vivida, percebida e traduzida por esses autores no decorrer do século XIX, um elemento, um agente galvanizador de desejos e interesses ainda faltaria para fechar a cena moderna. A entrada desse elemento não só completaria o cenário da modernidade, mas também, graças à forma incisiva com que se insere e adere à sociedade moderna ocidental, apontaria o rumo que as transformações características da modernidade do século XIX iriam tomar no século XX. Esse elemento é a indústria cultural. Propomos agora abrir de novo essa mesma cena construída pelos autores que leram a modernidade européia, porém, transferindo-a para o espaço da modernidade carioca. O Rio de Janeiro, de Manuel A. de Almeida a Benjamin Costallat, é traduzido entre a pândega de “Sargento de Milícias”, sensível ao esgarçamento moral da sociedade carioca oitocentista, e a crueza de “Mistérios do Rio”, que denuncia os arrivismos e injustiças dessa sociedade, suavizados pela aparente casualidade da crônica e pela contingência dos fatos, no início do século XX. O Rio de Janeiro machadiano de “Uns braços”, onde a sedução estabelece-se entre o que é revelado, logo desejado, e o que é permitido pela moral; entre o que é sonhado e o fato acontecido. É o Rio folhetinesco e circunstancial da crônica moderna. Tais folhetins, de origem européia, se inicialmente são importados em forma e adaptados em conteúdo à realidade brasileira, com o tempo vão originar um estilo próprio de representação urbana, revelando autores como Machado de Assis, Coelho Neto, Artur Azevedo, Lima Barreto, Luís Edmundo, João do Rio, Olavo Bilac e Benjamin Costallat. Robert Pechman, em “Cidades estritamente vigiadas”, tratando da relevância do folhetim como ferramenta de representação da sociedade e do espaço urbano, propõe que: O simples fato da sua importação, tradução e imitação revelam a sua importância como fenômeno literário e social, e demonstram a sua capacidade de adaptação em solo brasileiro. Deitando raízes que arrebentariam em frutos, o folhetim, junto com o romance, a crônica, o teatro, a charge e a imprensa (fait divers), terá papel crucial na fermentação de um imaginário urbano e mesmo no esculpir a imagem da cidade, instituindo a base para uma leitura moral do mundo. Fazia-se crucial tal 137 leitura moral do mundo num meio urbano como a cidade do Rio de Janeiro, onde o inesperado das paixões humanas, próprias de uma sociabilidade complexa e em expansão, ameaçava explodir os padrões vigentes de moralidade (PECHMAN, 2002, p.313). Essa ameaça aos padrões vigentes de moralidade, observada por Pechman, é representada no conto “Uns braços” de Machado de Assis. O personagem principal do conto relembra o beijo que sonhou ter ganhado (e que de fato aconteceu) da mulher mais velha e casada com o seu patrão. Beijo por um lado sonhado e por outro concretizado por D. Severina, enquanto o personagem principal dormia. Machado expõe, através da trama, do adultério sugerido, sintomaticamente, o início do esgarçamento da moral familiar e patriarcal, ainda no Brasil império, que repercutirá na necessidade de se adotar um elemento de controle à manutenção da moral familiar, aos olhos da tradição, eternamente ameaçada pelo furor tropical. O Estado burguês, higienista, seria o primeiro elemento a buscar impor um modelo comportamental e moral em sintonia com a estética da Belle-Époque européia, sugerindo ordem e progresso. Porém esse modelo não alcançou as massas trabalhadoras. Faltava ao Estado modernizar-se a ponto de produzir em suas estruturas um aparelhamento de comunicação capaz de produzir o efeito galvanizador da cultura de massa. Faltava um elemento capaz de persuadir e re-educar a massa, a adotar uma idéia única de moral familiar, de comportamento e de modernidade. Esse elemento teria por função, divulgar o arquétipo moral a ser adotado e seguido por toda a população que, a exemplo do modelo de modernidade vigente, será uma tradução dos aspectos civilizadores da vida citadina européia. Entra em cena a indústria cultural do entretenimento. Primeiro pela imprensa, pelo rádio e pelo cinema, entre os anos 20, 30 e 40, depois pela televisão e pela informática. 138 4.4 O sujeito autoral na movediça condição pós-moderna. Representar o espaço urbano nos tempos da televisão e da informática, diz respeito a funções e desafios que são imanentes ao autor contemporâneo. Dada a condição imposta pelo anacoluto do pós-moderno, o ato de criar difere da modernidade machadiana, em que a reflexão sobre as imagens urbanas (desfilando ante os olhos ávidos do autor) correspondia a um tempo específico e pretérito ao processo de traduzir em palavras ou representações o que foi observado. Isto é, havia tempo para observar, refletir e textualizar. Sob a condição pósmoderna, as temporalidades se comprimem. Encurtam-se os espaços de tempo que separam a leitura da tradução, impondo, aos sujeitos autores de hoje, a necessidade de equilibrar-se sobre a linha estendida entre o anacronismo do déjà-vu e a superficialidade do instantâneo. Equilibrando-se sobre esses dois fantasmas, ao mesmo tempo em que se defende da leitura solapante e universalizante dos meios de comunicação de massa, o sujeito autoral contemporâneo encarna a imagem de um Dom Quixote moderno110 que, indo de encontro aos seus próprios fantasmas, crendo-os reais, re-traduz o mundo imagético e fantasmagórico, devolvendo-o à sua materialidade, restituindo-o à matéria que o torna perceptível aos sentidos dos indivíduos. O fotógrafo cego, Evgen Bavcar, afirma que: “em minhas fotos eu tento destruir uma imagem com outra que eu considero mais real111”. Isso é, haverá sempre uma releitura a ser feita, cujo compromisso é, primeiro, representar a particularidade do olhar do sujeito autoral, e assim sendo, devolver, através desse olhar, um novo sentido ao espaço ou ao objeto em questão112. 110 Bavcar falando de sua experiência de representação, considerando-se o fato dele ser cego, afirma que: “I photograph what I imagine, you could say I’m a bit like Don Quijote. The originals are inside my head. It’s a matter of creating a mental image, the physical record which best represents the work of what is imagined”. (www.zonezero.com/exposiciones/fotógrafos/bavcar.html - 18\08\2004) 111 “In my photos I try to destroy one image with another that I consider more real”. (idem) 112 When I go to Paris I went up the Eiffel Tower close to forty times. I touched its structure until I became familiar with it, and I made my own image of the Tower documenting it in multiple photographs I’ve made in Paris. (idem) Fotos na página 209. 139 Sendo assim, o sujeito autoral, ao criar no cerne da condição pós-moderna, confere ao cotidiano o sentido de uma narrativa não subjugada às necessidades do mercado e nem a interesses outros que não sejam o desejo do autor. Wenders, em depoimento ao documentário, “Janela da alma”, usa, não por acaso, as mesmas palavras de um personagem de seu filme “Céu sobre Lisboa113”, afirmando que as “imagens hoje em dia já não nos contam sobre as coisas. Em vez disso, elas nos vendem coisas. As imagens vendem o mundo”. A substituição da narrativa pelo consumo – norteando a hierarquização dos objetos, segundo seu valor de troca – gera a perda da capacidade de apreciar, caso o gesto não venha imediatamente seguido do consumo ou da aquisição do apreciado. Cabe ao sujeito autoral, através de sua criação, superar o estado imagético e fantasmagórico que anestesia os sentidos. Para tanto precisa desmascarar os interesses midiáticos por trás das representações dicotômicas e sintéticas da cidade. Nem o discurso da violência e nem o discurso do cartão postal. Eduardo Portella, em “Rio, síntese aberta”, propõe repensar a representação dicotômica da cidade abrindo alternativas aos discursos que constroem a fantasmagoria da imagem em forma de mercadoria: A vida entre o mar e a montanha, toda saltada por cima de acidentes geográficos imprevisíveis, não raro de precipícios e de paraísos jamais artificiais, vai gerando, dentro dos seus habitantes, perigos e prazeres renovados. A vocação da contradição vai sendo aperfeiçoada como a fecunda instância das divergências complementares. As cores e as crenças se cruzam menos em nome do dissídio do que da invenção possível (PORTELLA, 1988, p.159). Por outro lado, pode-se afirmar que toda representação é uma fantasmagoria. O que significaria dizer que, necessariamente, não precisamos negar os fantasmas. Sodré observa que... [...] quando lemos a cidade não apenas como urbes (conglomerado de ruas, casas, habitantes), mas como civitas ou polis, isto é, como comunidade e vivência, somos compelidos a levar em conta que ela, como as pessoas, vive também de fantasmas. Ou seja, vive de fantasias, das representações próprias ao regime de visibilidade pública que se construiu para ela (SODRÉ, 2002, p.31). 113 Céu sobre Lisboa. Dir. Win Wenders. 1994. 140 Calvino, em Cidades Invisíveis, alerta para não confundirmos jamais a cidade com o discurso que fala da cidade114. Porém, num mundo em que as fantasmagorias, os significados desconectados de significantes, superam com larga vantagem o número de objetos materializados, isto é, num mundo em que a quantidade de representações e cópias reproduziu-se em tal escala que soterrou os originais, a ponto de sua re-descoberta tornar-se um desafio sem fim à arqueologia que investiga o passado das cidades; diante desse quadro, como estabelecer o que é a cidade e o que é o discurso? O que é imagem e o que é real? Por todo o século XX deu-se um intenso bombardeio de discursos produzidos ininterruptamente pelos meios de comunicação de massa, solapando, minguando e extinguindo as vozes singulares. Pode-se afirmar que, por sobre as camadas de discursos que, hoje, encobrem as metrópoles contemporâneas, tomando, por exemplo, o Rio de Janeiro, duas correntes de discursos destacam-se à superfície dos meios de comunicação de massa: os que reproduzem o discurso da violência urbana115 e os que apostam na alegoria do cartão postal. O que há em comum entre essas duas correntes, adotadas exaustivamente pela mídia, é a condição submissa ao mercado. Em última instância, ambas vendem a cidade como imagem única: traficantes empoleirados nos morros ou beldades que desfilam sob o sol. As imagens são igualmente consumidas nos noticiários e tele-dramas acompanhados de anúncios de refrigerantes, bancos, carros, cervejas, telefones, produtos de beleza, eletrodomésticos, que nos levam quase a duvidar se noticiário, novela e anúncio falam da mesma cidade. José Simão, na apresentação do livro “Máquina de fazer doidos”, pergunta – “Será que eu sou uma televisão sonhando que sou um brasileiro ou será que eu sou um brasileiro sonhando que sou uma televisão?” (LOUZA, 2003, p.5). De fato a média de três a quatro horas diária que o brasileiro despende frente a um aparelho de televisão, (possivelmente correspondendo à suas 114 “Você sabe melhor do que ninguém, sábio Kublai, que jamais se deve confundir uma cidade com o discurso que a descreve”. (2003:.61). 115 Isto é, evidenciam a violência da cidade através da amplificação dessa violência objetivada no discurso da violência urbana. 141 horas de lazer semanal) leva não à questão de como não confundir a cidade com o discurso que a descreve, mas a perguntar como não confundir a si próprio com a personagem que se vende na televisão. A beleza e o caos servem ao discurso da mídia na medida em que ambos esvaziam a cidade. A beleza esvazia porque resume a cidade ao óbvio, àquilo a que o olhar já está acostumado e entediado. A cidade não passa de uma série de imagens de cartão postal que não tem poder para despertar a curiosidade do habitante e que, no máximo, presta-se a vender a cidade às agências de turismo. O caos esvazia pela disseminação do medo, da barbárie e pela possibilidade da violência imagética concretizar-se. Ambos servem aos interesses da TV (interesses do mercado) no sentido de persuadirem o telespectador a adotar procedimentos e práticas que reforcem a transmutação do cidadão em consumidor. Se a rua é desinteressante e perigosa resta ao indivíduo abraçar a condição de consumidor, consumindo as imagens da TV em casa e as mercadorias das propagandas, nos centros comerciais. Bourdieu chama de censura ocupar o espaço da mídia com informações que não interessam, enquanto omitem-se as que são relevantes; da mesma forma, persuadir o indivíduo a uma prática despolitizante e autômata é uma forma de repressão indireta que serve aos interesses do mercado e do Estado à medida que aliena o indivíduo de sua condição cidadã, persuadindo-o a aderir à condição única de consumidor. O medo da multidão – seguido da dispersão e controle da massa que aos olhos da elite burguesa é perigosa e ignara – é a questão que seduziu e inspirou os autores da literatura do século XIX e que diz respeito aos limites da convivência entre os indivíduos na cidade. No século XX, o sujeito autoral preocupa-se com o resgate do sentido narrativo, o resgate de narrativas que devolvam aos indivíduos o diálogo e a troca de experiências, ainda que contaminadas pelo discurso de anacolutos da indústria cultural que quer tornar crível a idéia de que a história morreu e que o melhor a fazer é assistir ao desfile ininterrupto de 142 representações fantasmagóricas, cujo discurso matriz foi soterrado em um passado que já não existe, sob incontáveis camadas de representações que refletem imagens à revelia do corpo original. Se a descoberta do corpo original habitando a tábula rasa dos discursos é uma impossibilidade arqueológica, restaria ao sujeito autoral espernear pela democratização dos discursos imanentes às representações do corpo simbólico que é a cidade. Armando Silva afirma que: A cidade aparece como uma densa rede simbólica em construção e expansão. A cidade, cada cidade, se parece com seus criadores, que são feitos pela cidade. Se disséssemos que somos cidadãos do mundo não estaríamos sendo exatos; melhor seria dizer que somos cidadãos de uma cidade que habita o mundo. O que faz uma cidade diferente da outra não é só sua capacidade arquitetônica que ficou para trás após o modernismo unificador em avançada crise, mas os símbolos que os seus próprios habitantes constroem para representá-la. E os símbolos mudam como mudam as fantasias que uma coletividade elabora para fazer sua a urbanização de uma cidade (1997, p. XXVI). Se a fantasia da coletividade reproduzir exclusivamente os discursos da violência e do cartão postal, cúmplices do interesse midiático, que cidade nos restará? Para Vieiralves: O Rio de Janeiro tem para os cariocas e outros brasileiros uma espécie de fascínio voyerista. Em geral, é exibido e cantado, exaltado para o Brasil e o planeta em um discurso dicotômico radicalizado: beleza imensa e caos violento. Entretanto, é pouco refletido e analisado em sua multiplicidade e complexidade (2002, p.9). Frente ao olhar solapante e galvanizador da indústria, é Calvino que nos propõe ser a cidade menos uma notícia, como insiste o telejornal, do que um processo; menos o resultado da separação dos entendimentos numênico e fenomênico, (racional e sensível), do que a compreensão de uma dialética que se estabelece a partir dos acontecimentos. A compreensão da dialética entre a razão e a sensibilidade na leitura dos fatos permitiria reencontrar e reconhecer a cidade vária e muito mais orgânica e complexa do que o quer a leitura maniqueísta da mídia. A cidade não é beleza nem caos, mas devolve, na forma de imagens, aquilo que dela se diz na forma de palavras. A palavra, por sua vez, originada de uma leitura da indústria 143 cultural que se dá sobre as coisas, mas não sobre os processos, obedece exclusivamente à ordem numênica dos entendimentos. Ao preterir o sensível à ordem racional, cujo argumento apóia-se em recursos como, índices econômicos, pesquisas quantitativas, balanços, dados e números, a mídia traveste-se de dona da verdade. Porém ela não é capaz de perceber que a palavra, aquela palavra que ora diz beleza ora diz caos, é o resultado de um entendimento parcial do fato. Parcial, por omitir de sua leitura o olhar e o entendimento do campo sensível. Isto é, a mídia nunca opera o somatório dos dois campos, trabalha-os separadamente, optando por um ou por outro conforme lhe for conveniente. Um exemplo disso são as justificativas que a mídia oferece ao crescente problema da distribuição de riquezas no mundo, sempre apoiadas em dados da economia mundial, da necessidade dos mercados, da internacionalização dos capitais e da globalização das relações, como se provássemos de um remédio amargo, porém, necessário e inevitável nos dias atuais. Quando a mesma mídia aborda a pobreza nas ruas da cidade, o faz sem relacioná-la com o fluxo internacional de capitais. A crítica fisiologista diria que se a imprensa assim o fizesse, estaria sendo opinativa ou pior, estaria operando por ideologismos. Porém, sintetizar a cidade como beleza e caos, não seria operar por ideologismos? O esvaziamento da riqueza de áreas na cidade migrando para outras áreas, para outras cidades ou para outro lugar do mundo não é um fato? O comprometimento econômico e ideológico da mídia com os que detêm o capital seria o fator mais evidente dessa manipulação, que, na prática, significa ampliar certos aspectos do fato abordado. Sobre essa cumplicidade, cita-se a análise do sítio independente, “Portal dos Jornalistas”, de um especial da rede de TV londrina “BBC News” sobre os números de uma pesquisa que revelavam o crescente sentimento de antiamericanismo em todo o mundo. Diversos países foram consultados em todo o mundo, sempre com a ajuda de jornalistas e redes de TV locais. No Brasil, a Rede Globo foi a nossa representante. No final do programa, o apresentador da BBC dava oportunidade para que os jornalistas locais fizessem uma pequena interpretação dos números apresentados. (O jornalista) Renato Machado, no cenário do Jornal Nacional, lembrou aos observadores internacionais que no Brasil a população não recebe muito bem o FMI. Para Machado, no entanto, 144 não era compreensível tal ressentimento, já que – ‘O Fundo salvou o Brasil de uma crise econômica, fazendo um grande serviço aos brasileiros’. É exatamente por isso que somente as pedras ainda não conhecem a relação entre o capital financeiro internacional e a Rede Globo. Não é preciso muito para entender seu desejo por um sistema financeiro mais complacente com as grandes corporações. É o que alguns filósofos do século XIX chamariam de afinidade eletiva entre o ethos econômico e a ética (midiática). A afinidade eletiva nada mais é do que um beneficiamento consentido, porém não-declarado. É como se dois grupos se elegessem parceiros e trabalhassem juntos, contra o povo, sem que haja uma relação carnal (www.jornalistas.com – 27/06/2004). A mídia mente. Mente porque omite o entendimento dos processos, ao apresentar os fatos sob o divórcio dos campos numênico e fenomênico. A mídia, mais do que confundir o “discurso com a cidade”, o faz omitindo uma vasta possibilidade de leitura. Não que o discurso, por exemplo, do telejornal, minta, constantemente e de forma proposital. O problema é que este discurso tira conclusões e evidencia aspectos dos fatos de maneira parcial, respondendo aos seus interesses, o que o leva a dizer mentiras. A forma como se constrói os discursos que mentem sobre a cidade é caricaturada por Calvino. Se de fato existe uma Olívia de bífores e pavões, de celeiros e tecelões de tapetes e canoas e estuários, seria um mero buraco negro de moscas e para descrevê-la eu teria de utilizar as metáforas da fuligem, dos chiados de roda, dos movimentos repetidos, dos sarcasmos. A mentira não está nos discursos, mas nas coisas (2003, p.62). Beleza e caos, como discursos, não passam de coisas que ignoram os processos por trás dos fatos. Insistamos um pouco mais com Calvino a caricaturar a forma como se constroem os discursos parciais. Também retorno de Zirma: minha memória contém dirigíveis que voam em todas as direções à altura das janelas, ruas de lojas em que se desenham tatuagens na pele dos marinheiros, trens subterrâneos apinhados de mulheres entregues ao mormaço. Meus companheiros de viagem, por sua vez, juram ter visto somente um dirigível flutuar entre os pináculos da cidade, somente um tatuador dispor agulhas e tintas e desenhos perfurados sobre a sua mesa, somente uma mulher canhão ventilar-se sobre a plataforma de um vagão. A memória é redundante: repete os símbolos para que a cidade comece a existir (2003, p.25). Se, por um lado, é preciso multiplicar os símbolos à guisa de dar existência à cidade, é relevante observar que o processo de multiplicação deste e não daquele símbolo terá, como 145 resultado, uma e não outra forma de cidade. Como a seleção de símbolos tem sido uma atribuição exclusiva da indústria cultural que, por si, não guarda compromisso outro que não seja com a sua própria reprodução, é evidente o risco de perda de sentido que a cidade corre, subjugada à crença dicotômica na beleza e no caos. Percebe-se porque a criação do sujeito autoral, na sociedade do espetáculo, é ainda mais relevante do que o fora em tempos idos. Se Baudelaire escreveu para os olhos seduzidos pelo desfile de coisas, cujas imagens são fetichizadas e multiplicadas nas vitrines, Calvino escreveu para olhos seduzidos pelo desfile de imagens não–autorais que se automultiplicam na televisão. Tal qualidade de imagem é a coisa que mente por omitir de si o processo ao qual na verdade está subjugada. Reinaldo Azevedo, comparando a imagem à palavra, afirma que: “As situações que mais me encantaram e ainda me encantam nos bons livros seriam intraduzíveis no cinema ou em qualquer outra forma de expressão artística porque são feitas dos conceitos a que as palavras remetem”. (AZEVEDO, 2004:20). Constatada a limitação da imagem como elemento de representação do discurso, o autor vai exemplificar essa construção da seguinte forma: Qualquer bom cineasta conseguiria criar uma Capitu ambígua, de temperamento sinuoso, dotada de uma forma de volúpia do recato, a torturar a baixa auto-estima do marido. Mas não há meio audiovisual possível para expressar olhos de ressaca, que é não mais do que o título de um dos minicapítulos de Dom Casmurro, justamente aquele que narra o comportamento da mulher de Bentinho diante do cadáver de Escobar, que morrera afogado. Sobre esses olhos, diz Bentinho/Machado, trincado pela desconfiança de que a mulher e o amigo o traíram: ‘eles fitavam o defunto [...] como a vaga do mar lá fora, como se quisesse tragar também o nadador da manhã’. [...] Qualquer demonstração, em imagem, do que vai acima, torna a circunstância tola. Não existe um como no cinema sem que o diretor derrape na banalidade, na metáfora que berra a sua pertinência, como se cutucasse o braço do telespectador para perguntar se ele entendeu a mensagem. Se coisas como essas não podem ser filmadas – e não podem – e dado que Dom Casmurro é todo ele feito desses expedientes, então ele só pode mesmo existir como palavra escrita (AZEVEDO, 2004, p.20). Sobre toda essa longa crítica que revela os limites da imagem como ferramenta de representação das coisas e seus respectivos processos, vale acrescentar que, mesmo 146 concordando com a inabilidade das imagens em representar o “como”, deve-se estabelecer uma diferença entre imagens autorais – em que o olhar do sujeito autoral outorga a devida opacidade à criação – e as imagens não-autorais da indústria cultural que, dada sua transparência, seduzem o espectador para que as atravesse crendo ver o real. Isto é, enquanto as primeiras representam as coisas, as segundas buscam substituir as coisas, criando uma outra realidade, uma nova dimensão que pela onipresença, pela síntese e pela constância se fazem crer mais reais que o real. Assim, propomos uma leitura menos implacável das imagens autorais, como o quer Azevedo, mesmo porque as imagens, ainda que limitadas na representação do “como” e do “processo”, guardam propriedades outras que podem contribuir à sensibilização do olhar, sobretudo no que diz respeito à percepção de elementos que despertem a troca e a proximidade com o espaço/tempo cotidiano que, em última instância, é o que alimenta a anima do homem público. O fato é que, no decorrer do século XX, legou-se às imagens uma importância, um status documental, representativo, muito além de sua capacidade. O senso comum que afirma: “uma imagem vale mais do que mil palavras” ou insanidades como o florescimento dos totalitarismos de Estado, na primeira metade do século XX116 e a posterior ditadura da estética a serviço do consumo, foram fatores que muito contribuíram para a supervalorização da imagem como elemento de representação. Por outro lado, a imagem, a exemplo dos estímulos olfativos e sonoros, tem o poder de nos seduzir e transpor ao espaço do domínio fenomênico do sensível. “O cinema é uma arte feita para os olhos e o subconsciente, não para a razão ou a explanação verbal. O cinema não explica (como a literatura), ele seduz”. (SEVCENKO, 1998, p.600). Sendo assim, o cinema autoral, ao inserir-se no espaço urbano, segundo Rogério Lima, não buscaria construir... 116 É insano por que seria inacreditável, não fosse fato, pensar que a Alemanha, a nação mais letrada e culturalmente desenvolvida do mundo, se deixou governar, entre as décadas de 30 e 40, por um grupo de gângsteres e assassinos institucionalizados. Essa governança persuadiu e conquistou o apoio da população, através do uso de símbolos e imagens que representavam uma idealização do belo, da perfeição e da superioridade do povo alemão e das tradições alemães. 147 [...] tratados sobre as cidades, mas visões pessoais dos grandes espaços urbanos, das pessoas que habitam esses espaços de relações multiculturais, da arte produzida nas cidades, dos hábitos desenvolvidos e coibidos pela cultura urbana, dos signos que as metrópoles produzem e dos quais sobrevivem (LIMA, 2000, p.163). As imagens seriam mais limitadas do que as palavras como ferramenta de representação das coisas, por sua incapacidade de traduzir o “como” ou o processo que dá sentido as coisas. Porém, a imagem autoral, em sintonia com a capacidade de percepção e interação do olhar do espectador, em razão da mesma propriedade que a impossibilita de representar o “como”, mergulha o espectador dentro da representação, regalando-o com a sensação da onipresença do olhar divino, ainda que não interventora. E, pela ótica do diretor, penetramos a cidade, suas avenidas, ruas, becos, alcovas, passagens secretas, ângulos inéditos, superposições de elementos arquitetônicos, inversões do senso comum do cartão postal e do monumento. E a cidade torna-se a cidade autoral, tão inédita que chega a surpreender seus próprios habitantes. É a Manhattam de Woody Allen, eternizada em preto e branco, sob o fog da paisagem da ponte do Brooklyn, em 1978, imagem que não mais se repete aos olhos de quem passa pela mesma ponte nos dias de hoje. É a cidade de Lisboa sob o olhar estrangeiro de Wenders, em busca de um tempo perdido, de uma Europa de sua infância que o diretor foi reencontrar em Portugal, no filme “O céu sobre Lisboa” (Lisbon story) É o Rio de Janeiro do cartunista francês Jano, em “Rio de Jano”, que, parafraseando Hitchcock, demonstra em seus desenhos que é melhor partir do óbvio do que chegar ao óbvio. Jano parte da banalidade do cartão postal, porém, uma vez lá, reinverte o sentido do lugar comum revelando uma outra cidade, extremamente próxima, mas não igual, dentro da mesma cidade. É a Viena de Milos Forman em “Amadeus”, vendo Mozart debater-se entre a cidade e a corte até ser tragado por essa última. É a corte francesa, do mesmo diretor em “Valmont” e de Stephen Frears, em “Ligações Perigosas” (Dangerous Liaisons), que nos afirmam como seria impossível, à pessoa cortesã, abrir mão da vida na corte. É a Amsterdã medieval de “Moça com brinco de pérola” (Girl with a pearl earing) de Peter Webber, que enfatiza a rotina do trabalho e da 148 sociedade trabalhadora, não cortesã, o lúmpen, o comércio, os feirantes, os mascates, as domésticas, os artistas, os mecenas, enfim toda uma sociedade que vive à margem da corte. É a Roma de Fellini e é a Roma de Rosselini. É a Dussesdorf do “Vampiro” de Fritzlang, é a São Petersburgo do “Encouraçado Potenkin” de Eisenstein e é, de novo, o Brooklyn, desta vez de Wayne Wang e Paul Auster em “Cortina de fumaça” (Smoke) e “Sem Fôlego” (Blue in the face). Essa lista não teria um fim próximo e nem cabível às pretensões da dissertação. Porém, uma vez dados esses exemplos, cabe perguntar o quanto essas imagens autorais podem se tornar fortes aliados da memória afetiva dos espectadores sobre os espaços. A imagem concebe ao espectador o poder de voyeuristicamente penetrar a “Manhattam” de Woody Allen, perguntado que cidade era aquela (que hoje não mais se repete) a suscitar tal qualidade de discursos; ou ainda, ao assistir ao “Assalto do trem pagador” de Roberto Farias, perguntar que Rio de Janeiro era aquele no ano de 1962? Que morro? Que favela? Que asfalto? Que praia? Que subúrbio? É a propriedade que as imagens autorais têm de proporcionar sobrevôos e aproximações sobre temporalidades e espacialidades que não pertencem ao domínio do vivido e da cotidianidade. A imagem confere ao espectador, no silêncio da sala escura, a capacidade de testemunhar outras cotidianidades e, pelo olhar, tomar-se da mesma sensação – como que constituído da mesma matéria – dos anjos decaídos de Wenders em “Asas do desejo117”. Anjos que a tudo testemunham, mas que em nada interferem, percebendo o espaço-tempo dos homens como sina, como princípio e fim de suas vidas. Esse espectador, catapultado momentaneamente à condição de anjo wenderiano, ainda que não deixe de reconhecer-se como espectador, igualmente condenado à sua própria temporalidade e espacialidade, emula-se da propriedade de escrutinar outras vidas, em outros mundos, através das imagens autorais. 117 Asas do desejo. “Der Himmel über Berlim”. Dir. Win Wenders, 1987. 149 Ter a cidade por sina é perceber a cidade como começo e fim do mundo. Se sob a ordem dos espaços vividos, não importa para onde se vá, sempre se carrega o olhar cosmopolita contemporâneo e atual, sob a ordem dos espaços assistidos, entregue ao deleite das imagens autorais que narram a cidade, o espectador transforma-se em um pequeno deus cujo poder se limita a repensar a criação representada pelas imagens autorais, e, se possível, aplicar esse exercício de reflexão sobre o seu próprio espaço\tempo cotidiano. Literatura e cinema, palavra e imagem encontram-se finalmente como elementos que, no processo de representação do espaço-tempo, ao serem defrontados com a experiência da cotidianidade, auxiliam a melhor compreender esta experiência. Tais elementos fornecem pistas que, ao mesmo tempo em que capacitam o olhar a melhor enxergar a cidade e suas histórias fragmentadas, também torna os indivíduos, se não imunes, muito mais críticos à narrativa (ou a falta de narrativa) da indústria cultural, através do reconhecimento de que a cidade, ao contrário do que insiste em afirmar o discurso dos media, não é o lugar do pensamento único ou sequer do pensamento binário: violência x cartão postal. Tal argúcia, desenvolvida a partir de leituras autorais da cidade, é um dos caminhos possíveis para a democratização e pluralização do discurso que “inventa” a cidade. Fazer frente ao discurso mercadológico da mídia que diz: “a cidade é violência ou a cidade é cartão postal”, passa pelo entendimento de que a cidade é o somatório dos discursos e das vozes que nela habitam. A prática da representação dos espaços de pertencimento, quando se dá de forma participativa e consciente, desperta o sentido da autoria do discurso. Devolve o que a condição pós-moderna – racional e fragmentada – recalcou, em troca do direito privado e passivo ao consumo. Esta é a condição do sujeito autoral Sob a barafunda tecnológica do espetáculo que secciona (ou pelo menos assim o pretende) os indivíduos, entre os que têm e os que não têm direito ao verbo, encerramos o capítulo com o mesmo Antônio Veronese do início, em entrevista ao programa de Fernando 150 Pamplona118, na TVE, cujo descrédito nas representações, frente ao jugo da indústria, deveria nos servir, não como testemunho de um sujeito autoral vencido, mas como sinal de alerta, aceso a partir da sistemática reflexão de si e do espaço vivido: “Eu não tenho importância nenhuma. Hoje tem tanta gente travestida de artista que amiúde eu temo ser mais um deles”. A lucidez do artista plástico permite dizer que se há uma diferença inconteste a separar, claramente, o sujeito autoral do espetáculo é a autocrítica. 118 Programa da TVE: A Verdade de Antônio Veronese. 25\04\2004 151 Capítulo 5: A cidade reescrita pela prática cotidiana do demiurgo moderno. Nossa senhora da Paz A bailarina do circo Vem beijar a pele da cidade As feridas, os jardins, a pressão, o motor Nossa senhora dos sonhos A trapezista do circo Vem descansar na minha cama Traga toda a luz que há no céu Traga toda a luz que há no chão Leva meu atalho e minha sorte No movimento da rua119 (Lirinha, Cayton Barros, Emerson Calado, Nego Henrique) 5.1 A construção da imagem e a construção da cidade: conflito da modernidade. Calvino termina “As cidades invisíveis” com uma sugestão, uma saída para o impasse da modernidade no que tange a perda de sentido da cidade como espaço múltiplo de pertencimento, propício a troca e ao convívio entre sujeitos e grupos heterogêneos. Na metáfora que discute o inferno das “novas” cidades, Kublai Khan preconiza a derrota inevitável da civilização enquanto Marco Polo sugere a saída ao impasse. Vamos ao diálogo. O Grande Khan já estava folheando em seu atlas os mapas das ameaçadoras cidades que surgem nos pesadelos e suas maldições: Enoch, Babilônia, Yahoo, Butua, Brave New World. Disse: - É tudo inútil, se o último porto só pode ser a cidade infernal que está no fundo e que nos suga num vórtice cada vez mais perfeito. (Polo responde) - O inferno dos vivos não é algo que será; se existe, é aquele que já está aqui, o inferno no qual vivemos todos os dias, que formamos estando juntos. Existem duas maneiras de não sofrer. A primeira é fácil para a maioria das pessoas: aceitar o inferno e tornar-se parte deste até o ponto de deixar de percebê-lo. A segunda é arriscada e exige atenção e aprendizagem contínuas: tentar saber reconhecer quem e o que, no meio do inferno, não é inferno, e preservá-lo, e abrir espaço (2003, p.158). Reconhecer o não-inferno para preservá-lo e abrir espaço é, em síntese, a solução que Calvino, nas palavras de Polo, oferece ao impasse das cidades modernas. A solução de Marco Polo vai ao encontro do que é proposto ao término do quarto capítulo. Diz respeito a “abrir espaço” às vozes dos sujeitos autorais, como estratégia na busca de democratizar a produção 119 Nossa Senhora da Paz. (Lirinha, Cayton Barros, Emerson Calado, Nego Henrique). CD: O palhaço do circo sem futuro. Cordel do Fogo Encantado. 152 de discursos que tematizem os espaços vividos da cotidianidade, ampliando o sentido de pertencimento entre a pessoa e o lugar. Antes de analisar, sob a ótica das representações, a degradação da experiência pública ou a impossibilidade “de algo como uma felicidade pública” (MATOS, 1998, p. 61), propõe-se um debate anterior e que diz respeito ao conceito de representação. Entendendo que tanto as palavras quanto as imagens constituem representações interdependentes – no sentido de que, se as palavras sugerem imagens, as imagens necessitam das palavras para serem compreendidas – e entendendo ainda que não há experiência capaz de separar o homem de sua cultura, podemos mergulhar na epistéme de Wittgenstein que parte do seguinte princípio: não há separação entre o pensamento (palavras + imagens) e a cultura (palavras + imagens), logo, a cultura não é criada pelo homem, mas é o próprio homem. Se em Platão o saber e a verdade apontam para um “bem supremo”, o “ser”, que se origina da razão, enquanto que Aristóteles evidencia a questão do método, da investigação, para o alcance da “essência” das coisas, ambos concordam que não há separação entre o real e a nomeação do real, a partir do momento que se chegue ao “bem”, à essência ou à verdade. Em outras palavras, se para ambos há como se chegar a ter certeza sobre a verdade, para a filosofia moderna, a idéia de incerteza ou de contingência desqualifica a unidade do mundo clássico. Seja pelo indutivismo de caráter experimental da ciência baconiana 120, seja pelo dedutivismo matemático e silogístico de Descartes121, seja pelo método hipotético dedutível de Galileu122; parte-se da premissa de que há uma separação entre o sujeito do conhecimento e 120 Bacon “assinala serem essenciais a observação e a experimentação dos fenômenos, pois, somente esta última pode confirmar a compreensão: uma autêntica experimentação sobre o que é verdadeiro ou falso somente é proporcionada pela experimentação”. (LAKATOS, MARCONI, 1991, p.43). 121 Para Descartes “chega-se à certeza através da razão, princípio absoluto do conhecimento humano. (Utilizase) da análise: dividir cada uma das dificuldades em tantas partes quantas necessárias para melhor resolvê-las (e) da síntese: conduzir ordenadamente o pensamento, principiando com os objetos mais simples e mais fáceis de reconhecer, para subir até o conhecimento dos objetos que não se dispunham de forma natural”. (LAKATOS, MARCONI, 1991, p.45). 122 Galileu afirma ser imperfeito o universo, da mesma forma que o é a terra, logo se a matemática pode ser aplicada lá com perfeição, deve ser aplicada aqui da mesma forma. “Discordando dos seguidores do filósofo Aristóteles, considera que o conhecimento da essência íntima das substâncias individuais deve ser substituído 153 a representação do objeto. A busca do conhecimento corresponde ao desvelamento do que não é aparente. Para tanto, as ciências pós-iluministas lançam mão do exercício da razão que, por sua vez, deve obedecer a um método. Hegel avança de forma significativa ao propor que não há separação entre conhecer as coisas e conhecer a si, conhecer é perceber o objeto se estruturando no pensamento123. Marx introduz a hipótese do concreto pensado que diz respeito a pensar a realidade como resultado da união da aparência com a essência124. Porém, mesmo nesses dois últimos, há uma lacuna lingüística/cultural de ordem ontológica que se aplica também ao plano fenomenológico e que é revelada por Wittgenstein, ao sugerir outra forma de analisar os discursos de representação do mundo. Para o autor: Haveria um paralelismo completo entre o mundo dos fatos reais e as estruturas de linguagem. Nesse sentido, na medida em que uma proposição é uma figuração da realidade, deve haver nela tantos elementos a serem distinguidos quantos os que existem no estado das coisas afigurado; deve haver uma mesma multiplicidade lógica ou matemática entre a figuração e aquilo que é afigurado. [...] Desse modo, uma vez que são figurações, as sentenças possuem a mesma forma da realidade que afiguram (WITTGENTEIN, 1999, p.9). Além de propor que não há separação entre o mundo e a linguagem ou entre o homem e a cultura, Wittgenstein não concorda com as análises que partem da idéia da representação das coisas que se exprime em dois momentos rígidos e distintos: primeiro observar e depois representar. Para desconstruir essa idéia, o filósofo introduz a idéia de “signo” – que como objetivo das investigações, pelo conhecimento da lei que preside os fenômenos”. (LAKATOS, MARCONI, 1991, p.41). 123 "Um ponto de vista fundamental da filosofia crítica é que, antes de se proceder e ver se ela é capaz de realizar tal tarefa, deve aprender-se a conhecer o instrumento antes de se empreender o trabalho que, mediante o mesmo, se deve levar a cabo; se o instrumento fosse insuficiente, todo esforço se despenderia em vão. Este pensamento pareceu tão plausível que suscitou a maior admiração e consenso e retraiu o conhecer, do seu interesse pelos objetos e da sua preocupação com eles, para si mesmo, para o formal [...] mas a inquirição do conhecer não pode ter lugar a não ser conhecendo; indagar o dito instrumento é o mesmo que conhecê-lo. Mas querer conhecer antes mesmo de se conhecer é tão destoante como o sábio propósito daquele escolástico de aprender a nadar antes mesmo de se aventurar à água”. (HEGEL, Enciclopédia das Ciências Filosóficas, Vol 1, Edições 70, Lisboa, 1988, p. 79.) 124 O método que consiste em elevar-se do abstrato ao concreto não é senão a maneira de proceder do pensamento para se apropriar do concreto, para reproduzi-lo como concreto pensado. Mas este não é de modo nenhum o processo da gênese do próprio concreto. A mais simples categoria econômica, por exemplo, o valor de troca, pressupõe a população, uma população produzindo em determinadas condições. (...) O valor de troca nunca poderia existir de outro modo senão como relação unilateral, abstrata de um todo vivo e concreto já dado. (MARX, Para a crítica da economia política. In: Os economistas, São Paulo: Abril Cultural; 1982, p.14). 154 incorpora o significante, aquilo de que se diz algo, e o significado, o que é dito daquilo125 – no lugar da idéia de representação que se dá exclusivamente sobre o significado. O que Wittgenstein nos propõe é que homem e cultura constroem-se de forma simultânea, um é o outro e ambos são o signo. Para o signo não existe a temporalidade, nem de ordem ontológica, nem na percepção fenomenológica que diz respeito a primeiro perceber para depois representar o que é absorvido pela percepção. Percepção e representação são simultâneas e incorporadas no signo. Essa rápida comparação entre correntes que abordam percepções de ordenamento do mundo é de grande importância no sentido de alertar para o fato de que se a cultura e o saber são intrínsecos à constituição do homem, o controle sobre tais elementos pode ser mais eficaz do que o uso de força coerciva à manutenção das relações de poder numa determinada sociedade. Não muito tempo atrás, se quisessem tomar o poder político num país, era suficiente controlar o exército e a polícia. [...] Basta que um país tenha alcançado um alto nível de industrialização para que o panorama mude completamente: no dia seguinte à queda de Krushev os diretores do Pravda, do Izvetia e das cadeias radiotelevisivas foram substituídos; nenhum movimento do exército. Hoje um país pertence a quem controla os meios de comunicação (ECO, 1984, p.165). Ainda sobre a problemática da construção desse homem/linguagem, Abraham, analisando a obra de Rorty, observa que: La gente comum por la que se interesa Rorty es el grupo de hombres que vive todos los días y a los que se les imponen los temas inevitables de la existencia: la pobreza, las enfermedades, el dolor, las humillaciones, la esperanza de mañanas mejores. Para un discípulo de Wittgenstein, para alguien que continua su temperamento, ocuparse de la vida ordinaria es una prolongacion por el lenguage ordinario (ABRAHAM; BADIOU; RORTY, 1995, p.11). Segundo Rorty, o saber deve tomar por referência o cotidiano das relações concretas no âmbito local e que emergem da prática conversacional, com uma pluralidade de discursos 125 Como exemplo podemos dizer que a cidade material é o significante enquanto o discurso que se faz da cidade é o significado. O signo é a forma de cidade que se desenha no pensamento simultaneamente à absorção do significante e do significado. 155 não hierarquizados, onde não caberia conceituar isso ou aquilo de verdadeiro ou falso, mas sim perceber o caráter contingente das práticas. Dessa forma, segundo o autor, nada tem sua existência garantida. O valor das coisas e a relevância dos fatos permanecem enquanto a comunicação estiver garantindo isso. A comunicação é o que determina a longevidade da prática. É a garantia da existência e da permanência das coisas. A importância de controlar a comunicação é, em última escala, a de ter controle sobre qual prática se extingue e qual permanece. Sob a ótica wittgensteiniana, em que homem e cultura não se diferenciam, controlar a comunicação é determinar qual homem se extingue e qual permanece. Retornemos à sugestão de Calvino que nos propõe “reconhecer o não inferno e abrir espaço” ou ainda à sugestão do sujeito autoral, de democratizar a produção dos discursos que abordam a cidade. Abraham, analisando Badiou, afirma que não se pode pensar o real separado do simbólico e do imaginário. Segundo o autor, os três formam uma figura geométrica denominada de nós de borromeos126: Los tres registros de Lacan, lo imaginário, lo simbólico y lo real, están presentes en Badiou. Sus espacios topológicos se formalizan com los diagramas de los nudos borromeos y sus tres argollas enlazadas. Este nudo es un arcano semejante a la estructura del ADN, conserva el secreto de la vida, porque basta que una de las argollas se desprenda para que las tres floten en el espacio de la dispersion y que nada mas pueda simbolizarse. Sin ordem simbolica no hay vida humana, porque la vida es inscripcion y el linguaje es el arquetipo de las formas. Mas allá: lo informe, lo nada, la muerte, el horror: lo real (1995, p.32). Abraham destaca a importância dos aspectos do imaginário e do simbólico na construção do sentido da existência, não somente da pessoa, mas da cultura, da linguagem. O imaginário e o simbólico, segundo o autor, seriam responsáveis pela manutenção de uma mitologia contemporânea que cerca a existência do homem, mesmo na modernidade. 126 Diz respeito a três círculos que se entrelaçam à semelhança da figura de cinco círculos entrelaçados dos Jogos Olímpicos. 156 Propomos refletir a importância denotada aos aspectos imaginário e simbólico nos espaços da cotidianidade, mais especificamente com relação à idéia de cidade moderna 127 que se formou a partir da concretização do capitalismo, como modelo econômico e da burguesia, como modelo social. A burguesia vai tentar traduzir e adequar os espaços citadinos conforme o uso e o modelo estético próprio da classe burguesa. A cidade como o espelho do ideal burguês, refletindo as imagens que adoçam os sentidos da burguesia. Acontece que na prática as coisas não se deram segundo os desígnios burgueses, seja porque a “família de olhos”, os pobres do poema de Baudelaire, não abandonaram a cidade com a abertura dos bulevares de Haussmann128, seja porque, será o cruzamento de olhares antagônicos – o olhar da burguesia frente ao olhar do pobre – que tornará possível a cidade moderna. Pechman observa que ao se pensar o processo de transformação da cidade como objeto de discurso, cidade e discurso passam a dar “suporte à legitimação de certas imagens que por seu turno deixam de ser imagens e se transformam em práticas, em concretudes da cidade” (PECHMAN, 1999, p.64). O “entrecruzamento dos discursos” que abordam a cidade é chave fundamental à sua formação, à sua constituição, manutenção e sobrevivência. A cidade funda-se como lugar da possibilidade do diálogo entre sujeitos e classes sociais com interesses antagônicos, como lugar aberto a várias leituras, como lugar possível de traduzir desejos inconciliáveis. A cidade moderna funda-se sob a égide do espelho ítalo-calviniano que reflete, aos que chegam do mar, ansiosos por terra firme, a silhueta dos morros, das abadias e das corcovas de camelos, ao mesmo tempo em que reflete, aos que chegam do deserto, sedentos de mar, a silhueta de embarcações cujas velas infladas convidam à aventura nos confins dos oceanos (CALVINO, 2003, p.23). A cidade é produto do somatório dos desejos e, enquanto tal, sobrevive como idéia, como imagem, como construção. Bild, que no alemão significa “imagem”, guarda uma 127 Harouel especifica as cidades modernas do século XIX e XX como sendo as cidades da era industrial/capitalista/burguesa que se manifestam de forma paradigmática nos países centrais. 128 “A família em farrapos, do poema de Baudelaire, sai de trás dos detritos, pára e se coloca no centro da cena. O problema não é que eles sejam famintos ou pedintes. O problema é que eles simplesmente não irão embora. Eles também querem um lugar sob a luz”. (Berman, 1989, p.148). 157 indiscutível similitude sonora e ortográfica com a palavra build que, no inglês significa construir. Assim, podemos propor que construir a cidade é, numa visão wittgensteiniana, construir simultaneamente a imagem dessa cidade. A imagem na gênese da cidade moderna é construída, como propõe Pechman (2004), tanto a partir do dissenso e não do consenso de idéias, quanto a partir da invenção possível e não do dissídio, como Eduardo Portella expõe em “Rio, síntese aberta”. Dissenso frente ao consenso, invenção frente ao dissídio. Reside aí o aspecto diferenciador da cidade moderna que resulta da soma dos discursos que a traduzem, enquanto simultaneamente transforma-se no espelho que tenta refletir a imagem dos desejos de quem nela habita. No entanto, essa concepção de cidade moderna, cuja gênese encontra-se na construção do indivíduo racional e civilizado do século XIX, reconhece seus limites diante das crises e acontecimentos do século XX. A idéia de progresso e desenvolvimento constante da humanidade, sob a ótica ocidental capitalista, é posta em cheque frente a revoluções, crises, guerras e, finalmente, pela ameaça da hecatombe que perdurou por todo o período da GuerraFria. A racionalização do uso dos espaços urbanos orientada pela ótica ocidental capitalista resultou em segregação, gentrificação129 e esvaziamento de áreas urbanas: favela, condomínio e shopping. Segundo Préteceille, pelo menos nos últimos dez anos, verifica-se um fenômeno até então inédito na cidade ocidental capitalista que diz respeito à ocorrência de altas taxas de desenvolvimento econômico em simultaneidade com altos índices de fragmentação social. O autor propõe “a existência de um vínculo estrutural entre o tipo de transformação econômica característico dessas cidades e a intensificação de sua dualização estrutural e social” (PRÉTECEILLE, 2000, p.66). 129 Diz respeito a transformações na ocupação de determinados espaços urbanos. Em geral bairros que sofreram processos de revitalização com o objetivo de expulsar uma população heterogênea, de baixo poder aquisitivo em benefício de uma ocupação mais homogênea e rica. Os bairros de Chelsea e SoHo em Nova Iorque e South Beach em Miami são bons exemplos de gentrificação. 158 5.2 Porque o excesso de ordenamento resulta no caos. Nas anedotas borgeanas, as práticas taxonômicas de classificação e ordenamento (numerários, dicionários, enciclopédias, bestiários, etc.), quando levadas ao limite de suas possibilidades, devolvem aos seus autores nada além do caos que tanto buscaram evitar. Da mesma forma o excesso de ordenamento e racionalização no uso dos espaços públicos solapou as práticas de pertencimento através da construção de um ideal imagético de civilização. No decorrer do século XX, reconheceu-se a fragmentação de uma ordem universal, de uma moral subliminar, de uma ética conjunta que se deixava ler e traduzir nas filigranas da escritura citadina. Essa escritura compunha inúmeros e antagônicos discursos que, por sua vez, construíam o espelho da sociedade no espaço urbano. Espelho que seria o somatório das práticas e desejos dos que habitam a cidade. Como exemplo da dissolução do código moral comum, que nos referimos acima, analisa-se duas situações, uma do início do século XX, outra dos dias de hoje. As meninas dos contos “Modern Girls” de João do Rio e “A manicura” de Benjamin Costallat, vendiam-se a homens mais velhos e endinheirados com o consentimento das mães, respectivamente, na Confeitaria Colombo e no Copacabana Palace. Porém, apesar de todos, ao redor da situação, saberem que ocorria ali uma negociação ilícita, havia um consenso no que diz respeito à manutenção de um senso moral público que impunha o tom de discrição aos envolvidos. A negociação efetuava-se através de bilhetes, códigos e meias palavras. Os protagonistas da ação tinham o compromisso de, ainda que de forma falaciosa, preservar o espaço público de um esgarçamento moral além dos limites estabelecidos à época. Uma rotina nos programas do tipo reality show, como o Big Brother Brasil da Rede Globo, é a reação de apoio das famílias dos participantes, no que diz respeito à superexposição física, mental e emocional de seus filhos e filhas dentro do jogo, preocupando-se, antes de tudo, (à revelia de uma moral pública, 159 há muito capturada pela própria mídia) que estes permaneçam no jogo. Isto é, pouco importa aos pais que seus filhos adotem posturas moralmente condenáveis, mesmo para os padrões difusos de hoje, comprometendo-se emocionalmente, forjando romances e amizades relâmpagos, conspirando e mentido, às vistas de milhões de telespectadores. Sempre que entrevistados, os pais apóiam os filhos e procuram justificar as estratégias mais abomináveis que a edição da TV apresenta. O importante é ficar no jogo o máximo de tempo possível. Guardadas as diferenças entre a moral da sociedade de 1920 e a de hoje, compara-se as duas situações tendo em vista que, na primeira, a moral pública impõe-se sobre um tipo de comportamento privado, enquanto, na segunda, será o comportamento privado que se imporá sobre a moral pública. Isto é, independentemente do código moral, chama-se à atenção para o fato de que, no primeiro caso o consenso sobre uma moral única leva os personagens a agir de forma discreta, enquanto que no segundo, é o comportamento privado (ainda que exposto a milhões de pessoas) que se impõe, minguando a possibilidade de reafirmação de uma moral pública. Sob a ótica do privado e do individualismo pré-construídos midiaticamente, o limite do que seja ou não ético se dilui. De fato a única regra a ser respeitada é a de se ser fiel ao objetivo de ganhar o jogo, como se a possibilidade de ganhar o prêmio, ao término do programa, justificasse qualquer procedimento. O participante, fragilizado pelo desejo de ser catapultado à nova condição de existência espetacular, aceita as condições momentâneas, reproduzindo o comportamento previsto pelos produtores do programa130. De toda forma os produtores têm francos poderes para “narrar” histórias como lhes convier através dos recursos de edição, destacando uma ou outra característica de personalidade no sentido de transformar pessoas em personagens estereotipados facilmente decifráveis pela “massa” de 130 Patrícia Diniz, participante do programa “No Limite”, da Rede Globo, em entrevista a revista Nova, afirma que: “Acho que todos os participantes de reality shows deveriam ter acompanhamento psicológico. Antes do programa você não é ninguém e, de repente, ganha roupas, é convidado para festas e restaurantes caros, aparece em revistas. Só que isso passa e não volta” ”. (REVISTA NOVA, ano 33, n° 1, janeiro, 2005, p. 55). 160 telespectadores131. Ainda em se tratando dessa captura e substituição do real pelo imagético, como promovido pelo programa Big Brother Brasil, destaca-se que as chamadas do programa, onde pessoas na rua opinam sobre os integrantes do jogo, além de ocuparem o espaço vespertino dos flashes do Globo Cidade – programa jornalístico que aborda, in loco, problemas urbanos – o fazem empregando a repórter, Renata Capucci, cuja imagem é familiar ao público telespectador como apresentadora de noticiários. Nesse sentido, as chamadas do Big Brother Brasil emulam a forma jornalística do noticiário Globo Cidade. É bem possível que os programas do tipo “reality show” merecessem uma análise à parte. A começar pela incoerência, possivelmente proposital, no próprio nome “reality show”, visto que, “realidade” e “show” dizem respeito a universos opostos. No caso, trata-se da realidade capturada e transformada em refém, a serviço do espetáculo. Cabe ao espectador viver a condenação de se tornar um arremedo do “Big Brother” orwelliano, tendo em vista que não tem poder sobre nada e nada está a seu controle a não ser decidir sobre as formas estereotipadas que já foram decididas pelo programa com antecedência. Deixa-se, suspensa no ar, a sugestão de que hoje se realiza um movimento de retorno a uma sociedade cortesã ou pré-moderna na qual os novos eleitos são escolhidos, não mais pela vontade divina do Rei, mas, pela vontade onipotente do espetáculo. A essa nova monarquia, dos sujeitos midiáticos, cabe o reconhecimento do poder monolítico da indústria cultural. Cabe também, tornarem-se indivíduos de uma outra natureza. Destacam-se do corpo da sociedade para se tornarem, a exemplo dos cortesãos, pessoas singulares às quais todos devem render homenagem. Como os cortesãos encastelados, os seres midiáticos vivem em outra dimensão (ilhas, festas, iates, condomínios, quintas, mansões) que não comporta a cidade. Porém, impõem seu modo de vida espetacular como paradigma de sucesso para toda a 131 Tatiana Giordano, participante do programa Big Brother Brasil 4, em depoimento à revista Nova, afirma que: “Criaram um personagem para mim, durante o programa: a lutadora malvada. Depois passei uns sete meses dando depoimentos a quem nem conhecia, explicando que eu não era brava nem chata”. (REVISTA NOVA, ano 33, n° 1, janeiro, 2005, p. 55). 161 sociedade, da mesma forma que o castelo e seus nobres eram objeto de admiração à vassalagem. A apropriação chega às raias da caricatura quando o jogador de futebol Ronaldo e a modelo Daniela Cicarelli decidem casar-se no Castelo de Chantilly, reduto da nobreza absolutista francesa do século XVII. A revista Caras132 comete a redundância de colocar a matéria sobre os preparativos do casamento das celebridades antecedendo à do anúncio do casamento do Príncipe Charles com Camilla Parker-Bowles no Castelo de Windsor. Essa leitura que alerta para um possível retorno à uma sociedade de corte, atualizada pela forma midiática, percebe nesse anacronismo mais uma manifestação de um dos muitos aspectos que promovem a falência da cidade moderna. A ágora, lugar do dissenso e do debate democrático, mingua diante da nova acrópole midiática, lugar de adoração. A ascensão da acrópole midiática como negação da cidade (da mesma forma que o castelo murado negou as construções que se multiplicavam ao seu redor), nos leva de volta à questão de como o excesso de ordenamento e racionalização solapou e fragmentou aquilo que o pensamento do século XIX tentou construir na forma de uma ordem universal, de uma moral subliminar, de uma ética conjunta que se aplicasse às condições da sociedade burguesa oitocentista. Essa construção entra em colapso frente a um ideal imagético de civilização que recupera valores monárquicos de anticidade, adaptados ao caráter contingente da modernidade, na qual o arauto está condenado a gritar, todos os dias – “O Rei morreu, viva o Rei!”. Uma racionalidade numênica, que só responde a si, míope à leitura dos fenômenos à sua volta por mais óbvios que se apresentem, passa a justificar as práticas em sociedade que, por sua vez, já não aderem nem respondem a uma ética conjunta, mas, a uma moral contingente e circunstancial, como a justificativa às explosões atômicas sobre as cidades japonesas na Segunda Guerra Mundial, sob o argumento de que ocorreria um número maior 132 REVISTA CARAS, edição 589, ano 12 - n° 7- 18/02/2005. 162 de óbitos caso a guerra prosseguisse. O prognóstico de um número menor de mortes justificaria a morte indiscriminada de cidadãos comuns e o arrasamento da cidade. É a barbárie como argumento à barbárie, no século que deveria – caso se materializasse o dogma positivista do progresso histórico – colher os frutos da racionalidade arduamente semeada ao longo dos séculos XVIII e XIX. Em outras palavras, argumenta-se que o excesso de racionalidade, o apagamento da percepção fenomênica em privilégio de uma percepção numênica133 do mundo, levado ao seu limite, torna-se justificativa à barbárie. O desejo compulsivo de ordem na contingência da condição pós-moderna se confunde com o caos que se reflete na cidade e na sociedade atuais. Maciel afirma que diversos autores, como Borges, Calvino, Greenaway e Bispo do Rosário extraem, a partir das ordens e modelos classificatórios de suas criações, uma crítica, ora delirante ora irônica, aos sistemas taxonômicos, revelando a inutilidade dos catálogos e práticas de ordenamento que hierarquizam sujeitos, personagens, objetos, fatos, práticas e saberes segundo um olhar racional. A crítica desses autores “acaba por funcionar como contraponto paródico aos sistemas taxonômicos legitimados pelo logos moderno”. (MACIEL, 2004, p.24). Os autores mencionados... [...] mostram por caminhos diversos ou inversos que não obstante o gesto de classificar seja um dado presente em todos os tempos e lugares, nenhuma classificação que se quer exaustiva -– seja ela regida pelo movimento espontâneo da imaginação ou pelos critérios legitimados pela razão – é realmente satisfatória em si mesma (MACIEL, 2004, p.25). Sobre isso Peter Greenaway na ópera “100 objetos para representar o mundo” ironiza o projeto... [...] das duas naves Voyager que contendo mais de uma centena de imagens e arquivos sonoros foram enviadas ao espaço pelos norte-americanos em 1977, com o propósito de mostrar a eventuais extraterrestres a existência na Terra. Como argumenta Greenaway, é provável que tal material representativo, comportado em um espaço restrito, tenha se limitado às referências culturais da década de 70 e à visão subjetiva de um grupo de americanos brancos, de classe média, com formação científica e talvez com 133 Fenomênica é a percepção que se dá por meio dos sentidos sobre o fenômeno. Numênica é a percepção de ordem inteligível que se dá sobre o númeno que é o objeto inteligível. 163 arrogantes ideais democráticos e atitudes paternalistas em relação ao resto do mundo. Com o visível propósito de ironizar tal empreendimento, Greenaway cria a sua própria lista, inventariando um número limitado de objetos (concretos e abstratos) que, em sua opinião, poderia simbolizar e descrever (ironicamente, é claro) a multiplicidade enumerável das realizações do homem e da natureza na terra. Tais objetos [...] são recolhidos de temporalidades e culturas diversas (dependendo do país onde a ópera é apresentada, a lista passa a incorporar símbolos locais) e dispostos no espaço serial de um catálogo multimídia cuja finalidade principal não difere da de outros projetos taxonômicos do artista: desqualificar todo e qualquer esforço humano de representação racional do mundo. Uma lista que atesta não apenas a nossa diversidade, mas também a nossa vulnerabilidade, nossa irrelevância e nossa megalomania, tornando-se, portanto, crítica de si mesma e de sua própria pretensão (MACIEL, 2004, p.22, 23)134. Outros autores têm se dedicado ao escrutínio das práticas taxonômicas racionais: José Saramago no livro “Objecto Quase135” e Gabriel Garcia Marques em “Cem anos de solidão136” dedicam-se a caricaturar o absurdo dessas práticas que, via de regra, contradizemse na irracionalidade de sua pretensão hiper-racional. Porém, no campo da literatura, Borges é o autor que mais se ocupou de provocar esse desvelamento do caráter impositivo de todo recenseamento. Seja na sátira às práticas cartográficas quando fala de um mapa “que tinha o tamanho do império e coincidia pontualmente com ele”. (BORGES, 1999, p.247), seja na improbabilidade classificatória d´A Biblioteca de Babel, cujos labirintos, que guardam infinitos livros com infinitas combinações dos vinte e cinco caracteres ortográficos, são visitados periodicamente por sábios e pesquisadores em busca do desvelamento da lógica da biblioteca. Borges nos dá uma pista: Esse pensador observou que todos os livros, por diversos que sejam, constam de elementos iguais: o espaço, o ponto, a vírgula, as vinte e duas letras do alfabeto. Também alegou um fato que todos os viajantes confirmaram: Não 134 Nas palavras do próprio Greenaway, a ópera deveria corrigir um erro taxonômico:“Como poderia nosso planeta ser representado sem a nossa permissão e sem que fôssemos consultados? Era preciso que nos esforçássemos para corrigir esse erro. Assim, reconhecendo plenamente o fato de que sua opinião é tão importante quanto a minha, elaborei minha própria lista daquilo que acredito, com um misto de devida ironia e seriedade, ser capaz de representar o mundo e, de forma simples e um tanto pedante, dei a minha lista o seguinte título: “100 objetos para representar o mundo”. (www.museuvirtual.com.br/targets/greenaway/targets/opera.html. Em 11/09/04). 135 Os quase objetos de Saramago dizem respeito a objetos inventados ou de função inventada pelo próprio autor, como o automóvel que mata o seu dono em “Embargo” ou a cadeira que derruba o ditador Salazar em “A cadeira”. 136 Em Macondo, cidade onde se desenrola a trama, os moradores entram em um processo gradativo de perda de memória e passam a etiquetar os objetos mais comuns com seus respectivos nomes: armário, mesa, cadeira, parede, casa, telhado, etc. 164 há, na vasta Biblioteca dois livros idênticos. Dessas premissas incontroversas deduziu que a Biblioteca é total e que suas prateleiras registram todas as possíveis combinações dos vinte e tantos símbolos ortográficos (número, ainda que vastíssimo, não infinito), ou seja, tudo o que é dado expressar: em todos os idiomas (BORGES, 1988, p.519). Outros bons exemplos de Borges seriam O Aleph que fala de um ponto no espaço através do qual seria dado se ver tudo e todos em todas as espacialidades e temporalidades, e A doutrina dos ciclos, no qual discute as possibilidades combinatórias do microcosmo dos átomos e seus elétrons giratórios sob o olhar racional da metafísica. Tais ironias às práticas e desejos de racionalização taxonômica multiplicam-se na obra de Borges de forma generosa. 5.3 O demiurgo moderno. Retornando às questões do convívio nas cidades contemporâneas e à preservação de práticas que garantem o sentido de pertencimento através de uma sociabilidade que guarda em si características de reconhecimento entre indivíduos heterogêneos no espaço urbano, propomos a construção de um outro sujeito: o demiurgo moderno. Através de sua leitura plena de singularidades e atributos desclassificatórios das ordens taxonômicas, o demiurgo moderno estaria mais próximo de desvelar os limites dessas ordens e sugerir novos olhares e práticas que provocassem, no espaço público da cidade senettiana, a aproximação da carne na pedra137. Isto é, o resultado da ação do demiurgo diz respeito à multiplicação de práticas que devolvessem os sentidos de pertencimento e afetividade às relações cotidianas de uso e ocupação do espaço urbano. Para nomear a prática e o indivíduo buscou-se analogia com uma representação platônica denominada de “demiurgo”. A construção platônica que aponta para a verdade 137 No livro “Carne e Pedra” de Richard Sennett, a metáfora da carne diz respeito aos habitantes que se percebem acolhidos ou não pela cidade e a da pedra às construções que tornam a cidade acolhedora ou não aos seus habitantes. 165 suprema apresenta três níveis: no nível mais elevado encontra-se o mundo desmaterializado das idéias, a verdade sem sombras, o bem supremo, o mundo perfeito onde não há dúvidas. No nível intermediário há o demiurgo que tem a função de transformar em matéria o conhecimento perfeito do mundo das idéias que paira acima. No nível inferior encontra-se o mundo material, o mundo dos homens que é criado a partir da tradução que o demiurgo faz do mundo perfeito das idéias. Assim, segundo Platão, no processo de materialização das idéias, o demiurgo faria cópias imperfeitas da idéia perfeita. O mundo dos homens seria imperfeito, cheio de dúvidas, contradições e sombras, porque as idéias perfeitas ao sofrerem a tradução do demiurgo, isto é, ao serem materializadas, se transformariam em matéria imperfeita. Por isso o mundo concreto dos homens apresenta-se como uma cópia incompleta do mundo espiritual das idéias. Ao contrário do demiurgo clássico, o “demiurgo moderno” é aquele que traduz em forma de representações, não o mundo superior platônico, mas o mundo dos homens o qual habita e devolve a esse mesmo mundo uma visão mais clara, menos alienada e mais afetuosa de si. Sobre a cabeça do demiurgo moderno, no lugar do mundo perfeito das idéias platônicas paira, pesadamente, como uma impropriedade da física, a estrutura onipresente e onipotente do “espetáculo” guy-debordiano que vilipendia as traduções propostas pelos homens, transformando-as em mercadoria, em valor de troca, que alimenta o mundo superior da elite midiática, da arte midiática, do esporte midiático, da ciência midiática, da política midiática e dos demais campos midiatizados da cultura. O espetáculo é a forma mais sutil e depurada do capital que substituiu o Deus cristão como dogma e substância naturalizada de dominação para a sociedade burguesa. O Deus cristão punitivo (ocupando o plano superior que, há tempos, já pertencera ao mundo perfeito das idéias platônicas) é modernamente substituído pelo capital que confunde as relações de dominação através da fetichização das mercadorias138. O capital adentra o século XX sob uma forma mais sutil e 138 “Uma relação social definida, estabelecida entre os homens, assume a forma fantasmagórica de uma relação entre coisas. Para encontrar um símile, temos de recorrer à região nebulosa da crença. Aí os produtos do 166 desenvolvida: o espetáculo, que promove a fetichização da imagem-mercadoria sobre a matéria-mercadoria. Sob essa nova relação de dominação, pensa-se no demiurgo moderno como aquele que se nega a reproduzir o plano superior do espetáculo e, consciente da dominação, propõe, através das práticas autorais, materializar o espaço do não-espetáculo, o espaço-cidadão. Numa sociedade atravessada pelo solapamento da leitura da comunicação de massa, podemos começar a analisar como a prática do demiurgo moderno pode ser transformadora no sentido de possibilitar a redescoberta de singularidades que por sua vez revertam o quadro que sentencia as cidades aos condomínios, shoppings e favelas (espaços supercontrolados) e os indivíduos à ameaça da convivência normatizada pela barbárie. Iniciativas como associações comunitárias, centros de formação profissionalizante, centros de cultura, rádios comunitárias, jornais comunitários, produção local de documentários, festividades e manifestações culturais, atividades esportivas e artísticas desenvolvidas na comunidade, para a comunidade e por cidadãos da comunidade139, com o objetivo de ampliar a inserção dos indivíduos na cérebro humano parecem dotados de vida própria, figuras autônomas que mantêm relações entre si e com os seres humanos. É o que ocorre com os produtos da mão humana, no mundo da mercadoria. Chamo a isso de fetichismo, que está sempre grudado aos produtos do trabalho, quando são gerados como mercadorias. É inseparável da produção de mercadorias”. (MARX, 1968, p.81). 139 Alguns exemplos dessas iniciativas são: 1) A luta dos quilombolas da Ilha de Marambaia contra a Marinha do Brasil, primeiro pelo reconhecimento do grupo como quilombo, depois pelo reconhecimento do direito de uso da terra, atualmente em poder da Marinha. 2) A criação da Rádio Grande Tijuca que atende às comunidades do Borel e adjacências. A trajetória da rádio, que começou como “rádio poste” (auto-falantes pregados aos postes da favela), transformando-se em “rádio pirata”, e, finalmente em rádio comunitária é caracterizada pelo desejo de ser uma voz da comunidade que se antagoniza à representação espetacular da violência e do medo promovida pelos meios de comunicação de massa ao selecionar e noticiar os fatos que ocorrem na comunidade do Borel. 3) A criação do centro de recreação e atividades culturais de “Vila Aliança” em Bangu, sob a direção de Dona Zica que, junto à associação de moradores, atende crianças e jovens através de atividades esportivas, artísticas e educativas, com ênfase no teatro, dança, futebol, capoeira e leitura de contos infantis. 4) A iniciativa da escola comunitária de música: Meu Kantinho, Centro de Cultura, do músico Sebastião Cloves, violonista de Jamelão, que desenvolve um trabalho voluntário voltado para os moradores da região da Penha Circular. O centro é um foco de resistência e divulgação de gêneros musicais “genuinamente brasileiros” como o Samba e o Choro. Acontecem no local várias festividades como festas juninas, Dia dos pais e Dia das mães, Festa de N. S. da Penha, Santa Cecília e São Jorge. 5) A criação da TV-ROC, TV comunitária a cabo que, a preços subsidiados, disponibiliza uma quantidade considerável de canais de vários países (Espanha, Itália, França, Inglaterra, Portugal, etc.) aos moradores da Favela da Rocinha, abrindo opções de programação ao monopólio da Rede Globo. 6) A formação do Corpo de Dança da Maré, com 63 integrantes, adolescentes, da Favela da Maré, organizados pelo Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré, que resultaram em três espetáculos: Mãe Gentil, Danças da Maré e Folias Guanabaras. Uma das integrantes declarou: “Depois que entrei no grupo de dança comecei a freqüentar lugares bonitos, viajar para São Paulo, Salvador, de avião, fico triste de ver meus pais que trabalham tanto sem ter oportunidade de viver as mesmas coisas” (VARELLA, 2002, p.109). 167 sociedade, seriam exemplos da prática demiúrgica, porém seriam insuficientes como definição da ação do demiurgo moderno. A construção do demiurgo moderno, como positivação da categoria “não-indústria cultural” é mais do que isso. Até esse ponto da dissertação desenvolveu-se a categoria do sujeito-autoral, propondoo como o autor que, através de sua arte, expõe as práticas de esvaziamento e despolitização do conflito urbano, promovidas pelos meios de comunicação de massa. Analisou-se como esse sujeito-autoral confecciona um tecido simbólico que adere ao espaço vivido, construindo narrativas que buscam interromper o esvaziamento do espaço público, ao mesmo tempo em que se caracteriza como alternativa à leitura monolítica que a industria cultural faz da cidade. Literatura, cinema, fotografia, pintura, música e artes em geral prestam-se como representações do espaço urbano e como vozes que questionam a leitura racionalizante, convergente e mercadológica da indústria cultural. Isso também diz respeito, a exemplo das iniciativas comunitárias, à prática do demiurgo moderno. Porém a prática do demiurgo é mais do que isso. A partir desse ponto chega-se à construção mais completa do sujeito que concretiza aquele que, ainda que capturado pelo “espetáculo”, está esperneando. Esse sujeito, mais do que o sujeito-autoral (visto que não precisa necessariamente produzir arte), caracteriza-se por reescrever a escritura urbana, através de pequenos gestos, leituras e olhares sobre o espaço cotidiano de forma a propor, em suas práticas, uma nova escritura urbana, onde o espaçocidadão, a ágora moderna, reassuma o seu lugar no “centro” da cidade. Esse sujeito está plasmado no cidadão comum, no indivíduo que percebe o minguar do espaço-cidadão. Este é o ponto nevrálgico da dissertação a partir do qual já é possível a elaboração do argumento que aponta para a importância da prática autoral nas relações de pertencimento entre pessoa e cidade. 168 Ao interagir como ser social, público e participante da história da cidade (ou do lugar ao qual se sente motivado a exercitar práticas de pertencimento), o demiurgo moderno desenvolve em si o sentido da imortalidade, isto é, a história de sua vida se confunde com a história da própria cidade que tem por princípio e função ser o tópos central da linguagem e das representações que perpetuam a existência140. Hannah Arendt141 afirma que a luta pela imortalidade é o modo de vida do cidadão. Porém, ao ser quebrado o elo entre o homem finito e a cidade longeva, ou, numa perspectiva arendtiana, ao ser quebrado o elo entre o sujeito e sua criação, a mortalidade apodera-se das práticas e percepções do indivíduo, não mais cidadão, não mais sujeito, nem autor e nem criador do espaço urbano. A partir desse cisma, entre indivíduo e espaço público, a necessidade de experimentar e consumir emoções de caráter individualista, tal qual a exigência por resultados cada vez mais imediatos e funcionais torna-se o mote que governa as práticas. Na lógica desse indivíduo imediatista e pragmático, a morte e o desaparecimento da memória são inevitáveis. Esse desaparecimento ocorre durante o processo de experimentação de desejos individualistas que pouco ou nada dialogam com a idéia de obra e muito se aproximam da prática do consumo que, ex-post, reafirma ao indivíduo sua condição mortal142. Sob o imediatismo da realização do desejo de consumo, imposto pela lógica hiper-racional da sociedade contemporânea, sempre respondendo às leis 140 Ao descrever a cidade benjaminiana, Matos afirma que: “A história individual e a coletiva são inseparáveis, a rua lateja fora e dentro daquele que vai percorrê-la e mapeá-la” (MATOS, 1944, p.44). 141 Arendt em A condição humana observa que: “Inserida num cosmo onde tudo era imortal, a mortalidade passou a ser o emblema da existência humana. Os homens são os mortais, as únicas coisas mortais que existem porque, ao contrário dos animais, não existem apenas como membros de uma espécie cuja imortalidade é garantida pela procriação. A mortalidade dos homens reside no fato de que a vida individual, com uma história vital identificável desde o nascimento até a morte, advém da vida biológica. Essa vida individual difere de todas as outras coisas pelo curso retilíneo de seu movimento que, por assim dizer, intercepta o movimento circular da vida biológica. É isto a mortalidade: mover-se ao longo de uma linha reta num universo em que tudo o que se move o faz num sentido cíclico. (...) A tarefa e a grandeza potencial dos mortais tem a ver com sua capacidade de produzir coisas – obras, feitos e palavras – que mereceriam pertencer e, pelo menos até certo ponto, pertencem à eternidade, de sorte que através delas, os mortais possam encontrar o seu lugar num cosmo onde tudo é imortal exceto eles próprios. Por sua capacidade de feitos imortais, por poderem deixar atrás de si vestígios imorredouros, os homens, a despeito de sua mortalidade individual, atingem seu próprio tipo de imortalidade e demonstram sua natureza <<divina>>.” (ARENDT, 2000, p.27) 142 Não é por acaso que, Everardo Rocha, em “A sociedade do sonho”, propõe que a temporalidade da publicidade seja circular e anti-histórica, com a finalidade de ludibriar o consumidor ao vender a imortalidade desse universo como que agregada aos produtos. 169 do mercado, tornam-se exíguas as chances de desenvolvimento de laços afetivos entre indivíduo e cidade, visto que a construção desses laços raramente se dá de forma correlata às expectativas de reprodução e acúmulo de capital, ex-ante, propostas pela prática do consumo e pela inserção social do indivíduo como consumidor, diferente de uma inserção pela via do trabalho, pelas relações de vizinhança ou pela ação política no sentido amplo do termo143. 5.4 O espaço-cidadão frente o olhar midiático. A prática demiúrgica. Os sujeitos da mídia, a serviço da lógica funcional ordenada pelo mercado, compactuam com a falência dos laços de sociabilidade, dos códigos morais e das práticas do demiurgo moderno que atualizariam o sentido de pertencimento entre o indivíduo e a cidade, entre a pessoa e o espaço cotidiano. A mídia é cúmplice dessa falência ao homogeneizar as leituras da cidade, isto é, ao solapar as leituras singulares do cotidiano, respondendo ao mecanismo da concorrência de mercado. Esse mecanismo mais uniformiza do que diversifica tendo em vista que os veículos e os jornalistas “estão sujeitos às mesmas restrições, aos mesmos anunciantes e as mesmas pesquisas de opinião” (BOURDIEU, 1997:31). Ao penetrarem todos os campos da cultura – da matemática ao samba – os meios de comunicação passam a determinar novos ordenamentos, novas hierarquias, novos sujeitos, impondo uma dominação que é construída fora do campo144 e que responde não mais aos 143 Peralva, em Violência e Democracia, o paradoxo Brasileiro, assinala “a oposição perceptível entre as atitudes e as representações típico-ideais dos trabalhadores adultos e dos jovens pobres. Os primeiros – homens, chefes de família, no mais das vezes operários da construção ou prestadores de serviços – reivindicavam ativamente os valores do trabalho e consideravam-se provedores das necessidades familiares. Os jovens tinham de si mesmos uma imagem de consumidores potenciais. Tal mudança era evidentemente fundamental do ponto de vista das condições de estruturação do vínculo social. O trabalho não havia deixado de ser no Brasil uma experiência cotidiana da juventude pobre, mas já havia deixado de ser um elemento central de articulação da experiência popular. Ele havia deixado de ser meio de vida para tornar-se vetor de um consumo personalizado. O acesso ao consumo havia-se ampliado em comparação com o passado, ao mesmo tempo, já não era mais exclusivamente determinado pelas prioridades coletivas familiares, individualizando-se cada vez mais” (PERALVA, 2000, p.31). 144 “Um campo é um espaço social estruturado, um campo de forças – há dominantes e dominados, há relações constantes, permanentes, de desigualdade, que se exercem no interior desse espaço – que é também um campo 170 critérios específicos de cada campo, mas ao critério universal da comunicação de massa. Segundo Bourdieu, ocorre em nossos dias uma cumplicidade entre os campos específicos e a mídia: Quando esse ou aquele produtor de programas de televisão convida um pesquisador, ele lhe dá uma forma de conhecimento que até nossos dias, era acima de tudo uma degradação. [...] A arbitragem da mídia se torna cada vez mais importante, na medida em que a obtenção de créditos pode depender de uma notoriedade da qual já não se sabe muito bem o que deve à consagração da mídia ou à reputação aos olhos dos pares (1997, p. 86,87). O cientista midiático ou o sambista midiático, resultantes da heteronomia provocada pela indústria cultural, modificam as relações de dominação originadas a partir do reconhecimento dos pares em seus campos específicos. Da mesma forma, a cidade midiática, construída na televisão, altera a percepção da cidade cotidiana, construída a partir das práticas, laços e códigos que tecem o tecido social. Na novela da Rede Globo, “Celebridades”, do ano de 2004, construiu-se cenograficamente um subúrbio (bairro do Andaraí na Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro) onde todos agiam de forma peculiar e antagônica aos personagens que residiam na Zona Sul. Essa construção, que não resiste à mera observação da cotidianidade do bairro, presta-se a reforçar falsas diferenças, falsas distancias, estereótipos e preconceitos, como se o subúrbio, antinomia da Zona Sul, fosse uma vila ainda marcada por relações arcaicas de vizinhança onde todos se conhecem e se ajudam. Essa ameaça da televisão “expõe a um grande perigo as diferentes esferas da produção cultural, arte, literatura, ciência, filosofia, direito; (...) ela expõe a um grande perigo a política e a democracia” (BOURDIEU, 1997, p.10). Outros exemplos: 1) Na política: o episódio de Brizola com a Rede Globo nas eleições para o Governo do Rio em 1984, quando a Rede Globo tentou e quase conseguiu eleger seu próprio candidato, depois a eleição de Collor em 1989, quando a Rede Globo saiu vitoriosa. 2) Na literatura: o sucesso de escritores de lutas para transformar e conservar esse campo de forças” (BOURDIEU, 1997, p.57). “O universo do jornalismo é um campo, mas que está sob pressão do campo econômico por intermédio do índice de audiência. E esse campo muito heterônomo, muito fortemente sujeito às pressões comerciais, exerce, ele próprio, uma pressão sobre todos os outros campos” (BOURDIEU, 1997, p.77). 171 sem grandes atributos literários, mas que alcançam notoriedade de fora para dentro do seu campo, como Paulo Coelho, citado pela atriz Júlia Roberts145, como sendo o autor responsável pelo seu sucesso em Hollywood. 3) Na ciência: cientistas midiáticos como Jacques Cousteau ou Carl Sagan, da série Cosmos, cujas produções em seus próprios campos foram minúsculas comparadas ao enorme sucesso que obtiveram na TV. Por trás desse domínio midiático a satisfazer egos e vaidades através de uma nova ordenação emancipada e descomprometida com a ética e os códigos do campo emulado – a ciência, a música, o esporte – constrói-se o sujeito hiper-individualista. No limite das práticas individualistas que resultam na valorização ilimitada da capacidade de consumo e do excesso de autocapacitação ou de investimento individual, criase o que denominamos de hiperindivíduo. O hiperindivíduo, a exemplo do indivíduo hipermoderno que Pechman analisa146 em Castel e Haroche147, destaca-se do corpo social e do espaço público, ao não se permitir nenhuma forma de aderência, reconhecimento ou diálogo com o domínio público. O hiperindivíduo estabelece-se nos limites do espaço e do consumo privado, ele não guarda nenhuma expectativa do que é público ou político. Por conseqüência, imagina que este público nada deva esperar dele. O hiperindivíduo, no lugar de conviver, defende-se do espaço público protegido por serviços privados de segurança e por planos privados de saúde e pecúlio. Cabe a ele arcar com o ônus de sua formação em instituições privadas de ensino, acumulando títulos e especializações como garantia à flexibilização das relações no mercado de trabalho. A patologia dessa prática diz respeito ao excesso de 145 Em depoimento ao telejornal de variedades da rede CNN, 12/07/2004. Segundo Haroche, “os indivíduos hipermodernos não são mais estruturados pelo social da mesma maneira que antes, é a própria noção do social que teria tendência a se apagar. Eles não vêem mais o social como uma instância, uma esfera exterior a eles, a qual eles deveriam se referir e se identificar”. Para Castel o indivíduo que não adere a mais nada é um “indivíduo com excesso de subjetividade, um indivíduo em que o excesso de investimento em si mesmo o desprendeu do social (e que) esta além da transgressão e da culpabilidade, como se ele tivesse dissolvido o mundo e o tivesse recoberto com as exigências de seu egotismo num subjetivismo sem limites ” (PECHMAN, 2004, p.12). 147 CASTEL ; ROBERT ; HAROCHE,. Propriété privée, propriété social, propriété de soi. Entretiens sur la construction de l’individu moderne. Paris : Fayard, 2001, p.108, 150. 146 172 investimento em si que leva o hiperindivíduo a não mais aderir ao tecido social e a superar a "civilité", a “politesse” e a “urbanité”. (PECHMAN, 2004, p.10) Indivíduos assim percebemse além da transgressão e da culpa tendo em vista que não enxergam o espaço público como lugar propício ao exercício dos deveres e direitos comuns a todos. A lógica hiper-individual transgride, suborna e fere o âmbito público sem culpa, por ser indiferente a ele, por não reconhecê-lo em nenhuma instância – social, política, jurídica. Para Robert Castel, até os anos 70 a cidade ainda era o ponto de convergência das estratégias coletivas e individuais, onde a multiplicidade dos interesses e desejos encontravam sua expressão e acolhimento no exercício das lutas políticas, no exercício das liberdades e na luta pela criação de direitos e responsabilidades. O esvaziamento do poder urbano só se daria pela posterior precarização do pertencimento ao coletivo, que abriria caminho para o processo de reindividualização, com forte impacto sobre a capacidade do indivíduo resimbolizar o social”. (CASTEL ; HAROCHE 148 apud PECHMAN, 2004, p.5). Os discursos da violência e da eficiência, a privatização dos espaços destinados às práticas de sociabilidade, a afirmação da cidadania através do consumo individual e do consenso mudo, a multiplicação de condomínios fechados, shoppings, serviços e equipamentos de segurança privada, câmeras, muros, ruas cerradas, enclaves interligados, onde o entorno – que deveria ser a cidade – pouco importa, são o resultado da hiperindividualidade que se estende verticalmente de cima para baixo pelas demais camadas sociais, haja vista, por exemplo, a penetração desse discurso, na forma de práticas, equipamentos e serviços em bairros populares, periféricos e de baixa renda. Sob o signo do medo e a possibilidade da violência se concretizar, o que é sempre justificativa ao individualismo, dá-se o naufrágio do espaço público, do poder público ou, como prefere Pechman, do “poder da cidade”. O autor afirma que a sociedade mergulha em um estado de não negociação, onde o silêncio imposto pela violência – ou a possibilidade dela 148 CASTEL ; ROBERT ; HAROCHE, Claudine. Propriété privée, propriété social, propriété de soi : entretiens sur la construction de l’individu moderne. Paris: Fayard, 2001, p.108, 150. 173 – leva a uma espécie de pacto, a um consenso onde o “afrontamento é substituído pelo evitamento” (GAUCHET apud PECHMAN, 2004, p. 4149). Ao se reduzir a transgressão à lógica das práticas que justificam o individualismo, transgredir passa a sugerir, exclusivamente, saquear o espaço público, a ordem pública, assaltar a cidade no sentido de esvaziá-la em benefício da expansão dos espaços privados. A transgressão de hoje transgride menos que a de ontem, em vista da redução léxica sofrida pelo significante. O roubo, o saque, o delito sempre existiram, com mais ou menos intensidade, na história da cidade. Porém, a transgressão que diz respeito à ocupação política dos espaços públicos, que diz respeito a tomar a cidade, a usar a cidade em suas possibilidades políticas, transformada em ágora moderna (seja de forma contingente, como no Maio de 1968, seja de forma revolucionária como na Comuna de 1870 e na São Petersburgo de 1917), essa, aparentemente, arrefeceu. Sucumbiu ante os discursos individualistas que, em nome do consumo conspícuo, promovido pela mídia e alimentado pelo bricabraque tecnológico, seduzem o indivíduo a trocar, com boa vontade, a condição de demiurgo moderno, capaz de produzir representações e usos criativos do espaço, pela condição psicologizada do leitor de almanaques de auto-ajuda, em que, segundo Pechman: “Ser você mesmo é não ter limites para possuir” (2004, p. 6). Um exemplo de como a mídia promove o hiperindivíduo está no enfoque da matéria150 sobre a ascensão do empresário carioca Alexandre Accioly. Matérias sobre celebridades é o que há de mais comum na mídia, e esta se destaca pelo tom de exaltação que, caso não fosse para ser levada a sério, pareceria pilhéria. A matéria começa narrando o cotidiano do empresário. Para ele o fim de semana começa na sexta-feira, quando embarca em seu helicóptero Esquilo (R$ 2 milhões), e ruma para a sua propriedade em Angra do Reis. Ali, aos sábados, ele costuma navegar em seu iate de 55 pés (R$ 1 milhão) em busca de mais um objeto de desejo: uma ilha (coisa de R$ 2 ou 149 150 GAUCHET. La démocratie contre elle-même. Paris: Gallimard, 2002. JORNAL DO BRASIL, Revista de Domingo. Ano 26 - n° 1.310 – 10 de junho de 2001. p. 26 - 30. 174 R$ 3 milhões). Na semana passada, Accioly viajou para a França onde foi assistir ao torneio de tênis de Roland Garros. Depois passará duas semanas na Riviera, entre Antibes e Saint Tropez, onde alugará um barco com amigos. Até esse ponto não há nada de extravagante a não ser a adoração obstinada ao estilo de vida das celebridades. Aos poucos a matéria vai se tornando opinativa, determinando o que é ter bom gosto. De certa forma Accioly é um emergente. Mas um emergente que, ao ter dinheiro, passou a usá-lo com bom gosto. Virou amigo de ricaços de berço (João Paulo Diniz, herdeiro do grupo Pão de Açúcar, Álvaro Garnero, do grupo Brasilinvest, Alessandro D’Eclessia cuja família tem negócios com Roberto Marinho), de celebridades (Luciano Huck, Luciano Szafir, Rick Amaral) e de políticos (os deputados Rodrigo Maia, filho de César Maia e Aécio Neves). A idéia de exultar o estilo de vida da celebridade é uma forma bastante convincente de despolitização da sociedade, tendo em vista que incentiva todo indivíduo a adotar estratégias individuais que apontem para o mesmo fim ou paradigma de sucesso. Para a mídia, uma vez alcançado o objetivo de elevar-se ao plano das celebridades, o indivíduo passa a ser julgado pelo seu sucesso que torna simpática qualquer estratégia. Accioly começou a se virar cedo. Aos oito anos, mandou fazer oito caixas de engraxate e as distribuiu entre os amigos. ‘Eu ficava de bicicleta ali na Praça Antero de Quental vendo se eles estavam engraxando mesmo. No final do dia, embolsava metade do faturamento. Mas, eu comprava a graxa, as flanelas, tudo’. A matéria segue construindo o perfil do empresário. ‘Sempre criei metas materiais para buscar’. Até agora, conseguiu realizar todas. Mas é o apartamento onde mora avaliado em R$ 9 milhões que mais o motivou. – ‘Quando jogava vôlei na praia de Ipanema, olhava para o prédio com cobiça. Ainda vou morar aqui.’(...) Dos incontáveis bens que o dinheiro trás, Accioly também aprimorou sua forma física. Desde que vendeu a Quatro A [empresa de telemarketing], ele emagreceu 20 kg. Com seu 1,86 de altura, os 89 quilos lhe caem muito bem. É forte. Bronzeado e saudável. (...) Tem um guarda roupa abarrotado de calças e sapatos Prada, camisas e paletós Armani. No ramo das idéias Accioly diz ter um apreço especial por livros de autoconhecimento. ‘Li muito Paulo Coelho, Mulheres inteligentes e escolhas insensatas e aquela trilogia He, She, We. Gosto de literatura prática’. 175 A caracterização de muitos dos atributos do hiperindivíduo é mais do que evidente. A matéria faz apologia a um estado de individualismo pleno. Um estilo de vida consumidor que justifica dirigir um Porsche pelas ruas da cidade ou ignorar os amigos do tempo em que não era celebridade. Ainda assim a matéria classifica Accioly de generoso por ser educado com os novos amigos ou por oferecer “em sua casa uma festa de aniversário para o deputado Aécio Neves”. Que devolve a “generosidade” afirmando que: “O Accioly é o exemplo do Brasil empreendedor”. A matéria, ao qualificar como exemplar o estilo de vida do hiperindivíduo, torna-se irremediavelmente míope ao amesquinhamento do espaço-cidadão que resulta da prática do hiperindivíduo. A despeito do exemplo acima, não se deve pensar o demiurgo moderno, o autor, como o alter ego do consumidor conspícuo, mesmo porque a indústria cultural chega a todos. Como exemplificou Jappe151, um desenho animado com Mickey e Pateta de férias nas montanhas é algo que pode interessar pessoas de universos tão antagônicos quanto os de uma atriz de filmes pornográficos ou de um aiatolá. Se a onipresença da televisão é um fato, é um fato também o ambiente social favorável que, na década de 50, a televisão encontrou para se instalar frente à mesa de jantar da família de classe média norte-americana. Tal ambiente, sugerido por Jappe, apontava para a dificuldade de comunicação pessoal entre pai, mãe e filhos, uma espécie de desconforto instaurado no seio da família de classe média ocidental, para a qual a tela da televisão assumiu a função de ponto de fuga, aos olhares cruzados à mesa. Apesar do caráter um tanto psicologizado dessa leitura não se pode ignorar o fato da mensagem televisiva impor-se sobre o espaço privado, catequizando-o segundo critérios de comportamento e consumo, para, depois, impor a lógica desse privado catequizado nos espaços públicos. 151 Segundo anotações colhidas da apresentação do autor no ciclo de seminários “Muito além do espetáculo”, Teatro Maison de France, 2003, organizado por Adauto Novaes com o apoio da UFRJ e da UFPR. 176 Como exemplo da construção midiática da anticidade analisa-se o anúncio do Morumbi Shopping152 que se estende por treze páginas da revista Caras153. A tônica do anúncio é comparar o espaço público – sujo, confuso e entristecido – com algum produto que sintetiza a diversidade e a sofisticação do shopping center. A primeira comparação: em primeiro plano vê-se um senhor envelhecido e amargurado. Ao fundo, escuro, vazio e fora de foco, vê-se um mercado onde só é possível enxergar alguns queijos e conservas. Na foto, em preto e branco, predominam tons escuros que reforçam a atmosfera de desolação da cidade. Vira-se a página e compara-se a foto anterior com as fotos de um sundae de morango e de um garçom jovem e bonito, com um leve sorriso nos lábios, segurando um prato de fettuccine com frutos do mar, tudo colorido, sob um fundo branco que sugere a clareza, a limpeza e a organização do shopping center. A legenda informa: “A maior área de alimentação do Brasil. Isso é só um aperitivo do que você encontra por aqui”. A segunda comparação: um artesão de rua, negro, barbudo, empobrecido, sujo, estereótipo do tipo perigoso e drogado, usando uma boina e uma camiseta de Bob Marley, no rosto o mesmo olhar amargurado do velho no mercado. A rua é escura, incrivelmente suja e vazia, as bijuterias sem foco e sem luz estão dispersas sobre uma toalha preta. Vira-se a página e se é induzido a comparar a foto em preto e branco do artesão com a foto colorida de uma belíssima mulher de cabelos longos e formas esculturais. Um colar de ouro é destacado em seu pescoço. As imagens sob o mesmo fundo branco denotam a mesma clareza, limpeza e organização. Lê-se a seguinte legenda: “É difícil decidir o que provar primeiro, os pratos ou a roupa”. Terceira comparação: Novamente em preto e branco, dois senhores aparentando mais de sessenta anos, um engraxate, outro alfaiate olham para a câmera. A mesma cidade escura e vazia, os mesmos olhares amargurados. Vira152 REVISTA CARAS. Edição 586 – Ano 12 - nº 4 – 28/01/2005. Fotos nas páginas 205, 206, 207 e 208. O uso da Revista Caras justifica-se considerando que certas mídias impressas caracterizam-se como mídias convergentes ou complementares do universo da TV. Isto é, todo o seu conteúdo faz referência ao universo das celebridades, o que significa dizer que nada do seu conteúdo faz referência ao cotidiano do cidadão. Inventar uma ilha fora do espaço público, com o objetivo de produzir acontecimentos que têm por protagonistas as celebridades da TV e da indústria cultural, muito se aproxima do modelo de reality show, onde o real é substituído por um modelo de real adaptado e refém das necessidades tecno-ideológicas da TV. 153 177 se a página e vê-se em primeiro plano uns sapatos requintados, brilhantes e vivos, em oposição ao engraxate, em segundo plano um modelo belíssimo usando terno preto, jovem, cabelos sobre os olhos, ar moderno e vibrante, em oposição ao alfaiate. Como que se desculpando do ar entristecido e decadente com que representa a cidade, a legenda explica: “O bom de São Paulo ser cinza é que cinza combina com tudo”. Quarta e última comparação: uma menina negra, pés descalços, parada sobre um jogo de amarelinha, numa rua vazia, o rosto escurecido pela falta de luz da foto em preto e branco, o mesmo olhar entristecido a encarar a câmera, o mesmo cenário de pobreza, sujeira e escuridão. Ao fundo casas velhas, de paredes sujíssimas com a pintura descascada, janelas quebradas. Na página ao lado, induz-se à comparação da menina pobre com um brinquedo de agarrar bichos de pelúcia, cheio de bonecos coloridos em seu interior. Tudo é muito limpo e colorido sobre o mesmo fundo branco. A legenda informa: “Dizem que shopping é a praia de paulista. A diferença é que quando chove, vai mais gente ainda”. Essa construção da anticidade, que diz da substituição da cidade pelo shopping ou da substituição do espaço público pelo privado, repete-se comumente pela mídia, justificando a idéia da substituição do cidadão pelo consumidor ou do sujeito político pelo hiperindivíduo. Em última análise, indiferente às crises, conflitos e desigualdades sociais, sustenta-se o mesmo ambiente favorável à televisão que se estabeleceu na pujança econômica dos anos 50. Propomos que o demiurgo moderno seja aquele que, mesmo, como todo cidadão, exposto e atravessado pelos mecanismos de reprodução da mensagem que a TV irradia, aja à revelia desse ambiente favorável à televisão que constrói a anticidade. O que significa dizer que o demiurgo moderno está plasmado no cidadão comum, cuja ação é uma resposta à construção da anticidade. É o citadino que percebe o espaço cidadão sendo minguado e substituído pelo espaço midiático. Amiúde, não se trata de assistir ou não televisão, de comer hambúrguer, consumir marcas, ler revistas idiotas ou de caminhar nos labirintos lisérgicos de 178 um shopping center. Exposto todo indivíduo está. Na análise do que está fora e do que está dentro do “espetáculo”, Debord afirma que tudo está dentro. Porém, é possível pensar no demiurgo moderno, como sendo aquele que está dentro, mas esperneando. Aquele que entra no sistema falando, provocando o dissenso, provocando a narrativa. O próprio Debord serviria de exemplo concreto. Logo, não se trata de um herói ou um novo messias, a questão é de prioridades, de hierarquizar as práticas, de privilegiar ou não o modo de vida proposto pela indústria cultural, sintetizado pela imagem da televisão, soando sobre o silêncio das bocas e o evitamento dos olhos na sala de jantar. A construção do demiurgo moderno diz respeito a devolver o verbo a boca , o olhar ao olho e a narrativa à cidade. A prática autoral do demiurgo moderno estende-se para além do escritor, do artista e das iniciativas comunitárias. Isto é, é tudo isso e mais ainda. Diz respeito a acentuar as ações políticas no sentido de recolocar o conflito, ainda que seja através de pequenos gestos que re-politizem as relações em sociedade. Se a TV despolitiza a sociedade, o pequeno gesto, sutilmente, recoloca o conflito. O pequeno gesto do demiurgo moderno diz respeito a, por exemplo, voltando para casa, após uma noite de escrutínios pelas ruas da cidade, tirar o casaco de muitas peregrinações e cobrir o mendigo, menos pela caridade do que pelo desejo de dar um destino poético àquele momento, como uma forma de inscrever naquele lugar uma nova leitura de cidade. E o lugar onde se cobriu o mendigo passa a ter outra textualização, uma espécie de escritura, como uma marca autoral da passagem do demiurgo por ali. Adiante, os filhos, sobrinhos e netos contarão do feito descrevendo o lugar, os detalhes do acontecimento, e o somatório desses pequenos gestos, mas de vastas possibilidades, recupera mais que uma ética social urbana, recupera o sentido da imortalidade arendtiana. Escapa-se de Cronos, do tempo devorador de seus filhos, e retorna-se a Aion154, ao movimento circular. Se, como ser biológico o animal é preservado e torna-se imortal procriando e reproduzindo-se na natureza, 154 Sobre Aion e Cronos, referências no sub-capítulo 2.2.3. p. 82. 179 como ser cultural, o homem torna-se imortal ao deixar sua marca, seu texto, sua escritura na carne e na pedra da cidade longeva. Daí então, uma esquina, um certo cinema ou uma prancha de tábuas, à beira de uma lagoa urbana, incorporam-se à história do indivíduo que a partir do pequeno gesto, um cruzamento de olhares, um abraço sincero selando uma grande amizade, o primeiro beijo de um amor que se quer para sempre, insere naquele espaço um novo texto que se incorpora à escritura urbana. E ainda que a teledramaturgia utilizasse a mesma prancha de tábuas à beira da mesma lagoa urbana como cenário de um beijo fictício, dificilmente o demiurgo moderno cairia na ilusão de reconhecer-se ali, na ausência dos odores, do hálito das bocas e no distanciamento inevitável da imagem no écran da televisão. A poética daria lugar à pieguice, a memória à pasteurização e a percepção dos limites das representações imagéticas e não-autorais saltaria aos olhos como o desvelamento de um estado hipnótico no qual se viveu até então. De outra forma, a mesma prancha de tábuas pode tornar-se não o lugar de um beijo real, sequer de um beijo imagético, mas o lugar de um crime ou ainda um lugar propício, segundo o imaginário social (formado, em grande parte, pelos meios de comunicação de massa), à ocorrência de crimes. Por não ter tido nenhum tipo de ocupação ou uso, isto é, por ter permanecido como uma página em branco no exercício de composição da escritura urbana, a prancha de tábuas, à beira da lagoa urbana, torna-se vulnerável à barbárie real ou imagética. A prancha corre o risco de ser escrita não por iniciativa do demiurgo moderno, mas pelo olhar solapante da comunicação de massa que, para vender mais sabão em pó ou eleger este e não aquele político profissional, transforma a prancha não mais em lugar do beijo imagético, mas em lugar do perigo imagético, isto é, um lugar propício à ocorrência de violência. O processo pode dar-se da seguinte forma: Por falta de uma pauta mais interessante e diante da necessidade de preenchimento do espaço do veículo, orientada pela constante necessidade de “vender sabão”, a editoria de cidade de um telejornal qualquer resolve produzir uma 180 reportagem sobre o perigo de se passear a noite na lagoa urbana. Preenche-se o texto com adjetivos que sugiram medo: escuro, ermo, isolado, abandonado. Busca-se por dados que indiquem o número de assaltos e furtos que ocorreram ali nos últimos dez anos. Ilustra-se tudo com uma imagem assustadora, de preferência com um banco quebrado (mesmo que seja o único banco quebrado à vista). Melhor ainda se sobre o banco dormir um morador de rua, um bêbado ou um mendigo. Está construído o perigo imagético. O mais perverso nessa estratégia é perceber como a TV – que sempre opera impondo a condição de massa ao indivíduo – inverte sua própria lógica, impondo a condição do indivíduo à massa. Explica-se: um ou dois ou dez indivíduos assaltados, em um intervalo de tempo recortado segundo as intenções de efeito dramático da reportagem, sugere que a lagoa deva ser evitada pela massa. É a manifestação do poder divinatório da mídia, o milagre da multiplicação dos acontecimentos provocado pelos veículos de comunicação de massa que fazem crer na hipótese fantástica de todos os indivíduos serem assaltados em todos os lugares, a qualquer tempo, o que, levado a cabo, inviabilizaria a cidade como um todo. Ainda que a Indústria Cultural nada crie (e isso inclui a violência) é inegável o seu poder de persuasão quando se trata de multiplicar o medo. E o fato é que o discurso do medo persuade as pessoas ou a ficarem em casa – assistindo a televisão – ou a buscarem espaços funcionais, como shoppings e centros de lazer (clubes, parques temáticos, etc.) facilitadores do consumo daquilo que se viu na televisão. Em ambos os casos, em casa vendo TV ou no shopping consumindo, a rua é esvaziada. A possibilidade do beijo na prancha se extingue. A cidade como que devorada por dentro tem arrancada mais uma página de sua escritura. Propomos que o arrancar de todas as páginas significará a morte da cidade (pelo menos dessa forma de cidade onde é possível dar beijos em pranchas de tábuas e destinos poéticos a velhos casacos). E a morte da cidade, como observa Jane Jacobs155, trará em si a 155 Morte e vida de grandes cidades. 181 morte das práticas que desenvolvem o sentido de pertencimento ao lugar que, por sua vez, revelam, segundo Hannah Arendt, o sentimento de imortalidade à pessoa, tornando-a aderente ao tecido social e a uma ética social comum. Essa é a relevância da ação do demiurgo moderno. Como já foi colocado o demiurgo moderno ou a sua prática, não se limita à atividade artística – literatura, cinema, música, artes plásticas, teatro – mas a qualquer atividade criadora de significados pessoais, de texto e história, de memória e afeto, de paixão e philía156 sobre o significante que é a cidade. O ser demiurgo rompe com o sujeito da dialética marxista, seja burguês seja proletário, tendo em vista que, ao semear de philía os recônditos da cidade, responderia com muito mais eficácia à possibilidade da superação de uma sociedade do mercado e da mercadoria, posto que seus valores ou o elemento que “valora” sob a repetição de sua prática dificilmente poderiam ser capturados pelos mecanismos mercadológicos. Na dialética marxista a transformação da sociedade de corte na sociedade burguesa ao mesmo tempo em que livra o homem da idéia de um “superior natural”, de um “deus naturalizado”, o aprisiona sob a lógica do mercado que adquire “um imenso poder na vida interior do homem moderno”. (BERMAN, 1989, p.108). Por isso Marx enxerga todo não-burguês como proletariado. [...] eles (os não-burgueses) só escreverão livros, pintarão quadros, descobrirão leis físicas e históricas, salvarão vidas, se alguém munido de capital estiver disposto a remunerá-los. Mas as pressões da sociedade burguesa são tão fortes que ninguém os remunerará sem o correspondente retorno – isto é, sem que o seu trabalho não colabore de algum modo para incrementar o capital (BERMAN, 1989, p.113). O valor na prática do demiurgo moderno escaparia do juízo de uma cultura refém do mercado, posto que não dependeria e nem corresponderia ao fenômeno de conversão de desejos em mercadoria que alicerça a cultura de massa. Na sociedade de massa, a arte ou a prática só pode ser convertida em mercadoria porque os desejos convergem para possuí-la. 156 Palavra grega que designa, sob a vida na polis, a predisposição à sociabilidade, remete também à amizade. 182 Numa sociedade autoral, onde a prática autoral está disseminada, o desejo de possuir se converte na curiosidade de conhecer “o outro”, seja por sua obra, seja em nome da philía. Luis Alberto Oliveira157 afirma que o mercado, de um meio em que os diversos agentes econômicos se desdobrariam, passou a ser um fim. O mercado transformou-se em fonte de valor, em regente de um mecanismo que, antagônico à política, aprisiona o homem ao estatuto de consumidor. Quem não consome, não existe. Oliveira observa que, sob esse mecanismo e pertencendo a governança do mundo ao governo americano, torna-se justificável o investimento no cataclismo, no discurso que banaliza a palavra terrorismo, na eugenia “soft” da eliminação de africanos (maus consumidores) pelo vírus da aids, tudo para assegurar a estabilidade do mercado. O outro caminho seria o retorno do mercado à condição de meio, na qual, segundo o autor, a atividade econômica deveria migrar da palavra economia para a palavra ecologia, cujo significado aponta para um saber comum, no sentido de universal e socializado, que, posto em prática, concretizaria um modo de viver menos concentrado. É tácito afirmar que muitas idéias morrem, não pela força de golpes e revoluções, mas simplesmente porque se deixa de acreditar nelas, isto é, já não encontram eco na mesma sociedade que há tempos atrás as criaram. Já cego e em visita ao Deserto do Saara, Borges pegou um punhado de areia, deu alguns passos, derrubou a areia no chão e disse: “modifiquei o Saara”. Borges estava cego, mas não estava louco, apenas ilustrava o poder de um pequeno gesto. No que tange a possibilidade de minar as idéias hegemônicas através dos pequenos gestos, Bollou analisa o surgimento de um grupo sui generis da aristocracia em circunstâncias que precederam o declínio do absolutismo: [...] no final do século XVII apareceram, no meio da casta aristocrática, aqueles que foram chamados de petit-maîtres ou talons-rouges, que mimavam neles, nas aparências, o definhamento espiritual de sua época (1993, p. 232). 157 “Ciclo do medo”. Seminários organizados por Adauto Novaes na Maison de France, Rio de Janeiro, 2004. 183 Tais indivíduos correspondiam a uma espécie de pré-dandis, hedonistas, homossexuais, amorais, fanfarrões, a brincar de jogos de sedução e pilhéria pelos corredores e salões dos castelos. Indiferentes à política, às guerras e às crises, os petit-maîtres criaram uma caricatura da aristocracia à qual pertenciam, exagerando trajes e gestos. Não tinham mais nem ideologia nem moral, a satisfação era seu único horizonte. [...] No fundo eles seriam os primeiros, com seus comportamentos, a constatar a falência da religião e, através dela, a do absolutismo real. O fantasma que eles representavam, estava adiantado no tempo em relação aos seus contemporâneos. [...] Essas borboletas frágeis, de quem todos zombavam, seriam os verdadeiros coveiros da realeza, os cavalos de Tróia da Revolução. Era como se tudo o que fora, no início, apenas um jogo frívolo, inconseqüente, tivesse progressivamente adquirido uma espécie de gravidade, produzindo uma reviravolta na sociedade. A revolta das aparências criou a revolução das essências: foi pelo jogo, pela forma, pelo estilo, pela aparência que tudo aqui se inverteu (BOLLOU, 1993, p. 233). Pensar nos pequenos gestos dos petit-maîtres, livres e inocentes, como a gênese da Revolução Francesa, pensar em como a revolta da aparência gerou a revolução das essências leva a entender porque a aparência na sociedade moderna tornou-se alvo de controle pelos que, uma vez no poder, não desejam o mesmo fim de Luís XVI. Vale lembrar que um dos mais representativos pré-dandis da França absolutista, de sapatos vermelhos e longas perucas rebuscadas, foi o próprio irmão de Luís XIV. A condição mais evidente que distancia os pequenos gestos dos petit-maîtres da atualidade, diz respeito à onipresença da indústria cultural que controla as aparências antes que alguém as transforme em essências indesejáveis. É tácito ressaltar aqui a relevância da ação do demiurgo moderno de recriar além e à revelia da ideologia da indústria cultural, mesmo quando o pequeno gesto sugere uma aparência frívola, como que desconectado de um contexto maior de ação política. O exemplo de Bollou nos é bastante útil ao materializar como a fragilidade dos pequenos gestos pode guardar, atrás de si, um poder revolucionário incalculável e não percebido sequer pelos seus próprios autores. 184 Antítese do demiurgo clássico que copia, que produz o simulacro material do plano das idéias platônicas, o demiurgo moderno será todo aquele que em prática – em gesto individual, em ação conjunta, em narrativa e leitura – agir à revelia da lógica de mercado que rege a indústria cultural. O demiurgo moderno pode ser a categoria já lapidada que estabelece a compreensão do que vem a ser a não-indústria cultural. A exemplo do narrador benjaminiano, o demiurgo moderno apresenta uma possibilidade de saída ao impasse civilizatório que, de forma ameaçadora, abre-se logo à frente exigindo solução. Observemos agora, em um último exemplo, como um tipo de solução precária e paliativa emerge em espaços e sociedades onde a violência cotidiana exige narrativas estratégicas que tornem ao menos suportável a convivência com a barbárie. Este é o caso apresentado por Alcalá, em estudo sobre a vida cotidiana que transita pelos territórios do narcotráfico, na cidade de Medellín na Colômbia. Alcalá afirma que há uma prática de substituição de uma realidade de violência concreta, observada em acontecimentos do cotidiano, pela narrativa fantástica, cujo repertório faz alusão a seres mágicos, sobrenaturais, bruxos, maldições. Sob o jugo de uma ideologia patriarcal que normatiza a violência e de um poder local que institucionaliza o terror como forma de perpetuar-se – justificando a repressão do Estado e a sua própria violência que atinge as camadas empobrecidas da população no perpétuo processo de combate ao narcotráfico – sujeitos que estão inseridos (traficantes, guerrilheiros, consumidores) ou à mercê (população pobre em geral) da violência, põem em prática, através da transmissão oral de histórias e narrativas fantásticas, uma espécie de reconfiguração do medo como alternativa ao medo racional do horror real. Esta reconfiguración ofrece algunas possibilidades de elaborar las emociones individuales y colectivas, de proveer salidas a las emociones de miedo y terror y de controlar situaciones que com frecuencia desafian los límites de lo posible (ALCALÁ, 2002, p. 91). Nesse universo, onde consumidores de drogas juram ver fantasmas, caveiras e correntes movendo-se em cemitérios, onde traficantes consultam bruxos que são possuídos 185 por espíritos, onde, enfim, histórias de assombração substituem o relato frio da violência cotidiana, ocorre que: [...] cuando estas memórias que evocam imaginarios de miedo, muerte, o terror se comparten en grupo se crea temporalmente una comunidad de memoria desde la que se procesam los miedos y se alivia la presencia de las violencias para reconfigurar-las bajo específicas gramáticas, estrategias y regulaciones pragmáticas (ALCALÁ, 2002, p. 90). Uma vez mais, fazemos alusão à temporalidade circular do tempo narrado, que adere às tradições do passado e aponta para o futuro como algo que arrefece o presente ameaçador, visto que, em algum momento, o que virá confirmará o que se viu, ouviu e viveu há tempos atrás. A experiência cotidiana do medo, ao ser re-configurada pelo mágico e pelo imaginário das histórias de fantasmas, bruxos e maldições, cria um universo suportável àquelas pessoas expostas a condições extremas de violência. É como se a narrativa ocupasse os espaços vazios entre as pessoas tornando a experiência menos cruel. E se por um lado os problemas não são superados, por outro não se permite a instauração de uma barbárie de proporções hobbesianas, em um território marcado por carências, desigualdades, tensões, interesses e violência. A análise da alternativa de representação da violência, na cidade de Medellín, faz pensar o quanto a narração, ou o seu conteúdo, interfere no que é percebido; isto é, o quanto o espaço narrado transforma o espaço vivido. Para o demiurgo moderno – cuja criação nega a cidade aprisionada pelos discursos midiáticos do cartão postal e da violência – resta propor uma terceira margem, um terceiro paradigma, uma sobre-metáfora que liquidifique os discursos da mídia, que os faça implodir em suas pretensões homogeneizantes, que os fragmente como tudo hoje se fragmenta e que imponha a condição contemporânea e pós-moderna à indústria cultural. Resta ao demiurgo moderno arrancar o halo mercantil da indústria e atirá-lo ao macadame baudelaireano, dessacralizando a imagem não-autoral, fantasmagórica e fetichizada que, principalmente, através da televisão, apresenta-se como o real sobre o real. Real da liberdade, da beleza, da 186 democracia, da qualidade, do entusiasmo, da competência, que paira sobre o real do espaço vivido. Antítese do enorme zepelim chico-buarquiano apontando para a cidade “seus dois mil canhões assim158”, a indústria cultural substitui a ameaça bélica pela sedução divinatória de suas imagens. O poder da imagem é tão ou mais importante à manutenção do poder que o poder da arma. Narciso substitui Marte como instrumento de persuasão, controle e canalização da força e da capacidade de reprodução de riquezas das sociedades ocidentais. Ainda que se revelem os interesses de dominação da indústria cultural e contra ela conspire-se (como no caso dessa dissertação), e exponham-se seus despotismos e práticas, ela permanece inabalável. Ela é a medida estética das coisas entre as quais o ser humano reificado se inclui, assim como o Deus cristão foi a medida ética inabalável da sociedade antiga. Narciso substitui Marte, quando a estética substitui a ética e o real imagético substitui o real vivido. Como já colocado, o demiurgo clássico, obediente às idéias que compõem o plano superior platônico, dá origem ao cosmos aplicando as idéias perfeitas à matéria, trazendo ordem ao espaço que imperava a desordem. Há um dualismo entre espírito-racional e matériairracional, que faz o demiurgo clássico seguir as idéias na tentativa de criar um mundo perfeito. Porém, sobre o demiurgo moderno, no lugar da espiritualidade das idéias platônicas perfeitas, flutua a irracionalidade da necessidade postiça, do desejo de consumo conspícuo, do acúmulo exacerbado, expulsando o hedonismo do saber para além das fronteiras do real, seja imagético ou vivido. No lugar do saber, o mercado, no lugar das idéias, um deus midiático, imagético e caricato que zomba de seus súditos. Zomba ao transmutar-se ininterruptamente em padrões infinitos de cores e formas, enquanto seus súditos, em vão, tentam copiá-lo, tentam ser sua imagem no mundo da matéria. Vivendo no mundo irracional da matériamercadoria, que se apressa em copiar o mundo igualmente irracional da imagem midiática, resta ao demiurgo moderno ser a antípoda do demiurgo platônico e, no lugar da cópia do que 158 Verso da música “Geni e o Zepelim” de Chico Buarque de Holanda. 187 paira sobre sua cabeça, propor a dessacralização de um mundo que, essencialmente, permanece engessado às estruturas arcaicas de dominação e reprodução social, enquanto, só aparentemente, desfruta de um dinamismo criativo e produtivo sem paralelos. Substituir as aparências do progresso vazio pela essência autoral da escritura urbana pode ser a forma revolucionária que o momento permite. Em se tratando da importância da prática demiúrguica na manutenção da diversidade e das singularidades da criação autoral, uma vez que “ninguém mais lê e tudo é feito para acabar em TV”, como denuncia Augusto de Campos159, seguem dois exemplos que se localizam nas extremidades da miríade de criações que se perde solapada pelos limites técnicos e ideológicos do filtro da indústria cultural. Esses dois exemplos referem-se às extremidades da cultura popular e da cultura de elite, que são empurradas para além dos limites da existência, pelas limitações, técnica e ideológica, da indústria cultural. A religiosidade sincrética e regional da poesia do Cordel do Fogo Encantado160 e a representação da cidade moderna da música Vitrines161 de Chico Buarque de Hollanda162, extrapolam os limites de compreensão e representação da indústria. Não cabem completamente dentro dela. Tudo se perde no caminho entre a riqueza do conteúdo das obras e a leitura lobotomizada pelos limites da indústria cultural, cada vez mais estreitados, especificados e controlados, segundo critérios de seu próprio campo163. 159 “tvgrama 1”. Ver página 18 desta dissertação. Poesia na página 209. 161 Letra na página 209. 162 Segundo Matos (1991), a repetição de termos que sugerem a percepção da cidade pelo olhar (vejo, olha, visão, vi, olhos, ver), a superposição de imagens que confunde a percepção da cidade (letreiros a te colorir, sombra a se multiplicar, as vitrines te vendo passar), a luz artificial (dia depois de outro dia) na noite da metrópole que nunca escurece, elementos como sessão, galeria, letreiros, vitrines, salão e exposição, tudo isso torna essa canção rica em referências da modernidade baudelaireana-benjaminiana. A vitrine, o vidro cujo reflexo confunde o olhar e faz o caminhante perder-se. 163 Sobre isso, é interessante contrapor a TV até 1975 com a TV atual , percebendo como a linguagem hoje é muito mais rígida e padronizada. Um bom exercício é comparar a apresentação de Elis Regina para o “Programa Ensaio” da TV Cultura de 1973 (cuja direção se coloca a serviço de criar um ambiente para a música) com o formato acústico da MTV que consegue pasteurizar na rigidez da mesma direção, Zeca Pagodinho, The Cure, Gilberto Gil e Bob Dylan. A imagem impõe-se a música. A forma dita o conteúdo. 160 188 Como ouvir a poesia do Cordel sem menosprezar a estética folclórica, popular, percebendo a gama de sincretismos e possibilidades revolucionárias na leitura sacro-profana da cotidianidade de um Brasil que perde sua narrativa à medida que as antenas de TV ocupam os telhados? Como ouvir Vitrines de Chico Buarque percebendo a cidade labiríntica que convida o caminhante à, prazerosamente, perder-se nela? Constata-se que o mundo carece cada vez mais de sofisticação. Não da sofisticação basbaque da massa aburguesada pelo consumo das imagens das grifes que diferenciam os indivíduos em categorias de consumidores, mas da sofisticação, do entendimento sutil, fino que, na cultura popular ou na cultura de elite, alcança e às vezes ultrapassa o limite da própria intenção autoral. Esse entendimento é o que possibilita perceber o que há de tão sofisticado – da riqueza vocabular ao conteúdo da narrativa – na poesia de cordel. Também é o que torna o ouvinte\leitor sensível às nuances baudelaireanas da poesia de Chico Buarque. A desmassificação do entendimento produziria um indivíduo, cuja leitura estaria muito além da percepção do telespectador mediano, espremido entre os estreitos limites dos programas de auditório, que embrutecem a singeleza do circo popular, e a superficialidade dos noticiários que nem de longe percebem, sequer suspeitam, da existência da cidade em “Vitrines”. Seguem mais dois exemplos de cultura popular e cultura de elite: O telespectador, lobotomizado pela TV, desdenha Nelson Cavaquinho (que morreu pobre tocando por alguns trocados entre os restaurantes da praia de Copacabana), sem ter a mínima idéia de quem foi Shostakovich. Ambos, também estão além dos limites técnicos e ideológicos da indústria cultural ou dos limites de entendimento e encapsulamento da comunicação de massa ou, ainda, ambos não se prestam à “venda de sabão”. Convidado a compor uma música em homenagem ao “Dia das mães” para o programa de Flávio Cavalcanti, Nelson Cavaquinho compôs, “Cuidado com a outra164”, que fala de uma mãe adúltera que abandona o lar 165. Nunca mais recebeu outro 164 Letra na página 210. 189 convite da TV. Essa mãe não vende sabão. A sinfonia número treze de Shostakovich tem por volta de uma hora de duração. Explicar seu conteúdo de crítica ao terror de Stalin e o contexto histórico que a suscitou, não se consegue realizar, com propriedade, em menos de uma hora. Qual emissora privada estaria disposta a fazê-lo sem inserir entre o adágio inicial e o alegretto meia dúzia de propagandas de sabão, eletrodomésticos, telefonia, tênis e perfumaria? Diriam os espíritos apaziguadores que não haveria tanto problema em se interromper uma sinfonia por três minutos. Como argumento sugere-se procurar um maestro ou um repentista e perguntar o que eles, autores, acham disso. A pergunta que emerge, após a verificação da incapacidade da indústria cultural em lidar de forma satisfatória com o alcance das representações, tanto da cultura popular quanto da cultura de elite, é: se a indústria cultural não é capaz de produzir uma tradução da obra do sujeito autoral, forma menos completa do demiurgo moderno, o que dizer do pequeno gesto que caracteriza a prática do demiurgo moderno, em seu modo de expressão mais amplo, plasmado no cidadão comum? 165 “O resultado da encomenda foi rejeitado pois o apresentador esperava uma música pasteurizada e cheia de bons sentimentos como pede a data. Nelson fez o que estava sentindo no seu cotidiano profano e, misturando perdão com adultério compôs: Cuidado com a outra” (COSTA, 2000, p.114). 190 Vitrines Chico Buarque de Hollanda Eu te vejo sumir por aí Te avisei que a cidade era um vão da tua mão Olha pra mim, não faz assim, não vai lá não Os letreiros a te colorir, embaraçam a minha visão Eu te vi suspirar de aflição e sair da sessão frouxa de rir Já te vejo brincando gostando de ver tua sombra a se multiplicar Nos teus olhos também posso ver as vitrines te vendo passar Na galeria cada clarão é como um dia depois de outro dia abrindo um salão, passas em exposição, passas sem ver teu vigia catando a poesia que entornas no chão. 191 Jesus no Xadrez Cordel do Fogo Encantado No tempo em que as estradas eram poucas no sertão, tangerinos e boiadas cruzaram a região. Entre volante e cangaço Quando a lei era no braço do jagunço pau mandado do Coroné invasor, dava-se no interior esse caso inusitado Quando Palmeiras das Antas pertencia ao Capitão Justino Bento da Cruz nunca faltou diversão. Vaquejada, cantoria, procissão e romaria Sexta Feira da Paixão Na Quinta Feira Maior Dona Maria das Dores, No salão paroquial Reuniu os moradores Depois de uma preleção Ao lado do Capitão Escalava a seleção De atrizes e atores. Todo ano era um Jesus, um Caifás e um Pilatos Só não mudavam a cruz, os verdugos e os maus-tratos O Cristo daquele ano foi o Quincas Beija-Flor Caifás foi Cipriano, Pilatos foi Nicanor Duas cordas paralelas separavam a multidão Para que pudesse entre elas caminhar a procissão Quincas conduzindo a cruz Foi num foi advertia O centurião perverso Que com força lhe batia Era prá bater maneiro, Bastião num entendia Devido um grande pifão Que tomou naquele dia Dum vinho que o capelão Guardava na sacristia Cristo dizia: Ô rapaz, vê se bate devagar, Já tô todo encalombado, Assim não vou agüentar! Tá com a gota pra doer, Ou tu pára de bater ou a gente vai brigar Jogo já essa cruz fora, tô ficando aperreado Vou morrer antes da hora De ficar crucificado! O pior é que o malvado fingia que não ouvia E além de bater com força ainda se divertia Espiava prá Jesus, fazia pouco e dizia: Que Cristo frouxo é você, Que chora na procissão Jesus pelo que se sabe Não era mole assim não. Eu tô batendo com pena Você vai ver o que é bom Na subida da ladeira da feira de Fenelon O couro vai ser dobrado Até chegar no mercado A cuíca muda o tom Naquele momento ouviu-se um grito na multidão Era Quincas, que com raiva, sacudiu a cruz no chão E partiu feito um maluco prá cima de Bastião Se travaram no tabefe, Pontapé e cabeçada, Madalena levou queda Pilatos levou pancada Deram um cacete em Caifás Que até hoje não faz nem sente gosto de nada Desmancharam a procissão, O cacete foi pesado São Tomé levou um tranco Que ficou desacordado Acertaram um cocorote Na careca de Timóteo Que inté hoje é aluado Inté mesmo São José Que não é de confusão Na ânsia de defender Seu filho de criação Aproveitou a garapa Prá dar um monte de tapa Na cara do bom ladrão A briga só terminou 192 Quando o doutor delegado Interviu e separou Cada santo pro seu lado Desde que o mundo se fez Foi essa a primeira vez Que Jesus foi pro Xadrez Mas num foi crucificado. Cuidado com a outra Nelson Cavaquinho Vou abrir a porta mais uma vez é Dia das Mães e eu resolvi lhe perdoar Deus me ensinou A praticar o bem Deus me deu esta bondade Vou abrir a porta para você entrar Mas não demore Que a outra pode lhe encontrar 193 Epílogo O demiurgo em cena. eu jogo pérolas aos poucos ao mar eu quero ver as ondas se quebrar eu jogo pérolas pro céu pra quem pra você pra ninguém que vão cair na lama de onde vem166 (Zé Miguel Wisnik e Paulo Neves) Como forma de proporcionar ao leitor mais proximidade à reflexão do demiurgo moderno propõe-se a leitura de um possível demiurgo, através da análise do personagem “Augusto” do escritor Rubem Fonseca, no conto “A arte de andar pelas ruas do Rio de Janeiro”. O objetivo desse exercício final é perceber o quanto há do que se classificou como prática do demiurgo moderno, nos gestos, decisões, conflitos e desejos do personagem Augusto. Augusto, ao ganhar um prêmio de loteria (que o desobriga das imposições do trabalho), aluga um sobrado sobre uma chapelaria no centro da cidade, lugar degradado e desvalorizado para uso residencial, com o intuito de escrever um romance sobre a área. Porém, – tão importante quanto escrever – Augusto quer formar o público leitor para o qual sua escrita se destina. Para tanto, Augusto propõe-se a tarefa de pagar as prostitutas analfabetas do centro da cidade, não para ter relações sexuais com elas, mas para alfabetizá-las, para transformá-las nas leitoras daquilo que escreve. Essa prática, ao mesmo tempo em que incorpora as prostitutas a uma condição cidadã, propõe uma espécie de cura da cidade, não só através da educação do lúmpen marginalizado, mas principalmente através da reabilitação do diálogo improvável como ferramenta anticorrosiva da sociabilidade. É essa a prática de Augusto que se revela como sendo o pequeno gesto do demiurgo moderno. O pequeno gesto revolucionário que é, aparentemente, frívolo, desconectado de um contexto político maior, na verdade, guarda em si um enorme potencial como se viu nos 166 Pérolas aos poucos. Zé Miguel Wisnik e Paulo Neves. CD: Pérolas aos poucos. Zé Miguel Wisnik 194 exemplos, no capítulo cinco, da folclorização do medo na cidade de Medellín, da revolta das aparências promovida pelos petit-maîtres da corte francesa ou dos relatos do casaco doado ao desconhecido e do beijo sobre a prancha de tábuas na lagoa urbana. Todos esses gestos, de temporalidades e espacialidades diversas, têm um mesmo teor: reescrever a representação da cidade no sentido de alargar as possibilidades de manifestação do diálogo improvável no espaço social. Segundo Renato Cordeiro: Andando pelo Rio e registrando-lhe a face obscura e, ao mesmo tempo, visível, Augusto acredita que pode – porque pensa – solucionar, como intelectual pequeno burguês, os problemas da cidade dividida, não compartilhada e perversa: solvitur ambulando (CORDEIRO, 1994, p.150). A cidade eclética como lugar de todos é evidenciada por Augusto quando fala do cinema que passa filmes pornográficos a partir das duas horas da tarde e de manhã é utilizado como lugar de culto para uma pequena igreja evangélica chamada “Igreja de Jesus Salvador da Almas”. Augusto desabilita o discurso dicotômico e sintético do cartão postal e da violência, como representações da cidade, quando confirma que tudo interessa à confecção de seu romance. Em suas andanças pelo centro da cidade, desde que começou a escrever o livro, Augusto olha com atenção tudo o que pode ser visto, fachadas, telhados, portas, janelas, cartazes pregados nas paredes, letreiros comerciais luminosos ou não, buracos nas calçadas, latas de lixo, bueiros, o chão que pisa, passarinhos bebendo água nas poças, veículos e, principalmente, pessoas (FONSECA, 1992, p.12). A idéia de uma cidade vária, complexa que estimula a curiosidade de quem por ela deambula é explicitada na afirmação de que o “centro da cidade é um mistério” (FONSECA, 1992, p.15). Ou ainda quando afirma: O Rio é uma cidade muito grande, guardada por morros, de cima dos quais pode-se abarcá-la, por partes, com o olhar, mas o centro é mais diversificado e mais obscuro e antigo, o centro não tem um morro verdadeiro, [...] tem apenas uma pequena colina indevidamente chamada morro da Saúde, e para se ver o centro de cima, e assim mesmo mal e parcialmente, é preciso ir ao morro de Santa Teresa, mas esse morro não fica no centro da cidade , fica meio de lado e 195 dele não dá para se ter a menor idéia de como é o centro (FONSECA, 1992, 16). Para Augusto o centro só pode ser conhecido de dentro, em contato com seus sujeitos e seus monumentos, visto que de fora não há ângulo de leitura. Essa necessidade de diálogo e entendimento com o outro aparece quando Augusto aluga o sobrado do dono da chapelaria. A situação insinua informalidade em relação ao mercado e a possibilidade de desenvolver-se ali uma amizade entre Augusto e o velho proprietário que reclama da mudança do nome das ruas como ameaça da sua vontade de rememorar o passado. Essa comunhão com o outro, com a carne, deve ser estendida à união com a cidade, com a pedra, por isso... “Augusto quer encontrar uma arte e uma filosofia peripatéticas que o ajudem a estabelecer uma melhor comunhão com a cidade. Solvitur ambulando” (1992, p.19). Por isso também ele anda a pé para ver “coisas diferentes de quem anda de carro, ônibus, trem, lancha, helicóptero ou qualquer outro meio de transporte” (1992, p.18). Augusto sabe o quanto “a televisão e o rádio tinham corrompido o vocabulário dos cidadãos, das prostitutas principalmente” (1992, p.19), por isso resolveu começar por elas a tarefa de ensinar a “carne da cidade” a ler e falar corretamente. Perambulando à noite pelas imediações do Teatro Municipal, Augusto tenta explicar a um grupo que acabara de pichar as paredes do teatro algumas regras de português, corrigindo o que estava escrito. E recebe como resposta: “Tio, você entendeu o que a gente quer dizer, não entendeu? Então foda-se com suas regrinhas de merda” (1992, p.19). Mais do que preocupado com as paredes do teatro, Augusto preocupa-se com a má educação dos jovens pichadores. Como se o que importasse fosse a construção de uma ética relacional entre os jovens pichadores e os monumentos pichados que ampliasse a possibilidade do diálogo. A exemplo de Sennett, Augusto quer fazer plasmar a carne na pedra da cidade. 196 A amizade com Hermenegildo, “que não faz outra coisa da vida senão divulgar um manifesto contra o automóvel” (1992, p.20) diz respeito a essa opção pela união entre as pessoas e a cidade. “O manifesto é grudado com uma cola especial de grande aderência nos pára-brisas dos carros estacionados nas ruas” (1992, p.20) De novo a referência ao pequeno gesto revolucionário que alerta para a necessidade de se propor uma outra cidade, mais humana, mais afetuosa, mais amorosa. Uma cidade da inserção: “O nome da moça é Kelly, e com ela serão vinte e oito as putas a quem Augusto ensinou a ler em quinze dias pelo seu método infalível” (1992, p.23). Uma cidade que guarde lugar para a memória dos avós. O avô de Augusto era “um homem cinzento [...] que fazia pequenos autômatos, passarinhos que cantavam em poleiros dentro de gaiolas, um pequeno macaco que abria a boca e rosnava feito um cão. Tenta se lembrar da morte do avô, mas não consegue...” (Idem). Uma cidade que mantenha viva a memória de seus poetas: “Você não conhece a música de Noel?” (pergunta Augusto à Kelly referindo-se à música ‘Conversa de botequim’) “Não, não é do meu tempo, desculpe...” (responde Kelly). Augusto se explica: Eu apenas queria dizer que havia uma infinidade de botequins espalhados pelo centro da cidade. E você sentava num botequim, não ficava de pé como nós aqui, e havia uma mesa de mármore onde você podia fazer desenhos enquanto esperava alguém e quando a pessoa chegava você podia ficar olhando para a cara dela enquanto conversava (1992, p.31). A questão da memória está presente também quando Augusto convida Kelly a conhecer os três prédios da avenida Rio Branco remanescentes da Era Passos. Para realizar essa tarefa de resgate da memória da cidade, Augusto precisa penetrar na cidade. “A arte de andar pelas ruas do Rio de Janeiro” trata de uma cidade que inspira o desejo de penetrá-la, como Augusto o faz no passeio noturno à gruta do campo de Santana. Por este viés ele prefere o corpo da cidade ao corpo das prostitutas, [...] Ele preenche e completa a cidade, penetra no seu centro; e mais: no centro do centro, metaforicamente simbolizado na gruta da visita noturna ao Campo de Santana. 197 Sua arte de andar pelas ruas da cidade, de penetrá-las, conecta movimento e união, conotando o prazer pelo prazer que não tem nenhum valor pragmático, utilitário. Sua arte é religião, socialidade: forças lúdicas que rompem com os valores de uso e de troca impressos na cidade moderna capitalista e burguesa (CORDEIRO, 1994, p. 154) Evidencia-se aqui a espontaneidade do gesto como antítese da face maquínica da cidade burguesa e funcional. Na leitura de Cordeiro, a cidade de Augusto é... [...] o lugar do encontro com o outro, de erotismo ou de sociabilidade. Por esse motivo o centro é o ponto de reunião de toda a cidade, da cidade erótica, da cidade metafórica que substitui Eros. Assim o centro da cidade é vivido como lugar de troca das atividades sociais, o espaço onde agem e se encontram forças subversivas, forças de ruptura, forças lúdicas (1994, p.154). Pechman (2004) chama a atenção para a perda dessa erotização citadina, dos roçagares dos corpos em passeio pelo espaço público. Sob a lógica funcional da cidade burguesa, o roçagar dos corpos é esfriado à racionalidade dos valores de troca que hierarquizam e reificam os homens na forma de mercadorias. Na cidade burguesa, o outro torna-se uma possibilidade de negócio, onde não deve haver desperdício, nem ócio. O ônus da extinção da philía167 é pago com muros, grades, portões e sistemas privados de segurança. A cidade que Augusto idealiza é a que torna possível a amizade com os Gonçalves, família de moradores de rua que vive na frente do Banco Mercantil na esquina da Sete de Setembro com Carmo. Essa amizade também diz respeito ao atrito dos corpos na cidade de Augusto que... [...] rechaça todo o aspecto da funcionalidade que caracteriza a cidade moderna. Transformando-a em seu objeto de desejo. Busca estabelecer uma melhor comunhão com ela. Sua arte é dimensionada pelo erótico, pela noção de ‘despesa’, do desperdício da energia que não é canalizada para a produção (CORDEIRO, 1994, p. 154). Augusto acredita nessa cidade mesmo sob o testemunho de dificuldades e privações que escuta do mendigo Benevides (morador de rua da família Gonçalves). 167 Palavra grega que designa, sob a vida na polis, a predisposição à sociabilidade, remete também à amizade. 198 A cidade não é mais a mesma, tem gente demais, tem mendigo demais na cidade, apanhando papel, disputando o ponto com a gente, um montão vivendo debaixo de marquise, estamos sempre expulsando vagabundo de fora, tem até falso mendigo disputando o nosso papel com a gente. Todo o papel jogado fora na Candido Mendes aí em frente é meu, mas já tem nego querendo meter a mão (FONSECA, 1992, p.34). Ignorando o pessimismo de Benevides, Augusto acredita no resgate do diálogo na cidade como algo essencial à sua sobrevivência. Augusto leva Kelly a um sebo para lhe dar um livro de presente. Depois a leva para caminhar no Passeio Público. Kelly revela que – “Fiz a vida aqui em frente e nunca entrei nesse lugar” (FONSECA,1992, p.34). Augusto apresenta a cidade para Kelly e para o leitor, propondo uma série de usos, práticas e leituras dos espaços públicos, seus monumentos, seus personagens e sua história. Abraçar árvores, brincar com os peixes, ler suas placas e anúncios, penetrar grutas, conhecer pessoas improváveis e propor relacionamentos que escapam do modelo familiar. Augusto propõe um almoço com Kelly e o velho proprietário da chapelaria. O diálogo marca o encontro das experiências de três temporalidades distintas na cidade. Augusto e sua esperança de recuperar a cidade, representa o futuro. O velho, ao acreditar que antigamente tudo era melhor, representa o passado. Kelly, ao usar o espaço público como lugar de comércio em uma relação funcional, prostituindo-se, representa o presente. É Kelly quem argumenta: “O pessoal da antiga era mais inocente...” (1992, p.38). Rubem Fonseca leva o leitor, pelas palavras do velho, a imaginar o cinema Ideal na rua da Carioca que nas noites de verão abria o teto, por um sistema de roldanas, o que permitia ao público sentir o frescor da noite e ver as estrelas. Kelly trás o leitor de volta ao presente argumentando: “Só um maluco vai ao cinema para ver estrelas” (1992, p.40). Acontece uma flexão a partir desse ponto da história. Algo direciona a narrativa de Fonseca imprimindo-lhe outra atmosfera que se cria a partir do encontro das três temporalidades no 199 restaurante. Augusto, Kelly e o velho têm opiniões divergentes, fazendo do encontro um desencontro sobre o que cada personagem pensa ser a cidade. A partir daí, uma série de situações que remetem à violência, ao não-diálogo e à intolerância ocorrem sistematicamente até o fim da história. Vamos a elas: Kelly, sentindo-se rejeitada, desentende-se com Augusto e por fim joga fora o presente que ele comprara. Camelôs entram em confronto com a polícia quebrando vitrines, saqueando lojas, obrigando os comerciantes a fecharem as portas. Augusto é confundido com o diabo por um pastor evangélico que o agarra na rua. O encontro com “Zé Galinha”, espécie de líder de um grupo de mendigos que planeja inviabilizar a cidade com a podridão de seus corpos, revela-se um fracasso. Não há diálogo entre Augusto e Zé que acaba por expulsá-lo de seu território. O velho contraria Augusto ao retificar o que disse no almoço sobre esperança e liberdade afirmando que: “a esperança na verdade só liberta os jovens” (1992, p.49). Augusto sai à noite para o solvitur ambulando, mas acaba gritando com um sujeito que destrói telefones públicos. Na mesma noite sente-se ameaçado por dois desconhecidos que vêm em sentido contrário cercando-o na calçada. Finalmente Augusto chega ao cais Pharoux. Seu solvitur ambulando acaba confirmando o que quer perverter. Termina de frente para o mar poluído, olhando para fora da cidade; não regressa ao sobrado vazio ocupado pelos ratos. De costas para a cidade olha para o exterior, mas pensa no interior dela, para quem nasce mais um dia difícil e miserável (CORDEIRO, 1994, p. 161). Chama-se de novo a atenção para o fato do desacordo entre Augusto, Kelly e o velho, as três temporalidades, determinar o início dessa série de desencontros que conduzem a história até o fim. Segundo Benjamin, na narrativa devem co-existir as três temporalidades, o passado, o presente e o futuro168. Fonseca parece sugerir que o desacordo entre temporalidades, inviabilizando a narrativa, inviabiliza também o resgate da cidade, torna-a ilegível, incomunicável. Isto é, uma vez esgarçadas as temporalidades, a narrativa torna-se improvável. O 168 Ver capítulo dois, sub-capítulo 2.2.2 dessa dissertação. 200 diálogo torna-se impossível, a intolerância e o desentendimento ganham as ruas. Todos ficam surdos e cegos a todos. A experiência da comunicação torna-se um martírio para os indivíduos, visto que são enormes as chances de se cometer equívocos quando não se sabe ler 169. Por isso o pequeno gesto de Augusto remete a alfabetização das prostitutas que são a metáfora do sujeito espoliado. O capítulo cinco dessa dissertação inicia-se com uma sugestão de Calvino para o impasse da cidade moderna, que dizia respeito à “saber reconhecer quem e o que, no meio do inferno, não é inferno, e preservá-lo, e abrir espaço” (CALVINO, 2003, p.158). Outro fragmento de Calvino, também utilizado por Cordeiro (162, p.1994), completa essa idéia de buscar solução ao impasse relacional na cidade. Talvez toda a questão seja saber quais palavras pronunciar, quais gestos executar, e em que ordem e ritmo, ou então basta o olhar, a resposta, o aceno de alguém, basta que alguém faça alguma coisa pelo simples prazer de fazê-la, e para que seu prazer torne-se um prazer para os outros; naquele momento todos os espaços se alteram, as alturas, as distâncias, a cidade se transfigura, torna-se cristalina como uma libélula (CALVINO, 2003, p.148). Esse fragmento reafirma a importância do pequeno gesto (que – por que não? – ainda poderia ser o solvitur ambulando, bastando, para isso, que Augusto percebesse o fio a re-conectar as temporalidades da narrativa) como ferramenta que torna possível ir além do impasse relacional na cidade. Re-erotiza-se, re-sociabiliza-se, ressuscita-se o diálogo na cidade. E um outro final poderia ser escrito: Augusto olha a cidade de frente, reencontra Kelly, o velho amigo e o centro do centro: A carne e a pedra estão plasmadas. Plasmam-se os mendigos, os bicheiros, os camelôs, os desvalidos e as prostitutas. Também o velho, a clarabóia pela qual passa a luz da lua em seu quarto, os monumentos e os prédios antigos. Por fim, os ratos de seu quarto, os peixes do 169 Kelly lê a placa do restaurante que dizia “Refeição comercial” como “não vendemos fiado” (1992, p. 22). 201 chafariz, os passarinhos do Passeio, a gruta e as árvores do Campo de Santana, as placas, os sinais, os avisos e os muros pichados. A vida em Raíssa não é feliz.[...] Todavia em Raíssa, sempre há uma criança que da janela sorri para um cão que pulou num alpendre para comer um pedaço de polenta que caiu das mãos de um pedreiro que do alto do andaime exclamou: ‘minha jóia, tem um pouco para mim?’ para uma jovem hospedeira que ergue um prato de sopa sob a pérgula, contente de servi-lo ao vendedor de guardachuvas que comemora um bom negócio, uma sombrinha de renda branca comprada por uma grande dama para pavonear-se durante as corridas, apaixonada por um oficial que lhe sorriu ao saltar o último obstáculo, que estava feliz, mas mais feliz ainda estava o seu cavalo, que voava sobre os obstáculos vendo voar nos céus uma perdiz, pássaro feliz liberado da gaiola por um pintor feliz de tê-lo pintado pena por pena, salpicado de vermelho e amarelo na miniatura daquela página de livro em que o filósofo diz: ‘Em Raíssa, cidade triste, também corre um fio invisível que, por um instante, liga um ser vivo ao outro e se desfaz, depois volta a se estender, entre pontos em movimento, desenhando rapidamente novas figuras, de modo que a cada segundo a cidade infeliz contém uma cidade feliz que nem mesmo sabe que existe (CALVINO, 2003, p.141,142). Uma vez que alcance a recuperação do diálogo na cidade, como resultado da recuperação da narrativa170, o solvitur ambulando, o pequeno gesto, reintegra Augusto, indivíduo ou pessoa mortal, à história longeva da cidade, transformando-o em demiurgo moderno, em sujeito autoral e imortal que deixa sua marca, sua obra, seu registro, sua escrita na pedra da cidade. O demiurgo moderno, representado por Augusto, reinstala o tempo da imortalidade arendtiana171. Aion desabilita Cronos172, o devorador dos próprios filhos, libertando o indivíduo da desesperança de ser esquecido (por sua história individual não dialogar com a história da cidade) e da ilusão da imortalidade imagética que o escraviza ao moto-contínuo do consumo. O homem não é só 170 Para Walter Benjamin o fim da narrativa assinala o fim da capacidade do homem de trocar experiências. Ver capítulo 2.2.3 desta dissertação. 171 Ver referência nesta dissertação, capítulo cinco, página 184, nota n° 141. 172 Deleuze propõe que a narrativa conserva o passado e o futuro na temporalidade. Aion representa o tempo circular da natureza e Cronos o tempo linear dos homens. Pensa-se aqui na metáfora de Sherazade que liberta o rei Shariar do presente estendido e crônico. O rei mata suas esposas no dia seguinte às núpcias para não ser traído, ao fazê-lo nega a si, o passado e o futuro que nunca ocorrem. O rei está preso a um presente crônico. Sherazade, ao introduzir a narrativa na vida do rei, introduz o passado e o futuro à sua própria temporalidade. Quanto mais Sherazade vai ao passado em busca de suas histórias, mais caminha para o futuro. Na milésima primeira noite, Sherazade pede clemência ao rei que, embebido pelo amor a Sherazade, já não quer mais vê-la morta. (Ver, nessa dissertação, capítulo 2.2.3) 202 Tânatos, a ponto de entregar-se a morte, mas também não é só Eros que deseja tudo, todo o tempo. Se para o velho da chapelaria, “a esperança é uma espécie de libertação” (1992, p.38), Augusto será livre enquanto reescrever a cidade pelo pequeno gesto da prática demiúrgica, desprezando a anticidade maquínica. 203 Autor: René Magritte (copiado do sitio: www.burburinho.com/20030427.html) Data: citado em 17/03/2005 Autor: Giselle Beiguelman (copiado do sitio: www.desvirtual.com/nike) Data: citado em 17/03/2005 Obs: fotos referentes aos comentários na nota de pé de página n° 43, página 67. 204 205 206 207 Obs: As fotos das páginas 205, 206, 207 e 208 são da propaganda do Morumbi Shopping, descrita na página 177. 208 Fotos de Evgen Bavcar. Nota n ° 112, página 139. 209 Referências: ABRAHAM, Tomás; BADIOU, Alan; RORTY, Richard. Batalhas éticas, Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión, 1995. ADORNO, Theodor W.; HORKHEIMER, Max. Dialética do esclarecimento. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora, 1985, 2ª edição. ALCALÁ, Pilar Riaño. Las rutas narrativas de los miedos: sujetos, cuerpos y memórias. In: El miedo: reflexiones sobre su dimension social y cultural. Medellín: Ed. Marta Villa. corporacíon región, 2002. ARANTES, Antônio Augusto. O que é cultura popular. São Paulo: Editora Brasiliense, 1981. ARENDT, Hannah. A condição humana. São Paulo: Paz e Terra, 2000. ASSIS, Machado de. Uns braços. In: Várias histórias. São Paulo: Globo, 1997. (Obras Completas de Machado de Assis). AZEVEDO Reinaldo. Cavalo de Tróia. Revista Bravo, São Paulo, Junho, 2004. BAPTISTA, Luís Antônio. A cidade dos sábios. São Paulo: Summus, 1999. BAUDELAIRE, Charles. O spleen de Paris. Rio de Janeiro: Imago Editora, 1995. BAUDRILLARD, Jean. Televisão/ Revolução: o caso da Romênia. In: Org. PARENTE, André. Imagem-Máquina: a era das tecnologias do virtual. Rio de Janeiro:Ed. 34, 1993. (coleção Trans). BENJAMIN, Walter. O narrador: considerações sobre a obra de Nicolai Lescov. In: Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. São Paulo: Brasiliense, 1985. BERMAN, Marshall. Tudo que é sólido desmancha no ar: a aventura da modernidade. São Paulo: Editora Schwarcz, 1989. BOLLON, Patrice. A moral da máscara. Rio de Janeiro: Rocco, 1993. BORGES, Jorge Luis. Do rigor da ciência. In: Obras Completas II. Rio de Janeiro: Globo, 1999. BORGES, Jorge Luís. A Biblioteca de Babel. In: Obras Completas I. Rio de Janeiro: Globo, 1998. BOURDIEU, Pierre. Sobre a televisão. Rio de Janeiro: J. Zahar, 1997. CALVINO, Ítalo. As cidades invisíveis. Rio de Janeiro: O Globo; São Paulo: Folha de S. Paulo, 2003. 210 CANCLINI, Nestor Garcia. Consumidores e cidadãos. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2001. CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001. CERTEAU, Michel de. Teoria e método no estudo das práticas cotidianas. In: Org. SZMERECSANYI, Maria Irene. Cotidiano, cultura popular e planejamento urbano. São Paulo: FAUUSP, 1985. CHAMPAGNE, Patrick. A visão mediática. In: Org. BOURDIEU, Pierre. A miséria do mundo. Petrópolis: Vozes, 1997. COELHO, Teixeira. O que é indústria cultural. São Paulo: Editora Brasiliense, 1988. COELHO, Celso Francisco Maduro. Por que tanta saudade de Sherazade? Semear, Rio de Janeiro: n. 7, 2002. CONY, Carlos Heitor. As viagens de Marco Pólo. Rio de Janeiro: Ediouro, 2001. COSTA, Flávio Moreira da. Nelson Cavaquinho: perfis do Rio. Rio de Janeiro: Relume Dumará: Prefeitura, 2000. DEBORD, Guy. A sociedade do espetáculo. Rio e Janeiro: Editora Contraponto, 1992. DUMAS, Alexandre, Les Mohicans de Paris. Paris: Éditions Gallimard, 1998. ECO, Umberto. Apocalípticos e integrados. São Paulo: Editora Perspectiva, 1979. ECO, Umberto: Viagem na irrealidade cotidiana. Rio de janeiro: Nova Fronteira, 1984. FONSECA, Rubem. A arte de andar nas ruas do Rio de Janeiro. In: Romance negro e outras histórias. São Paulo: Companhia das Letras, 1992. FORD, Aníbal. Navegações: comunicação, cultura e crise. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 1999. GOMES, Ângela de Castro. A política brasileira em busca da modernidade: na fronteira entre o público e o privado. In.: SCHWARTZ, Lilia Moritz (Org). História da vida privada no Brasil. Rio de janeiro: Companhia das Letras, 2000. v. 4. GOMES, Renato Cordeiro. Deslocamentos. Semear, Rio de Janeiro: n. 7, 2002. HALIMI, Serge. Os novos cães de guarda. Petrópolis: Vozes, 1998. HAMBURGER, Esther. Diluindo fronteiras: a televisão e as novelas no cotidiano. In: SCHWARTZ, Lilia Moritz (Org.). Historia da vida privada no Brasil. Rio de janeiro: Companhia das Letras, 2000. v. 4. HAROUEL, Jean-Louis. A história do urbanismo. Campinas, SP : Papirus, 1990. 211 HELLER, Agnes. A condição política pós-moderna. In: A situação moral na modernidade. Rio de Janeiro. Ed.Civilização Brasileira, 1988. KONDER, Leandro. A narrativa em Lukács e em Benjamin. Semear. Rio de Janeiro: n.7, 2002. JACOBS, Jane. Morte e vida de grandes cidades. São Paulo: Martins Fontes, 2001. LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Mario de Andrade. Metodologia científica. São Paulo: Ed. Atlas, 1991. LAVINAS, Lena; RIBEIRO, Luiz César de Queiroz. Imagens e Representações sobre a mulher na construção da modernidade de Copacabana. In.: SOUZA, Célia Ferraz de; PESAVENTO, Sandra Jatahy. (Org.) Imagens Urbanas. Porto Alegre: Editora da Universidade UFRGS, 1997. LEVY, Albert. L’espace public de la ville méditerranéenne: mythe et réalité. In: L’espace public dans la ville méditerranéenne: actes du colloque de Montpellier. Saint-Estève, Ed. Esperou, 1996. LIMA, Francisco Assis de Souza. Conto popular e comunidade narrativa. Rio de Janeiro: FUNARTE/Instituto Nacional do Folclore, 1985. LIMA, Rogério. A permanência das imagens e os fragmentos do esquema. IN: LIMA, Rogério; FERNANDES, Ronaldo (Org.). O imaginário da cidade. Brasília: Universidade de Brasília; São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 2000. LYOTARD, Jean François. O Pós-moderno. Rio de Janeiro: J. Olympio Editora, 1990. LOUZA, Furio. Máquina de fazer doidos. São Paulo: Matrix, 2003. MACIEL, Maria Esther. A memória das coisas. Rio de Janeiro: Lamparina Editora, 2004. MARSHALL, H. Cidadania, classe social e status. Rio de Janeiro: J. Zahar, 1967. MARTIN-BARBERO, Jesus. Dos meios às mediações. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2003. MARX, Karl. A mercadoria. In: O capital. Rio de Janeiro: Ed. Civilização Brasileira, 1968. L. 1, V. 1. MATOS, Olgária. Vestígios: escritos de filosofia e crítica social. São Paulo: Palas Athena, 1998. MATOS, Olgária. O direito à paisagem. In: PECHMAN, Robert (Org.). Olhares sobre a cidade. Rio de Janeiro: UFRJ, 1994. MATOS, Olgária. Imagens sem objetos. In: Rede Imaginária: televisão e democracia. NOVAES, Adauto (Org.). São Paulo, Companhia das Letas, 1991. 212 MELO, Hygina Bruzzi de. A cultura do Simulacro: filosofia e modernidade em Jean Baudrillard. São Paulo: Ed. Loyola, 1988. MCLUHAN, Marshall. Os meios de comunicação. São Paulo: Editora Cultrix, 1964. OBREGÓN, Mauricio. Além dos limites do oceano. Rio de Janeiro: Ediouro, 2002. OLIVEIRA, Francisco de. O estado e o urbano no Brasil. Espaço e debates. São Paulo, n. 6, jun./set., 1982. ORTEGA, Francisco. Genealogias da amizade. São Paulo: Editora Iluminuras, 2002. PECHMAN, Robert. Cidades estreitamente vigiadas: o detetive e o urbanista. Rio de janeiro. Casa da Palavra, 2002. PECHMAN, Robert Moses. O urbano fora do lugar? Transferências e traduções das idéias urbanísticas nos anos 20. In: PECHMAN, Robert Moses; RIBEIRO, Luís César de Queiroz (Org.). Cidade, povo e nação: Gênese do urbanismo moderno. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1996. PECHMAN, Robert. Pedra e discurso: cidade, história e literatura. Semear. Revista da Cátedria Padre Antônio Vieira de Estudos Portugueses. Rio de Janeiro, n. 3, 1999. PECHMAN, Robert Moses. Quando Hannah Arendt vai a cidade e encontra Rubem Fonseca. Mimeografado, 2004. PIGNATARI, Décio. O paleolhar da televisão. In: Adauto Novaes (Org.). O Olhar. Rio de Janeiro: Companhia das letras, 1989. PLATÃO. Mênon. São Paulo: Edições Loyola, 2001. PORTELLA, Eduardo. Rio, síntese aberta. Cidade e literatura. Rio de Janeiro, n. 2, 1988. PRÉTECEILLE, Edmond. Cidades globais e segmentação social. In: RIBEIRO, Luís César de Q.; SANTOS Jr., Orlando A. dos (Org.). Globalização, fragmentação e reforma urbana. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000. PROUST, Marcel. No caminho de Swann. In: Em busca do tempo perdido. Porto alegre: Ed. Globo, 1957. ROCHA, Everardo. A Sociedade do Sonho. Rio de Janeiro: Mauad, 1995. ROUANET, Sérgio Paulo. A razão nômade. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 1993. SANTOS, Laymert Garcia dos. A televisão e a Guerra do Golfo. In: PARENTE, André. (Org.). Imagem-Máquina: A era das tecnologias do virtual. Rio de Janeiro: Ed. 34, 1993. (Coleção Trans). 213 SANTOS, Wanderley Guilherme. Razões da desordem. Rio de Janeiro: Rocco, 1992. SENNETT, Richard. Carne e Pedra. Rio de Janeiro: Ed: Record, 2003. SENNETT, Richard. O declínio do homem público. Rio de janeiro: Record, 1988. SEVCENKO, Nicolau. A capital irradiante: técnica, ritmos e ritos do Rio. In: _ (Org.). História da vida privada no Brasil. Rio de janeiro: Companhia das Letras, 1998. v. 3. SEVCENKO, Nicolau. O desafio das tecnologias à cultura democrática. In: Vera M. Pallamin (Org.). Cidade e Cultura: esfera pública e transformação urbana. São Paulo. Ed: Estação Liberdade, 2002. SODRÉ, Muniz. A máquina de Narciso. São Paulo: Cortez, 1994. SODRÉ, Muniz. Rio, Rio. In: Rio 40 graus: beleza e caos. Rio de Janeiro: Quartet: Instituto Cultural Cravo Albim, Labore-UERJ, 2002. SODRÉ, Muniz. A máquina de narciso: televisão, indivíduo e poder no Brasil. São Paulo: Ed.Cortez, 1994. SODRÉ, Muniz. Antropológica do espelho. Petrópolis, RJ: Vozes, 2002. SILVA, Armando. Imaginários urbanos. São Paulo. Ed: Perspectiva, 2001. VASCONCELLOS, Gilberto Felisberto. As ruínas do pós-real. Rio de Janeiro: Espaço e Tempo, 1999. VASCONCELLOS, Gilberto Felisberto. O príncipe da moeda. Rio de janeiro: Espaço e Tempo, 1997. VEBLEN, Thorstein. O consumo conspícuo. In: A teoria da classe ociosa. São Paulo: Abril Cultural, 1983. VEIRALVES, Ricardo. Muitos olhares para o Rio de Janeiro. In: Rio 40 graus: beleza e caos. Rio de Janeiro: Quartet: Instituto Cultural Cravo Albim, Labore-UERJ, 2002. VIANNA, Hermano. O mistério do samba. Rio de Janeiro: J. Zahar: Ed. UFRJ, 1995. VIEIRA, R. A. Amaral. Notas visando a fixação de um conceito de autoritarismo. Comunicação e Política. Rio de Janeiro, v. 1, n. 1, 1983. WEBER, Max. Economia e sociedade. México: Ed. UnB, 1979. WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações Filosóficas. São Paulo: Ed. Nova Cultural, 1999. 214 ZOLA, Émile. Caisse Nationale des Lettres. In: _. Le ventre de Paris. Paris: Garnier-Flammarion, 1971. 215
Baixar