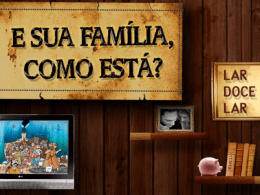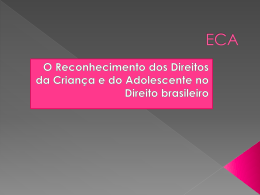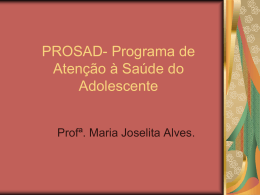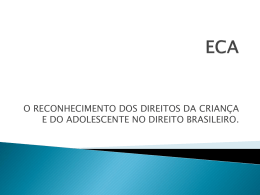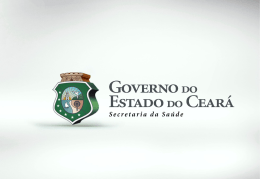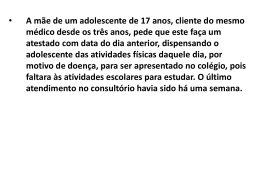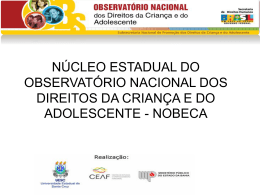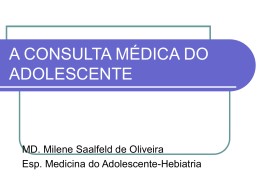PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS SILMA ÉDINA DE ARAÚJO MONTEIRO COM RELAÇÃO AO ALUNO ADOLESCENTE... Um Estudo Psicopedagógico CAMPINAS 2007 1 SILMA ÉDINA DE ARAÚJO MONTEIRO COM RELAÇÃO AO ALUNO ADOLESCENTE... Um Estudo Psicopedagógico Monografia apresentada à Faculdade de Educação da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, como exigência parcial para a obtenção do título de especialista em Educação e Psicopedagogia Orientadora: Prof.ª Dr.ªMaria Silvia Pinto de Moura Librandi Rocha PUC-Campinas 2007 2 Dedico este trabalho às minhas filhas, Paula e Carolina, adolescentes em busca de um lugar no mundo, como todos os meninos e meninas, apenas querendo dar sentido no viver. 3 AGRADECIMENTO Não haverá palavras suficientemente boas para agradecer as grandes contribuições que recebi para a realização deste trabalho. Ao amigo e às amigas da Psicoped que transformaram os encontros de estudos em oportunidades ímpares de reflexões e aprendizagens, e também em agradáveis relações de amizade que permanecerão vivas em minha memória. Aos professores e professoras que tão bem nos transformaram em colegas de trabalho, tamanhas as competências e habilidades em ensinar a ensinar, buscando transcender às dificuldades no processo ensinoaprendizagem por meio do conhecimento de como esse se dá, com valor especial à relação e à mediação entre ensinante e aprendente. Ao meu esposo, Romeu, que, como em todas as minhas empreitadas, se pôs ao meu lado e, procurando trabalhar comigo supria a falta que eu lhe fazia. Pai de duas adolescentes e convivendo com outros tantos, às vezes me servia de baliza e crítico das minhas idéias. A todos esses e a mais alguns, meus eternos agradecimentos e felicitações. 4 SUMÁRIO DEDICATÓRIA.................................................................................................. 2 AGRADECIMENTOS........................................................................................ 3 RELAÇÃO DE TABELAS.................................................................................. 5 RESUMO........................................................................................................... 6 INTRODUÇÃO.................................................................................................. 7 CAPÍTULO I – DESENVOLVIMENTO DAS RELAÇÕES AFETIVAS............... 9 1 – Sobre o desenvolvimento humano...................................................... 9 2 – Adolescência. Algum problema?........................................................12 3 – Afetividade e processo ensino-aprendizagem.................................. 22 CAPÍTULO II – PROFESSOR-ALUNO ADOLESCENTE: UMA RELAÇÃO POSSÍVEL?...............................................................................30 CAPITULO III – O ADOLESCENTE TEM LUGAR NA ESCOLA? ..................42 1 – A pesquisa......................................................................................... 42 2 – Metodologia....................................................................................... 44 3 – Resultados da pesquisa.................................................................... 46 CAPITULO IV – MAIS ALGUMAS CONSIDERAÇÕES ................................. 55 1 – Sobre a escola e o aluno adolescente.............................................. 55 2 – Professor-aluno adolescente: Uma relação possível!........................57 BIBLIOGRAFIA............................................................................................... 73 5 RELAÇÃO DE TABELAS Página Tabela 1 – Temas das matérias nas quais o adolescente é citado ...........................48 Tabela 2 – Quem fala nessas matérias .....................................................................48 Tabela 3 – Comunidade escolar – Quem fala I .........................................................49 Tabela 4 – Comunidade escolar - Quem fala II .........................................................49 Tabela 5 – População escolar na Rede Estadual do Estado de São Paulo ..............50 Tabela 6 – Tratamento dado ao adolescente ............................................................51 Tabela 7 – Relação professor-aluno ..........................................................................52 Tabela 8 – Comportamento e Relacionamento .........................................................53 6 RESUMO As constantes reclamações de professores sobre as dificuldades encontradas nas relações com alunos adolescentes podem, também, ser justificadas pelo desconhecimento ou negação das características social e culturalmente constituídas e constitutivas da adolescência normal. A baixa produção de estudos sobre o sujeito que vive esta fase do desenvolvimento humano em contexto escolar dificulta o acesso ao conhecimento necessário e, também por isso, a aceitação ao aluno adolescente com todas as particularidades de um comportamento que oscila entre a apatia e a agressividade, entre o isolamento e a euforia, não acontece com a naturalidade que deveria. Mesmo publicação destinada, exclusivamente, à escola e aos profissionais da educação, cujo objetivo é contribuir com a qualidade do ensino, não contempla o assunto na proporção de sua relevância e ou necessidades docentes. O fato é que as dificuldades de relação não param no comportamento e na falta de conhecimento do desenvolvimento adolescente, mas se estendem pelo despreparo e insatisfação de professores, cansados e decepcionados com a profissão, e que já não encontram energia para inovar e criar melhores condições para o processo ensino-aprendizagem, o que o leva a um mau desempenho de suas funções que, invariavelmente, reflete no desempenho e comportamento do aluno, levando, assim, a um círculo vicioso – professor insatisfeito - aula desmotivada - aluno insatisfeito = relações difíceis. Algumas das possibilidades de superação das dificuldades apontadas estão no oferecimento de um ambiente acolhedor e flexível às inconstâncias e diversidades do comportamento adolescente e na abertura da escola e dos professores à participação do adolescente em atividades coletivas e nos âmbitos de organização e tomadas de decisões da escola, nos quais o aluno se sentiria responsável, respeitado e ouvido, algumas das condições necessárias para a afirmação de sua identidade e reestruturação da sua personalidade, para, a partir daí, ser capaz de estabelecer e manter novas e saudáveis relações sociais, dentro e fora da escola. Palavras-chave: adolescência, relação professor-aluno, afetividade 7 INTRODUÇÃO Talvez por uma questão pessoal, as relações entre adultos e os não adultos me atraem. As questões voltadas aos relacionamentos me chamam a atenção por sua susceptibilidade às contingências humanas, temporais e locais. A escola é ambiente genuinamente produtor tanto das relações quanto das contingências que condicionarão estas relações. Observar e interpretar as relações em ambiente escolar é de grande valia para a educação, posto que se conferem elementos que levam a compreender sua influência nos comportamentos de seus membros e as implicações desses no processo ensino-aprendizagem. Isto como premissa, um fato ocorrido durante a realização de um trabalho em escola pública de Campinas-SP desencadeou, em mim, um sentimento capaz de despertar uma onipotência momentânea e ilusória (claro!), tamanha a revelação que se deu, muitas vezes imperceptível àqueles que estão no cotidiano da sala de aula, com tantas ocorrências e intercorrências atravancadoras da implementação das inúmeras exigências curriculares e institucionais, às quais têm de responder. A atitude de uma aluna frente a uma determinada professora configurou-se numa cena rica em diagnósticos que, se bem trabalhados, trariam grandes contribuições para a melhoria na qualidade das relações interpessoais na escola e, conseqüentemente, no processo ensino-aprendizagem. Felizmente, hoje já se pode perceber uma benéfica diversificação nas reações e nas relações dos alunos entre si e com os professores. Não se pode mais esperar a uniformidade nos comportamentos e nos “resultados” do trabalho docente dirigido ao aluno, embora muitas práticas pedagógicas sejam, ainda, massificadoras, sobretudo quando se tem uma turma de 40 a 45 alunos explodindo do desejo de relações interpessoais, tão próprias e intensificadas na escola. Com base nas diversas teorias já estudadas, arrisco-me afirmar que a mais importante mediação entre o aluno e o objeto do conhecimento não é exatamente o professor, mas a relação estabelecida entre este e aqueles, já que o aluno percebe e tem o aprendizado influenciado pelo domínio e pelo gosto que o professor demonstra 8 pelo que ensina. Portanto, a qualidade dessas relações é um dos fatores fundamentais no desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem. As intermináveis reclamações frente às dificuldades na relação professoraluno, e em especial a relação com o aluno adolescente, sendo que tais dificuldades são quase sempre atribuídas ao seu comportamento, foi o que me impulsionou para a realização deste trabalho que, espero, possa contribuir com uma re-interpretação do comportamento adolescente e com a construção de uma nova imagem do adolescente, sem estigmas ou estereotipagens. 9 Capitulo I O DESENVOLVIMENTO DAS RELAÇÕES AFETIVAS 1- Sobre o Desenvolvimento Humano Há muito, desde as primeiras teorias filosóficas, se diz que o homem é um ser relacional – como em Platão e a relação entre o homem e o transcendente, Hegel e a relação do homem e a consciência, Marx e a relação homem-natureza, ou, ainda, Nietzsche e a relação o homem consigo mesmo, com a máxima “... nosso corpo é apenas uma estrutura social de muitas almas” (Nietzsche, Apud, Oliveira 2005). Sempre que, histórica, antropológica ou ontologicamente se estuda o homem, este está, invariavelmente, “em relação à”. Assim, é uma verdade irrefutável que o homem precisa do outro – ou dos outros – para garantir subsistência, sobrevivência, descendência, assim como o desenvolvimento individual e o da espécie a qual pertence. Para subsistir, o homem depende biologicamente de genitores ou de seus substitutos; para sobreviver depende emocional, psíquica, econômica e culturalmente de seus iguais; para eternizar a espécie, precisa de um parceiro e gerar descendentes. Para desenvolver-se, o homem precisa de todos esses e de mais alguns, de acordo com o tipo de desenvolvimento a que se refere ou que se pretende. Outra verdade, cada vez menos contestável, é a de que o homem precisa de um meio apropriado, favorável ao seu desenvolvimento. Apenas a estrutura fisiológica humana, aquilo que é inato, não é suficiente para produzir o indivíduo humano, na ausência do ambiente social. As características individuais (modo de agir, de pensar, de sentir, valores, conhecimentos, visão de mundo, etc.) dependem da interação do ser humano com o meio físico e social. Vygotsky chama a atenção para a ação recíproca existente entre o organismo e o meio e atribui especial importância ao fator humano presente no ambiente. [...] Quando isolado, privado do contato com outros seres, entregue apenas a suas próprias condições e a favor dos recursos da natureza, o homem é fraco e insuficiente (REGO, 1995, p. 57-58). 10 Na maioria das culturas, o primeiro espaço social do indivíduo é a família. Esta deve proporcionar, em primeiro lugar, seu desenvolvimento biológico, alimentando-o, protegendo-o. E, já que, “o indivíduo se constitui enquanto tal não somente devido aos processos de maturação orgânica, mas, principalmente, através de suas interações sociais, a partir das trocas estabelecidas com seus semelhantes” (REGO, 1995, p.109), a família, natural ou substituta, é extremamente importante para a estimulação dos primeiros processos do desenvolvimento emocional, cultural e social da pessoa, o que também não será suficiente por muito tempo. Em muitas culturas, a maioria das crianças aumenta significativamente suas relações ainda no início da vida, quando passa, por exemplo, a freqüentar instituições educacionais. Neste ambiente, principalmente nos primeiros anos, as relações são, freqüentemente, confundidas com as relações familiares, sobretudo pela criança que, até que saiba identificar sua personalidade e a dos outros, correspondendo a primeira ao eu e a segunda à categoria do não-eu, encontra-se num estado de dispersão e indiferenciação, percebendo-se como fundida ao outro e aderida às situações e circunstâncias (GALVÃO, 1995, p.50). Os ambientes – casa, escola e outros – são diferenciados, mas as funções e o lugar de educadora e mãe não se encontram, ainda, ordenadas na compreensão da criança. Importante lembrar que nessa fase a relação com a professora é intensa, normalmente, amistosa, sinestésica, inclusive com o uso de tratamento familiar como “Tia”. Mesmo que haja relacionamentos mais ríspidos, estes se dão com menor freqüência se comparados aos outros. Por volta dos 3 anos, aparecem os sinais de que a criança começa a delinear e a delimitar sua personalidade, por uma afirmação do eu e pela negação do outro, que pode aparecer separada, concomitante ou, ainda, alternadamente, como apresenta Wallon que chamou a este período de estágio personalista, marcado por conflitos interpessoais (Galvão, 1995, p. 55). 11 A crise de oposição ao outro constitui uma fase combativa, de negação e de volta para dentro de si, que se origina da necessidade da criança de reconhecer a sua existência e de sentir a sua própria independência em relação ao outro [...] ao mesmo tempo que a criança se opõe a tudo, apenas para marcar sua posição (DER, 2004, p.68). É comum ver os pequenos disputando os espaços, a professora, as atenções, como fazem em casa, com a mãe e os irmãos, numa atitude hedonista, e numa insistente tentativa de chamar a atenção sobre si. E, ainda que “para Wallon, a evolução da criança é descontínua, cheia de conflitos, antagonismos e oposições, e entre um estágio e outro existem trocas de níveis e mutações” (DUARTE; GULASSA, 2000, p.28), há sempre uma estimativa para a duração ou para a passagem de uma fase à outra que, no caso da fase descrita acima, deve durar, aproximadamente, até os 6 anos de idade. A partir desta idade o grau de exigência na escolarização aumenta e passa a estimular outras modalidades do pensamento que, por meio das atividades desenvolvidas e os conceitos aprendidos na escola introduzem novos modos de operação intelectual: abstrações e generalizações mais amplas acerca da realidade. Como conseqüência, na medida em que a criança expande seus conhecimentos, modifica sua relação cognitiva com o mundo (REGO, 1995, p.103-104). Conforme avança em idade e experiências, a criança vai, ainda, tomando uma real consciência de si e, com tudo isso, torna-se capaz de certa acomodação das angustias provocadas pelos consecutivos conflitos, ora pela indiferenciação, ora pela negação, ora pela oposição, ora pela aproximação, o que vai lhe trazer a percepção e, por conseguinte, a segurança de que tem um lugar na vida das pessoas e no mundo. Dá-se, então, início a uma fase fecunda, o estágio categorial, durante o qual passa a dominar várias habilidades e capacidades responsáveis por viabilizar a construção coerente do pensamento. 12 [...] A formação de categorias intelectuais possibilita à criança a identificação, a análise, a definição e as classificações dos objetos e situações [...]. Toma conhecimento a respeito de si próprio e, cada vez mais, tem condições de se posicionar diante de situações conflituosas que emergem do meio (AMARAL, 2000, p.57). Porém, a “calmaria” não dura muito e, em pouco tempo, vai dando lugar aos questionamentos e inquietações, agora, da adolescência, que vão provocar novas transformações na qualidade, na intensidade e na intencionalidade das relações. O que, num primeiro momento, pode parecer uma questão apenas social, uma vez que impacta mais visivelmente nas relações, é, também, uma somatória de fatores biológicos e psicológicos, mais ainda intensificados pelas alterações físicas, inerentes à puberdade, que, seguramente, vão interferir no comportamento da pessoa que já não se vê como criança, mas também não se localiza no mundo dos adultos. Talvez seja esse o principal dilema da adolescência - estágio do desenvolvimento muito vulnerável aos efeitos da afetividade, justamente por conta dos conflitos socialmente assumidos como naturais da idade, e que demandam uma espécie de retomada da estruturação do indivíduo, colocando em cheque sua identidade para consolidar sua personalidade. Vê-se, portanto, que o conflito eu-outro não é uma vivência exclusiva do estágio personalista. Na adolescência, fase em que se faz necessária a reconstrução da personalidade, instala-se uma nova crise de oposição. Com a mesma função da crise personalista, a oposição da adolescência apresenta-se, todavia, mais sofisticada do ponto de vista intelectual [...]. Diferente da criança pequena, que é mais emocional na vivência de seus conflitos, o adolescente procura apoiar suas oposições em sólidos argumentos intelectuais (GALVÃO, 1995, p. 55). 2- Adolescência. Algum problema? Embora correlatas e, normalmente, concomitantes, puberdade e adolescência não devem ser entendidas como fenômeno único. A primeira é marcada por grandes 13 e importantes mudanças físicas, bioquímicas e fisiológicas no organismo que, somadas às interpretações e expectativas sócio-culturais a partir destas mudanças, vão desencadear alterações e aquisições psicossociais que caracterizarão a segunda. Para a legislação brasileira, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA -, essa fase tem início aos 12 anos completos e se estende até os 18 anos (CMDCA, 1999, p.7). Nas definições do Aurélio, adolescência é um período que se estende, aproximadamente dos 12 aos 20 anos. Para alguns estudiosos, como os adeptos da teoria walloniana sobre o desenvolvimento humano, essa fase começa em torno dos 11-12 anos (MAHONEY; ALMEIDA, 2007, p.59); para Jesus Palácios, o período começa a partir dos 12-13 anos e segue até o final da segunda década da vida (2004, p. 263). Ainda, para Arminda Aberastury e outros, “os fatos indicam que nas adolescentes [as características da adolescência]1 se estende dos 12 aos 21 anos, e nos rapazes dos 14 aos 25 anos em termos gerais” (1981, p.89). É consenso entre a maioria dos estudiosos que tais variações se dão por influência do meio social no qual o sujeito está inserido, o que significa dizer que a adolescência foi e é social e culturalmente construída e que “o comportamento adolescente é culturalmente determinado” (MUUSS, 1976), com grandes diferenças nas várias culturas, etnias, épocas e classes sociais. Bons exemplos disso são os rituais de passagem que, muitas vezes, beiram a crueldade e que ainda são realizados em algumas culturas indígenas, nos quais o indivíduo é infante ao ser submetido a uma espécie de preparação para outra vida e depois de alguns dias de reclusão, atividades de danças, bendições, orações, testes de resistência, etc., passa, automaticamente, à condição de adulto e, por conseguinte, à pertença de um clã adulto e com as conseqüentes responsabilidades. Fatos da atual conjuntura sócio-econômica nacional, por exemplo, demonstram grandes diferenças na adolescência vivida por indivíduos de classes sociais distintas; enquanto adolescentes das classes economicamente mais pobres são, frequentemente, obrigados a trabalhar antes dos 14 anos, idade a partir da qual, segundo o ECA, o trabalho é permitido (CMDCA, 1999, p. 22), muitos outros, 1 Destaque meu. 14 pertencentes às classes sociais mais ricas, vão se inserir no mercado de trabalho mais tardiamente, após os 22 anos, quando terminam o ensino superior, mantendose na dependência econômica dos pais por mais tempo. As responsabilidades impostas pelo trabalho são capazes de proporcionar certo grau de independência e autonomia, e suas exigências cognitivas e atitudinais com relação à assiduidade, pontualidade, adequação às regras e normas, etc., impõem um amadurecimento pessoal, o que, naturalmente, a pessoa a elas submetida poderá viver um período reduzido da adolescência, antecipando a adultidade. Ainda há os sujeitos que, graças às inúmeras atividades de cunho esportivo, cultural e de ensino, às quais são inseridos desde muito cedo por seus pais que, na ânsia de garantir-lhes um espaço na concorrida sociedade, os sobrecarregam com compromissos, afastando-os da infância e inserindo-os cada vez mais cedo na adolescência, uma vez que esta também pode ser caracterizada pelo aumento nas relações sociais estabelecidas pelo sujeito. Tanto uma situação como as outras poderão contribuir e interferir na duração e nos modos de manifestação da adolescência e, na medida em que o adolescente não encontre o caminho adequado para a sua expressão vital e para a aceitação de uma possibilidade de realização [de acordo com o que seu meio espera e o induz a desejar] , não poderá jamais ser um adulto satisfeito. A tecnificação da sociedade, o domínio de um mundo adulto incompreensível e exigente, a burocratização das possibilidades de emprego, as exigências de uma industrialização mal canalizada e uma economia mal dirigida criam uma divisão de classes absurda e ilógica que o indivíduo tenta superar mediante crises violentas, que podem se comparar as verdadeiras atitudes de caráter psicopático da adolescência. Muitas outras vezes, frente a estas vicissitudes, a reação da adolescência, ainda que violenta, pode adotar a forma de uma reestruturação egóica revolucionária, que conduz a uma liberação desse superego social cruel e limitador. É então a parte sadia da sociedade que se refugia no baluarte de uma adolescência 15 ativa, que canaliza as reivindicações lógicas que a própria sociedade precisa para um futuro melhor (KNOBEL, 1988, p.54). Nos estudos sobre desenvolvimento humano, duas abordagens são bastante importantes – a biogenética e a sócio-histórica. O primeiro representante da primeira e, freqüentemente considerado pai da “Psicologia da Adolescência”, Stanley Hall criou a lei da recapitulação na qual o indivíduo revive todo o desenvolvimento da espécie humana, desde o estágio quase animal nas eras primitivas [...] até os mais recentes modos civilizados de vida que caracteriza a maturidade. [...] Dessa teoria decorre que o desenvolvimento e seus acompanhamentos comportamentais ocorrem num padrão inevitável, imutável e universal, a despeito do ambiente sociocultural (MUUSS, 1969, p.25). Afirmações extremadas como esta, também por seu caráter generalizante, podem situar-se ao nível do senso comum, cuja maior característica é a tendência à generalização na interpretação dos fatos. Essa atitude costuma ser responsável pela criação de estereótipos e padrões. “Seria, sem dúvida, uma grave supersimplificação do problema da adolescência atribuir todas as características do adolescente à sua mudança psicobiológica, como se realmente tudo isto não estivesse ocorrendo num âmbito social” (KNOBEL, 1988, p.51). Como toda estereotipagem, o que vem acontecendo com relação à adolescência beira a injustiça. Embora exista uma infinidade de adultos dramáticos e vivendo eternos conflitos, não se faz referência à adultez como fase dramática e conflituosa. Ainda que haja crianças muito agressivas, não se percebe nenhuma tendência a elevar esse tipo de comportamento ao nível de característica da infância. Estudos antropológicos mostram variedades de manifestações de vida em comum do ser humano, que logicamente, na adolescência, marcam-se como características salientes, mas que de nenhuma maneira implicam uma negação das características básicas fundamentais que são as que podem descrever o adolescente (Idem, p. 52). 16 Por que, então, imprimir tais estigmas aos adolescentes, uma vez que a dramaticidade, a agressividade ou qualquer outra expressão podem ser manifestadas em toda e qualquer fase da vida, não se firmando como exclusividade do adolescente, além de não necessariamente vividas por todos os que se encontram nessa idade? “É importante destacar que foi precisamente um fenômeno social, o desenvolvimento da delinqüência juvenil nos Estados Unidos da América do Norte, que influiu enormemente para que se fizessem estudos extensos e prolixos a respeito da adolescência” (ibid. p.51). Muuss lembra que no conceito de Stanley Hall, a adolescência é descrita como um período de Sturm und Drand: ”tempestade e tensão”. É uma analogia a um movimento literário alemão “cheio de idealismo, compromissos com um objetivo, revolução contra o arcaico, manifestação de sentimentos pessoais, paixão e sofrimento [...]. Na teoria da recapitulação, a adolescência corresponde à época em que a raça humana passava por um período de turbulência e transição” (MUUSS, 1969, p.27). Transição sim, mas não necessariamente turbulenta, é o que apresenta Jesus Palácios quando cita uma pesquisa feita pela antropóloga Margaret Mead com meninos e meninas de Samoa que atravessam as mudanças fisiológicas que levam da infância à maturidade, não apresentam nenhum sinal especial de tensão, de turbulência ou de dificuldades. Pelo contrário, parece que na Samoa que Mead observou tudo levava a realizar uma transição fácil e sem problemas: os meninos e meninas já vinham sendo introduzidos na vida dos adultos e suas responsabilidades, ainda que de maneira gradual e adequada às suas possibilidades [...] A adolescência era, naquela Samoa, uma agradável época da vida (PALÁCIOS, 2004, p.268). Isto nos remete a lugares e tempos não muito distantes. Basta sair pelo interior do Brasil e ouvir as histórias de senhoras e senhores em torno de 60/70 anos para descobrir essa Samoa aqui mesmo. Ainda muito pequenos, os meninos tinham de acompanhar seus pais nos trabalhos do campo e as meninas ficavam com suas mães, encarregadas dos trabalhos domésticos, confirmando-se, assim, as 17 observações de Mead sobre as responsabilidades assumidas desde muito cedo. Como também não havia muito empenho numa formação acadêmica, mesmo porque o acesso à escolarização era e ainda é muito difícil nas zonas rurais, não se tinha outra opção a não ser a de se casar e constituir família, o que acontecia muito precocemente. Por volta dos 13/15 anos as meninas, no início da adolescência, já estavam assumindo função de mães de família e, por isso, não havia tempo nem motivos para viver as inconstâncias da adolescência, já que passavam da infância diretamente à vida adulta. O que se diferencia da “agradável época da vida” vivida em Samoa, portanto, é que não necessariamente esses fatos são encarados ou vividos com tranqüilidade em nossa cultura ocidental, sobretudo, em nossos dias. O fato de terem sido, ou ainda serem, submetidos a essa abreviação da adolescência, e até da infância, traz certo sofrimento para esses que tem uma importante etapa da vida suplantada, sem a qual não acumularão a experiência necessária para, posteriormente, compreender e ou contribuir com a formação de seus sucessores quando chegarem a essa fase. E, vale ressaltar que essa vivência não é uma opção, mas uma falta de opção para jovens e adolescentes que se pudessem, possivelmente, iriam preferir uma vida com mais experiências e maiores possibilidades de lazer e cultura. Haja vista o êxodo rural iniciado na década de 50 com a construção de Brasília, se intensificando na década de 60 com o processo de industrialização, e se estendendo com força pelas décadas subseqüentes, demonstrando, assim, uma insatisfação com a limitação imposta pela monotonia e precariedade normalmente comuns à vida no campo, limitada ao trabalho e às responsabilidades assumidas desde muito cedo. Assim, a adolescência não pode ser um fenômeno determinado apenas por fatores biológicos, como acontece na puberdade, e nem, tão somente, por fatores psicológicos. É claro que a idade pode influenciar comportamentos, mas não só. O contexto, as contingências, as épocas, os ambientes, as questões sociais, enfim, são tão responsáveis e interferem nas atitudes e comportamentos do adolescente quanto qualquer outro fator. Na esteira das contribuições da antropologia cultural, tem havido, nos últimos anos, uma certa tendência a adotar uma posição 18 oposta à convencional que consistia em considerar a adolescência como uma época particularmente agitada. Assim, chegou-se a afirmar que a adolescência é apenas um produto cultural, e que seu caráter mais ou menos suave ou agitado é apenas uma das conseqüências das experiências que cada cultura oferece a seus membros jovens. Chegou-se a afirmar que a adolescência não é fundamentalmente uma época de tensões (Ibid). Penso que Jesus Palácio tem razão quando supõe que a maior parte dos adolescentes se encontra entre os dois modelos apresentados – a tormenta e a tranqüilidade. A nossa atual sociedade urbana alimenta idéias sobre a adolescência que já estão inculcadas e aculturadas, inclusive, pelos próprios adolescentes, como se pode perceber na fala de uma estudante que procurava justificar seu estado de ânimo e comportamento: “Ah! Eu sou meio louca! Um dia estou afim de estudar, outro dia não me interesso por nada. Fico com preguiça. Bagunço, atrapalho a aula. Sei lá! Acho que é por causa desses hormônios”. Ou seja, já se aprendeu a justificar o comportamento única e exclusivamente como uma reação à ação dos hormônios. Assim, acaba-se por naturalizar atitudes inadequadas, em lugares impróprios para determinadas posturas, além de mascarar problemas mais abrangentes como dificuldades de “ensinagem” e aprendizagem. Com base neste e nos exemplos anteriores, penso não ser imprescindível ser um cientista, teórico ou especialista para discutir temas tão intrínsecos à vida de todo e qualquer indivíduo. Viver a infância e conviver com uma criança; ter sido adolescente ou estar próximo de um; ser idoso ou ter alguém nessa condição, são situações suficientemente boas para falar e argumentar, com propriedade, sobre as características dessas etapas da vida, com as especificidades, belezas e dificuldades próprias de cada uma. O que não se pode é ter um olhar restrito e reducionista, às vezes, discriminatório e preconceituoso sobre elas, a despeito de um olhar cauteloso, crítico, capaz de ver além da pessoa, e enxergar os contextos aos quais ela submete e é submetida. Justamente pela falta de um olhar capaz de transcender o fato, o sujeito, o ato em si, muitos são os rótulos estampados na pessoa do adolescente que, na maioria 19 dos casos, é visto como transgressor e afrontoso das regras estabelecidas. Há que se considerar, porém, que o convívio social e nossas estruturas institucionais fazem-nos ver que as normas de condutas estão estabelecidas, manejadas e regidas pelos indivíduos adultos da nossa sociedade. É sobre esta intercorrelação de gerações, e desde o ponto de vista regente e diretivo, que podemos, e creio eu que devemos, estar capacitados para observar a conduta juvenil como algo que aparentemente é seminormal ou semipatológico, mas que, entretanto, frente a um estudo mais objetivo, desde o ponto de vista da psicologia evolutiva e da psicopatologia, aparece realmente como algo coerente, lógico e normal (KNOBEL, 1988, p.29). As próprias instituições formadoras como a família e a escola tendem a estigmatizar o adolescente. Não raro o adolescente é, nesses ambientes, nomeado “aborrescente”, como aquele que aborrece ou está aborrecido o tempo todo. Como se pode atestar em várias citações neste trabalho, Mauricio Knobel traz grandes contribuições aos educadores e pais de adolescentes, sobretudo quando sistematiza, de modo muito coerente, as características da adolescência na sociedade ocidental, descrevendo a sintomatologia do que ele chama de “síndrome normal da adolescência”, salvaguardadas as peculiaridades culturais e individuais. São dez os sintomas como se seguem: 1- busca de si mesmo e da identidade; 2- tendência grupal; 3necessidade de intelectualizar-se e fantasiar; 4- crises religiosas que podem ir desde o ateísmo mais intransigente até o misticismo mais fervoroso; 5- deslocalização temporal, onde o pensamento adquire as características do pensamento primário; 6- evolução sexual manifesta, que vai do auto-erotismo até a heterossexualidade genital adulta; 7- atitude social reivindicatória com tendências anti ou associais de diversa intensidade; 8- contradições sucessivas em todas as manifestações da conduta, dominada pela ação, que constitui a forma de expressão conceitual mais típica deste período da vida; 9- uma separação progressiva dos pais; constantes flutuações do humor e do estado de ânimo (ibid.). 20 Se apresentadas essas atitudes para qualquer profissional sem que se mencione a idade de quem as executam, poder-se-ia pensar tratar de um psicopata, mas uma vez declarada a fase adolescente pela qual o sujeito estivesse passando, para Knobel, tais atitudes, por seu caráter circunstancial e transitório, devem ser consideradas absolutamente normais. Infelizmente, nossas escolas, os educadores e os pais, em sua grande maioria, justamente os que lidam direta e diuturnamente com tais sujeitos, não têm o conhecimento de tudo isso, o que ocasiona a rotulação, os estigmas já mencionados e, pior, têm atitudes muito inadequadas frente às atitudes adolescentes, de modo, aí sim, a criar um clima de conflitos e muitas vezes violentos. “É o mundo adulto que não suporta as mudanças de conduta no adolescente, quem não aceita que o adolescente possa ter identidades ocasionais, transitórias, circunstanciais, [...] e exige dele uma identidade adulta, que logicamente não tem por que ter” (Idem, p.55). Aliás, segundo Stuart Hall, a identidade permanece sempre incompleta, está sempre ‘em processo’, sempre ‘sendo formada’ [...]. Assim, em vez de falar da identidade como uma coisa acabada, deveríamos falar de identificação, e vê-la como um processo em andamento. A identidade surge não tanto da plenitude da identidade, mas de uma falta de inteireza que é ‘preenchida’ a partir de nosso exterior, pelas formas através das quais nós imaginamos ser vistos por outros (HALL, 2004, p.38-39). Isto leva-nos a uma questão também muito séria. Se nossa identidade tem como base a idéia do que os outros fazem de nós, e se o adolescente vive uma fase em que sua identidade está sendo reestruturada, qualquer afirmação que façamos com relação à pessoa do adolescente vai influir em como ele vai construir essa nova ou mais elaborada identidade. A conquista do autoconceito [...] vai se desenvolvendo à medida que o sujeito vai mudando e vai se integrando com as concepções que muitas pessoas, grupos e instituições têm a respeito dele mesmo, e vai assimilando todos os valores que constituem o ambiente social (KNOBEL, 1988, p.31). 21 Mas, essa assimilação não é feita passivamente, compõe-se, também, de muitas contestações. Justamente pelo fato de que as normas, as condutas, os valores sociais, são construídos, ditados pelos adultos, muitas vezes, serão questionados pelo adolescente que tende a se sentir oprimido ou limitado por muitos desses, até porque ainda não fazem parte de seu mundo, ou ele não faz parte, ainda, desse mundo. Então, a velha lei da atração e repulsão magnética terá valores opostos – aqui os iguais se atraem – e, num comportamento defensivo o adolescente procura a uniformidade em seus pares. “Aí, surge o espírito de grupo pelo qual o adolescente mostra-se tão inclinado” (Idem, p.36). Para os pais, o filho passar a pertencer, freqüentar e imitar um grupo é um dos fatos mais difíceis de suportar, porque pode significar rejeição, separação e afastamento da família. Pode ser à primeira vista, mas tudo o que grande parte dos adolescentes não quer é separar-se dos pais, mesmo porque a entrada no mundo adulto é indefinida, incerta, e suas atitudes são de quem tateia à procura de algo no escuro. Nesse sentido, as pessoas em quem confia e que já se encontram “do lado de lá” serão a luz que proporcionará a lucidez que ele precisa alcançar. Essa atitude adolescente é uma das lutas mais desapiedadas que se desenvolve em defesa da independência, num momento em que os pais desempenham ainda um papel muito ativo na vida do indivíduo. É por isso que o fenômeno grupal adolescente procura um líder ao qual submeter-se, ou então, erige-se ele mesmo em líder para exercer o poder do pai ou da mãe (Idem, 37). Por isso, também, é que as coisas não são fáceis para o adolescente que vive um processo de ganhos, sim, mas também de perdas muito significativas. A perda do corpo e do seu papel infantil que não admite como sendo ele a abandoná-los, mas imagina que lhe são negados, além da perda dos pais infantis que não querem continuar cuidando e protegendo-o como sempre fizeram. “Mas, a presença internalizada de boas imagens parentais, com papéis bem definidos, e uma cena amorosa e criativa, permitirá uma boa separação dos pais, um desprendimento útil, e 22 facilitará ao adolescente a passagem à maturidade, para o exercício da genitalidade num plano adulto” (Idem, p.57), quando assumirá, ele mesmo, o papel do genitor. Os pais são muito necessários no manejo de seus próprios filhos adolescentes que estão explorando um círculo social após outro, por causa da sua capacidade de entrever melhor do que seus filhos podem, quando esta progressão de um círculo social limitado para outro ilimitado é rápida demais, talvez por causa dos elementos sociais perigosos na vizinhança imediata, ou por causa dos desafios que fazem parte da puberdade e do desenvolvimento rápido da capacidade sexual (WINNICOTT, 1983, P.87). Nem todos os processos acontecem ao nível da consciência, ao contrário, muito são inconscientes, e, “embora conscientemente desejem crescer em todos os planos e ser como os pais, algo lhes faz temer a condição de adulto e reagem de uma maneira paradoxal” (ABERASTURY, et al p.68). 3- Afetividade e processo ensino-aprendizagem Há uma premissa vigente no senso comum que considera o aspecto positivo da afetividade como a própria afetividade e suas manifestações. Apenas as pessoas carinhosas são definidas como afetivas. E isto aponta para uma outra tendência que é a idéia de que a demonstração da afetividade se dá por meio do contato físico – beijinhos, afagos, abraços. Há aí alguns equívocos: em primeiro lugar, a afetividade não necessita do toque para ser sentida ou expressada. Um olhar, uma palavra, um murmúrio ou apenas a entonação da voz é suficiente para perceber a afetividade, tanto quanto a palidez ou o rubor da face são suficientes para expressá-la; em segundo lugar, não, necessariamente, a afetividade, manifestada pelo toque ou não, será positiva no sentido de comunicar algo agradável, prazeroso, bom. Se for por meio de um contato físico, a força nele empregada, o peso da mão de quem toca, dará o significado e o sentido da afetividade que o sujeito pode identificar como uma manifestação de raiva, carinho, proteção, contenção, atenção, etc. E, quase invariavelmente, produzirá uma resposta, uma reação permeada do mesmo sentido. Ana Archangelo descreve uma situação bem característica quando conta experiências de professores e alunos em sala de aula: 23 Primeiro dia de aula. Lá no fundo tinha um menino. De repente um aluno falou: ‘Dona Noemi, o macaco tá acostumado a bater em professora’. Eles passavam por escola, a professora não agüentava, mandava embora, expulsava [...] Ele tinha uma cabeleira dessa altura. Eu, morrendo de medo aqui dentro, fiz igual arregaçar a manga. Eu falei: ‘Meu avô diz que não pode deixar para amanhã o que pode resolver hoje. Vamos resolver hoje’. E fui pro lado dele, sabe? Mas quando eu fui caminhando, eu fui pedindo a Deus que me desse amor por aquele menino. Quando eu cheguei perto dele e pus a mão na sua cabeça, sabe aquele gatinho desmilingüir? Ele se derreteu, não me enfrentou. Eu não pus a mão para agredir, eu pus com amor. Ficou meu amigo. Ele roubava garrafa da minha mãe, parou de roubar garrafa. [...] Bom, aí esse menino saiu da escola. Um dia eu vou lá no abrigo de meninos, tinha uma prisão de crianças. Eu chego lá, vi o Edson, me deu uma dor no coração. ‘Edson, o que cê tá fazendo aqui?’ Ele abriu um sorriso: ’dona Noemi, eu não tô preso, eu sou pedreiro, eu tô consertando o chão’ (2004, 98). Além de excelente imagem que concretiza a expressão da afetividade pelo toque e a respectiva resposta, esse é também um exemplo de como a afetividade pode interferir na formação da personalidade. A Psicanálise “revelou a existência de vínculos afetivos positivos e negativos (do sujeito com objetos e situações) que podem assumir diferentes intensidades e se orientar em estruturas de conduta de personalidade, ou esquemas de reação com menor ou maior grau de estabilidade” (VISCA, 2000, p.51). A afetividade refere-se à capacidade, à disposição do ser humano de ser afetado pelo mundo externo/interno por sensações ligadas a tonalidades agradáveis ou desagradáveis. Ser afetado é reagir com atividades internas/externas que a situação desperta. A teoria aponta três momentos marcantes, sucessivos na evolução da afetividade: emoção, sentimento e paixão. Os três resultam de fatores orgânicos e sociais, e correspondem a configurações diferentes: na emoção, há predomínio da ativação fisiológica, no sentimento, da ativação 24 representacional, na paixão, da ativação do autocontrole (MAHONEY, ALMEIDA, 2005, p.19-20). Em todo e qualquer contexto social haverá a incidência da afetividade e, com intensidades e permanência variadas de acordo com a fase de desenvolvimento humano e contingências às quais os sujeitos estejam submetidos. Na escola, sobretudo na sala de aula, professor e aluno são afetados um pelo outro, e, ambos, pelo contexto onde estão inseridos; a não satisfação das necessidades afetivas, cognitivas e motoras prejudica a ambos, e isso afeta diretamente o processo ensino-aprendizagem: no aluno, pode gerar dificuldades de aprendizagem; no professor gera insatisfação, descompromisso, apatia [...] (MAHONEY, ALMEIDA, 2005, p.13). Segundo a teoria do desenvolvimento de Wallon já abordada anteriormente, “o conjunto afetivo está mais evidenciado nos estágios do personalismo, e da puberdade e adolescência” (Idem, p.18). Isto explica a intensidade com que as manifestações afetivas nas relações com e entre os adolescentes, normalmente, acontecem. “Em cada estágio do desenvolvimento há uma alternância de movimentos e direções [...] quando o movimento é para si mesmo (centrípeta) o predomínio é afetivo. E quando a direção é para o mundo exterior (centrífuga), o predomínio é do cognitivo” (Idem, p.19). Considerando os sintomas, muitas vezes, visíveis nas atitudes e comportamentos característicos de cada idade, isso nos leva a entender porque, normalmente, sentimos maior facilidade em olhar para o outro que olhar para si mesmo. Talvez seja dessa dificuldade no contato com o mundo interior o fato de procurarmos, quase sempre, encontrar nos outros a culpa pelos nossos fracassos e limitações. No plano cognitivo, no qual a racionalidade predomina, é mais factível julgar e agir a partir do julgamento. Aí, ainda que considerando todo o caráter abstrato do funcionamento da mente, normalmente, a ação é mais acertada, mais equilibrada, mais previsível, porque mais objetiva e mais constante entre os sujeitos. Ou seja, “pensar para fora” é mais fácil. “Pensar para dentro”, é entrar no plano afetivo, é estar em contato com as emoções, sentimentos e paixões. Plano muito 25 mais subjetivo e imprevisível, posto que envolve sensibilidades e disposições internas extremamente particulares. Sob um olhar racional, todos concordamos que “mãe” é a genitora e/ou a responsável pela criação e educação de um indivíduo; sob um olhar afetivo “mãe” pode ser tudo, desde uma pessoa detestável, até a mais amável e amada das criaturas. Então, pode-se dizer, também, que a afetividade está no campo do imprevisível e do imponderável. A emoção, expressão física da afetividade, está presente desde o nascimento, e é por meio dela que a comunicação e a interação são estabelecidas com o mundo exterior. O choro do recém-nascido, por exemplo, é um modo de comunicar que algo o está afetando, nesse caso, de modo negativo – algo o está desagradando. Quando um bebê movimenta os membros, ainda que desordenadamente, pode ser uma manifestação afetiva – dessa maneira ele demonstra alegria ao ver a mãe, por exemplo – a presença da mãe o afeta. Essa é a primeira função da emoção: mobilizar alguns que vão satisfazer as necessidades de outros. Ninguém consegue ficar inerte ao choro, grito ou gesto de uma criança. Um outro equívoco muito comum é a substituição ou equivalência entre emoção e afetividade, como se fossem sinônimos. Todavia, não o são. A Afetividade é um conceito mais abrangente no qual se inserem várias manifestações. As emoções possuem características específicas que se distinguem de outras manifestações da afetividade. São sempre acompanhadas de alterações orgânicas, como aceleração dos batimentos cardíacos, mudanças no ritmo da respiração, dificuldades na digestão, secura na boca [...] as emoções provocam alterações na mímica facial, na postura, na forma como são executados os gestos (GALVÃO, 1995, p.61-62) e são altamente contagiantes. De acordo com as oscilações viscerais e musculares, as emoções podem ser diferenciadas em medo, raiva, alegria, tristeza, ciúme, prazer, etc. Cada emoção apresentará sinais característicos que deverão ser interpretados à luz dos contextos, situações e, principalmente, das motivações no momento de sua expressão. “A 26 emoção dá rapidez às respostas, de fugir ou atacar, em que não há tempo para deliberar” (MAHONEY, ALMEIDA, 2005, p.20). A emoção é fundamental para o desenvolvimento mental. A correspondência aos estímulos internos coloca o indivíduo em contato com o mundo e com os outros, e é partir destes contatos que ele vai se condicionando a uma adequação das manifestações de suas próprias emoções, de forma tal que uma convivência social seja possível. É de extrema importância que o indivíduo tenha espaços onde possa manifestar suas emoções e, também, que presencie e participe e aprenda com as manifestações emotivas de outros. Só assim terá condições de comparação e consciência de outras possibilidades de manifestação ou de controle das emoções. Um aluno que assiste à professora, embora com muita raiva, dominar uma situação conflituosa, com ponderação, tolerância e compreensão dos fatos, poderá entender que a sua própria raiva pode ser administrada e não é pelo fato de existir que tem de ser levada a cabo, descarregando-a de maneira violenta. Esse exercício proporciona o amadurecimento cognitivo/afetivo. “A emoção estimula mudanças que tendem a diminuí-la, ao propiciar o desenvolvimento cognitivo” (Idem, p.21). A atividade intelectual, como já se viu, vai em direção contrária, portanto antagônica à emoção. Na vida cotidiana é possível constatar que a elevação da temperatura emocional tende a baixar o desempenho intelectual e impedir a reflexão objetiva. O poder subjetivador das emoções (que volta a atividade do sujeito para suas disposições íntimas, orgânicas) incompatibiliza-se com a necessária objetividade das operações intelectuais; é como se a emoção embaçasse a percepção do real, impregnando-lhe de subjetividade e, portanto dificultando reações intelectuais coerentes e bem adaptadas (GALVÃO, 1995, p.65-66). Aqui se apresenta um paradoxo para a educação - se as relações com o objeto de conhecimento e com o seu mediador, no caso o professor, têm de ser afetivas para produzir significado levando à compreensão e ao domínio do objeto, como impedir que as emoções atuem nesse processo de modo a bloquear a aprendizagem? 27 A resposta vem do sentimento. Como nas fases do desenvolvimento humano, no caso da afetividade o sentimento pode ser definido como uma fase subseqüente à emoção. E, segundo a perspectiva do desenvolvimento, uma fase não aniquila a outra, sendo que o indivíduo poderá re-visitar aquela que supostamente havia deixado para trás, até que a maturação, ou a amplitude da capacidade mental desse indivíduo seja tal, que alcance um estado de permanência na fase mais evoluída. O sentimento “corresponde à expressão representacional da afetividade” (MAHONEY, ALMEIDA, 2005, p.21). Passa pelo crivo do pensamento, da capacidade de percepção e diferenciação. Não tem a emergência e a diretividade da emoção. O sentimento é uma manifestação mais elaborada da afetividade, opõe-se ao arrebatamento, que é uma emoção autêntica: tende a reprimi-la, impor controles e obstáculos que quebrem sua potência. Os sentimentos podem ser expressos pela mímica e pela linguagem, que multiplicam as tonalidades, as cumplicidades tácitas ou subentendidas. O adulto tem maiores recursos de expressão representacional: observa, reflete antes de agir, sabe onde, como e quando se expressar, traduz intelectualmente seus motivos ou circunstâncias (ibid.). Talvez, possa-se dizer que os sentimentos são maneiras inteligentes de expressar a afetividade e as emoções. Os fatores afetivos estão presentes na escola, e lhes são tão caros e intrínsecos, como qualquer conteúdo acadêmico, embora, nem sempre, declarados. Como em TASSONI (2000, p.41), toda aprendizagem está impregnada de afetividade. A trama que se tece entre alunos, professores, conteúdo escolar, livros, escritas, etc. não acontece puramente no campo cognitivo. Existe uma base afetiva permeando essas relações. Uma sala de aula, sobretudo se constituída por alunos adolescentes e professor, está carregada de afetos e desafetos, fato que pode determinar a qualidade das relações, os comportamentos e, conseqüentemente, o clima propício ou não à aprendizagem. 28 Sendo a aprendizagem processual e perene, está sujeita a alterações de significados, de efetivação e dos recursos individualmente disponíveis e particulares do sujeito aprendiz, que são alcançados conforme passa de um estágio do desenvolvimento a outro. Na adolescência, o indivíduo conta com um recurso próprio da fase que é a oposição; este recurso o auxilia na concretização do seu conhecimento e na conformação de uma visão do mundo e de si. É por meio da oposição “que vai aprofundando e possibilitando a identificação das diferenças entre idéias, sentimentos, valores próprios e do outro” (MAHONEY, ALMEIDA, 2005, p.24). Um processo de ensino-aprendizagem que cumpre sua função é o que permite expressar e discutir tais diferenças e as considera. Apesar da necessidade de modelos e diretrizes, a construção do conhecimento não prescinde da liberdade e da criação. Há que se reconhecer também a existência de indivíduos incapazes de afetos. O desafeto como definido no Aurélio - falta de afeto, e este tido, apenas, como manifestações positivas: afeição por alguém; inclinação, simpatia, amizade, amor, também incorre em discordância com todo o exporto até agora. Aqui, trata-se da impossibilidade de ser afetado. Consciente ou inconscientemente, o indivíduo não demonstra, camufla sua afetividade em determinados momentos e contextos. Não expressa ou recebe qualquer atitude afetiva, como se estivesse impermeável a qualquer emoção ou sentimento. Isto, muitas vezes, pode significar uma postura de defesa ou de protesto. O desafeto não é, pois, a demonstração de uma emoção ou sentimento negativo, como raiva, por exemplo, mas justamente a falta desta e de outras expressões e recepção da afetividade. Sobre esta e as outras situações intrínsecas ao contexto escolar é que se dá a atuação do professor. Maduro que é (ou que, ao menos, deveria ser) e com as experiências acumuladas que devem ter lhe conferido o conhecimento se si, de suas possibilidades, competências, limitações, valores, emoções, sentimentos, espera-se dele que possa dar razões pelas quais escolheu a sala de aula para continuar desenvolvendo e aplicando as conquistas, advindas de todas as suas vivências. Ser adulto significa ter desenvolvido uma consciência moral: reconhecer e assumir com clareza seus valores e compromissos com 29 eles que marca o fim da adolescência, cuja característica primordial foi a luta por essa definição. [...] Esse é um indicador de amadurecimento: conseguir um equilíbrio entre ‘estar centrado em si’ e ‘estar centrado no outro’ [...] daí a importância do professor adulto: tem melhores condições para o acolhimento do outro, de seus alunos e de seus pares (MAHONEY, ALMEIDA, 2005, p.24). Num primeiro momento, pode parecer exigência demais para um “pobre mortal” como o professor, com todas as expectativas que já sofre como pessoa, cidadão e em todas as outras esferas da sua vida. Mas, nenhum outro profissional tem tantos instrumentos para a realização do trabalho como o professor. E, apesar das dificuldades na realização do seu trabalho, algumas vezes, sem os recursos adequados, submetido às leis e diretrizes que lhes são impostas de maneira verticalizada e que nem sempre condizem com a realidade, falta de apoio e participação da direção, etc., se ele souber reconhecer e valorizar os instrumentos que emergem das situações cotidianas vividas com seus alunos, poderá ter mais chances de propiciar as condições necessárias para melhorar seu trabalho e atingir os objetivos da educação. 30 Capítulo II PROFESSOR-ALUNO ADOLESCENTE: UMA RELAÇÃO POSSÍVEL? “Compreender os padrões culturais pode ser de inestimável importância para determinar certas pautas exteriores ao manejo da adolescência, mas compreender a adolescência em si mesma é essencial para que estas pautas culturais possam ser modificadas e utilizadas adequadamente [...]” (KNOBEL, 1988). As afirmações que se fazem com relação ao comportamento adolescente, rotulando-o como aversivo e afrontoso das instituições nas quais ele está intrinsecamente vinculado – família e escola – caem por terra quando se lhe dá oportunidade de escuta, conforme material produzido pelo Fundo das Nações Unidas pela Infância - UNICEF – A Voz dos Adolescentes – que apresenta: Os alunos da rede pública conhecem a diferença do conteúdo ensinado nas salas de aula da rede pública e na rede privada. Para eles, porém, o único obstáculo incontornável é a postura distante dos professores com relação aos alunos e faltas constantes. Na oficina, quando soube que o acesso e permanência na escola é um direito da criança e do adolescente, um adolescente, aluno de rede pública, reagiu: ‘A professora deveria saber disso.’ Os alunos da rede pública que não gostam da escola explicam seus motivos: péssima estrutura física (locais deteriorados, falta de material, condições anti-higiênicas, falta de liberdade dentro do colégio); professores, funcionários e diretores que os desvalorizam e desrespeitam (é comum alguns adolescentes relatarem ter sido xingados de ‘panacas’, ‘infelizes’, ‘burros’, ‘porcos’ e ‘animais’); e ameaças. Para esses alunos, principalmente das regiões Sudeste e Centro-Oeste, o tratamento recebido na escola é motivo suficiente para abandoná-la (UNICEF, 2005). Isto com relação à escola, e sobre os pais, o resultado da pesquisa confirma o que Knobel diz sobre fenômeno grupal adolescente na defesa de que a pertença a 31 um grupo não significa a desvalorização da família. (1998, p.31) A pesquisa aplicada a 5.280 adolescentes entre 12 e 17 anos, de todas as regiões do Brasil, aponta que a família é [...] a instituição de referência para os adolescentes [...], é apontada como a principal responsável pela garantia de direitos e do bem-estar dos adolescentes - 85%,[...] e 95% dos adolescentes classificam a família como uma ‘instituição importante’. [...] Além de importante instituição, a família é fonte de alegria para os adolescentes. Para 70% dos entrevistados, a convivência com a família é citada como motivo de felicidade. Nenhuma das outras opções teve tanto destaque. Estar com amigos foi citado em 63% das respostas, tirar boas notas em 44%, namorar em 39% e brincar em 35%. Talvez por isso, brigar com a família também seja o principal motivo de infelicidade, citado por 61% dos adolescentes entrevistados (UNICEF, 2005). O adolescente não só valoriza como precisa do adulto para “conversar a respeito de suas aflições e, principalmente, do relacionamento com os pais e os estudos [...] eles precisam conversar com adultos que não sejam seus cúmplices nem seus juizes [...] eles sentem falta desse tipo de interlocução” (SAYÃO, 2007, p.12). E eles expressam isto em seus gestos, atitudes e, se tiverem oportunidades de escuta, verbalmente, como mostra estudo de Áurea Guimarães, pesquisadora da violência escolar, na qual os alunos se manifestaram com reivindicações do tipo: se os diretores chegassem para gente, falassem:’ a gente vai fazer isso [...] e aquilo’. Se eles dessem apoio para a gente tentar fazer alguma coisa, mas a gente vai falar com ele, ele desanima a gente, dona. Eles fala:’ É, mas vocês bagunçam demais, não dá para fazer nada’. Eles desanimam a gente, dona (GUIMARÃES, 2005, p.86). A autora observa que os alunos solicitam o apoio da direção sem se dar conta de que teriam de se submeterem aos seus comandos, no caso de que alguma proposta fosse apoiada: “Talvez a gente não vai fazer o que eles estão pensando, então eles pensam que é nós, mas eles também não dá apoio” (Ibid.). Penso que esse quadro traduz uma impossibilidade da equipe escolar em perceber, em situações como esta, ótima oportunidade para uma ação conjunta, de 32 troca e de transformações nos comportamentos e na relação com os alunos. Estes ainda reclamam da falta de incentivo e de confiança na capacidade discente, por parte dos professores “[...] muitos dos que bagunçam sabe fazer tudo, dona, aprende, ma só que eles bagunçaram. Eles (os professores) começa a falar que todo mundo vai repetir, só que vai sobrar um da classe que vai passar só porque ele é quetinho” (Idem, p.87). O depoimento confirma o que pesquisadores já disseram, ou seja, nem todos aprendem do mesmo modo e que o fato dele bagunçar, não significa não aprender e, tão pouco, o fato do outro não bagunçar garante algum aprendizado. De acordo com Eloísa Fagali, há diferentes estilos de atenção: atenção focada – é caracterizada pela capacidade de perceber os detalhes das informações usando uma percepção pontual e local; e a atenção panorâmica-exploratória, que tem como característica a dificuldade de focar a atenção, mas capta com muita facilidade o todo, buscando descentrações entre fatos e associações simultâneas. [...] Esses aprendizes geralmente tornamse ansiosos ou desmotivados, adquirindo a auto-imagem de ‘bagunçados’, e desenvolvendo um auto-conceito sobre o aprender carregado de negatividade. [...] Constatamos, portanto, que muitas das queixas em torno dos problemas de aprendizagem, em função da desorganização, dizem respeito às dificuldades dos educadores, pais e outros mediadores envolvidos nessas situações, por negarem outras formas de se conceber a organização, impossibilitando o aprendiz de usar o seu ‘estilo’, independente daquele padrão estabelecido pela cultura da escola ou da família (FAGALI, 2003, p.65 - 66). A escola como foi constituída e estruturada, e como permanece ainda hoje, está mais para o conceito de Foucault (Veiga-Neto, 2003, p.77) – uma instituição dada à docilização de corpos, disciplinadora – que para um espaço democrático como tem sido o desejo de alguns. É constante, entre alunos adolescentes, reclamações do tipo: “Essa aí fala demais e não escuta a gente!” ou “A diretora só escuta os professores, ela nem me deixou falar!” Mas, para se pensar a instituição e as pessoas que fazem parte dela, a escuta é uma ferramenta fundamental. Ela deve ser de uma natureza 33 tal que procure abarcar os aspectos individuais e sociais em um todo que só ganha sentido quando analisado a partir das duas perspectivas e interpretação da interação entre elas (ARCHANGELO, 2004, p.24). E interessante observar como as coisas no universo educacional funcionam – ou não funcionam. Do ponto de vista material, pode-se dizer que a melhora para os alunos é notória: livros didáticos distribuídos gratuitamente pelo Governo Federal; material escolar e até mochilas foram distribuídas, este ano, pelo Governo do Estado de São Paulo; também há o Bolsa Escola (agora Bolsa Família); mas, sua voz ainda não é ouvida. Para o professor, o contrário: este já encontra alguns espaços de expressão que, aliás, precisam ser melhor explorados pelo professorado: são reuniões de HTPC – Hora de Trabalho Pedagógico Coletivo; cursos de formação continuada; aprimoramentos; facilidades para o ingresso no Ensino Superior; parcerias com as universidades por meio da Pesquisa-ação; porém, com relação aos benefícios materiais, a precariedade destes continua desestimulante, a começar pelos salários que, caso a última promessa do Governo Federal (a elevação, em nível nacional, do piso salarial para professores de escolas públicas) seja concretizada, a renda dos professores ainda será muito baixa, sobretudo se comparada à relevância da profissão, já que a existência de todas as outras está condicionada à existência e à manutenção dessa. Ainda segundo a pesquisada Áurea Guimarães, há uma profunda e abrangente insatisfação e, mesmo, uma desilusão docente. O desânimo dos professores [...] refletia-se diretamente na maneira com que as aulas eram ministradas e na relação com os alunos. Este ambiente carregava uma revolta que a todo momento explodia dentro da escola. [...] Um professor dizia: ”Estou vendendo meu diploma bem barato [...] se tivesse em outro ramo [...] estaria rico [...] não acredito mais em nada’ E referindo-se às professoras que se dedicam ao magistério, mencionou que o marido dessas professoras supriria as necessidades econômicas, dando a elas condições de serem idealistas” (GUIMARÂES, 2005, p.141). 34 Mas, apesar de todas as dificuldades e decepções vividas pelos professores, nada disto outorga-lhe o direito de sabotar a formação e a educação do aluno, uma vez que este é a razão da docência, não sua destruição, por isso não tem o direito de destruir as expectativas do aluno, ao contrário, é preciso que o aluno encontre receptividade na escola. A diretora insiste: “Gostaria que os professores tivessem compromisso com a Educação, mesmo ganhando mal. Que eles compreendessem que essa profissão é diferente de ser metalúrgico, profissional liberal” (Idem, p.117). O “produto” do trabalho docente é a formação de pessoas que querem, ainda que não saibam expressar, e precisam dessa formação para serem aceitas na sociedade e nela desenvolver e exercer sua cidadania. Mas, infelizmente, ainda quando um aluno, sobretudo adolescente, não está conseguindo atender às expectativas do professor, chega-se ao extremo de que este solicite providências por parte da direção para que se transfira o aluno, como se dar transferência fosse resolver o problema e servisse de exemplo para os demais alunos. Como pegar uma ação negativa, punitiva, excludente e tomá-la como exemplo? Exemplo que deve ser seguido são as ações positivas, e não as negativas (SILVA, 2007). Como construir num indivíduo que passou por situação semelhante uma outra concepção de resolução de problemas que não seja, simplesmente, a eliminação do problema? E um problema pode significar uma pessoa, como teria sido ele próprio, neste caso. Nesse período da vida, o adolescente se apropria com grande facilidade de todo tipo de valores disponíveis no seu entorno. Isto para o bem e para o mal, pois está, de certa forma, permeável ao que é positivo e negativo, e devolve ao seu ambiente “muito do que recebeu, sempre por meio da ação concreta” (MAHONEY; ALMEIDA, 2004, p.74). A acolhida é uma das atribuições da escola e deve ser uma competência do professor. Esse sentimento de aceitação que o adolescente procura na relação com a escola, com o adulto e com o grupo é fundamental para o seu desenvolvimento social, para que construa uma cultura que seja própria da idade, mas pautada no respeito às culturas vigentes. 35 A exclusão sofrida nessa fase da vida pode acarretar futuras dificuldades de socialização, de pertencimento à sociedade e, não se sentindo parte desta não haverá razões para respeitar suas normas e regimentos. Importante considerar que, como o adolescente busca caminhos ainda desconhecidos, é bom que permaneça ligado ao ponto de partida até que tenha clareza e segurança no - ou nos - ponto de chegada. A escola, assim como a família, deve ser lugar de referência no caso do sujeito adolescente se encontrar perdido na busca pela autonomia, independência, identidade, individualidade, etc., e não se pode esquecer que a escola está, “hoje, lidando com estudantes que são fundamentalmente diferentes dos de épocas anteriores [...] No campo comportamental, experimenta-se uma liberdade que se traduz na busca de opções ideológicas, religiosas, estéticas, culturais, sexuais, etc., não experimentadas por outras gerações” (Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, 2007). Então, assim como para as gerações anteriores aceitar, ou mesmo entender, essas novidades demandam certo tempo, experiência e o conhecimento delas, também para que os indivíduos da atual geração compartilhem os valores e conceitos construídos antes do seu nascimento, estes lhes precisam ser comunicados e, mesmo, re-elaborados se for o caso. “Encontramos certas condições sociais, e isso é um legado que temos que aceitar, e, se necessário, alterar; e é isso que eventualmente passaremos adiante àqueles que se seguirem a nós” (WINNICOTT, 1983, p.80). Aceitar o adolescente significa aceitá-lo com todas as suas características e comportamentos, que muitas vezes, em nossa cultura, se expressam de modos espalhafatosos e intransigentes, aos olhos de quem se habituou ao ato de impor. Também por isso, a grande maioria dos adultos, não pode descrever o adolescente de outra maneira que não seja por meio da palavra “indisciplina”. Sendo assim, é imprescindível reconhecer que o manejo das questões disciplinares requer alternativas buscadas coletivamente, que apontem para a presença inconteste e a participação ativa dos alunos na vida escolar, bem como um teor mais inclusivo das ações levadas a cabo pelos educadores (AQUINO, 2003, p.52). 36 que ainda têm muitas dificuldades e reservas com relação à chamada “Escola Democrática” (AQUINO, 2003, p.81). Ainda que tenham sólida(?) formação universitária e/ou outras formações, sua prática é permeada pela formação primeira, qual seja pelo modelo das primeiras professoras para as quais as relações estavam baseadas “na velha correlação mando/obediência”. (Idem, p. 51) A superação de tal modelo é vivida “por alguns como conquista e por outros como derrota da autoridade docente.” (Ibid.) O que de maneira alguma é verdade, como Arendt (1992) relembra um fator imprescindível na construção da autoridade do educador: ‘Embora certa qualificação seja indispensável para a autoridade, a qualificação, por maior que seja, nunca engendra por si só autoridade. A qualificação do professor consiste em conhecer o mundo e ser capaz de instruir os outros a cerca deste, porém sua autoridade se assenta na responsabilidade que ele assume por este mundo’ (Apud, AQUINO, 2003, p.59-60). Assim, entende-se que a autoridade é construída a partir do testemunho e não da força, como no autoritarismo que pode redundar nas “inflexões disciplinares” (AQUINO, 2003, p. 8) dos alunos. Além disso, vale lembrar que o modo de vida democrático não é uma disposição espontânea nem inerente às pessoas. Ele precisa ser cultivado incessantemente, isto é, posto que se aprende, tem de ser ensinado sem cessar. Por essa razão, não poderá haver democracias sustentáveis se não contarmos com escolas orientadas para a defesa intransigente da liberdade, da dignidade, da justiça, do respeito mútuo, etc. (Idem, p. 61). Deve ser consenso na escola e em todas as outras instituições sociais que um desejo individual não pode, jamais, suplantar um desejo ou necessidade do coletivo. Segundo LaTaille, ‘disciplina remete a regras. Com efeito, a pessoa disciplinada segue determinadas regras de conduta. Logo, disciplina corresponde ao que chamamos de moral: o respeito por certas leis consideradas obrigatórias. Portanto, a pessoa indisciplinada transgride as leis que deveria seguir. [...] A indisciplina pode, às 37 vezes, vir em decorrência de bons motivos éticos. Se as regras não fazem sentido (e há muitas nas escolas) e se derivam de valores suspeitos (como a subserviência cega à autoridade), a indisciplina pode se justificar eticamente. [...] Há indisciplinas eticamente válidas, desobediências legítimas, graças às quais, aliás, a sociedade acaba por evoluir (La Taille, 2001, p.90-91, apud AQUINO, 2003, p.13). Neste sentido, as contestações, os questionamentos dos adolescentes na escola podem ser sinais de evolução dos sujeitos que, hoje, têm maior liberdade de expressão, sobretudo no caso da categoria discente que, à custa de muitos conflitos vem conseguindo se posicionar, o que é, realmente, muito bom se a escola, como já dito, souber aproveitar as oportunidades que os fatos oferecem, em busca da transformação nas relações no ambiente escolar. Há pouco tempo, vivenciei uma situação alarmante que denuncia a castração do desejo de um “lugar”. Um aluno de 8ª série, do período noturno de uma escola estadual, justificava seu comportamento indisciplinado como resposta à postura da diretora que, segundo ele, o humilhou, o desrespeitou diante de funcionários e colegas, apenas pelo fato de ter se atrasado para o início da aula. Ele disse: “Ela não quis nem ouvir minha explicação, já foi me xingando e gritando comigo. Daí, eu vi que não adianta não, dona. Se esforçar pra quê? Pra ser xingado?” Esta história ratifica a afirmação de que a indisciplina é, em grande parte, reflexo de ações autoritárias. Mas pensemos agora nas formas de indisciplina que ferem as leis morais, estas definidas como garantias de respeito a direitos legítimos. Transgressões deste tipo também podem acontecer nas salas de aula. Por exemplo, o insulto, a agressão física, o tratar o professor como se fosse um objeto, não ouvi-lo, fingindo que não está presente, que não existe (Ibid.). Tudo isto pode ser observado na escola, mas, mais uma vez, pode ser uma ação reflexa, posto que, também é verdade que o adolescente não é ouvido, parece inexistir, como dito no início deste trabalho e confirmado no último relato. Pode-se dizer que a instituição-escola, assim como qualquer outra, é regida por suas finalidades socialmente delimitadas e amplamente 38 difundidas, mas não apenas por elas. Os sujeitos que concretizam a instituição através de seu trabalho possuem mecanismos destinados a compatibilizar as demandas institucionais com suas demandas próprias, internas, e em muitos casos, inconscientes. Isso significa que o objetivo conhecido da instituição não é o único a atuar e delimitar o que é feito, dito, ou sentido no interior da escola. Para além do que é explicitado, há um universo implícito, muitas vezes não-verbal, que age nas entranhas da instituição, podendo lhe dar vida ou levá-la à morte (ARCHANGELO, 2004, p.12). O que leva a crer que atitudes e posturas marcadas por perseguição ou por indiferença do professor frente ao aluno, sejam maneiras tácitas de dizer de sua insatisfação, de sua discordância, de seus desafetos para com a escola, a profissão e colegas, com o objetivo de afastar-se do que realmente pode estar por trás de tudo isso – um profundo sentimento de mal-estar consigo mesmo. Segundo pesquisa divulgada na revista Nova Escola na edição de novembro/ 2007, feita com 500 professores de redes públicas o professor adora a profissão, mas não está satisfeito com ela. Sabe que é parte de sua função preparar os alunos para um futuro melhor e gosta de ver as crianças aprendendo, porém se ressente por ter de providenciar a Educação global (valores, hábitos de higiene etc.) que a família não dá. [...] A pesquisa foi feita com o objetivo principal de investigar como os professores brasileiros se relacionam com o trabalho, os alunos e a escola e de que forma eles enxergam o futuro da profissão (GENTILE, 2007). Os resultados retratam muito bem esse sentimento de mal-estar visivelmente presente na comunidade escolar, apontando que apenas 21% dos professores estão satisfeito com a profissão. Dentre outras razões, 47% dos professores atribuem a sobreposição de papéis (assumem o papel da família) como principal causa dessa insatisfação. No caso do aluno adolescente, o sentimento implícito no seu comportamento apático ou indisciplinado é gerado por tudo o que permeia a fase que vivencia, somado ao fato de não se ver contemplado em suas necessidades e desejo de um 39 ensino atualizado, reformulado e dinâmico, e que, por não saber como comunicar isso, ainda leva a culpa “pelo insucesso do ensino atual” (ARCHANGELO, 2004, p.97), como aponta, também, o resultado da pesquisa da Nova Escola, onde “os alunos são vistos como desinteressados e indisciplinados e são percebidos, junto com a família, como os principais problemas da sala de aula” (GENTILE, 2007). Na verdade, o professor vive uma sensação de impotência e insegurança em que se encontra “numa encruzilhada: os tempos são para refazer identidades. A adesão a novos valores pode facilitar a redução das margens de ambigüidade que afetam hoje a profissão docente” (NOVOA, 1995), mas ainda não sabe bem como fazer. Realmente, há uma clara contradição na percepção do professor por quem, segunda a revista, a formação inicial é apontada pela maioria como ’excelente’. Mas, ao mesmo tempo, reconhecem não estarem preparados para o dia-a-dia dentro da sala de aula. Como a relação entre a motivação e a prática de ensino quase não aparece, muitos provavelmente não se dão conta de como a graduação foi ineficiente (WEISZ, Apud GENTILE, 2007). Mais preocupante, ainda, é constatar que “90% dos entrevistados se declaram satisfeitos com a própria didática” (GENTILE, 2007). Essa avaliação explicita a incapacidade do professor olhar para dentro de si e da escola e, numa profunda e honesta reflexão, se reconhecer, com seus alunos, ator e autor da sala de aula, e que tem nas mãos grande parte da responsabilidade pela criação de um ambiente favorável ao aprendizado e prazeroso, como deve ser a apropriação do conhecimento. E que “ao responsabilizar os alunos e as famílias pelo fracasso escolar, o educador deixa de analisar o papel da escola e as possibilidades que ele tem de atuar como o agente público que de fato é” (KRUPPA, Apud GENTILE, 2007). “Quando o profissional não se sente capaz de cumprir sua tarefa – no caso, planejar, ensinar e fazer com que a maioria adquira conhecimento –, tende a responsabilizar fatores externos, apontando justamente para os lados mais frágeis do sistema” (MANTOVANINI, Apud GENTILE, 2007). 40 O fato é que o aluno e o contexto educacional mudaram, “a sociedade mudou e, hoje, o papel de quem está à frente de uma sala de aula também é educar e dar carinho. Se todos perceberem que isso existe – e não é um bicho-de-sete cabeças –, a angústia diminui” (MACEDO, Apud GENTILE, 2007). Obviamente, o professor tem de desempenhar suas atribuições de forma a atender as exigências do currículo, da escola, do sistema educacional e da sociedade, mas, de maneira alguma poderá abdicar-se de atender às reivindicações de seu aluno que também aprendeu a exigir atenção, por meio de diversificadas reações, às suas outras necessidades, e o professor deve estar aberto em atendê-lo, se quiser alcançar o principal objetivo de suas atribuições - a aprendizagem de seu aluno. Nesse sentido, Heloysa Dantas (1994), num estudo sobre a psicogenética de Henry Wallon, fala da necessidade de o professor aprender a “ler” os sinais emocionais expressos por seus alunos que, sutilmente revelam estados internos profundos dos quais dependem a qualidade dos processos cognitivos. Todo processo de aprendizagem transcende a estruturação cognitiva porque requer a afetização do objeto e transcende, também, a afetividade visto que implica na utilização de operações cognitivas; sem esquecer o que se pode denominar de tematização, ou conteúdo adquirido mediante os recursos cognitivo-afetivos postos em jogo. É comum observar como sujeitos que têm alcançado um mesmo nível intelectual e fazem uso semelhante de sua afetividade, por pertencerem a diferentes culturas, meios sociais ou grupos familiares, apresentam tematizações significativamente distintas. Isto deriva simplesmente do fato de que cada contexto oferece diferentes crenças, conhecimentos, atitudes e habilidades (VISCA, 2000, 51). Cada aluno é ser único e singular, ainda que se encontre no mesmo meio, cultura, nível cognitivo e tenha competências afetivas semelhantes a muitos, certamente reagirá diversamente às situações e pessoas, com especial atenção ao adolescente que, se em relação ao outro mantém diferenças, consigo não será diferente, pois poderá apresentar-se a cada momento de uma maneira, graças às flutuações no comportamento, bastante comuns na adolescência configurada por nossa cultura, sociedade e tempo histórico – ora se apresentará eufórico, ora 41 deprimido, isolado. O professor, por sua vez, terá que ser bom o suficiente para dar um tratamento heterogêneo e flexível. 42 Capítulo III O ADOLESCENTE TEM LUGAR NA ESCOLA? 1- A pesquisa Além da instituição família, a escola é outro importantíssimo espaço, talvez o mais fecundo para o desenvolvimento processual normal da adolescência, já que é onde se encontram os pares, os grupos e também adultos que poderão servir de modelo para a futura adultez – negada e desejada. Entretanto, quando dei início ao presente trabalho, realizado com intuito de discutir a relação professor-aluno adolescente, constatei a falta de publicações sobre o adolescente nos espaços e relações educacionais. Logicamente, toda e qualquer informação sobre as características básicas do indivíduo, nas mais variadas fases do seu desenvolvimento, será excelente aporte para qualquer trabalho que se venha realizar com ele, por ele e a partir dele. Mas, se o ambiente é tão relevante no desenvolvimento humano como vimos até agora, me parece imprescindível que se publiquem experiências deste, naquele. Talvez essa lacuna se explique pelo fato de que, apesar de os primeiros estudos sobre a adolescência terem valor inestimável, dada a relevância que esclarecem sobre a adolescência como período de extrema importância no desenvolvimento humano, talvez tenha sido precoce demais, sendo “necessários outros avanços intelectuais para que idéias como a de Hall pudessem ser apreciadas” (GALLATIN, 1978, p.48). O problema é que, em função das discordâncias das suas afirmações, sobretudo no que diz respeito à uniformidade na qual o processo da adolescência se desenvolveria, independentemente do ambiente, foram realizados estudos que apontaram para a plasticidade e maleabilidade da infância a partir dos quais Watson declarou que se os bebês são moldáveis pelas forças externas, talvez todo o desenvolvimento humano dependa mais do ambiente do que da hereditariedade [...] Conseqüentemente, sob a influência de Thorndike e Watson, representantes da nova ‘teoria da aprendizagem’ e do ‘behaviorismo’, os psicólogos americanos voltaram sua atenção para a infância, e a adolescência ‘desapareceu de suas vistas’ (Idem. p.49) 43 ainda que Watson não tenha preconizado a vivência infantil como determinante de toda a formação do indivíduo, ao contrário, apontou que os processos de condicionamento acompanham e determinam os sujeitos durante toda a vida. A importância e o foco, quase exclusivo, que se deu aos estudos da infância podem ser percebidos até hoje. São inúmeras as teorias e publicações acerca da infância. Mesmo Piaget e Vygotsky, embora teóricos do desenvolvimento humano, discorreram sobre suas teorias com extrema ênfase na infância, sobretudo quando direcionam seus estudos à educação. Sempre que se referem às habilidades, competências e disposição à aprendizagem, desse ou daquele modo, na escola ou fora dela, as referências são, invariavelmente, à criança. Wallon, como os anteriores, dividiu o desenvolvimento em estágios e, embora, chegue a descrever o estágio da puberdade e adolescência, quando se refere à escola, à educação, às relações, estas estão, também, relacionadas à criança. Há, ainda, uma abundante literatura, procedente da observação espontânea. Essas [...] nem sempre estão bem fundamentadas; não estão fundamentadas empiricamente na realidade dos fatos dos processos evolutivos pelos quais passam as pessoas nesta etapa da vida. A investigação científica a respeito do desenvolvimento da personalidade adolescente, ainda é escassa (FIERRO, 2004, P. 288). Em estudos mais recentes, pesquisas envolvendo alunos e professores - esta relação tão discutida -, questões afetivas nesta relação, comportamento, habilidades sociais, as dificuldades de aprendizagem e outras, as conquistas, em tudo isso parece que o adolescente inexiste na escola. Deram férias para ele, ou ele nunca esteve lá? Aliás, arrisco-me a dizer que, o adolescente tem aparecido na escola, preferencialmente, na hora da delinqüência, da indisciplina, da reclamação. A partir dessas constatações, pode-se inferir que os grandes conflitos vividos na escola, com relação ao aluno adolescente, se dão pelo desconhecimento da adolescência e, quiçá pela sua negação. Assim, conhecendo a realidade das escolas públicas e de seus professores, e sabendo das limitações do acesso à leitura e/ou a estudos aprofundados sobre qualquer tema, seja por falta de recursos financeiros ou de tempo, optei por 44 pesquisar algum material que, apesar das dificuldades, o professor tivesse algum contato. 2- Metodologia A partir da hipótese de que adolescente não tem um lugar na literatura voltada para o ensino, e daí o desconhecimento por parte dos professores sobre essa fase do desenvolvimento humano, tão estereotipada e discriminada pela geração adulta, e, mais ainda, na escola, passei à realização de um levantamento bibliográfico sobre o adolescente em contexto educacional. O que constatei foi um grande espaço para a criança na escola, e pouquíssimas produções sobre o aluno adolescente. Assim, motivada pela escassez de estudos sobre o sujeito adolescente, escolhi investigar o que a Revista Nova Escola, da Fundação Victor Civita, publicada pela Editora Abril, traz sobre o tema, uma vez que, por sua linguagem e preço acessíveis, chega com facilidade às escolas e professores de todo o pais, já que sua distribuição tem alcance nacional, com edições quase mensais (10 por ano). O objetivo foi o de procurar no conteúdo de cada matéria, reportagem, artigo, etc. a presença do adolescente e, quando mencionado, o que falam e quem fala sobre ele, numa amostragem que compreende um período de dois anos. Foram lidas e analisadas 11 edições impressas – de junho-julho/2005 a junhojulho/2006 e 10 edições on-line – de agosto/2006 a junho-julho/2007. Nesse material a investigação foi na direção de realizar levantamento, prioritariamente, sobre dois dados: 1- O aluno adolescente está na pauta da revista? Em que tema? 2- Quem fala sobre ele? Foram tabulados todos os conteúdos nos quais aparece direta ou indiretamente o adolescente. Ou seja, as palavras-chave procuradas foram: “adolescente”; palavras que fazem referência ao adolescente, como “turma(s)” e/ou “aluno(s)” de séries normalmente freqüentadas por ele – de 6ª à 8ª séries e ao Ensino Médio; a palavra “jovem” que, de acordo com os critérios considerados nesta pesquisa, está indevidamente empregada para designar ou se referir ao adolescente; e, ainda, quando se faz referência à idade – aluno(s) de 15 anos, por exemplo. Aqui, 45 a adolescência foi considerada nos termos da legislação brasileira, por meio do Estatuto da Criança e do Adolescente, qual sejam os indivíduos dos 12 anos completos aos 18, e que em condições normais, o aluno com 12 anos de idade está cursando a 6ª série e chega ao final do Ensino Médio em torno dos 17/18 anos. Não foram analisadas as páginas de propaganda ou divulgação de cursos, concursos ou materiais impressos, por se considerar que os mesmos não expressam o conteúdo da revista Nova Escola. Fora isso, foi analisada cada seção, artigo, informação, opinião, matéria ou enunciado. Não foram consideradas as referências aos níveis de ensino, mas aos alunos ou turmas desses, como já exemplificado acima, assim como as palavras adolescente(s), jovem(s) etc. não foram consideradas quando estas fazem parte de títulos de projetos, ações, documentos, etc. Na matéria sobre Arte Contemporânea na seção Reportagem, de Ricardo Fazetta, da edição on-line de maio/2007, não foi possível realizar a análise na íntegra, devido a um erro apresentado na página (HTTP 404 Não Encontrado significa que o Internet Explorer conseguiu se comunicar com o site, mas a página desejada não foi localizada. É possível que a página da Web esteja temporariamente indisponível. O site também pode ter alterado ou removido a página da Web) A análise foi, então, feita a partir de vídeo disponível na página às 14h45 do dia 27/10/2007, no qual a professora fala de projeto premiado. Assim, a análise foi sobre o áudio, no qual, embora trate-se de alunos de 6ª à 8ª série, a professora se refere aos mesmos como “as crianças”. No vídeo 2 alunos falam sobre a exposição que estão visitando. Na seção da pesquisa em que se analisa “quem fala sobre o adolescente” há, dentre as categorias de profissionais catalogadas, uma categoria especificada como “especialista” para a qual estou considerando profissionais de área ligada ao tema abordado no conteúdo da matéria analisada e ou envolvidos diretamente na área – ex.: Coord. da Estação de Ciências da USP, numa matéria sobre astronomia. Na medida em que a pesquisa foi sendo realizada, além do recorte escolhido para entender como a Nova Escola aborda o tema central deste trabalho – o aluno adolescente –, foi se configurando outros interesses, como por exemplo, destacar 46 desta publicação falas de professoras e professores sobre seu descontentamento com relação à profissão. Embora o tema não tenha sido objeto de pesquisa exaustiva, esses dados são apresentados em outro capítulo. Outra questão que no decorrer do trabalho se fez relevante, foi a investigação sobre o lugar que as relações interpessoais ocupam nas preferências da revista, já que essas tomam parte importante do presente trabalho. A palavra relação foi considerada apenas nos contextos em que aparece com as preposições “entre” e “com”. Uma das dificuldades encontradas foi, justamente, a falta de objetividade no modo de se referir ao adolescente, que, na maioria das vezes, é feito indireta ou equivocadamente, como aponta os resultados da pesquisa. 3- Resultados da Pesquisa Nos dois anos de publicação analisados, verifiquei que o adolescente é citado, na grande maioria das vezes, de maneira implícita ou equivocada, ou seja, ele aparece como criança(s), jovem(s), turma(s) ou aluno(s) de 7ª série, por exemplo. Poucas vezes aparece explicitamente como “o adolescente”. Mas, embora a pesquisa procurasse pelo termo ‘adolescente’ as outras expressões também foram consideradas, já que, ainda que indiretamente, se referiam a ele. Nas 131 matérias nas quais os adolescentes são citados, 25 foram os temas abordados, os quais catalogados como se segue: Atividade de Ensino; Valores; Temas Transversais; Preparação; Formação; Leitura e escrita; Qualidade Educação/Escola; Informações; Notícias; Dados Estatísticos; Apoio Pedagógico; Criatividade; Cultura; Comportamento; Relacionamento; Disciplina; Indisciplina; Violência; Agressividade; Sexualidade; Inclusão; Saúde; Deficiência; Escola-Comunidade; Parcerias. Para tratamento do material empírico, os temas foram agrupados e contabilizados em 11 categorias como se apresenta na tabela 1. Para analisar quem fala sobre o aluno adolescente, foram construídas as seguintes categorias: Professores; Professor/Educador Universitário; Professora Formadora de Professores; Educador; Aluno; Especialista; Pesquisador; Direção 47 Escolar; Equipe Pedagógica; Consultor; Pedagogo; Psicopedagogo; Fonoaudiólogo; Terapeuta; Psicólogo; Sociólogo; Filósofo; Antropólogo; Historiador; Pediatra; Psiquiatra; Neurologista; Autoridade; Autor (a); Assessor Educacional; Pais; colaborador; Coord. de Projetos; Diretor EJA; Autora PCNs; Leitor(a); Membro da comunidade; Redação/VC; Selecionador Prêmio VC; Diretor de cinema; VicePresidente Estação Cultura USP; Coord. Centro Educativo Espaço Ciência – Olinda; Diretor Instituto Cervantes; Coord. Programa EJA da Ação Educativa de São Paulo; Membro da Associação Brasileira Multiprofissionais de Proteção à Infância e Adolescência; Secretário Geral da Organização dos Estados Ibero-Americanos; VicePresidente do Centro de Cultura Judaica; Coord. do Núcleo de Estudos em Educação Científica e Ambiental e Práticas Sociais do Estado do Pará; Membro do Conselho Regional de Educação Física de São Paulo; Secretário Geral do Grupo de Institutos, Fundações e Empresas – Gife; Diretor do Ação Educativa São Paulo; Coord. Executiva do Instituto Avisa lá; Coord. do Programa de Educação da Action Aid Brasil; Coord. Nacional do Projeto Nossa Escola Pesquisa sua Opinião – NEPSO; Presidente do CENPEC; Presidente do Instituto Airton Senna; Diretora de Assuntos Culturais do Projeto Pelourinho Dia e Noite do Instituto do Patrimônio Artístico Cultural da Bahia; Diretor da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia; Coord. dos Núcleos de Ensino da UNESP; Coord. do Programa Pró-jovem; Presidente da Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação; Secretário de Apoio dos Municípios do Sindicato dos Trabalhadores da Educação do Estado do Acre; Vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado; Presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação; Representante do IBMEC São Paulo; Coord. do Laboratório de Estudos Cognitivos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul; Erasmo de Roterdã; Bertrand Russell; UNECO; CONSED. São 65 categorias ao todo, agrupadas em 14, como se segue na tabela 2. 48 Tabela 1– Temas das matérias nas quais o adolescente é citado a O QUE FALA Atividade de Ensino b Qualidade Educação/ Escola c d e f g Quantidade 44 28 14 12 11 7 5 3 3 2 2 131 Participação 33,59% 21,37% 10,69% 9,16% 8,40% 5,34% 3,82% 2,29% 2,29% 1,53% 1,53% 100% Temas Comportamento/ Deficiência/ Comunidade/ Transversais Relacionamento Inclusão Informações Parcerias h i j Saúde Criatividade Cultura k TOTAL DE Sexualidade MATÉRIAS Na tabela acima, verifica-se que mais de 54% dos assuntos abordados nas matérias em que o adolescente é citado, são referentes ao ensino e à qualidade da educação e da escola (colunas a e b). Apesar das freqüentes reclamações sobre o comportamento do aluno adolescente e das dificuldades nas relações com ele, e da influência que isso terá sobre a qualidade tão falada, a revista dedica apenas 9% do conteúdo analisado ao assunto (coluna d). Tabela 2 – Quem fala nessas matérias QUEM FALA a b c d e f g h i j k Qt. Participação Redação/VC 48 26 13 6 12 7 6 5 4 0 2 129 28,60% Professores 32 11 6 5 7 2 5 2 1 1 1 73 16,19% Especialista 17 9 5 3 10 0 2 8 0 1 3 58 12,86% Prof. /Educador Universitário 12 20 6 9 2 0 3 3 0 1 1 57 12,60% Aluno 9 4 3 3 5 1 3 1 0 1 0 30 6,65% Equipe Pedagógica 7 7 1 2 2 0 4 0 0 0 1 24 5,32% Autoridades 1 9 2 2 2 0 4 1 0 0 0 21 4,66% Direção Escolar 1 7 1 5 2 0 1 1 0 0 0 18 3,99% Representantes de Organizações ligadas à Educação e Cultura 2 4,88% 2,00% Pais 0 2 1 0 3 0 2 1 0 0 0 9 0,89% Autor/escritor/diretor de cinema 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,67% Leitor(a) 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 3 0,44% Autora PCNs 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,22% Membro da comunidade 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 100,00% TOTAL DE FALAS 131 105 41 38 46 10 38 23 5 5 9 451 Nesta tabela pode-se constatar que a revista procura considerar a participação de vários profissionais e pessoas ligadas à educação, porém, o aluno adolescente é apenas o quarto mais ouvido pela redação da revista que tem quase 30% da posse da palavra, dentre as matérias onde o aluno adolescente é mencionado. Outra análise possível é sobre a discreta participação dos pais, apenas 2%, apesar da sua indispensável e incontestável responsabilidade na educação e na formação do adolescente. 7 2 2 0 0 7 1 0 1 0 22 49 De todo o período analisado da revista, apenas uma matéria versa, direta e exclusivamente, sobre o adolescente na escola. Aliás, a matéria proporciona uma excelente oportunidade de reflexão sobre o comportamento adolescente, sobre a vivência da adolescência no ambiente escolar e, a partir daí, desenvolver orientações ao professor e à equipe escolar de como a escola pode se adaptar às especificidades adolescentes, de forma a promover a qualidade no ensino e na relação com esses alunos. Obviamente, não se espera que a escola resolva todos os problemas dos alunos, mas pequenas mudanças nas atitudes dos profissionais da escola e alterações nas metodologias de ensino podem fazer grandes diferenças no comportamento e na resposta do aluno. Nas tabelas 3 e 4, onde estão consideradas apenas as falas da comunidade escolar, pode-se perceber que o aluno não é, como se discursa, um protagonista na escola. Tabela 3 – Comunidade escolar - Quem fala I Quem fala a b c d e f g h i j k Qt. Participação Professores 32 11 6 5 7 2 5 2 1 1 1 73 50,34% Alunos 9 4 3 3 5 1 3 1 0 1 0 30 20,69% Equipe Pedagógica 7 7 1 2 2 0 4 0 0 0 1 24 16,55% Direção Escolar 1 7 1 5 2 0 1 1 0 0 0 18 12,41% 145 100% Total Comunidade Escolar Tabela 9 – Comunidade escolar – Quem fala II Quem Fala a b c d e f g h i j k Qt. Participação Autoridades escolares 40 25 8 12 11 2 10 3 1 1 2 115 79,31 Alunos 9 4 3 3 5 1 3 1 0 1 0 30 20,69 145 100 50 Considerando os números da população escolar, composta por alunos, docentes e outras autoridades escolares, como, no caso das últimas tabelas, direção e equipe pedagógica, verifica-se uma discrepância nas oportunidades de voz e escuta oferecidas pela revista (considerada aqui como o ponto de referência, mas, talvez, extensiva a outras produções) que torna-se, ainda, mais evidente se considerados os seguintes dados, disponíveis nos sites do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP e da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo: Tabela 5 – População escolar na Rede Estadual do Estado de São Paulo Professores Efetivos e Não efetivos de 5ª a 8ª e EM - Escolas Estaduais do Estado de S.Paulo 127.125 Alunos matriculados de 5ª a 8ª - Escolas Estaduais do Estado de S.Paulo - 2006 1.922.254 Alunos matriculados no Ensino Médio - Escolas Estaduais do Estado de S.Paulo - 2006 1.545.115 Total de alunos 3.467.369 % de alunos % de professores 96,46 3,54 Comunidade Escolar - Escola Estaduais do Estado de São Paulo Total da população escolar 3.594.494 Ainda que nos números estejam incluídos professores e alunos de 5ª série, dos quais os últimos não são, aqui, considerados adolescentes, posto que, estando em equivalência idade/série, são crianças de 11 anos, a diferença entre as duas faces da população escolar é gritante. Mais de 96% da escola é composta por alunos e, quando a revista dá voz à comunidade escolar, apenas 20% das vezes é o aluno quem tem a palavra. E, quando fala, não é o que deseja, haja vista a lista dos temas abordados. É o caso, por exemplo, do tema sexualidade, abordado apenas duas vezes no período analisado, no qual o aluno adolescente sequer foi ouvido (vide tabelas 1 e 2, coluna k). Dentre os números analisados, um (edição de abril/2006) traz como reportagem de capa “Educação Sexual: masturbação, homossexualidade, namoros calorosos...”. O sumário anuncia que na página 22 está a matéria “Educação Sexual: Eles querem falar2 de sexo – crianças e jovens descobrem a sexualidade. Nesta reportagem, você vai saber como ajudá-los a enfrentar essa importante fase da vida”. Na página 22 a manchete é um pouco mais extensa, mas diz o mesmo. Porém, no texto, embora citados várias vezes, eles não falam. Sobre esse assunto, 2 Grifos meus 51 especificamente nesta matéria de Paola Gentile, Redatora da Revista Nova Escola, foram ouvidos professores, consultores e psicólogos (Revista Nova Escola, 2006). Outros dados passíveis de análise e crítica são que, embora 6 dos atuais 12 anos da Educação Básica obrigatória (Ensino Fundamental e Médio) são, em situações normais, freqüentados por adolescentes, não se dá, sem a menor sombra de dúvidas, a devida importância e relevância nas discussões e produções sobre essa faixa etária na escola. Apesar de 50% do alunado, considerando amostragem das Escolas Estaduais do Estado de São Paulo, ser composta por adolescentes, a revista analisada não tem uma seção e nem matérias, regularmente publicadas, sobre alunos e ou atividades voltadas para alunos dessa faixa etária, como tem para a Educação Infantil uma seção exclusiva, vários assuntos na grande maioria dos números, além dos números especiais que chegam a ser esgotados nas bancas, como informa a redação da revista (Nova Escola, nº. 192, maio/2006, p.8). Outro fato que me chamou a atenção durante a pesquisa foram os tratamentos dados ao adolescente. Como dito anteriormente, o termo adolescente, comparado a outros tratamentos, é pouco usado. Veja tabela abaixo: Tabela 6 – Tratamento dado ao adolescente TRATAMENTO Quantidade Participação Jovem 159 42% Aluno/turma de 6ª à 8ª série e Ensino Médio 128 34% Adolescente 53 14% Por idade (aluno de 12 a 18 anos) 36 10% Total 376 100% Há que se considerar, é claro, que muitos usam adolescência e juventude como sinônimos. O próprio Aurélio define juventude como adolescência. Nos estudos de Muuss sobre a adolescência, ele cita Landis que “acrescenta, como sinônimo adicional, ‘juventude’, que ele usa para descrever o final do período da adolescência, enquanto Gesell usa o termo ‘juventude’ para designar o período de dez a dezesseis anos de idade” (MUUSS, 1969, p.16-17). Para Stanley Hall, juventude é anterior à adolescência, entre os 8 e 12 anos de idade. (Idem, p.26). As convenções sociais 52 atuais tendem a usar o termo ‘jovem’ como adjetivação da idade adulta – “jovem senhora” ou “moço jovem”. Porém, independentemente das convenções de cada época ou critérios escolhidos por cada autor para denominar essas fases, para o presente estudo, importa enfatizar que o uso explicito da palavra “adolescente” é evitado. Como já comentado, há algumas incoerências entre o que se vive na escola e o apoio que a revista pretende ser ao professor. Dentre as muitas reclamações de professores e alunos, como se viu em capítulo anterior, as dificuldades nos relacionamentos estão no topo da lista. Entretanto, nas poucas vezes que as relações interpessoais são abordadas pela revista, a menor parcela é com respeito à relação professor-aluno, como aponta a tabela abaixo: Tabela 7– Relação professor-aluno TIPOS DE RELAÇÃO Quantidade Participação Outras relações com e/ou entre pessoas e objetos 35 60,34% Relações com e/ou entre outras pessoas 15 25,86% Adolescentes/Crianças 8 13,79% Total 58 100,00% Relação entre Educadores/Professores-Alunos Aqui, a análise foi de todo o conteúdo da revista no período estudado, e considerando todo o tipo de relação entre e ou com pessoas e objetos. Nas relações entre alunos e professores foram considerados todos os alunos, não apenas os adolescentes, o que agrava, ainda mais, a constatação de que a revista não aborda tema tão importante na mesma proporção em que este aflige tantos professores. Na tabela seguinte, o número de vezes que assuntos sobre relacionamento/comportamento aparecem, se comparado à freqüência que outros temas são contemplados (lembrando que foram selecionadas apenas as matérias e reportagens onde o adolescente está citado), pode-se notar outra contradição; agora com relação às expectativas dos próprios adolescentes que, consideradas, pode-se [...] perceber que eles se referem à escola como espaço de formação, educação e saber; de encontro com outros [...] que vivenciam processos análogos; de busca e troca de referências; de ampliação do círculo familiar e de trabalho; de relações afetivas e sociais [...] Nossos alunos, quer queiramos ou não, percebem a 53 experiência escolar como uma totalidade espacial e pedagógica, onde a busca de conhecimentos, a socialização e as vivências culturais são vistas como partes de um mesmo processo. Como diz Dayrell, ‘os alunos parecem vivenciar e valorizar uma dimensão educativa importante em espaços e tempos que geralmente a pedagogia desconsidera: os momentos de encontro, da afetividade, do diálogo (Dayrell, apud Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, 2007). Tabela 8 – Comportamento e Relacionamento TEMAS Quantidade Participação Comportamento / Relacionamento 12 9% Outros Temas 119 91% Total 131 100% Esta desconsideração deve-se ao fato de que, a exemplo do que se faz com a infância, todos ou quase todos os estudo sobre a adolescência, passam pelo crivo do olhar e da interpretação do adulto sobre esta e aquela. Não é comum que crianças e adolescentes sejam consultados e tenham a oportunidade de participação ativa nos estudos e afirmações que fazem a seu respeito, até para ratificar ou discordar do que dizem sobre eles. Ou, ainda, para solicitar que se diga sobre o que lhes é interessante dizer, de modo a satisfazer também as suas necessidade e curiosidades. Se a criança, muitas vezes, não tem condições cognitivas ou mesmo lingüísticas para se manifestar, o mesmo não se dá com o adolescente que, devido a sua escolaridade, à maturidade psicossocial, a sua socialização ampliada, possui, já incorporada em sua relação com o mundo, uma maior capacidade de discriminação. Essa autonomia se apresenta no trato com os valores e escolhas como também na ampliação da capacidade de investigação, de análise, de formulação de hipóteses e emissão de opiniões, no uso de novas linguagens e na formalização do pensamento abstrato (Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, 2007), 54 o que o habilita a dar grandes contribuições, inclusive, que possibilitem a criação de uma pedagogia que considere as especificidades de sua idade e esteja alinhada com as mudanças sociais e tecnológicas, superando as bases arcaicas nas quais a educação ainda está fundamentada. 55 Capítulo IV MAIS ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 1- Sobre a escola e o aluno adolescente Sem querer cair na irresponsabilidade de afirmações infundadas, penso que os dados coletados nos munem de argumentos para inferir uma negação à adolescência, uma evitação. “A adolescência é recebida predominantemente de maneira hostil pelo mundo adulto [...]. Criam-se estereótipos com os quais se tenta definir, caracterizar, assinalar, [...] se tenta isolar fobicamente os adolescentes do mundo dos adultos” (KNOBEL, 1988). Sendo a escola uma grande agência socializadora (ARÓN, MILICIC, 1994, p.28), esta será acometida pelos mesmos males e benesses de que sofre a sociedade. Assim, fazendo uma analogia ao positivismo de Durkheim, a sociedadeescola depende da ordem, no sentido da harmonia entre suas partes, para funcionar bem. Uma vez que uma das partes esteja com sua função comprometida, o organismo inteiro padecerá de algum mal. Pode-se dizer, então, numa linguagem médica que, nesta situação, o organismo-escola passa a “combater” e a “expelir” os causadores da desordem. É muito comum, e até natural, que o homem aja de forma a evitar e/ou repulsar aquele ou aquilo que lhe causa incômodo, que lhe atrapalha, que lhe confere ameaça. É normal, por exemplo, cruzarmos a rua para evitar passar ao lado de um mendigo. Ele incomoda, seja por estética ou por ética, por ser uma mostra de um fracasso da sociedade produtora de tantas desigualdades e misérias. Por outro lado há uma tendência natural de aproximação daquele e daquilo que é belo, que agrada, que converge com as nossas expectativas. Atitudes como essa são muito comuns num ambiente educacional. Se o adolescente, normalmente, tem sido visto como aquele que incomoda, que atrapalha, que afronta, que destoa, então, se ignora, se exclui, se nega. Mais fácil é ‘desviar do mendigo que encarar e sanar as causas da mendicância’. Mais fácil é falar da criança e do jovem - um aceita o domínio adulto, o outro se aproxima do pensamento adulto –, que encarar e trabalhar com aquele que contesta as 56 pessoas e às idéias com as quais ele não compartilha; aquele que exige que se saia do conforto do trivial e obriga a pensar, criar, inovar para atender suas peculiaridades exigentes, no sentido de que não se satisfaz com pouco ou com um “é assim porque é, porque eu quero”, “por que sim”, “por que não”, “faça assim ou faça daquele jeito”. Há que se fazer um exercício de humildade e de se deixar ensinar por aqueles que procuram uma oportunidade de se fazer entender. Sem pieguices, quando um bebê chora, os que estão por perto correm para atendê-lo; quando uma criança grita, na maioria das vezes, até por sua insistência, procura-se escutar suas reivindicações, ainda que seja para não atendê-las, mas se ouve e, em situações normais e cotidianas, se lhes dão atenção; quando um adulto chora ou grita, todos justificam estar com algum problema. Se o adolescente grita ou chora, logo se diz que é por causa da idade, dos hormônios, e, normalmente, não têm ouvidos ou, se são ouvidos, muitas vezes, não lhes é conferido crédito. Pode ser que aqui esteja uma justificativa pelo comportamento “saliente” de alguns alunos. Gritam, circulam na sala de aula o tempo todo, se expressam com gestos largos e bruscos, talvez, na tentativa de chamar à atenção sobre si e de se afirmar, no caso do adolescente, de se reafirmar – como no estágio do personalismo, na infância, (DER, FERRARI, 2007, P.65) já que este é como uma “re-edição” na adolescência. O adolescente precisa dessa reafirmação, para solidificar sua identidade, sua personalidade. Precisa encontrar seu lugar, por isso, simbolicamente, anda de um lado para outro e não consegue ficar sentado na carteira da escola, como os pequenos que estão numa fase de latência da personalidade. Embora a escola tenha duas tarefas principais inter-relacionadas: a educação e a formação (Lindsey, 1987, apud ARÓN, MILICIC, p.28), muitas vezes sua atividade se restringe ao ensinar – é uma Instituição de Ensino! A atribuição fim do estudante é o aprendizado, então, a escola ensina, o aluno aprende. Mas, se é verdade, como diz Vygotsky, que a aprendizagem é um processo que depende da mediação entre o sujeito e o objeto do conhecimento, há que se envolver muitos outros fatores para se atingir as finalidades da escola – educação, formação e ensino - Na escola essa mediação é feita por material didático – livros, 57 vídeos, etc.; material de apoio – lousa, giz, computador, etc.; e, principalmente, pelo professor. Assim, a relação entre aquele que ensina e aquele que aprende é inevitável e indispensável num processo de ensino-aprendizagem e, para repetir os mestres-teóricos que dizem sobre a importância da qualidade das relações pessoais na escola, colocar o coração, o gosto, a paixão no ato de ensinar, vai fazer toda a diferença nos resultados do ato de aprender. Embora, atualmente, venham surgindo estudos imbuídos do esforço por implementar e qualificar bases mais sólidas das relações inter-pessoais no ensino e na escola, ainda há, por parte desta e de muitos profissionais da educação, grandes dificuldades e, até, indisponibilidade para ações e atuação permeadas desse sentido. Como se viu no material analisado, por exemplo, as relações entre os sujeitos do ambiente escolar – professor e aluno – não encontram o mesmo lugar que os teóricos da psicologia da educação tentaram garantir. 2- Professor-Aluno Adolescente: Uma relação possível! O professor pode contar com instrumentos que são próprios do ser humano em desenvolvimento – seu e de seus alunos. Dele, a partir de sua maturidade intelectual e afetiva, de sua formação, estudos, experiências e motivações; dos alunos, a partir de todas as disposições e habilidades que o nível de desenvolvimento sócio-cognitivo-afetivo em que se encontra, as vivências e convivências vão lhes proporcionando, além de estudos anteriores e das próprias motivações. Um dos instrumentos mais eficazes no ato de aprender é o processo de imitação, presente durante toda a vida do indivíduo, mas com ação intensificada no estágio da adolescência. Este processo “mantém uma relação dialética com o processo de oposição (identificação das diferenças entre idéias, sentimentos, valores próprios e do outro)” (MAHONEY, ALMEIDA, 2005, p.25). Ao imitar os adultos modelos, o adolescente fica impregnado dos valores morais que eles encarnam e, por conseguinte, toma-os como se fossem seus. Seus valores ainda não se fundamentam em princípios: os valores morais do adolescente estão ainda colocados 58 aos modelos que imita, não tendo, portanto, nada de abstrato (Idem, 2007, p.65). As falhas na competência da abstração levam o adolescente a depender, por muitas vezes ainda, da concretude dos fatos. É preciso que aquilo que vai compor sua personalidade, seus valores, seu conhecimento acadêmico e do mundo, lhes seja apresentado de modo sensível. Rubem Alves disse que “educar é mostrar a vida a quem ainda não a viu” (ALVES, 2003, p. 116) e mostrar fazendo dá mais sentido, facilita a apreensão. Entre um discurso sobre a importância da solidariedade, e uma atitude compreensiva por parte da professora que atendeu o aluno em sua necessidade, sem dúvida, esta última surtirá maior efeito para esse aluno. No processo de imitação, o professor é, indiscutivelmente, um dos modelos mais copiados, quiçá o mais importante deles. Este, por sua vez, na condição de adulto “pode colaborar para a resolução dos conflitos, não esquecendo que o conflito faz parte do processo ensino-aprendizagem, pois é constitutivo das relações. A qualidade da relação é revelada pela forma como os conflitos são resolvidos” (MAHONEY, ALMEIDA, 2005, p.25-26). O modo como o professor administra os conflitos em sala, como ele resolve os problemas, como ele fala e ouve, vai refletir nas atitudes do aluno. A forma como o professor se relaciona com os colegas, com os alunos e, mesmo com o conteúdo que ensina, pode interferir na construção das relações que o aluno estabelecerá com todos esses. Se o professor não ouve, não estará ensinado seu aluno a ouvir, se não respeita, não ensina respeito, se sente e demonstra prazer e imprime importância no que faz, certamente, o aluno perceberá importância pelo que o professor faz e ensina, e ficará curioso em descobrir prazer naquilo que aprende. Assim, uma dificuldade de aprendizagem ou de comportamento, de conduta, pode ser um problema de ensino e de modelos. Vale relembrar o poder de contágio das emoções e dos sentimentos – se o professor demonstra satisfação no ato de ensinar, terá mais chances de despertar no aluno o desejo em aprender. 59 Aqui, volto a Rubem Alves que, de modo muito divertido, conta sobre uma experiência pessoal que vivera com uma professora. Ele comia algo de que não gostava para se aproximar mentalmente da professora. “É como se, através daquela ‘coisa’ que não é a pessoa amada, fosse possível tocar e acariciar a pessoa amada, ausente. Pois o mesmo mecanismo acontece na educação. Quando se admira um mestre, o coração dá ordens à inteligência para aprender as coisas que o mestre sabe. Saber o que ele sabe passa a ser uma forma de estar com ele” (ALVES, 2003, p.83-84). “O educador é leitor de desejos e faltas, faltas e desejos, porque este é o elemento crucial, fundamental. Sem ele não pode existir a ação de ensinar. Tem de haver falta, e existe. Educador é educador, porque ensina o que o outro ainda não sabe” (FREIRE, 2001, p 69). É preciso que o professor tome consciência e acredite na exponencial influência da afetividade sobre o processo ensino-aprendizagem e queira afetar seu aluno de modo positivo e eficaz. A partir da relevante contribuição dada por Abigail Mahoney e Laurinda de Almeida em aprofundamento sobre a teoria de Henri Wallon, há alguns pontos sobre os quais os professores interessados em atingir seus objetivos devem ter clareza. Do ponto de vista do ensino, o professor deve compreender que: confiar na capacidade do aluno é fundamental; que o ensino promove o desenvolvimento do aluno e seu; que suas tarefas revelam vários saberes – conhecimento específico de sua área e como comunicá-lo, habilidades no relacionamento inter-pessoal, conteúdo da cultura, saberes construídos no tempo e nos espaços sociais, numa integração cognitivo-afetiva; que a intensidade das emoções e sentimentos variam, mas estão presente em todos os momentos e contextos da vida e interferem em nossas atividades. Do ponto de vista da aprendizagem, que ele considere que o aluno: busca a escola com motivações diversas; tem características próprias do momento do seu desenvolvimento e de sua história de vida pessoal e escolar; tem saberes elaborados nas suas condições de existência; que o aluno funciona de forma integrada: dimensões afetiva-cognitivamotora imbricadas (MAHONEY, ALMEIDA, 2005, p.12). 60 O professor que, em sua prática, considerar essas condições vai estimular um outro fator imprescindível no processo ensino-aprendizagem que é a auto-estima, um conceito afetivo-cognitvo básico, mas determinante da qualidade do desenvolvimento pessoal. É uma dimensão afetiva do auto-conceito e está diretamente relacionada a outros conceitos cognitivos “como lócus de controle e expectativa da própria eficiência. [...] Inclui dois aspectos principais: um sentido de eficiência pessoal e um sentido de autovaloração” (Branden, 1981, apud. ARÓN, MILICIC, 1994, p.47). Em contrapartida, uma auto-estima baixa afeta a sociabilidade do sujeito, podendo leválo ao isolamento, à timidez e a uma séria impossibilidade de se arriscar, de ousar, de aprender, posto que se sente incapaz. A tudo isso e a muito, muito mais, o professor precisa estar atento. Deve observar de modo reflexivo, contínuo e sistemático as suas atitudes diante do conjunto de alunos – diversas e adversas personalidades; sua postura junto aos colegas professores e outros profissionais da escola; a imagem que tem de si; a valoração do seu trabalho e do que ensina; tanto quanto mais forem positivas essas posições, maiores serão suas possibilidades de sucesso. Porém, sucesso não significa satisfação. A sensação de estar satisfeito é uma prerrogativa de quem gosta do que faz, porque faz com prazer, com paixão. A paixão é a última dimensão da afetividade, “revela o aparecimento do autocontrole para dominar uma situação: tenta para isso silenciar a emoção [...] caracteriza-se por ciúmes, exigências, exclusividade” (MAHONEY, ALMEIDA, 2005, p.21). Nota-se que os professores mais seguros, mais equilibrados, são também os mais interessados, os mais compromissados com a educação. São exigentes. São aqueles que não admitem falar mal da escola, da profissão, têm ciúmes. Têm paixão pelo seu trabalho. Segundo a pesquisa realizada com cerca de 500 professores e divulgada na edição de novembro/2007 da Revista Nova Escola, pouco mais da metade, 53% dos professores, disseram ter no amor à profissão sua principal motivação, e apenas 63% trabalham no que gostam. Para se fazer uso de um raciocínio lógico, não exclusivamente matemático, mas também interpretativo do que estudamos até aqui, as informações acima nos levam a deduzir que temos quase 40% dos alunos sem 61 gosto pela escola. Ainda que 83% dos professores, segundo a pesquisa, tenham consciência da importância da profissão de professor, não convence, os alunos não o verão como alguém importante nem tão pouco o que vem dele, porque está no nível da consciência que é abstrato, não está no nível da ação, do concreto, onde é mais apreensível para o aluno. São inúmeras e inegáveis as razões que levaram o professor a esse sentimento pela educação. Mas, nem todas as razões devem ser atribuídas aos alunos. Estes são o que são por nossas mãos – pais, professores, sociedade. Mas, a boa notícia é que serão o que serão, também por nossas mãos. Por isso, é preciso conhecê-los mais e melhor, e o inverso também. É preciso que eles conheçam mais e melhor a escola e seus mestres. Não faz muito tempo, estava realizando um estudo numa escola quando uma professora pediu que eu desenvolvesse um trabalho com seus alunos, adolescentes de 8ª série. Ela os descreveu da pior maneira possível. Entre outras coisas, ela disse: “São péssimos. Até droga tem entre eles!” Quando a professora e eu nos aproximamos da sala, os alunos estavam no corredor e nos receberam com brincadeiras, sorrisos. A professora reagia com aspereza e dizia: “Você não me conhece!” e repetia: “Você não me conhece, hein!?” Quando fiz a proposta do trabalho (eles deveriam elaborar dois textos com os temas: “O aluno que eu sou” e “O aluno que eu gostaria de ser”), propus que não fizessem naquela hora, que podiam trazer num dia que eles marcassem. Então, uma aluna disse: ”Não, Dona, é melhor que seja agora, se ficar pra depois, não vamos entregar. A maioria trabalha, não tem tempo pra fazer outra hora.” Daí, percebi que não apenas os alunos não “conheciam a professora” como ela também não os conhecia. Mais uma vez, é bom observar que houve muitas mudanças na vida, nos modos de vida, nas famílias, nas suas estruturas, no trabalho. O mundo mudou. Não poderia ser diferente com a escola. E para poder compreender algumas destas mudanças devemos levar em consideração as dinâmicas psicológicas, que estão determinadas não somente pelas realidades sócio-econômicas do mundo em que vivemos, mas também pelas necessidades psicológicas de uma adolescência que se prolonga no que antes era uma vida adulta 62 serena, e que hoje não pode ser mais do que uma inquietude, uma instabilidade, uma sensação de fracasso que se deve tentar superar de qualquer maneira e a qualquer preço. [...] Somente quando o mundo adulto o compreende adequadamente e facilita a sua tarefa evolutiva o adolescente poderá desempenhar-se correta e satisfatoriamente, gozar de sua identidade, de todas as suas situações, mesmo das que aparentemente, têm raízes patológicas, para elaborar uma personalidade mais sadia e feliz (KNOBEL, 1988, p. 54; 59). Uma das melhores maneiras para elevar a auto-estima e valorizar o adolescente na escola é propiciar a sua participação. Ele precisa sentir-se útil, importante, capaz e, sobretudo, respeitável e respeitado. Envolvê-lo na elaboração e realização de atividades de interesse comum, dar-lhe oportunidade de tomar decisões e prepará-lo para isto, é dar-lhe evidências de que percebemos que ele cresceu em tamanho e responsabilidade, o que poderá ajudá-lo a sair da contraposição em que se encontra. Isso também é educar e é, portanto, papel da escola. Quanto ao papel do aluno, que pouco tem de poder de decisão [...] por ‘talvez’ ser conceituado como ‘desprovido de luz’, é notável que deva ser mudada essa conceituação, uma vez que o aluno da contemporaneidade não é mais ‘desprovido de luz’, ele já é um ser iluminado (Silva, 2007) e quer professores também iluminados, atualizados, bem informados. “Os alunos querem um professor intelectualmente capaz e afetivamente maduro, que seja hábil ao falar e permita intervenções quando necessárias” (Cunha, apud, Silva, 2007). O professor que não atende a essas expectativas, castrando o desejo e as potencialidades de seus alunos, por medo ou por incapacidade de aceitação, assistirá ao boicote de suas aulas, pois eles sabem identificar o que se passa com o professor. O aluno precisa se sentir parte da escola, da aula, do processo de ensinoaprendizagem. Se não for assim, não se justificará o gosto pela escola. É preciso conhecer para gostar, e só conhece por meio da aproximação e participação. 63 A disciplina escolar, frise-se, não é obtida por meio de regulamentos, e muito menos a partir da ameaça de punição, retaliação, banimento. Ao contrário, ela é resultado tão somente de acordos entre as partes [...] Dito de outra forma, a disciplina escolar remete às pautas de convívio, esboçadas a partir das rotinas, das expectativas e dos valores característicos das relações escolares, os quais balizam o que fazemos e o que pensamos sobre o que fazemos no dia-a-dia. Uma espécie de norte e, ao mesmo tempo, de combustível das relações – ambos deflagradores dos laços de respeito e parceria entre alunado e agentes escolares (AQUINO, 2003, p.67). A partir dessas idéias, se fundamentam os “combinados” entre os membros da escola. Direção, professores, funcionários e alunos, todos sob a orientação de uma espécie de lei do relacionamento possível. Evidentemente, sua elaboração deverá ter a participação e a contribuição de representantes de todos os que se submeterão a ela. Quanto mais envolvimento, maior compromisso. Quanto mais cedo se fizer, menos tempo se levará para se naturalizarem. Assim, é algo para se propor já no início do ano. É saudável para qualquer relacionamento o conhecimento das partes. Vale a pena, já no primeiro encontro, utilizar-se da estratégia de narrar um pouco de sua história profissional, bem como de ouvir as que os alunos têm para revelar [...] mas o trabalho inaugural não se esgota aí. É fundamental o professor dispor abertamente de seu projeto de trabalho que se inicia, explicitando as exigências e as condições mínimas para que as aulas transcorram a contento. O mesmo vale para os alunos. Resumindo: é fundamental esclarecer o que esperam um do outro (AQUINO, 2003, p.69-70). As normas deverão ser discutidas, atualizadas e justificadas. Qual seria a justificativa, hoje, para um “é proibido mascar chicletes na sala de aula”? Então, as justificativas devem ser plausíveis e convincentes, porque do contrário, as normas não se legitimarão. Não se deve esperar adesão imediata por parte dos alunos, e estes só farão sua parte se o professor cumprir com o que foi acordado. [...] Os alunos sabem o que deve ou não ser feito, mas quem inicia a 64 ação e supervisiona o cumprimento das regras ainda é o professor [...] Segundo Gotzens (2003, p.60), as regras de trabalho de convivência devem ser fundamentais para o desenvolvimento do grupo; no menor número possível; realistas, respeitando as características e as possibilidades dos alunos; realistas, respeitando os costumes e os valores do ambiente sócio-familiar, preferencialmente, expressas em termos positivos; passíveis de serem cumpridas, evitando as que certamente não serão; adaptáveis aos interesses e às preocupações dos alunos (AQUINO, 2003, p.7173). Também deverão ser previstas as conseqüências para os que não cumprirem os acordos, e deverão ser feitos todos os esforços necessários para que essas se efetivem. O contrário disso levará ao esvaziamento do acordo e se ouvirá: “Ah, não dá nada não, dona.” Porém, “as sanções devem ter como objetivo o retorno ao grupo, evitando um caráter meramente punitivo e expiatório. Por essa razão, elas devem ser discutidas publicamente e aplicadas exclusivamente com vistas à solidificação dos acordos coletivos” (Idem. p.75). Uma vez construídas as normas de convivência, outra possibilidade de participação na qual o aluno e suas questões são protagonistas, são as assembléias de classes. Criadas há algum tempo e retomadas, agora, como uma afirmação do espaço escolar democrático, elas são momentos reservados ao diálogo, à escuta, tão desejados pelos alunos. Numa oportunidade de intervenção psicopedagógica com turmas de 8ª série, o que ficou mais evidente, naquele trabalho, foi o pedido por “ouvidos”. O aluno adolescente quer ser ouvido! A experiência das assembléias de classes tem grandes chances de se constituir como uma oportunidade para atender a essa necessidade do aluno, mas também poderá ser mais um instrumento de trabalho do professor que terá oportunidade de conhecer o que se passa entre os alunos, os seus desejos, expectativas, suas dificuldades e, se tiver segurança suficiente, poderá ouvir as críticas que eles tenham com relação a seu comportamento, didática, método de ensino e conteúdo, e, a partir daí, rever e adequar essas questões com 65 possibilidades de despertar maior interesse nos alunos, sobretudo porque vão, finalmente, se sentir ouvidos. Considerando a relevância desse recurso pedagógico, transcrevo Julio Groppa Aquino que, a partir de Puig Rovira descreve um pouco da execução de uma assembléia: Para Puig Rovira, as assembléias de classe são [...], um dos valores democraticamente desejáveis e factíveis no cotidiano escolar. Sua marca principal é o protagonismo e seu alvo, a co-autoria pela construção dos valores e das atitudes características da convivência democrática. [...] Uma assembléia de classe é, portanto, um evento escolar organizado para o grupo-classe (incluídos os professores) possa discutir as questões que lhe pareçam pertinentes ou necessárias, a fim de otimizar a ação e a convivência democráticas. Para alcançar tal objetivo, a organização das assembléias prevê, segundo Puig (2002b, p.28-29): -destinar uma pequena parte do tempo semanal a esse tipo de reunião, de maneira que todos considerem a assembléia como uma atividade habitual da sala de aula, que podem usar para alcançar diversas finalidades. -dispor o espaço da sala de aula, às vezes, de forma distinta do habitual para favorecer o diálogo e para fortalecer, com esse simbolismo, a atitude de cooperação entre todos os membros. -interromper o trabalho individual da aula e modificar, de certo modo, os papéis de alunos e professores de maneira que sua participação seja mais igualitária, embora não idênticas nem igual responsabilidade. -empregar o tempo atribuído à assembléia para falar juntos de tudo o que ocorre à turma, ou de tudo aquilo que qualquer um de seus membros considera importante e merecedor da atenção dos colegas. - dialogar com a disposição de se entender, de organizar o trabalho e de solucionar os conflitos de convívio que possam apresentar-se. -dialogar, portanto, com a vontade de mudar o necessário para que a vida da turma seja otimizada, e fazer isso com a vontade de se comprometer pessoalmente nessas mudanças (...) 66 -finalmente, o modo de realizar as assembléias de sala de aula depende da idade dos alunos. É evidente que as assembléias não podem ser realizadas do mesmo modo na educação infantil ou no ensino médio. Sua necessidade e utilidade podem ser parecidas, mas a maneira de concretizá-las varia em função da especificidade própria de cada idade (Puig Rovira, apud AQUINO, 2003, p.83-84). Percebe-se, porém, em grande parte dos professores certa insegurança para se arriscar numa inovação, numa ação para a qual não tem certeza de seu domínio. Parte dessa insegurança e resistência, muitas vezes, deve-se ao fato de sentir-se sozinho, por isso não ousa inovar, mudar conceitos e atitudes diante e com relação aos alunos que se encontram agrupados, maneira pela qual o aluno adolescente tenta sua afirmação. Todavia, o professor não deve se esquecer dos instrumentos de trabalho de que pode lançar mão. A idéia do grupo não vale apenas para os adolescentes. O grupo é lócus da experiência, da força, do aprendizado, da cumplicidade, da convivência, etc. O trabalho coletivo é educativo e formativo. Ele desenvolve os sentimentos de pertença, de compromisso nos professores e alunos, sentimentos resultantes das relações interpessoais fundamentais para o trabalho significativo. [...] Exige-se hoje um profissional comprometido com o processo educacional, com os resultados da aprendizagem de seus alunos, com a atualização constante de seus saberes pedagógicos e culturais. Um professor envolvido com o exercício contínuo da reflexão sobre a prática. Essas exigências não se efetivam de maneira isolada. O trabalho coletivo e o compromisso com o grupo são fundamentais para o cumprimento desses novos desafios que ocorrem na escola. (SILVA, 2006, p. 80) Para esse trabalho, o adolescente tem muito a ensinar - sua participação é marcada pela assiduidade, horizontalidade e compromisso com o ideal do grupo. Assim, o trabalho coletivo escolar deve obedecer a uma constância, ter objetivos claros e compartilhados. Também as relações deverão ser de igualdade; num trabalho coletivo a participação de todos tem o mesmo peso. Todos devem estar abertos a discutir e refletir sobre as opiniões e sugestões e, principalmente, devem 67 estar abertos à inovação. Não faz sentido criar novos mecanismos para continuar repetindo as mesmas coisas. Por isso, a participação dos alunos é importante. Eles trazem novidades, energia e ânimo para o trabalho. Um exemplo de trabalho coletivo na escola é o Conselho Pedagógico, um espaço de reflexão sobre os objetivos gerais, de formulação de propostas e de seu encaminhamento prático, pois o coletivo de professores e orientadores vislumbrava a formação cultural, ética, estética e social de seus alunos não apenas no plano teórico. Assim, todos os objetivos traçados para os educando eram também vivenciados, pedagógicos, anteriormente, como, por pelos educadores exemplo: nos desenvolver conselhos atitudes de transparência, de autenticidade, de autoconfiança e confiança no outro, de segurança, de equilíbrio, de abertura, de disponibilidade, de participação, de compromisso, de reflexão, de diálogo, de compreensão e vivência dos direitos e deveres de um cidadão democrata. (Idem, p.85-86) Quando o aluno percebe uma escola empenhada, envolvida e atuante, quando o discurso se transforma em ação – ele vê o professor estudando, questionando, investigando, então – volto à idéia da imitação –, ele poderá receber dessas ações a motivação necessária para ser, de fato, aluno e não um transeunte escolar. Indispensável subsídio para o bom desempenho na realização das atribuições docentes é a produção desde todas as áreas de conhecimento, da qual ele pode e deve lançar mão. Foi-se o tempo em que um profissional se fazia (ou se fingia) autosuficiente e dono de todo o saber. Há algum tempo, um mesmo médico tratava do recém-nascido ao ancião, de uma fratura a um parto. Com o avanço das ciências e das novas tecnologias, foi possível identificar novas doenças e descobrir tratamentos para estas; juntando-se ao crescimento demográfico, houve necessidade de ampliar, também, o número de especialidades para melhor estudar, diagnosticar e tratar as inúmeras moléstias que vêm surgindo, para algumas das quais, mesmo um 68 especialista não é suficiente, necessitando, muitas vezes, de uma junta médica para um diagnóstico e tratamento adequado. Assim se encontra a Educação. Os problemas familiares, emocionais, financeiros, socioculturais, socioeconômicos chegaram aos bancos da escola, convertendo-se em problemas de aprendizagem, de comportamento, de relacionamento, etc. Com isso, a educação passa por um momento de “saúde fragilizada” e, para “tratar os vários sintomas”, pode e deve contar com a ajuda de profissionais envolvidos com as questões educacionais, e mesmo com questões gerais da existência humana, já que concordamos, até aqui, que à escola cabe a formação integral do indivíduo. Um aluno não é feito apenas de conteúdo acadêmico, mas de emoções, relações, sonhos, culturas, desejos, amizades, histórias, saúde, e o professor, assim como qualquer outro profissional não dotado de onisciência, onipotência, onipresença, pode e deve recorrer aos vários estudos das diversas áreas do conhecimento que venham a satisfazer suas carências e, assim, poder corresponder às exigências de suas tarefas. Porém, não se trata aqui de fazer opção por um hibridismo inconseqüente, pois “é crucial que os professores tenham acesso ao conhecimento produzido nos vários campos, mas é preciso dimensionar esse conhecimento na provisoriedade que o caracteriza, superando-se modismos apressados, classificações levianas e superficiais. Do contrário, mais uma vez gato será comprado por lebre e, novamente, a criança e o professor serão responsabilizados pelo fracasso” (SOUZA & KRAMER, 1991, p.70 Apud. REGO, 1995 p. 123). A produção de conhecimento se dá a partir das necessidades humanas. Quando algo novo é identificado, cientistas e estudiosos se dedicam a investigar, pesquisar e, então, após muitas experiências e observações, comunicam a descoberta e ou os resultados de suas observações. As mudanças, e constatações do comportamento humano na adolescência, chamaram a atenção de alguns estudiosos que dão grandes contribuições e orientações para uma convivência respeitosa com o aluno adolescente que, como já comunicado por teóricos e 69 pesquisadores do desenvolvimento humano, não é o mau-elemento, como, muitas vezes, descrito. Abaixo, seguem-se algumas considerações sobre a relação professor-aluno adolescente, feitas a partir da identificação dos reflexos que a relação mantida pelos professores com seus alunos adolescentes incide sobre seu comportamento: - tentar entender a atitude do adolescente também do referencial dele e não apenas do seu referencial como adulto; - evitar oferecer ”munição para ele atirar” – o adolescente se fortalece no grupo e se sentirá incentivado a desafiar; [...] - tentar conhecer as representações e conhecimentos que os alunos têm a respeito de um assunto que se vai trabalhar em classe; - perceber que as causas da indisciplina têm várias origens, inclusive a própria estruturação do cotidiano escolar que provoca a indisciplina, isto é, procurar pensar de forma sistêmica; - trocar experiências, socializar vivências, inventar, improvisar, ser criativo; - refletir sobre seus objetivos pessoais e profissionais. Aonde o professor quer chegar e que caminho deseja seguir; - aceitar a complexidade e a natureza do trabalho de professor, não negar os sentimentos de medo, angústia, impotência, desânimo, o tédio e a rotina porque negá-los não nos fará capazes de superá-los; -pensar que se o aluno estiver envolvido em um projeto, ele investirá esforços para aprender. Procurar então, trabalhar com situaçõesproblema tiradas da prática social dos alunos; - aceitar que você não precisa saber sempre como agir de maneira correta e com rapidez. Muitas vezes, não entendemos uma situação. Procurar tomar distanciamento para compreender melhor (PEDROSA, 2007). Fernandéz, (1991, apud TASSONI, 2000, p. 155) define o processo ensinoaprendizagem de modo extraordinário: “Para aprender, necessitam-se de dois personagens (ensinante e aprendente) e um vínculo que se estabelece entre ambos. [...] Não aprendemos de qualquer um, aprendemos daquele a quem, outorgamos confiança e direito de ensinar”. 70 Assim, passando às últimas considerações desse trabalho, pode-se reafirmar, inexoravelmente, que só se aprende na relação, e, preferencialmente, numa relação prazerosa, de confiança e de conquistas. Cabe ao professor, despertar no seu aluno, como num exercício de sedução, a atenção, o gosto, a curiosidade, a confiança. Cabe à sociedade dar/exigir que o professor tenha condições de trabalho e de formação que o tornem capaz de fazer isso. Os aspectos afetivos da relação entre professor e aluno adolescente, devem ser considerados na avaliação das competências e habilidades do aluno, já que são requisitos para o aprendizado, sobretudo, consideradas todas as especificidades sócio-afetivas da adolescência. E aqui se encontra um campo de atuação da psicopedagogia que, certamente, tem muito a contribuir, pois frente um adolescente com problemas na aprendizagem, entender as características comuns a este período de modo a ajudar os pais (e professores)3 a obterem uma melhor compreensão da fase pela qual passa o filho (e o aluno)4 e poderem juntos discriminar o que é fruto de problemas na aprendizagem e o que faz parte de uma etapa de desenvolvimento normal dos sujeitos, de maneira a ser realizada uma adequada intervenção [...] O adolescente encaminhado para atendimento psicopedagógico está vivendo um período muito especial de sua vida [...] Geralmente é uma dificuldade que se arrastou por anos e que somada [...] (aos “sintomas”)5 da adolescência toma proporções maiores a ponto de levar os pais a buscar ajuda. (PEGO, 2005) Contudo, cabe ao professor, na sala de aula, e à escola a diferenciação das situações de aprendizagem ou de não aprendizagem. Cada aluno tem uma história diferente, uma necessidade diferente, uma expectativa diferente quando se relaciona com o outro, inclusive com o professor. Por sua vez, o professor em sala de aula não vê o aluno com o mesmo olhar de outro professor. O professor não apenas transmite os conhecimentos ou faz perguntas, mas também 3 Os acréscimos entre parênteses são meus Idem. 5 Idem. 4 71 ouve o aluno, deve dar-lhe atenção e cuidar para que ele aprenda a expressar-se, a expor suas opiniões. (OLIVEIRA, 2005) Ratificando esta última afirmação, e para justificar o interesse e o desenvolvimento desse trabalho, relato uma experiência encantadora, apaixonante até, motivadora de uma reflexão profunda sobre a atuação do professor e os reais reflexos desta na aprendizagem e no comportamento do aluno. Quem tivesse assistido à cena, dispensaria qualquer teoria: - Nossa! Eu adoro essa professora! Adoro a aula dela! Ela dá aula de Português. - Você gosta da professora porque gosta de Português, ou gosta de Português porque gosta da professora? - Gosto da professora porque entendo tudo o que ela diz. Agora, me dá licença que eu preciso ir lá pra frente, senão não aprendo nada. Ouvir isso de uma aluna parece algo normal, esperado até, não tivesse saído de quem saiu. Quem tivesse visto o comportamento de Renata6, nas aulas anteriores, e a sua relação com os professores que antecederam a professora Clara, naquele dia, certamente não iria, como eu, acreditar no que estava vendo e ouvindo. Desde a primeira aula, a aluna apresentava um comportamento totalmente inadequado: dirigindo vários insultos aos professores e colegas, andando e falando alto enquanto os professores tentavam ministrar suas aulas, jogando bolas de papel e pegando objetos de outros alunos sem o devido consentimento, etc. Num determinado momento, durante uma troca de professores, levei um susto quando aquela aluna de atitudes inoportunas, capaz de desestabilizar qualquer professor, se aproximou de mim e começou a perguntar coisas sobre minha vida familiar e a falar sobre a sua. Disse coisas que prefiro não repetir, e, de certa forma, explicavam um pouco daquele comportamento, ao mesmo tempo em que, nas entrelinhas, era possível perceber um pedido de socorro, de limites, alguém que orientasse sua vida, que lhe ouvisse, lhe enxergasse – talvez daí o comportamento tão saliente – precisava ser vista e ouvida. Era, justamente, o que a professora Clara lhe oferecia: chamava-lhe pelo nome, se importava se entendera a explicação, 6 Os nomes colocados no trecho são fictícios 72 valorizava os acertos e os erros ajudavam na construção de um conhecimento mais sólido. A professora circulava pela sala, sentava-se junto aos que, agora, bagunçavam. Tocava os alunos por completo - física, emocional e cognitivamente. Mantinha com eles uma relação muito afetiva. A aluna, agora, contradizia todo o estereótipo criado na escola sobre o adolescente. Fitava a professora e a lousa. Um conteúdo denso, cheio regras como a gramática da Língua Portuguesa, era saboreado por ela que “bebia” cada palavra da professora e interagia a cada explicação. Lindo! Sim, a relação com o aluno adolescente é possível. O adolescente pode ser só uma pessoa que tem coragem de dizer o que pensa e de contestar o que não convence, ainda que por pouco tempo; pode ser humilde o suficiente para, com o tempo, dizer que estava enganado e que é possível mudar de posição. Ou pode ser forte o suficiente para provocar mudanças que o adulto vai reconhecendo necessárias. É alguém cuja energia é capaz de nos mobilizar, de nos tirar do eixo – e como é bom “des-eixar” – desleixar, de vez em quando, sair da rigidez do centro. De fora, a partir do outro e do mundo, a visão é melhor, é panorâmica. Embora, por vezes, tão rígido o adolescente pode ser, perfeitamente moldável, maleável. Não pela dureza de nossas palavras, mas pela humanidade dos nossos gestos, dos nossos exemplos. Ele só está procurando ser gente, ser humano, e dar sentido à sua humanidade. 73 BIBLIOGRAFIA ABERASTURY, A. et al. Adolescência e Psicopatia: Luto pelo corpo, pela identidade e pelos pais infantis. In: ABERASTURY, A.; KNOBEL, M. Adolescência Normal: um enfoque psicanalítico. Porto Alegre-RS: Artes Médicas, 1981, p. 63-71. ALVES, Rubem. Conversas sobre educação. Campinas-SP: Versus Editora, 2003. AMARAL, S. A. Estágio Categorial. In: MAHONEY, A. A.; ALMEIDA, L. R. Henri Wallon: Psicologia e Educação. 7ª ed. São Paulo: Edições Loyola, 2007, p. 51-58. AQUINO, Julio Groppa. Indisciplina: o contraponto das escolas democráticas. São Paulo: Ed. Moderna, 2003. ARCHANGELO, Ana. O Amor e o Ódio na Vida do Professor: Passado e presente na brusca de Elos perdidos. São Paulo: Cortez, 2004. ARÓN, Ana Maria. MILICIC, Neva. Viver com os outros: programa desenvolvimento de habilidades sociais. Campinas-SP: Editorial Psy II, 1994. de CMDCA Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Campinas. Estaturo da Criança e do Adolescente. São Paulo: 7ª ed., 1999. DANTAS, Heloysa. Algumas Contribuições da Psicogenética de H. Wallon para a Atividade Educativa. Leituras Psicológicas da Construção do Conhecimento. Revista de Educação AEC. Brasília - DF: Ed. Gráfica Ltda. ano 23, n. 91, [Abril/Junho] 1994. DÉR, Leila C. S. A constituição da pessoa: dimensão afetiva. in: MAHONEY, A. A.; ALMEIDA, L. R. de. A constituição da pessoa na proposta de Henri Wallon.São Paulo: Edições Loyola, 2004, p. 61-75. DÉR, Leila C. S.; FERRARI, S. C. Estágio da Puberdade e da Adolescência. in: MAHONEY, A. A.; ALMEIDA, L. R. de. Henri Wallon: Psicologia e Educação. 7ª ed. São Paulo: Edições Loyola, 2007, p. 59-70. DUARTE, M. P.; GULASSA, M. L. C. R. Estágio Impulsivo Emocional. In: MAHONEY, A. A.; ALMEIDA, L. R. Henri Wallon: Psicologia e Educação. 7ª ed. São Paulo: Edições Loyola, 2007, p. 19-29. FIERRO, Alfredo. Desenvolvimento da Personalidade na Adolescência. in: COLL, C.; PALÁCIOS, J.; MARCHESI, A. Desenvolvimento Psicológico e Educação. v. 1. Porto Alegre-RS: Editora Artmed, 1995, p. 263-270. FAGALI, E. Q. Como evitar os problemas de aprendizagem, ao dialogarmos com as diferenças e os múltiplos estilos cognitivo-afetivos? In: Temas de Educação II – Livro das jornadas 2003. Ribeirão Preto: Ed. Futuro Congressos e Eventos Ltda., 2003, p.63-72. 74 FREIRE, Madalena. A Bofetada da Vida. In: GEEMPA. Ensinar: uma provocação. Porto Alegre-RS: Ed. Vozes, 2001, p. 59-76. GALLATIN, Judith E. Adolescência e Individualidade: uma abordagem conceitual da psicologia da adolescência. São Paulo: Ed. Harbra Ltda., 1978. GALVÃO. Izabel. Wallon e a Criança, esta pessoa abrangente. Revista Criança da Secretaria de Educação Fundamental do MEC. São Paulo, v. 33, p. 3-7, 1999. GENTILE, P. Eles querem falar sobre sexo. Revista Nova Escola. São Paulo: Ed. Abril, Ano XXI, n.191, [abril] 2006, p.4; 22-29. GENTILE, P.; CASSI, P. A Educação, vista pelos olhos do professor. Disponível em: <http://revistaescola.abril.com.br/ed_anteriores/0207.shtml> Acesso em: 26/11/2007. GUIMARÃES, Áurea M. A dinâmica da Violência Escolar: conflito e ambigüidade. 2ª ed. Campinas-SP: Autores Associados, 2005. HALL, Stuart. A identidade Cultural na pós-modernidade. 9ª ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2004. KNOBEL, M. A síndrome da adolescência normal. In: ABERASTURY, A.; KNOBEL, M. Adolescência Normal: um enfoque psicanalítico. Porto Alegre-RS: Artes Médicas, 1981, p.24-62. MAHONEY, A. A.; ALMEIDA, L. R. de. Afetividade e processo ensino-aprendizagem: contribuições de Henri Wallon. Revista Psicologia da Educação. São Paulo, n. 20, [1º semestre], 2005, pp.11-30. MIRANDA, Simão de. Um vôo possível: O sucesso escolar nas asas da auto-estima. Campinas-SP: Papirus, 2003. MUUSS, Rolf E. Teorias da adolescência. 5ª ed. Belo Horizonte - MG: Ed. do Professor, 1969. NÓVOA, Antônio. Profissão Professor. Porto – Portugal: Porto Editora Ltda., 1995. OLIVEIRA, Cristina G. M. de. Nietzsche - conceito de vida. Disponível em: http://www.filosofiavirtual.pro.br/vidanietzsche.htm. Acesso em: 30/11/2007. OLIVEIRA, Silvia S. S. de. A importância do psicopedagogo frente às dificuldades de aprendizagem. Disponível em: <http://www.abpp.com.br/artigos/62.htm>. Acesso em: 30/11/2007. PALÁCIOS, Jesus. O Que é a Adolescência. in: COLL, C.; PALÁCIOS, J.; MARCHESI, A. Desenvolvimento Psicológico e Educação. v.1. Porto Alegre-RS: Editora Artmed,1995. p. 263-270. 75 PEDROSA, M. G. S. Professores, adolescentes... e cotidiano escolar. Disponível em: <http://www.centrorefeducacional.com.br/profadol.htm>. Acesso em: 06/09/2007. PEGO, M. G. T. O atendimento psicopedagógico frente ao adolescente. Disponível em:<http://www.psicopedagogia.com.br/artigos/artigo.asp?entrID=659> Acesso em: 30/11/2007, 17:14. PREFEITURA DE BELO HORIZONTE. 3º ciclo: um olhar sobre a adolescência como tempo de formação. Disponível em: http://www.pbh.gov.br/educação/miolo5pdf. Acesso em 14/11/2007. REGO, Teresa Cristina. Vygotsky: Uma perspectiva Histórico-Cultural da Educação. Petrópolis-RJ: Vozes, 1995. REVISTA NOVA ESCOLA. São Paulo, ano XXI, n.192, [maio] 2006, p.8. SAYÃO, Rosely. Iniciação Adolescente. Folha de São Paulo. São Paulo. Caderno Equilíbrio, 08.11.2007, p.12. SILVA, Francisca A. B. A escola que exclui é a mesma que fabrica marginalidade. Monografia Disponível em: http://www.psicopedagogia.com.br/artigos/artigo.asp?entrID=970. Acesso em: 06/09/2007. SILVA, Moacyr da. Desenvolvendo as relações interpessoais no trabalho coletivo com professores. In: FUNAYAMA, Claudia A.R. Problemas de Aprendizagem: enfoque interdisciplinar. 3ª ed. Campinas-SP: Ed Alinea, 2006, p.79-90. TASSONI, Elvira Cristina Martins. Afetividade e Produção Escrita: a Mediação do professor em sala de aula. Campinas-SP: UNICAMP, 2000. UNICEF – Fundo das nações unidas para a infância. A Voz dos Adolescentes http://www.unicef.org/brazil/pesquisa.pdf - acessado em 26/10/2007. VEIGA-NETO, Alfredo. Foucault & a Educação. Belo Horizonte: Autêntica, 2003, p. 77. VISCA, Jorge. Psicopedagogia: novas contribuições. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1991. WINNICOTT, Donald Woods. A tendência Anti-Social. Da pediatria à psicanálise: obras escolhidas. Rio de Janeiro: Imago Ed., 2000, p. 406-416. WINNICOTT, Donald Woods. O ambiente e os processos de maturação: Estudos sobre a teoria do desenvolvimento emocional. Porto Alegre-RS: Artmed, 1983.
Download