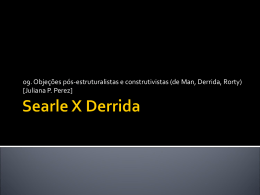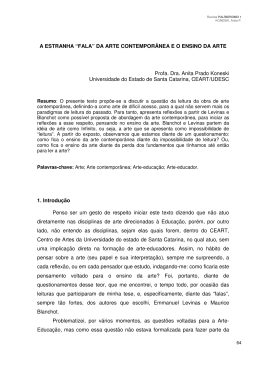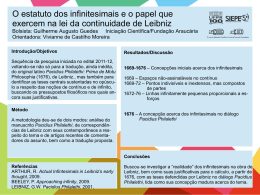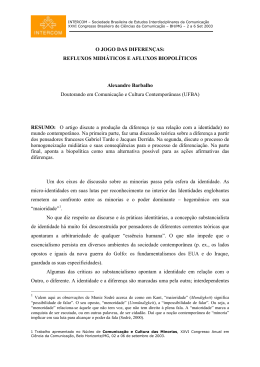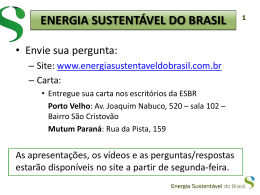tem como objetivo fomentar a discussão no âmbito da teoria e crítica literárias e culturais tendo como norte a discussão em torno das diferentes literaturas e da pluralidade de experiências estéticas possibilitadas por seus rastros. Com o intuito fundamental de promover o pensamento acerca do literário tendo em vista seu ato produtivo, o periódico busca desenvolver-se a partir de contribuições acadêmicas, literárias e visuais nos âmbitos da literatura e suas inter-relações com as artes, a filosofia e as ciências humanas. 2 editor-chefe Piero Eyben organização desse número Piero Eyben conselho editorial Andrea Potestà (Universidad Católica de Chile); Claudio Daniel (poeta paulista); Elizabeth de Andrade Hazin (UnB) Evando Batista Nascimento (Universidade Federal de Juiz de Fora); Fernanda Bernardo (Universidade de Coimbra); Ginette Michaud (Université de Montréal); Ivan Francisco Marques (Universidade de São Paulo); Jean-Michel Rabaté (University of Pennsylvania); João Camillo Penna (Universidade Federal do Rio de Janeiro); Junia Regina Barreto (Universidade de Brasília); Marc Crépon (École Normale Supérieure); Mireille Calle-Gruber (Université Paris III – Sorbonne Nouvelle); Paulo César Duque-Estrada (Pontifícia Universidade Católica-RJ); Roberto Zular (Universidade de São Paulo); Silvina Rodrigues Lopes (Universidade Nova de Lisboa). editora assistente Fabricia Walace Rodrigues editor da seção khôra Claudio Daniel arte, edição e diagramação Rafael Machado da Cunha revisão e preparação de textos Clara Teles Barreto Brandão, Gabriela Lafetá Borges, Juliana Cecci Silva, Luísa Farias Caetano, Luísa Leite S. de Freitas, Marcella Assis Moraes, Mariana Graça Lira, Maysa de Oliveira Sales, Mônica Ferreira Gaspar de Oliveira. curadoria visual Gregório Soares correspondência Editorial o mutum ◊ revista de literatura e pensamento Prof. Dr. Piero Eyben – Grupo Escritura: Linguagem e Pensamento Universidade de Brasília – Departamento de Teoria Literária e Literaturas Campus Universitário Darcy Ribeiro – ICC Ala B, Sul, Sobreloja, sala B1-09 CEP 70910-900 – Brasília – DF. [email protected] Publicação do Grupo Escritura: linguagem e pensamento, dos Programas de Pós-graduação em Literatura, da Universidade de Brasília, a revista eletrônica tem periodicidade semestral. 3 literatura: escrever o pensar 01. janeiro-julho de 2013 Sumário Editorial Piero Eyben ..................................................................................................07 arquivos: literatura: escrever o pensar Escrever o mutum Piero Eyben ..................................................................................................10 Uma ética do indecidível Gérard Bensussan ........................................................................................41 (tradução de Daniel Barbosa Cardoso) A virada literária Nicholas Royle ............................................................................................54 (tradução de Mariângela Andrade Praia) O instante literário e a significação corporal do tempo – Levinas leitor de Proust Danielle Cohen-Levinas .................................................................................83 (tradução de Luísa Freitas) Porém, sem medida Silvina Rodrigues Lopes ................................................................................98 Kafka e Derrida: a origem da lei Marc Crépon ...............................................................................................128 (tradução de Juliana Cecci Silva e William de Siqueira Piauí) A palavra e o deslizamento: considerações sobre a literatura na obra de Maurice Blanchot Daniel Barbosa Cardoso ..............................................................................146 Corpo de estrela e sex machine – sobre a estética do glamour Serge Margel ..............................................................................................161 (tradução de Marcos de Jesus Oliveira) Leibniz e Benjamin: uma introdução às teorias tradicionais da tradução ou às metafísicas da língua de saída e de chegada Juliana Cecci Silva & William de Siqueira Piauí ...............................................183 ensaios Ficção Moderna Virginia Woolf .............................................................................................205 (tradução de Lucas Lyra) khôra olho por olho Maria Alice de Vasconcelos ..........................................................................215 Astrolábio Jônatas Onofre ............................................................................................216 Consciência Lenta Francisco Alves Gomes ................................................................................217 Sonata Barroca João Foti .....................................................................................................218 As guelras do mar Maria Fátima ................................................................................................219 “É de um Par de Venezas o vaivém da Porta Bang-Bang à...” Fabrício Slavieiro .........................................................................................220 Carta à distância Francis Espíndola ........................................................................................221 “A vida é uma mulher negra” Luiz Ariston .................................................................................................222 lumescrita pairos Gregório Soares .........................................................................................224 6 editoral Piero Eyben A estreia. Uma revista também se estreia. Esse é o primeiro de muitos números por vir, de uma revista que pretende estar sempre porvir. Como fruto de um trabalho coletivo, do Grupo de Pesquisa Escritura: linguagem e pensamento, que tem por sede o Departamento de Teoria Literária e Literaturas da Universidade de Brasília, o mutum ◊ revista de literatura e pensamento intenta promover e divulgar as pesquisas teórico-críticas e artísticas não apenas de seu grupo fundador, mas buscar o diálogo infinito com outros segmentos da produção do saber, com uma diversidade de vozes que não estejam circunscritas seja a região, seja a língua. A revista divulga estudos de caráter teórico e crítico na área de estudos literários, filosofia, artes e ciências humanas, sob forma de artigos, ensaios, textos literários e ensaios visuais. E está dividida em quatro seções: (1) arquivos: dossiê sobre um assunto específico; (2) ensaios: textos clássicos traduzidos; (3) khôra: lugar da escritura literária; (4) lumescrita: as artes visuais em diálogo com o pensar. Nesse número de estreia, o tema arquivo trata da literatura como lugar da escritura, da escritura como lugar do pensar. Ao escolher por título Literatura: escrever o pensar, a relação entre literatura e pensamento aparece em primeiro plano e torna-se uma necessidade. Necessidade, como todas, urgente e última. Assim, ao pensar os caminhos de inscrição da experiência literária, o primeiro número da revista conta com nove textos que circundam o assunto, nas mais diversas modalidades críticas. Com uma diversidade importante de pensadores e lugares do mundo (que vão de Sussex à Paris e Estrasburgo, de Sergipe a Brasília, de Lisboa a Genebra), alguns dos quais já bastante representativos no ambiente acadêmico, o mutum ◊ revista de literatura e pensamento tem seu lançamento marcado por uma definição da desconstrução, talvez a única definição possível ofertada por Derrida, plus d’une langue [mais de uma língua, nenhuma língua]. Assim, fazer pensar a própria estrutura do texto literário, seja pelo artifício da nomeação, seja no campo da indecidibilidade ou dos desvios, torna esse primeiro exemplar da 7 revista uma peça fundamental para a recepção dos pensadores que aqui se propõem discutir e debater temas tão relevantes para a contemporaneidade, para o saber que se coloca sob o risco do próprio literário. Na seção ensaios, o leito encontrará o clássico Ficção moderna, de Virginia Woolf, em uma nova tradução, que intenta colocar em recirculação os problemas narrativos ali já sugeridos pela autora. Esse ensaio, por mais controverso que pareça, representa, desde já, uma importante forma da escritura pensar o pensamento e este escrever-se. Na seção khôra, a produção poética recentíssima de autores que ainda são uma promessa à vindoura literatura de língua portuguesa. Forma distinta do pensar, adiamento condensado. E, por fim, na última seção, lumescrita, o ensaio visual que reflete não apenas o lugar da fotografia, mas a fenda, o rastro, o historial. Deixo-os com a hipótese de se poder fazer ler o acontecimento, na margem desses textos que ainda hão de demorar. Muito, multus. Mudos, mutus. Tomando a palavra, a que se explica no texto que segue. Piero Eyben Brasília, 18 de fevereiro de 2012. 8 9 escrever o mu tum p i er o ey b e n 10 escrever o mutum Piero Eyben1 Exergo – Datações “Ligo tudo isso, aturdida, à ave que desce sobre meu ventre e, muitas vezes, muitas, sondo as nuvens. Mas a ave não volta, nunca mais, nunca, não reaparece.” Osman Lins2 2. Lins, Osman. Avalovara. Rio de Janeiro: Record, 1999, p. 41. “Mas o que demora para vir, o que não vem, é mesmo esse fim da noite, a aurora rosiclara. Onde agora, é o miolo maior, trevas. Horas almas. A coruja, cuca. O silêncio se desespumava.” João Guimarães Rosa3 3. Rosa, João Guimarães. Corpo de baile. 2. ed. Ilustr. de Poty. Rio de Janeiro: José Olympio, 1960, p. 432. O mutum: entre a recusa e o erigir. Algo sempre é demovido da figura, de sua capacidade figurativa. O mutum. Mutum. Tomas a palavra, à letra. Algo, então, pode ser dito como se da figura a imagem se fizesse e, feita, passasse a uma irrupção, à experiência do a mais, daquilo ter sido visto por um e mesmo olho, a partir do outro, desde ali. Ardor tranquilo é o que pode vir convergido da imagem. Ardência tumultuosa daquilo que permanece em por vir, em chegância deliberada, sorte. A eficácia da imagem capaz de dizer o acontecimento deste que é o visivo ou, dirias até, daquilo que foge e precisa esvanecer. Limite invisto, rastro, do que se dá – na realidade tu me ofertas esse espaço, um lugar – no impossível, na distância que, não sendo sensível, habita apenas enquanto demora, enquanto objeto eternamente perdido: mutismo, Universidade de Brasília. Professor Adjunto II de Teoria da Literatura. Bolsista de Produtividade do CNPq. Líder do Grupo de Pesquisa Escritura: linguagem e pensamento. 1 11 mas apelo, escrito. Assim, o dizer do acontecimento guarda sua promessa, sempre em mente, no aquém daquilo que ocorre, que chega a ocorrer, que tem lugar. Toda imagem tem lugar? Em que espaço a imagem ganha sua existência, fora do mundo? Escrever tende a ser. Poderias escrever assim, intransitivamente? O só espaço desse segredo, que frente ao outro, ao rosto outro, de qualquer outro, emerge – se erige – como doação, de palavra, para fora do em si, do mesmo, do ser-em-si. Talvez, aqui, já mais de um, e menos. Dirias, ainda, em desconstrução. Sempre no campo do segredo, da necessária aventura em se manter em segredo – tomado à prisão, dessa vinda oriental e do arresto – o absoluto do segredo, tratas de escrever, manter a escritura como senda, ou, e melhor, como acontecimento a-propriativo, ao que se verá. No entanto, se está sempre à escuta, na preparação de um ato que se deslinda na figura, na proibição de uma representação, em sua desconfiança. O que se guarda aqui, como texto, é o ponto em que se pode trilhar o conjunto de diferenças daquilo que se pode questionar pensando, manter em exame o impasse a ser escrito. Dessa forma, o problema que surge, imediato ao texto e a sua figura é, por certo, um conjunto que suplanta toda representação e, ao mesmo tempo – pois se trata de simultaneidade, por fim –, destitui a dialética imagem e conceito na história da literatura e das artes plásticas. O que se guarda, como todo segredo, é um campo de promessa, de porvir. Guardar não é outra coisa senão manter na posse de, proteger, impedir a fuga. Pode-se prometer apenas aquilo que possa ser guardado, posto em caixa, hermético. Mas ao mesmo tempo toda promessa, para que se mantenha como promessa, deve – tratando-se sempre aqui de imperativos – manter-se como um futuro, uma guarda futura para a escritura. Cada palavra, portando a natureza dessa promessa, permite uma figura se fazer, se delinear como imagem e, logo, som. Eis alguns dos dilemas da escritura, e também da imagem. Torno ao mutum. Há alguns anos essa imagem me persegue4 – e, de súbito, a ti também. Dessa ave, o espaço de reverberação. Não apenas nas contas do acaso, mas já em termos de eficácia precisa, de apresentação moldada na oportunidade e, desde esse movimento calculado, um distar que caotiza, faz casar azar e sorte com engendramento porvindouro. Dessa ave, portanto, derivei todo um sentido daquilo que começo a pensar sobre a escritura, sobre 4. Em 2001, escrevi um conto intitulado “Dois mutuns”, que permanecerá inédito, ou melhor, restrito àqueles que o leram como uma forma de exercício formal, inaudito. Nele, estava aturdido com uma representação, em gravura, dessa ave, na capa de um livro de ornitologia, ou de um catálogo de aves brasileiras, não me lembro bem. Dali, compus um enredo na relação entre o obscuro e o sublime, de uma família em ruínas, em modus de extinção. Ainda, agora em 2004, escrevi um poema “mutum”, que apareceu publicado em 2011, em ocos (São Paulo: Lumme, 2011, p. 19). Muito impressionado que vinha da leitura das novelas-poemas de Rosa, em suas aparições de mutuns, que analisarei mais abaixo. Naquela altura, o problema da voz e do segredo circundavam já minhas preocupações acerca da poeticidade e da nomeação, da experiência violenta da figura que emudece a posse do representável. 12 a falência da designação e da metafísica do silêncio como solução ao problema da comunicabilidade. Essa derivação, essa erosão de margens, de assimilações e exclusões, pôde reconduzir certa lógica dual entre, de um lado, a figuração da linguagem a partir do animal, do uso metafórico dos animais para redesenhar o espaço da literatura e da filosofia, na tradição do eriçar contido em si, por si; e, de outro, na busca da animalidade como lugar aporético por excelência, lugar do impudor da própria vitalidade que circunda a escritura, que a faz conduzir-se para além da técnica, em uma luta de sobrevivência, de caminho que se busca decidir. Por isso, torno ao mutum, esse rastro inabordável desde uma origem possível acerca do que é o escrever. (a) Metáforanimal, duplo gênero: o ouriço, a ouriça. Logo, um primeiro passo, diante do sentido. O animal sempre pôde ser tomado por metáfora, símbolo; seja do incomunicável, seja de uma dada pobreza (“das Tier ist weltarm”, nos dirá Heidegger), seja desde a fábula, seja como sintetizador de todo um pensar poético que condensa o fragmentário, o absoluto, a finição. Essa tomada, transitivo-predicativa – uma vez que se toma o animal por metáfora –, além de uma posse, uma atribuição de propriedade, está implicada uma hermenêutica. Desse modo, a pergunta sobre o ser da coisa, sobre o sentido do objeto – no caso, um não-objeto –, encontra-se desde já no horizonte da interpretação, desse ato sempre prévio e previsível, como movência de uma totalidade conjectural compreendida a partir de uma apropriaçãode-compreensão [Verständniszueignung]5. Em outro sentido, o caminho identificável que compõe a compreensão enquanto apropriação do próprio, de certa unicidade, constitui o cerne da fábula, do uso indiscriminadamente moral do animal para uma propriedade humana que o erija como ser dotado de linguagem e espírito, distanciado do animal incompleto de alma, como parece sugerir Aristóteles6, ao dá-lo tato e percepção. Assim, a compreensão apropriativa da metáfora implicaria uma noção predicativa e, portanto, na busca por aspectos inerentes à realidade a ser figurada, o que, no caso, emerge do uso – do abuso – do animal como forma teriomórfica de representar o próprio do homem. Eis aí uma aporia: nessas impossibilidades residem o que é a destituição do próprio do que significa uma metáfora. 5. Heidegger, Martin. Sein und Zeit. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1977, Gesamtausgabe – I. Abteilung: Veröffentlichte Schriften 1910-1976 – Band 2, p. 199. 6. Aristóteles. De anima. Apres., Trad. e notas Maria Cecília Gomes dos Reis. São Paulo: 34, 2006, p. 76. 13 Retornemos à Ilíada, um instante duradouro apenas, dois versos: ἠΰτε κίρκος ὄρεσφιν ἐλαφρότατος πετεηνῶν ῥηϊδίως οἴμησε μετὰ τρήρωνα πέλειαν, [feito gavião montês, a mais ágil das aves, que, fulmíneo, cai sobre tímida columba]7 7. Campos, Haroldo de. Ilíada de Homero – vol. 2. Ed. Bilíngue. Trad. Haroldo de Campos. São Paulo: Arx, 2002, c. XXII, v. 139140, p. 366-7. Aqui, um rastro do problema. A assimilação do homem ao animal, do guerreiro Peleio que se lança levemente, como um hábil projétil, feito falcão [κίρκος], atacando violentamente [οἰμάω] sua presa, a tímida pomba [πέλεια], o domador de cavalos, Héctor. A imagem substitui dois paradigmas: um de movimento e estado – a habilidade de voo (πετεινός) do falcão e a timidez/ receio (τρήρων) da pomba – que fazem convergir duas imagens no segundo paradigma, os inimigos em combate, Aquiles e Héctor, falcão (um jovem falcão por sua hábil leveza) e a pomba, respectivamente. Todos os elementos ausentes aqui parecem retomáveis, em um resgate típico do símile, se compreendido como uma comparação sinônima, identificatória. A figuração parece ater-se ao estereótipo da apresentação dos personagens, no sentido de uma ferocidade inerente a Aquiles frente aos modestos golpes de Héctor nessa batalha. O emprego da comparação parece, portanto, ser assimilação do enredo, uma espécie de interlúdio imagético que diferiria a noção pragmática de enunciação de uma guerra, de um combate, daquela que se modela a partir de um uso retórico da figuração, ou seja, de um campo literário que representa o mundo em novas feições. A disrupção produzida pela figuratividade não seria tomada em conta se continuássemos com essa limitante compreensão da metáfora. Tu bem a sabes da necessária articulação entre dizeres. Muito além da modelagem e do recurso estereotipado das imagens, Homero parece trabalhar uma espécie de impossibilidade aquém da linguagem figurativa, uma forma de pensar a metáfora desde si. O campo complexo desses paradigmas precisam ser articulados, em termos paramórficos8, ou seja, por analogia formal, por uma supressão sígnica, ou melhor, por seu campo quase-sígnico, como bem apontou 8. Pignatari, Décio. Semiótica & Literatura. 6. ed. Cotia, SP: Ateliê, 2004, p. 170. 14 Décio Pignatari, em termos sugestivos. No campo da metáfora não cabe a mera contemplação de um meio à mensagem, não se trata nunca de uma persuasão constativa da verdade sígnica. Dirias antes que a metáfora é uma possibilidade irruptiva de empréstimos e disseminações, a possibilidade de a linguagem se tornar uma impossibilidade dizível. Sendo assim, a metáfora, entendida como mera modulação discursiva, não constitui dilema ao pensamento, não se engendra como substância e predicação de uma expressividade, de um dizer que necessariamente se desliza do imperativo do outro. Nesse sentido, a metáfora pode ser pensada como impulso à tradução, como movimento de uma passagem a outra, de uma sentença a outra. É o que parece sugerir Paul de Man, analisando Locke: It is no mere play of words that “translate” is translated in German as übersetzen, which itself translates the Greek meta phorein or metaphor. Metaphor gives itself the totality which it then claims to define, but it is in fact the tautology of its own position. The discourse of simple ideas is figural discourse or translation and, as such, creates the fallacious illusion of definition.9 A noção suplementar da tautologia tradutória implica uma releitura do discurso de “simples ideias” como um discurso “figurativo”. Desse modo, ao tentar definir algo está-se traduzindo figurativamente, transportando a posição até outra posição, o que enreda a metáfora em uma rede de complementaridades e correspondências, de impossibilidades definitórias e, assim, de uma linguagem que não seja ela mesma uma figuratividade. Sendo assim, o falcão-Aquiles e o pombo-Héctor não seriam meras imagens facilitadoras do entendimento, mas antes questionamentos acerca do próprio nome, do nome como posição e elemento actancial, que se transporta a uma adulteração originária de tudo o que possa ser a essência de sua materialidade, de sua disposição natural no mundo. A metáfora seria, portanto, uma figura da desfiguração, um decurso ao discurso que, em certo sentido, impede o conceito não estar em elo predicativo com o próprio tropo10. De Man, ao analisar a operação mental em textos de Descartes e Condillac, a definirá como metáfora de metáforas, justamente no sentido de, como ato posicional, a mente/o espírito apenas poder ser verbal, ou seja, ser validado 9. De Man, Paul. The Epistemology of Metaphor. In: Aesthetic ideology. Introduction by Andrzej Warminski. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1997, p. 38. 10. Ibidem, p. 43. De Man sugere que “as soon as one is willing to be made aware of their epistemological implications, concepts are tropes and tropes concepts.” 15 por “illusory resemblances”11. O que parece estar em jogo, por conseguinte, não é o contexto de enunciação, de enredo, mas a própria noção atributiva das similitudes como elemento necessariamente ilusório, assumidamente ficto. Nenhuma terminologia sai impune a isso, tu dirás. Todo esclarecimento deve ser perpassado por essa representatividade exaustiva de uma remissão, de um apartamento da linguagem frente a sua mediação, seus engajamentos fortuitos e, logo, de suas necessidades comunicacionais. Dessa ficcionalidade, emerge o problema da codificação, da atribuição do ser enquanto propriedade, ao que Paul de Man propõe: “The attribute of being is dependent on the assertion of a similarity which is illusory, since it operates at a stage that precedes the constitution of entities”12. Assim, nessa anterioridade de estágio, a similaridade pressupõe a retórica como um sistema “that is not itself a code”13, ou seja, as estruturas retóricas, que, no caso dos versos de Homero, reconhecem um estatuto de substituição homem-animal, não podem ser simplesmente entendidas previamente, como uma teleologia de modos e categorias a serem pinçadas de uma poética. A dependência da figuração produz não mero prazer estético, mas uma estética na qual o “proliferativo e disruptivo poder da linguagem figural”14 é concebido como uma forma de epistemologia, como um ir-se ao outro, em sua extensão. Assim sendo, retorno a Homero, ainda uma vez. Atendo-me a duas palavras, uma de cada vez: ἠύτε e πέλειαν. A partícula ēute tem uso específico no idioma grego. Em situação quasedêitica, o termo refere-se à situacionalidade citacional que marca o processo do símile. Como um este demonstrativo, ēute implica um gesto-de-palavras que mostra a própria figuratividade, que a prova desde suas designações indiciais, de uma dada situação enunciativa na qual, necessariamente, a conjunção comparativa está implicada no fato. Sua tradutibilidade implica um como, um necessário tal qual, do mesmo modo que, o que Haroldo de Campos traduziu, regionalmente, por feito, potencializando o lugar da linguagem como factum, o poema como uma ocorrência e um ter lugar do ser-dito, do dizer que não é mero paradigma, mas como uma assunção acontecimental. Haroldo está seguindo à risca o lugar do engendramento linguístico que é possível na fala do povo, pois, como escreve em uma de suas Galáxias, “o povo cria mas o povo engenha mas o povo cavila o povo é o inventalínguas na malícia da mestria no matreiro da maravilha no visgo do improviso”15. 11. Ibidem, p. 45. 12. Ibidem, p. 45. 13. Ibidem, p. 49. 14. Ibidem, p. 50. 15. Campos, Haroldo de. Galáxias. São Paulo: Ex-Libris, 1984. 16 A malícia e o subterfúgio experimenta esquivas, desdobra-se em um feito, feito fato ocorrido, feito história. E é nesse caminho que Homero constrói uma sentença paratática que faz índice anafórico e catafórico sobre si, sobre os partícipes do duelo. A imagem, estancada, emudecida, designa a si mesma como uma imagem tal qual no mesmo instante em que ela jamais poderia ser pensada como tal. Essa identidade da imagem, frente a sua estrutura dêiticoindicial, conserva-se em aporia pelo próprio uso esvaziado da partícula ἠύτε. Como conjuntação não compreensiva, no entanto retórica, o feito (como tal) rompe o cálculo diegético da história e torna-se trama, engendramento figural, esvaziamento designativo. Enquanto partícula exclusivamente épica – e mais exclusivamente, homérica, uma vez que substitui uma expressão como ὡς ὅτε –, ἠύτε aponta como atores o próprio movimento figurativo, desloca-se no sentido de inscrever a sentença – esses versos que seguem ao 139 do canto XXII – uma evocação da própria linguagem, de sua modalidade e modulação. Não sendo, além disso, declinável essa conjunção não une necessariamente o comparado e o comparante, porém o faz dançar, o articula em uma movimentação habitante que dá lugar à imagem como acontecimento. A metáfora então é um feito e, para dizê-la, um locutor? Se sua estrutura dependesse de um como tal, de sua mesmidade e do idêntico, daquilo que para Benveniste torna a linguagem possível: “le langage n’est possible que parce que chaque locuteur se pose comme sujet, en renvoyant à lui-même comme je dans son discours”16. O eu pronominal tem força de reenvio a si, ao si mesmo do sujeito e, nesse jogo discursivo, a apropriação faz sujeito, constitui o sujeito como aquele que assume esse eu sem designação em uma dada apropriação inteira da linguagem e de seu sistema. O eu do discurso é a própria subjetividade do locutor estabelecendo-se dentro da linguagem que não define nenhuma entidade lexical – a expressão é de Benveniste – a essa “palavra”. Colocar-se como sujeito, então, pressuporia um eu tal qual o eu, eu, esse que enuncia esse discurso (aponto a mim mesmo), é como, do mesmo modo que o eu, pronome pessoal do caso reto que assume posição de sujeito. Parece-me que aí reside um problema crucial, percebido por Derrida em sua conversa com Nancy, em termos de uma possível calculabilidade do sujeito, de uma definição desse que enuncia necessariamente tomado por uma 16. Benveniste, Émile. De la subjectivité dans le langage. In : Problèmes de linguistique générale I. Paris : Gallimard, 2006, p. 260, « Collection Tel ». 17 subjetividade, qualquer que seja. Diz Derrida: “il n’y a jamais eu pour personne Le Sujet, voilà ce que je voulais commencer par dire. Le sujet est une fable”17. A ninguém uma pessoa denominada O Sujeito. O imperativo da afirmação, do sim anterior a todo assujeitamento faz do sujeito uma fábula escrita – é do campo do escrito que se fala sempre em termos de sua inscrição subjetiva, nunca da escritura – e, portanto, uma recondução ego-lógica ao em-si, ao para-si. O imperioso de um ser-ante(s)-(d)a-lei faz com que o sujeito “s’il doit y en avoir, vient après”18, de modo que a decisão não seja previamente tomada em termos da satisfação ou complacência subjetiva daquele que enuncia, por exemplo e extensão, “eu, o sujeito da frase”. A vinda, sempre postergada e posterior, infinitamente, intenta levar o a si a um ato alocutório dissimétrico e demovido de sua neutralidade. Derrida analisa que a afirmação do sujeito, de sua calculabilidade enquanto subjetividade, sempre foi relacionada ao homem em detrimento do animal – “l’animal ne sera jamais ni sujet ni Dasein”19 – e se esse discurso sobre o sujeito continuar “à lier la subjectivité à l’homme”20 é porque não seria preciso tratar de responsabilidade ou ética ou liberdade e direito frente ao animal, a essa generalidade não subjetiva. O próprio do homem confundido com sua metaforicidade, com sua linguagem, é como soa a análise discursiva dos pronomes como assunções de um sujeito a si, de um antropocentrismo apropriante. Ora, é ainda Derrida quem reconhece que a metaforicidade supõe uma ex-apropriação. E, nesse sentido, a prova do incalculável prescreve uma responsabilidade maior do endereçamento, o espaço excessivo não do reconhecimento, da dívida, mas da irredutibilidade, da primazia do outro, seja ele animal ou homem. Se a ex-apropriação está no campo da metaforicidade, é preciso uma dupla pergunta, em duplo elo: o que implica a (1) ex-apropriação e (2) o como tal dessa metaforicidade. Derrida enuncia: (1) “l’ex-appropriation (...) suppose l’irréductibilité du rapport à l’autre. L’autre résiste à toute subjectivation, et même à l’intériorisationidéalisation de ce qu’on appelle le travail du deuil”21 e (2) “le « qui » de l’autre qui ne pourrait jamais apparaître absolument comme tel qu’en disparaissant comme autre”22. Dupla implicação, portanto. A resistência ao sujeito por 17. Derrida, Jacques. « Il faut bien manger » ou le calcul du sujet. In: Points de suspension: entretiens. Choisis et présentés par Elisabeth Weber. Paris : Galilée, 1992, p. 279. 18. Ibidem, p. 287. 19. Ibidem, p. 283. 20. Ibidem, p. 283. 21. Ibidem, p. 285. 22. Ibidem, p. 289. 18 sua irredutibilidade em relação ao outro inscreve justamente esse outro no campo da ex-apropriação da subjetividade. Sem interioridade idealizante, o outro não mais reside em uma humanidade que apenas trabalhe seu próprio luto, mas a promessa de um luto impossível (de seu estado messiânico) – ou, como aponta, Fernanda Bernardo: “o luto impossível é a própria essência deste pensamento do impossível ou da alteridade absoluta. É, no próprio dizer de Derrida, a essência da experiência do outro como outro. Como outro, isto é, como uma alteridade ab-soluta. Ab-soluta, sim, mas, ainda assim, aqui, no tecido esgarço da escrita”23. Nesse caminho de irredutibilidades, é preciso ter em conta que o como tal não existe, não o há em essência ou o há apenas em desaparecimento. Absolutamente, o “quem” do outro nunca surge como tal, uma vez que precisaria deixar de sê-lo para como tal aparecer. Desse modo, a fábula do sujeito excede-se enquanto metáfora – metaforicidade – ex-apropriante, como responsabilidade diante do outro constitutivo dessa instância comparativa, lançada ao aberto. Jean-Luc Nancy, em “Borborygmes”, coloca-se à face atrás do detrás do nome de Derrida: La matière première est la face arrière: c’est-à-dire ce qui n’a pas de face, ce à quoi on ne peut faire face, mais qui ouvre et qui vient dans l’ouvert, ou comme l’ouvert même. L’ouvert comme tel : ce qui ne peut être indexé le « comme tel », n’étant comparable à rien pas même à soi, puisque le « soi » lui est encore, infiniment, tout à venir. L’ouvert tel, incomparable, mais qui, à peine ouvert, résonne en soi comme lui-même, écho craquement, de son claquement e de son claquage idiomatique.24 Desse modo, o feito a si, o deixar-se a si suspende-se no aberto, naquele que surge como aberto – sem poder-se fazer face – e, logo, destitui todo como tal, todo o indicial que retorne sobre si, que não permaneça no campo de uma promessa (in)fiel de um colapso idiomático, de uma quebra de eco, de egolatria. A face do nome, antes de qualquer sujeito, já engaja seu endereçamento, sua evocação, o apelo ao outro como feito necessário, como imperativo de toda demanda. Portanto, a sintaxe da metaforicidade homérica escolhe uma derivação interna, uma volta sobre si, que não compõe apenas uma autonomia, mas uma rota rúptil, um espaço de reversibilidade do dizer não subjetivo direcionando-se ao outro. 23 Bernardo, Fernanda. Moradas da promessa – demorança & sobre-vivência: aporias da fidelidade infiel (em torno do pensamento e da obra de Jacques Derrida). In: EYBEN, Piero (org.). Demoras na aporia: bordas do pensamento e da literatura. Vinhedo, SP: Horizonte, 2012, p. 21. 24. Nancy, Jean-Luc. Borborygmes. In : MALLET, Marie-Louise (dir.). L’animal autobiographique : autour de Jacques Derrida. Paris : Galilée, 1999, p. 176-7. 19 De modo que a segunda (e última palavra) a ser tomada de Homero seja uma derivação de um nome, de uma evocação: πέλεια. O pombo que representa figurativamente Héctor é, no fundo, um paragrama do patronímico de Aquiles, Πηλεΐδης. Isso implica dizer ligeiramente que a lógica do nome resiste como uma lógica do vocativo, que o dizer derivado aqui não é de uma causalidade infértil, mas de uma reverberação e ressonância importante e, por isso, desconstitui o saber como saber prévio, hermenêutico. O nome, como quase sempre aparece em Homero, indica uma espécie de destinação, de trajeto traçado a ser cumprido. Nesse sentido, o patronímico que o envia a Peleu teria uma dupla função narrativa. Primeiramente, pôr em mira a argila (πηλός) e a união amorosa com Tétis que fez nascer o próprio guerreiro, no sentido de um barro dos nascimentos, do monte Pélion. Desse modo, Peleu é assim chamado quase que à inversão de sua paternidade. É por conta dessa cópula geradora (dos seis filhos que Tétis, na ânsia de torná-los imortais, acaba por matar e, principalmente, desse sétimo que, sendo temperado no fogo, tornase invulnerável) – por causa do filho então – que seu nome é Πηλεύς. E, em um segundo aspecto, na própria construção da trama. O vínculo de Peleu e Aquiles não seria mera distribuição familiar, mas uma forma de espelhamento diegético necessário ao retorno à batalha de Troia. Peleu é participante da caçada de Cálidon, a mesma que é contada por Fénix a Aquiles em embaixada enviada ao herói para apaziguá-lo da ira contra Agamêmnon. Ora, é conhecida a mise-en-abyme desses episódios, em um espelhamento de identidade brutal entre Meléagro e Aquiles, com as mesmas demandas e resignações, com um possível futuro trágico comum. Nesse sentido, Peleu, ou melhor, o Pelida seria um indício a se cumprir da trama, “para que se repita una escena”, uma vez que “al destino le agradan las repeticiones, las variantes, las simetrías”25. No entanto, me interessaria muito mais uma cadeia apresentada pelo texto homérico em que esse nome é paragramático e faz um caminho de, ao menos, três versos até atingir seu alvo, seja no campo do sentido seja no campo do enredo. O Peleide é colocado em uma circunstância metaforicamente aporética bastante importante. Enquanto é chamado de “falcão montês” (κίρκος ὄρεσφιν) seu patronímico parece deslizar em outros conjuntos significantes que, em um primeiro momento, o caracteriza como o hábil no 25. Borges, Jorge Luis. La trama. In: Obras Completas 2: 1952-1972. Buenos Aires: Emecé, 2007, p. 205. 20 voo, como a maturidade necessária a um voo perfeito, como “a mais ágil das aves” (πετεηνῶν), e que, no entanto, se guia em direção ao inimigo, ao pobre pombo (πέλεια) tímido e temeroso, que guarda muito de seu nome. Nesse sentido, dentro dessa cadeia célere de ataque, convém uma dupla pergunta: qual o sentido dessa nomeação se fazendo frente ao outro, desde o nome do outro, mesmo o pior inimigo, em face a face, diante do rosto nu que Aquiles precisa identificar e combater em si mesmo? E, ainda, como é/foi possível a retração sonora, a diminuição da extensão de um eta (η) – marcadamente no nome próprio – a um épsilon (ε) – como marca, acentuada no nome comum? Inquietando-te desde dentro desse discurso, a forma desse rosto, portanto, parece irrecuperável se entendido como parcela interessada, a dar-se a desvelar, a uma apropriação que seja a de um sujeito. Nesse sentido, o desfazimento dessa forma, digo, de um patronímico em um substantivo comum, de um personagem em uma imagem animal, está em uma exterioridade que anuncia não uma reconciliação, mas um acolhimento – algo que será configurado na Ilíada com a entrega do corpo morto, mas preservado, de Héctor a Príamo – do outro, em sua proximidade. Levinas propõe que: Le visage de l’autre dans la proximité – plus que représentation – est trace irreprésentable, façon de l’Infini. (...) C’est parce que dans l’approche s’inscrit ou s’écrit la trace de l’Infini – trace d’un départ, mais trace de ce qui, dé-mesuré, n’entre pas dans les présent et invertit l’arché en anarchie – qu’il y a délaissement d’autrui, obsession par lui, responsabilité et Soi.26 Algo do rastro do nome, modo infinito de acolher. Diria talvez que o rosto do Pelida, diante da violência, diante do outro, que é Héctor, se lança como um pélete; esse corpo demasiado pequeno e ágil, o projétil que se lança – no fulmíneo de seu voo – na pressa. Leve projétil, a ave que representa Aquiles é colocada como rastro, logo, irrepresentável, impossível de ser trazido à presença, de uma partida sem origem, da própria anarquia turbilhonante que faz sua presença estar antes de qualquer presença, do outro antes de qualquer ontologia. Nesse sentido, há o nascimento da responsabilidade naquilo que se pode chamar “die geheimste Gelassenheit”27, o mais secreto abandono (de outrem). O que há aqui, em termos da cadeia expressiva do paragrama, é uma proximidade e não uma representação, seja da ave, seja do movimento, seja 26. Levinas, Emmanuel. Autrement qu’être ou au-delà de l’essence. Paris: Le Livre de Poche / Kluwer Academic, 2011, p. 184. 27. Cf. Silesius, Angelus citado por Derrida, Jacques. Sauf le nom. Paris: Galilée, 1993, p. 101. 21 do guerreiro. A metáfora produz essa proximidade e, ao mesmo tempo, um abandono e uma negligência do feito, do ato, do próprio outro que deve assumir a responsabilidade, de ser-si, ou nas palavras de Levinas: “Être-soi, autrement qu’être, se dés-intéresser c’est porter la misère et la faillite de l’autre et même la responsabilité que l’autre peut avoir de moi; être-soi – condition d’otage – c’est toujours avoir un degré de responsabilité de plus, la responsabilité pour la responsabilité de l’autre”28. Como refém, aumenta-se a responsabilidade “pela responsabilidade do outro” não como intersubjetividade, como do eu ao outro, mas desde si mesmo do rosto, logo, em seu face a face, naquilo que a proximidade tem de irrepresentável, abertura ao aberto. O chamado do nome, então, acolhe esse outro em sua disjunção, sua disposição de ressonância – é como Nancy delimita o silêncio – para fazer tendre l’oreille, prestar atenção às tensões, “tirer l’oreille du philosophe pour la tendre vers ce qui a toujours moins sollicité ou représenté le savoir philosophique”29. Nesse sentido, o nome – que é próprio no sentido de uma apropriação familiar, e impróprio enquanto ex-apropriação de sua metaforicidade – permanece como um engajamento, como rigor frente ao outro, que corre o risco de “de lier l’appelé, de l’appeler à répondre avant même toute décision ou toute délibération, avant même toute liberté” e, ainda, “alliance prescrite autant que promise”30. O luto a ser guardado, no porvir desse combate, está na verticalidade dessa compreensão metafórica do dom do nome. 28. Levinas, Emmanuel. Autrement qu’être ou au-delà de l’essence. Paris: Le Livre de Poche / Kluwer Academic, 2011, p. 185-6. 29. Nancy, Jean-Luc. À l’écoute. Paris: Galilée, 2002, p. 15. 30. Derrida, Jacques. Sauf le nom. Paris: Galilée, 1993, p. 112. Dentro dessa cadeia nominal, o acolhimento é lido como um recolhimento sonoro, como uma diminuição do η ao ε. Essa retração sonora é, evidentemente, compensada pelo uso acentuado, por uma tonalidade que confere não quantidade, mas qualidade silábica ao fonema. Dessa forma, a variabilidade e transmutação dos sons passam a ressoar como elementos da cadeia analógica que conduz o Pēleidēs (v. 138) ao peteēnōn (139) e, por fim, chega ao péleian (140). Essa chegância faz ressoar um tempo em dobro, uma durabilidade de Aquiles durante todo o percurso – que, na verdade, parece ser mais um ex-curso – que compõe o ataque e sua transformação animal em direção ao endereçamento ao outro. Essa habilidade aérea é sopro e precisa ser lida como um caminho a se compreender o ritmo desde sua sacudidela no tempo, como intensidade que se dá à escuta. Assim, essa transformação rítmica como inscrição formal precisa ser repensada para além do sentido histórico-lexical que a palavra ῥυθμός, tal como Benveniste a descreveu, por 22 exemplo, em termos de uma dança, desde o uso platônico, da “ordre dans le mouvement, le procès entier de l’arrangement harmonieux des atitudes corporelles combiné avec un mètre qui s’appelle désormais ῥυθμός”31. É talvez Jean-Luc Nancy quem apresenta uma possibilidade ético-estética de se lançar a esse outro do ritmo: “Ainsi, le rythme disjoint la succession de la linéarité de la séquence ou de la durée: il plie le temps pour le donner au temps lui même, et c’est de cette façon qu’il plie et déplie un « soi »”32. Algo da extensão dobrada e desdobrada do si que se separa em uma temporalidade disruptiva, de uma segregação infinita entre o Peleides e o péleian. Há algo aqui que eriça o som, algo que é preciso se perguntar em termos do que é o próprio sentido. Decai o nome próprio em comum, a nomeação da presença em um conjunto ausente, um feixe de diferenças ressonantes. O sujeito, digo a ti e só a ti, se separa. Aquiles torna-te um voo da escritura, um sopro que interrompe toda clausura. A representação dá conta desse caminho? Há aqui, sem dúvida, abismo e “ein Abgrund rufft dem andern”33 [um abismo chama outro]. Quanto a mim, diferindo de Friedrich Schlegel, Arthur Schopenhauer, Lewis Carroll, Sigmund Freud, Jacques Derrida e João Cabral de Melo Neto, que, a suas maneiras, tornaram o ouriço, o porco-espinho, o Stachelschweine, o Igel, o hedgehog, o hérisson em metáforas de dilemas e da própria escritura, quanto a mim, escolho o mutum. Essa teratologia implica um ponto a se analisar, a se colocar como escritura, que desliza da fragmentação – do gênero fragmento do romantismo alemão – até o lugar do coração, do poema, que é também o da catástrofe, muito perto do perigo de uma carta, da letra impressa e emprestada ao animal, “car la pensée de l’animal, s’il y en a, revient à la poésie”34, digo, a sua sintaxe que é demanda, memória para além de todo sentido. Eis que surge o ouriço, um pequeno e espinhento animal. Dirias, em um alemão seguido de sua potencial tradução: “[206] Ein Fragment muß gleich einem kleinen Kunstwerke von der umgebenden Welt ganz abgesondert und in sich selbst vollendet sein wie ein Igel”35, ou ainda, desde a língua portuguesa, “é preciso que um fragmento seja como uma pequena obra de arte, inteiramente isolado do mundo circundante e completo em si mesmo, como um ouriço”. O bichinho desperta seu isolamento, produz uma herança. E é na herança do fragmento que esse vivente completo, de 31. Benveniste, Émile. La notion de « rythme » dans son expression linguistique. In : Problèmes de linguistique générale I. Paris : Gallimard, 2006, p. 334-5, « Collection Tel ». 32. Nancy, Jean-Luc. À l’écoute. Paris: Galilée, 2002, p. 37-8. 33. Cf. Silesius, Angelus citado por Derrida, Jacques. Sauf le nom. Paris: Galilée, 1993, p. 97. 34. Derrida, Jacques. L’animal que donc je suis (à suivre). In: MALLET, Marie-Louise (dir.). L’animal autobiographique: autour de Jacques Derrida. Paris : Galilée, 1999, p. 258. 35. Schlegel, Friedrich. Conversa sobre a poesia e Outros fragmentos. Trad. Victor-Pierre Stirnimann. São Paulo: Iluminuras, 1994, p. 103. Fragmento de Athenaeum (A 206). Texto original disponível em: http://www.zeno.org/ Literatur/M/Schlegel,+Friedrich/ Fragmentensammlungen/ Fragmente. Último acesso: 10 de fevereiro de 2013. 23 carapaça armada e vitalidade mamífera, dentre os erinaceídeos, pôde chamar atenção, impor um lugar no qual é possível pensar a obra de arte desde sua noção de completude, finalidade e acabamento. O exercício finito da escrita e da exigência fragmentária conduz o pensamento e a expressividade ao não exaustivo e ao inacabado. O fragmentário é, então, algo que Lacoue-Labarthe e Nancy compreenderam como “détachement, isolement, qui vient exactement recouvrir la completude et la totalité”36. A lógica do fragmento precisa ser pensada como um todo e em suas partes37, como a própria lógica do ouriço. Assim, enquanto paradoxo do acabamento, o ouriço de Schlegel “fait et ne fait pas Système”, que enuncia o ouriço como proposição e, portanto, “il énonce simultanément que le hérisson n’est pas là”38. O que importa aqui é o gesto, a parte mais dêitica, dirias, dessa escritura. Sua legitimidade reside, desse modo, no rastro de uma presença possível, de uma forma que se caotiza desde quando é enunciada, preparada, convertida. O animal, ou melhor, esse animot é domesticável, é possível colocálo em um gênero? Diria, talvez, com Derrida: “às vezes público e privado, absolutamente um e outro, absurdo de dentro e de fora, nem um nem outro, o animal atirado no caminho, absoluto, solitário, enrolado em uma bola perto de si. Pode fazer-se esmagar, justamente, por si mesmo, o ouriço, istrice”39. Isolado completamente, sua designação precisa ser pensada na dualidade de gêneros – talvez em uma gênese plural de gêneros – que não seja conduzida a um assujeitamento do animal, a um olhar que esquece sua finalidade nua de olhar, sem linguagem, por certo, porém conduzindo-se em um complexo sentido de limite, sua conclusividade inconclusiva ou ainda a impossibilidade de uma autobiografia genérica, digo, de um inaceitável contrassenso dos limites quando se pensa a singularidade do animal em sua generalidade abissal. Qual o risco em se enfabular o ouriço, domesticando o próprio do pensamento da metáfora? 36. Lacoue-Labarthe, Philippe; Nancy, Jean-Luc. L’absolu littéraire: Théorie de la Littérature du Romantisme Allemand. Paris: Seuil, 1978, p. 63. [Trad.: “A fragmentação é, portanto, compreendida aqui como separação, isolamento, o que vem a reconduzir exatamente à completude e à totalidade.” (In: Lacoue-Labarthe, Philippe; Nancy, Jean-Luc. A exigência fragmentária. A Terceira Margem: Revista do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Literatura, Trad. João Camillo Penna, UFRJ, ano IX, n. 10, 2004, p. 73.)] 37. Ibidem, p. 64. [Trad.: “a totalidade fragmentária, conforme o que deveríamos nos arriscar a nomear a lógica do porco-espinho, não pode ser situada em nenhum ponto: ela está simultaneamente no todo e na parte. Cada fragmento vale por si mesmo em sua individualidade acabada.” (In: Ibidem, p. 74.)] 38. Ibidem, p. 71. 39. Derrida, Jacques. Che cos’è la poesia ? In: Points de suspension: entretiens. Choisis et présentés par Elisabeth Weber. Paris: Galilée, 1992, p. 304. [Trad. minha]. Exaustivas, essas leituras da herança eriçada ocupam vasta bibliografia acerca da propriedade e da apropriação do bicho que se volta sobre si, que retorna como proteção e abrigo. Uma, no entanto, parece-me merecer atenção mais demorada. Aquela que, modificando o gênero do animal, faz construir uma radicalidade sobre a linguagem, que o próprio animal não possui e que, aliás, nem mesmo ao homem pode dizer-se própria, a si. Trata-se do poema 24 “Uma ouriça”, de A educação pela pedra, de João Cabral de Melo Neto. Se o de longe esboça lhe chegar perto, se fecha (convexo integral de esfera), se eriça (bélica e multiespinhenta): e, esfera e espinho, se ouriça à espera. Mas não passiva (como ouriço na loca) nem só defensiva (como se eriça o gato); sim agressiva (como jamais o ouriço), do agressivo capaz de bote, de salto (não do salto para trás, como o gato): daquele capaz do salto para o assalto. 2 Se o de longe lhe chega (em de longe), de esfera aos espinhos, ela se desouriça. Reconverte: o metal hermético e armado na carne de antes (côncava e propícia), e as molas felinas (para o assalto), nas molas em espiral (para o abraço).40 De quem o escreve, desde quem essas dezesseis linhas são escritas? Há aqui um endereçamento, tal endereçamento no qual a palavra permanece em uma deriva, paramórfica e sintagmaticamente deslocada em sua caoticidade estruturante e da integralidade que é o próprio do poema. Fragmento isolado de tudo, tu percebes bem essa condução. Como fragmento, não do mundo, mas de todo um processo de criação, o poema não abarca o estar-no-mundo do ouriço, dessa ouriça no cio, contudo oferece-se como abraço ao próprio poema, àquilo que lhe é mais próprio, ou seja, uma distância infinda de modalidades e proliferações disruptivas. Uma disjunção entre a primeira e a segunda estrofe – o convexo reconverte-se em côncavo – e dois lados do agressivo e da fragilidade, da nudez, por fim, do animal, é posto em aberto. Sua consistência, pois, está inventariada no caminho da própria linguagem que caminha e se descaminha, que se faz voltar sobre si. É fuga. Escape do limite métrico, do limite sem inscrição de bordas, que irrompe do animal. Há aqui uma soleira, um rasgo que se finda em uma sintaxe emudecida, esse “metal hermético e armado”, o ter lugar em que se há de fechar. No entanto, é preciso dizer ainda: há escape, desde a soleira. Um modo de escape, talvez, possa ser respondido desde o sentido do poema em Derrida: “sem sujeito: há 40. Melo Neto, João Cabral de. Uma ouriça. In: Obra completa – volume único. Org. Marly de Oliveira com assistência do autor. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2003, p. 346. 25 talvez do poema e que se deixa, mas não o escrevo jamais. O outro assigna. O eu é somente na chegada desse desejo: aprender de cor”41. O limite do sentido, como o limite da assinatura (da disseminação sígnica42) faz aqui o nome da ouriça ser lembrado como acontecimento, como impossibilidade de seu próprio resgate. Sem sujeito, apenas a negligência – o Gelassenheit, o délaissement – de nunca escrevê-lo dá ao outro o lugar de sua assinatura, no longe, na distância, portanto. Em seu duplo começo, o poema estende-se sob o problema da lonjura. Se o poema pretende montar uma imagem da ouriça, esses dois versos, que compõem cada qual o início de suas estrofes, lança para outro espaço, para o afastamento necessário do outro diante da necessidade de sua resposta. Ao elemento conativo – aqui, estranhamente composto por esse “de longe” – apenas é possível chegar indiretamente, por via oblíqua – como é marcado pelo uso pronominal – e, por isso, o de longe apenas alça, aparece, é uma manifestação e não necessariamente um movimento em direção à própria chegada, ao espaço “doméstico”, logo, habitável, do poema, da ouriça. O texto se dirige ao de longe, o de longe que é capaz de chegar-lhe, sobrevindo, portanto, como acontecimento. É essa lonjura, esse apartamento circunstancial que será determinado, delimitado, como elemento de referência alocutória e também como dispositivo da condicionalidade da conjunção disseminante e hipotética que principia o verso. Ora, o de longe parece executar dois processos actanciais no poema. De um lado, ele “esboça lhe chegar perto”, o que implica projetar o surgimento, projetar o próprio do caminho que se delimita – nada ainda conclusivo – como do longe ao perto, do fora ao dentro, ao íntimo. O esboço é um traço que compõe a chegada apenas como chegância, como eternamente chegante. Está-se delimitada aqui justamente a falta de borda, o animalesco da própria racionalidade em impor-se um limite a essa chegada e, sobretudo, àquilo que se pôde definir como o de longe, mais afastado, estrangeiro, digno de hostipitalidade. Essa condição primeira faz do perto uma ameaça ao de longe. Nessa ameaça, sua expropriação é sentida como condição de possibilidade, visto que não se trata apenas em “vindo de longe deve-se, cautelosamente, chegar até muito perto da ouriça”, mas bem o contrário, a ouriça parece ser esse de longe que está demasiado perto e se mostra, surge e se alça a esboço de um movimento – que mais tarde será seu próprio nome, a ouriça eriça. Por outro lado, a participação do de longe na chegada, ou melhor, 41. Derrida, Jacques. Che cos’è la poesia ? In: Points de suspension: entretiens. Choisis et présentés par Elisabeth Weber. Paris: Galilée, 1992, p. 307-8. [Trad. minha]. 42. Como ensaiei mostrar em outro lugar a propósito de certa falência sígnico-semiótica frente ao desafio do impossível, à prova do indecidível. A disseminação sendo um dos pontos em que a assemia se frustra e, logo, é capaz de proliferar a retórica para além de toda representatividade, em um retorno incansável de suas próprias dobras da linguagem. (Permitam-me, então, referenciar Escritura do retorno: Mallarmé, Joyce e Meta-signo. Vinhedo, SP: Horizonte, 2012). 26 a sua própria chegada, que inicia o segundo movimento do poema, é ainda um alçamento, mas agora sem o complemento circunstancial de lugar como elemento compositivo da própria sentença. Dando-se como expletivo, o parêntese reitera o actante o de longe em uma dupla preposição (em de longe) que marca a diferença entre o perto (proximidade adverbial, em estatuto direto ao surgimento, à manifestação da lonjura) e o em de longe (distância adverbial, em estatuto indireto à irrupção de si mesmo, da ouriça que se fecha dentro de sua circunstancialidade e condicional). O ato de chegar – que dobra o tempo, a duração em ritmo, tu me lembras do princípio de Nancy sobre o ritmo e minha fixação pela natureza do pli, do plicare – faz João Cabral propor a forma negativa de um nome, de um verbo-nome (desouriçar) que acontece, que deixa de ser esboço e passa ao estatuto de uma chegada do longe no longe, de “rastro uma partida” desmesurada. Anterior a esse começo do de longe está a palavra que será anagramatizada durante todo o texto. Em verdade, trata-se de uma só sílaba, de um só som: se. A anarquia da arqui-escritura nos rasgos da anáfora43. Remetimento infindo, a figuração dos três primeiros versos do poema parece desmontar a previsibilidade do termo anafórico como mera ênfase, como repetição de apenas uma sílaba expletiva. No fundo, por mais que guardem a semelhança sonora e propositiva da conjunção (esse se), dados os entremeios da pontuação, permitem leituras bastante distintas e de uma anamorfose interessante ao poema. Esse processo figurativo impõe uma leitura nunca partida, aos pedaços apenas do poema. É necessário casar aqui a fonêmica, o aspecto mórfico e o sintático para conduzir uma possível caoticidade, uma impossibilidade imagética dessa condição (do que seria a própria possibilidade?). Poderia então propor uma cadeia criativo-produtiva que pareça, em uma primeira vista, tautológica: se > se > se. Ao que poderia escrever de outro modo, talvez menos tautologicamente: se1 > se2 > se3. Não há uma mera anáfora reiterativa, mas de fato uma potencial alteração funcional da conjunção condicional (se1) em uma indecidibilidade tanto pelo pronome pessoal quanto pela própria conjunção (em se2 e se3). Algo como44: 43. Giorgio Agamben, ao analisar a figura emblemática do Bartleby no sentido da potência, constrói uma teoria da anáfora que me parece fundamental para o que proporei aqui como perda da referência lógica na linguagem. Diz o filósofo, ao pensar a fórmula I would prefer not to e a variante I prefer not to: “É como se o to que a conclui, que tem carácter anafórico porque não reenvia diretamente a um segmento de realidade mas a um termo precedente do qual somente pode obter o seu significado, ao invés se absolutizasse, até perder toda a referência, dirigindo-se, por assim dizer, à própria frase: anáfora absoluta, que gira sobre si, sem reenviar já a um objecto real ou a um termo anaforizado (I would prefer not to prefer not to... ).” (In: Agamben, Giorgio. Bartleby – escrita da potência. Lisboa: Assírio & Alvim, 2007, p. 27) 44. Usarei uma marca sintagmática específica para me referir a elementos que apareçam ou não na sentença, de acordo com o que segue: SNsubø: sintagma nominal com função de sujeito suposto (que não está explícito na sentença). SNsub: sintagma nominal com função de sujeito explícito. SPdat: sintagma pronominal com função de complemento indireto. SCONJ: sintagma conjuntivo. 27 (1)se1 → se2→ se3: na condição de o de longe esboçar, então se [SCONJ] fecha, então se [SCONJ] eriça; (2)se1 → se2 Λ SNsubø: na condição de o de longe esboçar, então a ouriça [SNsubø] se fecha (pronome entendido como complemento verbal reflexivo); (3)se1 → se2 Λ SNsub: na condição de o de longe esboçar, então o se [SNsub] fecha (pronome entendido como índice de indeterminação do sujeito); (4)se1 → se2 Λ SNsub: na condição de o de longe esboçar, então o de longe [SNsub] se fecha; (5)se1 → se3 Λ SNsubø: na condição de o de longe esboçar, então a ouriça [SNsubø] se eriça (pronome entendido como complemento verbal reflexivo); (6)se1 → se3 Λ SNsub: na condição de o de longe esboçar, então o de longe [SNsub] se eriça (pronome entendido como complemento de verbo que exprime mudança); (7)se1 → se3 Λ SNsub: na condição de o de longe esboçar, então o se [SNsub] eriça (pronome entendido como complemento de verbo que exprime mudança); (8)SPdat ↔ SNsubø: o lhe é condição necessária para que haja a ouriça [SNsubø]; (9)se1 → se2 Λ SNsubø V SNsub → se3 Λ SNsubø V SNsub: na condição de o de longe esboçar, então se [SCONJ] fecha e a ouriça [SNsubø] se fecha ou o se [SNsub] fecha, então se [SCONJ] eriça e a ouriça [SNsubø] se eriça ou se [SNsub] eriça. Essas transmutações anamórficas e sintagmáticas implicam a condicionalidade de existência da própria ouriça e, em última instância, do próprio poema. Há, evidentemente, aqui uma economia brutal – silábica, para dizer mais especificamente – no uso e nas potencialidades ofertadas pelo idioma. João Cabral leva ao limite o uso da conjunção como elemento 28 de neutralização actancial e subjetiva para compor sua imagem hermética do poema como um ouriçar da própria espera. Trata-se claramente de uma duração que faz “résonner le sens au-delà de la signification, ou au-delà de lui-même”45, nunca para reencontrar um referente lógico a essas disjunções, mas para manter-se na prova indecidível do próprio poema. Sua dinâmica é a da lógica tradicional, do “na condição de, e”, como se completa no quarto verso, no entanto, o texto subverte todas as transitividades verbais, delonga expectativas e difere a constituição da metáfora dentro da metáfora. A ouriça guarda intensidade corpórea no poema, retendo esse além sentido no limite de sua animalidade, de sua irrupção linguageira. A tripla condicionalidade, em sua fórmula mais completa (se1 → se2 Λ SNsubø V SNsub → se3 Λ SNsubø V SNsub), produz um verso que meta-representaria – e ele se inscreve sob o signo dos dois-pontos – uma espécie de tomada complexificada de seus suplementos: “e, esfera e espinho, se ouriça à espera”. Ora, se não há mais um se aí (se4) que se coloca deslocado, em um hipérbato irrecuperável. 45. Nancy, Jean-Luc. À l’écoute. Paris: Galilée, 2002, p. 67. É nessa transposição que podemos ver um processo ainda mais engendrado, entramado de sua textualidade: os paragramas do se. Cabral assinala um hipérbato na oração e constrói “hipérbatos” morfológicos de sua sílaba genotípica. O que se intercala de palavra a palavra é o se transformado em es. Há toda uma cadeia que caminha durante o poema: esboça > esfera > espinho > espera > espiral. Essas transformações são frutos da condicionalidade expressa pela primeira sílaba-palavra do poema. Na transposição do se (conjuntivo e pronominal, condicional e eventivo) é que se torna possível a sucessão anamórfica das imagens que compõem o esboçar, a esfera, o espinho, a espera e a espiral, que, aliás, parece guiar todo o movimento interno do texto. Essa tessitura paragramática ainda ocorre entre o nome que dá título ao poema uma ouriça aos verbos que são desencadeados no poema: uma ouriça > eriça > ouriça(r) > ouriço > desouriça. Verbo e nome, simultaneamente. Há, talvez, aqui um processo que é aquele do desfazimento, do esgarçamento da imagem da própria ouriça, que é vista negativamente, pela falência da espera, pela ocorrência do próprio poema, no lugar das coisas, de seu estado de coisas. A sentença final poderia ser tautológica (e infinitamente verdadeira) ao dizer uma ouriça se desouriça, dois versos espelhados comprovam essa possibilidade, o quarto e o décimo segundo: “e, esfera e espinho, se ouriça à 29 espera” e “de esfera aos espinhos, ela se desouriça”. A não-ouriça do poema vai da agressividade de seu próprio feminino à defesa (do salto de gato) no sentido daquilo que Derrida apontou como duas expressões para definir o poema: l’économie de la mémoire (brevidade, elipse e Verdichtung) e le cœur (o coração que existe em todo aprendizado de cor, desde um saber outro)46. No poema, pode-se esperar? A atenção pode esperar, dizes, com Nancy, tendre l’oreille. Cautela e salto. Digo, pode-se trocar o gênero, colocar-se no gênero outro de um saber também ele outro. O que se põe para além do presente? Para fora do presente? Assim, guardas uma dissolução. É preciso uma reação que seja do pensamento, do fragmento não em si, não guardado por si, mas sempre desarticulado na língua. Dirias talvez um ilusão, um lapso. O forte sentimento que produz o vazio – “E a linguagem clara que impede esse vazio impede também que a poesia apareça no pensamento”47 –, a escritura que não permite senão ser nomeável, de uma distância animalesca. 46. Derrida, Jacques. Che cos’è la poesia ? In: Points de suspension: entretiens. Choisis et présentés par Elisabeth Weber. Paris: Galilée, 1992, p. 304. 47. Artaud, Antonin. O teatro e seu duplo. 2. ed. Trad. Teixeira Coelho. São Paulo: Martins Fontes, 1999, p. 79. (b) Animalidade e nomeação: o mutum. É, portanto, necessário fazer eriçar o animal. Tomar de sua animalidade o pedaço de um lugar outro ao outro, a quem devo responder, evocar, dizer sim, sim. Prossegues, assim, em tua exploração, à deriva, desse espaço aporético aonde a sobre-vivência e o impudor do rosto conduz a uma ética e uma estética da palavra outra, do nome como evocação, como reentrância do fora da linguagem – em sua impossível tradução – ao imperativo de uma decisão, de tua indecidibilidade. Disso que circunda a escritura, o lugar do rosto disposto ao infinito do outro configura não o homem como ser de linguagem, mas como aporia dessa decisão, desse emudecimento diante do animal que pode não responder. Para além da metáfora – talvez em um campo que seja o da pura metaforicidade – a nomeação guarda um silêncio ressonante, uma forma de adensamento da voz que apenas ressoa, que é uma tomada da palavra, tomada frente à palavra, que, aí, não tem gênero, é perpassada – se lhe for imposta – por uma predicação outra, por um ajuntamento de outras vozes. Digo, não há algo como a ouriça para o mutum, o designativo precisa romper a frase com mais uma palavra. Por isso esse animal que muda o emudecimento do um ao outro um, no reverso de seu palíndromo, na sustentação anagramática de sua própria mudez. E, se o retiro das artes plásticas, tu me apontarias ainda em Guimarães Rosa e todas aquelas passagens a que chama “os poemas” em Corpo 30 de baile. Lá no meio dos buritis, escuto: “No silêncio nunca há silêncio”48. O texto que se escuta, em descarte, ressoa essa musicalidade que faz eco e se abre à pluralidade, à diferença. Ali onde é possível “se o senhor quiser ouvir só o vento, só o vento, ouve”49, um sopro de escritura, um sopro de voo no qual o buriti toma lugar – e, nesse sentido, não há apenas o animal inscrito, mas o fitomórfico, o disjuntivo ainda maior – em sendo “O buriti? Um grande verde pássaro, fortes vezes. Os buritis estacados, mas onde os ventos se semeiam”50. Um ao um, o mutum fecha-se em si, côncavo, expondo-se ao perigo, à extinção. Se o buriti – o buriti-grande, diz Rosa – é capaz de ir “inventando um abismo”51, a prumo, o poema também é assombrado pelo ininterrupto abissal que se inventa a si. Sua finalidade desloca-se em uma autotelia – como bem percebe Miguilim, no início de “Campo Geral”, um conceito de belo dito pelo moço, acima da opinião de sua mãe, dizendo que o Mutum é belo pela simples maneira: “de longe, de leve, sem interesse nenhum”52 – e lança-se em uma urgência, em um ocorrer que ganha lugar, ocupa o espaço inominável da própria declaração. Ou como melhor diz Giorgio Agamben: “no ponto em que o som está prestes a arruinar-se no abismo do sentido, o poema procura uma saída suspendendo, por assim dizer, o próprio fim, numa declaração de estado de emergência poético”53. Nessa unicidade, nesse lugar que é não apenas o fragmento, mas o voltar-se de um inacabamento, o mutum parece ser a palavra que, de súbito, pode se arruinar, que célere pode suspender-se também. Algo aqui parece chegar-lhe (em de longe). O fim e sua propriedade reside não em sua apropriação de outras propriedades, antes está no estado de expropriação de tudo o que possa ser uma escuta previamente codificada, uma recepção sempre à mão, um caminho muito bem trilhado e sopesado. O mútuo do poema deve ser mudo, rosto, ou ainda, face a face de seus impudores. Dessa forma, tu podes complexificar uma tão natural definição de poema, como aquela ofertada pelo próprio Agamben: “E o poema é um organismo que se funda sobre a percepção de limites e terminações, que definem – sem jamais coincidir completamente e quase em oposta divergência – unidades sonoras (ou gráficas) e unidades semânticas”54. 48. Rosa, João Guimarães. Corpo de baile. 2. ed. Ilustr. de Poty. Rio de Janeiro: José Olympio, 1960, p. 427. 49. Ibidem, p. 427. 50. Ibidem, p. 399. 51. Ibidem, p. 421. 52. Ibidem, p. 8. Não seria demasiado pensar um certo kantismo de juízo estético nesse meio de palavras? 53. Agamben, Giorgio. O fim do poema. Trad. Sérgio Alcides. Revista Cacto, n. 1, ago.2002, p. 146. 54. Ibidem, p. 143. (Em Stephen hero, o narrador arruinado – essa instância ficta que não chega a se cumprir enquanto obra, enquanto voz narrativa e que deve ser confundido com uma vida não duradoura, com uma biografia que se estende 31 entre o século XIX e o início do XX – intenta dar voz a Stephen, ainda herói, para que ele defina a própria literatura. Advém algo assim: “between poetry and the chaos of unremembered writing” [“entre poesia e o caos da deslembrada escritura”]. Aliás, duplamente caótico: “And over all this chaos of history and legend, of fact and supposition, he strove to draw out a line of order, to reduce the abysses of the past to order by a diagram.”55 [“E sobre todo esse caos de história e lenda, de fato e suposição, ele se esforçou para rascunhar uma linha de ordem, para reduzir os abismos do passado à ordem de um diagrama”]. Quase que ao acaso dessa economia, dessa condensação que supera toda calculabilidade, eis que, enquanto escrevo, penso em um duplo movimento – que se marca nesse carnaval. O primeiro de um encontro, de um espaço íntimo, que ocorreu a 09 de fevereiro. Augusto de Campos, compartilhando a mesa, me diz, “já respondi uma vez poesia é a dos outros”, entre muitas outras histórias que seu rosto me foi possível dizer e compor toda uma memória literária. Traço a traço de um movimento que finda, às 17h, com seus profilogramas em mãos. E, ainda, nesse fim de carnaval, leio o fragmento de uma entrevista, concedida pelo mesmo Augusto a Claudio Daniel, em que diz: “Trabalho todos os dias, mas poemas, mesmo, faço muito poucos. Traduzo muito mais poemas alheios do que faço os meus próprios. É uma forma de aprendizado, de crítica criativa e de conversa inteligente. Armazeno informações e me preparo, sem pressa. Mas não planejo racionalmente poemas. Uma forma, uma frase, uma imagem, um fato, uma emoção, uma palavra podem constituir um indício e precipitar um momento de tensão, a partir do qual se desencasula o poema, que, então sim, depois da chispa inicial, pode ser controlado, desenvolvido e aperfeiçoado com o know how adquirido. Não desdenho o acaso, ao qual até já dediquei um poema”56. Aqui, muitas são as circunstancialidades que podem assumir um nome. O impossível como incalculável é um dos lugares em que a cada decisão, pelo nome, precisa ser tomada, repensada em sua escritura.) 55. Joyce, James. Stephen Hero. 17. ed. New York: New Directions, 1963. 56. Campos, Augusto de. Entrevista concedida a Claudio Daniel – Um poeta em busca da beleza difícil. Disponível em http://www. elsonfroes.com.br/acampos.htm. Acesso: 14 de fevereiro de 2013. Vestígios do nome, na divergência possível do olhar. Stephen Dedalus põe a visibilidade no lugar tangível, do toque à lembrança esgarçada. Algo aqui está posto como que de uma cisão entre o empírico literal e o empírico da experiência da semelhança. Algo aqui do fundo rítmico do ato de olhar, 32 e também da matéria cega do próprio ver. Dizes sempre acerca da ruína de uma imagem, que vocifera. Didi-Huberman reconhece em Stephen um ensinamento, sobre o ver: “devemos fechar os olhos para ver quando o ato de ver nos remete, nos abre a um vazio que nos olha, nos concerne e, em certo sentido, nos constitui”57. Desse modo, o que se espectraliza no dizer orgânico da literatura é certa incalculabilidade – o nefasto acaso – proveniente do rastro, do indício habitável em uma ferida da própria linguagem, que não supõe necessariamente uma mímesis, uma encenação visiva e explícita. Há um fluxo de interrupções e disjunções nessas emergências que corrompem a mera semelhança. Ao contrário do teatro, o que a literatura permite ver é justamente aquilo que não se vê, o nome. O nome é a parte invisível do personagem. O nomeável é em si uma substância, que, no texto, perde esse caráter essencial e desloca-se em um conjunto de diferenças que é a sintaxe. Refletindo acerca de Romeo and Juliet, Derrida analisa o teatro dessa conjunção que promete um outro nome, sua demanda, como “anacronia aleatória”58, como ocorrência do impossível, do amor que é, ele também, impossível: “j’aime parce que l’autre est l’autre, parce que son temps ne sera jamais le mien”59. Um tempo outro, a lógica do nome, como lógica da escritura, implica um ver do vestígio que não se coaduna com a representação mimética, antes está ligada a um espaço que não se vê, na noite, que é o próprio nome – “ce théâtre-ci appartient à la nuit parce qu’il met en scène ce qui ne se voit pas, le nom”60. O tempo do amor nunca meu é justamente o espaço do apelo ao outro, seu contratempo, sua visão na qual se é necessário fechar muito bem os olhos e abandonar-se a esse vazio que nos olha. Como interpelação de um mundo, que nunca é em si, para si, o rosto é palavra ético-estética em uma significação que precisa emergir, antes de todo velamento, no acontecimento da linguagem. Pensas aqui em uma in-finição necessária, em um nome a ser dito e a ser dado: sufoco, inspiração. Pucheu propõe, lendo Agamben, que “a inspiração, insufladora do dar-se conta da passagem da poesia enquanto abertura da linguagem, é anterior à Musa, é, na verdade, a condição de possibilidade de sua figuração”61. Reverberam aqui os rastros da figura de uma metaforicidade? Da passagem à disrupção que é proliferada pela retórica? Aquilo que Octavio Paz chamou inspiração na revelação poética parece justo produzir elo entre o rosto e a outridade. No sentido do nome do outro ser domado como duplo 57. Didi-Huberman, Georges. O que vemos, o que nos olha. 2. ed. Trad. Paulo Neves. São Paulo: 34, 2010, p. 31. 58. Derrida, Jacques. L’aphorisme à contretemps. In: Psyché : l’invention de l’autre II. Nouvelle ed. rev. et augm. Paris : Galilée, 2003, p. 133. 59. Ibidem, p. 134. 60. Ibidem, p. 138. 61. Pucheu, Alberto. Giorgio Agamben: poesia, filosofia e crítica. Rio de Janeiro: Beco do Azougue, 2010, p. 108. 33 genitivo: de um lado, o nome que é de sua propriedade, o pertence e o posso chamar, convocar; por outro, o nome que vem da boca do outro, que é um apelo, que me vem como uma chegada ao de longe. Diz Octavio Paz: Lo distintivo del hombre no consiste tanto en ser un ente de palabras cuanto en esta posibilidad que tiene de ser «otro». Y porque puede ser otro es ente de palabras. Ellas son uno de los medios que posee para hacerse otro. Sólo que esta posibilidad poética sólo se realiza si damos el salto mortal, es decir, si efectivamente salimos de nosotros mismos y nos entregamos y perdemos en lo «otro». Ahí, en pleno salto, el hombre, suspendido en el abismo, entre el esto y el aquello, por un instante fulgurante es esto y aquello, lo que fue y lo que será, vida y muerte, en un serse que es un pleno ser, una plenitud presente.62 A “diferença” possível do homem, trazida por Aristóteles e reiterada por Heidegger, como zoon logon ekhon frente ao animal é rebatida nesse fragmento de forma a dar a ele não o estatuto de linguagem, de “ente de palavras”, mas capaz de ficcionalidade, desafio de ser-se outro pelo poema. Ato duplo, ser outro é saltar no abismo e lançar-se no porvir que, aporeticamente, se coloca na palavra poética como presença do outro. Urgente e perigoso é o salto, premeditação do abismo, pois ficto. A palavra serve aqui não como elemento que o dá soberania, ao contrário, a palavra é possibilidade outra no outro. A isso Octavio Paz dá o nome de inspiração, de revelação poética. Em se pensando o outro e sua contraparte inspiradora, vale lembrar o elo complexo entre escritura e hospitalidade, entre o dever de hospitalidade e o dever da escritura. A famosa primeira menção ao texto escrito na textualidade ocidental ocorre ainda na Ilíada, canto VI. Ora, não apenas esse elemento está lá, na história da tentativa de homicídio de Belerofonte, mas também o surgimento de uma figuração absolutamente estranhada, um animal fantasmagórico. Digo da Quimera63, que surge como entremeio fantástico entre homens e deuses. Homero a define como “ἣ δ᾽ ἄρ᾽ ἔην θεῖον γένος οὐδ᾽ ἀνθρώπων”64 [“de inumana, divina estirpe”, na transcriação de Haroldo de Campos]. A inspiração parece ocupar também esse lugar, do tout autre absolutizado, do outro. A Quimera surge quando há a escrita. Quando os signos funestos são estampados a Proito, seu dever de hospitalidade – de hostipitalidade – ativase enviando Belerofonte a morrer na mão da Quimera, do rosto violento do outro. Entre escrita e quimera há, desse modo, perigos e extinções. O que 62. Paz, Octavio. La casa de la presencia: poesía e história. 3. ed. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica, Edición del Autor, 1999, p. 184. [Obras Completas, Tomo I]. 63. Derrida, em L’animal que donc je suis, possui uma leitura bastante intrigante dessa figura horrenda (deinon, é a palavra de Homero) que, vivendo entre a imortalidade e a humanidade, desarticula os princípios de uma soberania. Por isso, não a retomarei aqui. (In: Derrida, Jacques. L’animal que donc je suis (à suivre). In: MALLET, Marie-Louise (dir.). L’animal autobiographique: autour de Jacques Derrida. Paris : Galilée, 1999, p.292-7). 64. Campos, Haroldo de. Ilíada de Homero – vol. 2. Ed. Bilíngue. Trad. Haroldo de Campos. São Paulo: Arx, 2002, c. VI, v. 180, p. 242-3. 34 inspira a voz do outro, como outro, está em uma articulação entre humano e inumano, em uma racionalidade destituída. Tu me falarias de uma lógica do nome como lógica do segredo funesto, da Quimera como extratos de minhas próprias quimeras. Não estou aí. Não sou uma cabra jovem. No entanto, penso ser importante estarmos no χ do quiasma “tanto da ‘ética’ de Lévinas, como da ‘desconstrução’ de Derrida: desta ênfase superlativa, marca ou sintoma da irredutibilidade do tom ou do canto, isto é, do não-semântico, brota a incondicionalidade (para além da condição) e a impossibilidade (para além do possível ou do poderdynamis-possibilitas) que caracterizam estes dois pensamentos”65, como o disse Fernanda Bernardo. O khi de uma história animal, diria talvez, de uma vida dos animais pode assumir um compromisso nomeável entre aquilo que se registra como atividade intimamente humana, propriamente humana, e a completa indiferença de uma resposta – por escrito? – do animal. Há, nessa intensidade, um espaço outro, para além da representação, como pensaram alguns autores que “avessos à ideia de circunscrever os animais aos limites da mera representação, buscaram flagrá-los também fora desses contornos, optando por uma espécie de compromisso afetivo ou de aliança com eles”66. É, por exemplo, o caso da resposta de Elizabeth Costello, esse alter-ego de J. M. Coetzee. Algo que me parece emblemático para se pensar a escritura do animal, a escritura do nome do animal: Not that animals do not care what we feel about them. But when we divert the current of feeling that flows between ourself and the animal into words, we abstract it forever from the animal. Thus the poem is not a gift to its object, as the love poem is. It falls within an entirely human economy in which the animal has no share.67 Há algo no mutum que me permite permanecer nessa aporia. Por isso a escolha, a herança? A lógica de seu nome implica uma não-presença, a disposição de um som calado, assinado. Aquilo que é irrecuperável quando “desviamos para as palavras a corrente do sentimento” está não apenas no próprio nome, no próprio do nome, mas e, sobretudo, na própria condição de extinção desse animal, especificamente dele. Sem abstração, portanto, o 65. Bernardo, Fernanda. Lévinas e Derrida – “um contacto no coração de um quiasma” I. Revista Filosófica de Coimbra. n. 33, 2008, p. 74. 66. Maciel, Maria Esther. O animal escrito: um olhar sobre a zooliteratura contemporânea. São Paulo: Lumme, 2008, p. 19. 67. Coetzee, J. M. The lives of animals. Princeton: Princeton University Press, 1999, p. 51. [Trad.: “Não que os animais não se importem com o que sentimos por eles. Mas quando desviamos para as palavras a corrente de sentimento que flui entre nós e o animal, nós a abstraímos para sempre do animal. Assim, o poema não é um presente para o seu objeto, como o poema de amor. Ele fica dentro de uma economia inteiramente humana, da qual o animal não participa”. In: A vida dos animas. Trad. José Rubens Siqueira. São Paulo: Companhia das Letras, 2002, p. 61]. 35 mutum permanece sobrevoando o ato de nomeação, sua paixão nominal. A “economia humana” da qual fala Costello é, sem dúvidas, um dos elementos para que a personagem se volte tão violentamente contra os abusos dos animais. No entanto, me interessa essa comparação entre o poema como gift (presente, o poema como dom) que nunca chega, que permanece exilado de seu destino. Tendo a considerar o mutum como uma ave sem destino, aliás, há um destino, como veremos mais à frente, com Rosa, que confunde vitalidade, tempo e espaço. A não participação do animal, no fundo, o seu não compartilhamento (animal has no share), parece atiçar a lógica impossível de todo dom, do dom que devo a todo outro. O outro, seja ele transformado, pela inspiração, seja o rosto levinasiano, está implicado em um dar-se da linguagem, pré-original, em um dizer partilhado, que vem do outro e nunca de uma margem de subjetividade. Nesse sentido, o poema seria o lugar privilegiado para tornar escrito o animal, uma vez que reflete a própria impossibilidade de dom, logo, funda aí um ato antes de tudo ético, antes de tudo estético. Estamos, evidentemente, em uma aporia que implica a demanda, sempre produtiva, pela necessidade de tornar escrito o animal. Maria Esther Maciel, analisando o mesmo episódio, propõe: “o poema do jaguar não deixa de ser também sobre o jaguar, um olhar humano sobre o jaguar, por mais que o autor tenha almejado se colocar sob a pele do animal, falar a partir dele. (...) acaba por transformá-lo, inevitavelmente, (...) em um animal escrito”68. Dessa forma, a movência do poeta implicaria sempre transformar em abstração, metaforizar o animal em sua inscrição humana. No entanto, e essa pode ser uma proposta positiva em se fazer pensar a animalidade, é preciso não o imaginar como representificação de uma natureza em-destruição, mas a partir de uma lógica outra, que se apropria da pobreza do mundo para indispor a linguagem frente a si mesmo, diante do aberto. Ex-apropria-se o próprio das construções em palavras para que deixe também dizer o silêncio do animal, que precisa ser escrito e não emudecido. A urgência em se combater a crueldade contra o animal não pode, porém, ofuscar a posição aporética dessa relação, desse lugar em que preciso seguir (e lógico, ser) o animal, ter o direito de seguida, para, em um instante que está implicado o imperativo do outro, possa a linguagem estar “empobrecida” de mundo – em algo que se diria em Heidegger, e contra 68. Maciel, Maria Esther. O animal escrito: um olhar sobre a zooliteratura contemporânea. São Paulo: Lumme, 2008, p. 57. 36 ele, Sprache ist verarmten Welt69 – e, assim, aquém de qualquer referência. Desde esse abandono, Gérard Bensussan propõe a poética aporética da animalidade, desde o lugar desse olhar, desse dom deixado – desistido – em uma meditação enigmática, interjectiva à racionalidade: 69. A ideia de se poder repensar, como fez Derrida em La bête et le souverain, o lugar dos fundamentos metafísicos heideggerianos, sobretudo esse do das Tier ist weltarm, me pareceu implicar uma forma paródica importante em deixar-se claro o dilema da sobrevalorização do Mundo, da presença. O animal que nos olha, em compensação, nos mantém em um enigma, o enigma de seu sem por que e da estadia intangível de onde seu ser animal se dá como “pura e simples presença” desdobrada até nós que o olhamos nos olhar. Provavelmente pouco se pode dizer mais, exceto para cair em uma mania antropomórfica que nunca faz justiça ao enigma animal. Mas ao menos é preciso tentar se manter na extraordinária altura a que nos obriga o enigma, o obstinado que ela impõe à ratio, ao conceito, ao pensamento do dar-se conta, ao logos, ao que desde o olhar animal escapa-se sempre já e antecipadamente em direção ao poético, ao não calculável, à meditação muda, à malícia do incompreensível. Tantos paradoxos, é preciso dizê-lo, ou mais exatamente aporias. A poética da animalidade é uma aporética da animalidade.70 70. Bensussan, Gérard. Jacques Essa aporética envolve uma dupla origem da nomeação, portanto. A lógica do nome como lógica da escritura, pertenceria ao incalculável – a uma economia desastrosa, e não antropomórfica, ameaçada desde o hóspede – de seu segredo e da frustração da semelhança, da similitude rasteira. Sendo dupla, a origem participa por um lado do segredo que “reste inviolable même quando on croit l’avoir révélé”, que “excede le jeu du voilement/dévoilement: dissimulation/révélation, nuit/jour, oubli/anamnèse, terre/ciel”71 e que “reste étranger à la parole, sans même qu’on puisse dire, syntagme distingué”72, implicando não uma resposta imediata, imeditada, mas o direito a uma não-resposta, ao porvir de uma resposta; e por outro lado, da extinção do semelhante, da homoiosis, do tal qual, a dinâmica do ordinário, como jornalcomum, que reconhece apenas semelhanças e pensa em uma linguagem comunicativa que seja explicitamente uma padrão “qual qual e tal talqualetal igual a igual jornaljornada”73, como ironiza Haroldo de Campos. (No palíndromo do mutum, dois uns, o qualquer e não o único, ao centro – quase o tenet de Osman Lins, de seu quadrado mágico-narrativo – esse T, tal qual, esse T intransigente. É preciso reimaginar os anagramas possíveis: mutema, Maria Mutema, o mutum, Mutum, mudo, o um, o dum, tum). Não se trata, Derrida – uma poética da animalidade (sobre o anumano). In: EYBEN, Piero (org.). Demoras na aporia: bordas do pensamento e da literatura. Trad. Piero Eyben. Vinhedo, SP: Horizonte, 2012, p.37. 71. Derrida, Jacques. Passions. Paris : Galilée, 1993, p. 60. 72. Ibidem, p. 62. 73. Campos, Haroldo de. Galáxias. São Paulo: Ex-Libris, 1984. 37 portanto, de uma similitude, antes há uma deriva, suposições de origens, deslocamentos. Ave e extinção, a literatura na dupla origem da nomeação. Onoma, ao que retornas ao zero, ao O. A essa tarefa, apenas a desconstrução, em que, como sugere Derrida: je tente d’expérimenter dans mon corps un tout autre rapport à l’incroyable « chose-qui-n’est-pas ». Ce n’est sans doute pas possible, surtout si on veut en faire autre chose qu’une consolation, un deuil, un nouveau bienêtre, une réconciliation-avec-la-mort, sur laquelle d’ailleurs je ne crache pas. Mais cet impossible quant à « la-chose-qui-n’est-pas » est la seule chose qui finalement m’intéresse. Voilà ce que j’appelle, encore mal, le deuil du deuil. C’est une chose terrible que je n’aime pas mais que je veux aimer. Vous me demandiez ce qui me fait écrire ou parler, voilà. C’est quelque chose comme ça : non pas ce que j’aime mais ce que j’aimerais aimer, et qui me fait courir, ou attendre. Me donne et me retire l’idiome. Et le re-bon.74 Luto do luto, o que faz escrever: tomar o bom, retomá-lo como bem. É preciso sair do idioma. Mais de um língua, e já nenhuma. O que se quer amar, reconciliado, ou mais, perdoado. A diferença faz pensar. Enuncio assim, sem pensar, escrevendo. Seria preciso um lugar a se pensar a natureza e a natureza da phúsis. A palavra está aí, no lugar do rosto, ética e estética da palavra outra. A vinda da linguagem, aquela que é acolhida – toda ela. A palavra é sem ação. O mutum já não mais pia, é extinto. Somam-se os riscos e o acaso, a linguagem dá a si, ofertando o nome, como dom, como impossibilidade. Tratas aqui de uma paixão, que acolhe – é uma cena. Um gesto de herança do um ti ao um: mutum. Ao que te afirmas, nas distâncias. Estive sempre muito afetado com a textualidade, a lei do texto de Guimarães Rosa. Isso, sobretudo, nos poemas que compõem Corpo de baile. E, talvez isso me tenha dado tantos mutuns, a escrever. Rosa diz que Miguilim morava “longe, longe daqui, muito depois da Vereda-do-Frango-d’Água e de outras veredas sem nome ou pouco conhecidas, em ponto remoto, no Mutum.”75 A localidade geográfica ressoa não apenas como espacialidade desses campos gerais que foram a representação do sertão, para Miguilim (um certo Miguilim) é importante ouvir da voz do estrangeiro, de “alguém que já estivera no Mutum”, a sentença “que o Mutum era lugar bonito...”, e que, também guardava o sublime característico do entre morro e 74. Derrida, Jacques. Ja, ou le faux-bonds. In: Points de suspension: entretiens. Choisis et présentés par Elisabeth Weber. Paris: Galilée, 1992, p. 54. 75. Rosa, João Guimarães. Corpo de baile. 2. ed. Ilustr. de Poty. Rio de Janeiro: José Olympio, 1960, p. 7. 38 morro que, para sua mãe, “está tapando mim”, toda experiência com o fora (que será a de seu filho), como se alguém dissesse: “distante de qualquer parte”76. (1) O Mutum é às distâncias, então. Em “Buriti”, Rosa retorna a imagem, agora dual. Primeiramente ele utiliza o pássaro mutum: “Outro barulhinho dourado. Cai fruta podre. Daí, depois muito silêncio, tem um pássaro, que acorda. Mutum.”, ou ainda: “O mutum se acusa. O mutum, crasso.” Depois de um interlúdio com lobos, vem: “O mato do Mutum é um enorme mundo preto, que nasce dos buracões e sobe a serra.”77 Nesse campo, pois trata-se de campo, preto há apenas buracões onde “o silêncio se afunda, afunda – o silêncio se mexe, se faz (...) tanto silêncio no meio dos rumores”78, onde o mutum se espessa, se guarda como anúncio, como despertar. Mutum, dois só sons, que “piam no voo”. O mutum expõe-se, como o ouriço de Derrida, ao perigo, à urgência do coração. (2) O mutum executa um silêncio, deixa-se consistência, em denso. E, por fim, trata-se também de tempo, de um passado, da feitura da infância, mas também de uma experiência futura, experiência da própria escritura: “A meninice é uma quantidade de coisas, sempre muros de pedra sôssa. O Mutum. Assim, entre a meninice e a velhice, tudo se distingue pouco, tudo perto demais. De preto, em alegria, no mato, o mutum dansa de baile.”79 Um luto guardado, preservado do Mutum no mutum que dança, no insípido dessas paredes, há o que decidir-se: o distante de qualquer parte, no de longe, é tudo perto demais, uma alegria. (3) O Mutum tumultua a memória, daquilo que se pode amar, do mutum guardado – mudo – no infinito. Cabe decidir-se. E, pensar a decisão, expô-la à prova infinda. O mutum diz a língua – “nada está menos sob o poder dos homens do que a sua língua”80 – como esse lugar fora, esse empobrecimento necessário. É preciso decidir-se desde o nome, mesmo quando “tanto a decisão da mente, quanto o apetite e a determinação do corpo são, por natureza, coisas simultâneas, ou melhor, são uma só e mesma coisa, que chamamos decisão quando considerada sob o atributo do pensamento e explicada por si mesma”81. É-se livre a decidir? Decides desde o nome. No entanto, “pour nommer, il faut faire le nom. Cela se dit en grec onomatopeia, production, création, poiésie du nom. Comme on le sait, il n’y a jamais dans les langues de véritable onomatopée”82. Digo isso, o mutum. Intentaria confessar algo dessa responsabilidade pelo nome, desse caminho sentencioso no qual me repito. Derrida me dá uma pista, uma senda talvez, no suplemento responsável diante do outro: “Le surcrôit de 76. Ibidem, p. 7. 77. Ibidem, p. 413. 78. Ibidem, p. 412. 79. Ibidem, p. 431. 80. Spinoza, Benedictus de. Ética. Trad. Tomaz Tadeu. Belo Horizonte: Autêntica, 2009, p. 102. 81. Ibidem, p. 103. 82. Nancy, Jean-Luc. Borborygmes. In : MALLET, Marie-Louise (dir.). L’animal autobiographique: autour de Jacques Derrida. Paris: Galilée, 1999, p. 162. 39 responsabilité dont je viens de parler n’autorisera jamais aucun silence. Je repète: la responsabilité est excessive ou n’est pas une responsabilité. Une responsabilité limitée, mesurée, calculable, rationnellement distribuable, c’est déjà le devenirdroit de la morale”83. É preciso decidir-te, dizes com ar quase leve, como uma adição, mas também numa sobrecrença naquilo que vem, agora mesmo, nesse tal que compõe os anagramas, dessa voz que cala, certamente. Então, dirias, talvez, esperando o inesperável: 83. Derrida, Jacques. « Il faut bien manger » ou le calcul du sujet. In: Points de suspension: entretiens. Choisis et présentés par Elisabeth Weber. Paris: Galilée, 1992, p. 300. ― Tudo está mudo. Silentemente paga tuas dívidas com Johannes de Silentio, ou seria antes com a paixão de Silesius? Nicht du bist in dem Orth, der Orth der ist in dir. Não a calar, implicação da palavra lógica, mas convertido ao escrever a mim. Tu, tu escreves ainda agora a mim. Esta voz estancada, tomada, posta à escuta, em silêncio. O mutum extinto. Brasília, 14 de fevereiro de 2013. 40 uma ética do indecidível Gérard Bensussan 41 uma ética do indecidível Gérard Bensussan1 -Nacionalidade ? -Variável ! « Roma não está em Roma, ela está toda onde eu estou ». « Minha cabeça está no espaço, mas o espaço inteiro em minha cabeça ». Essas duas proposições, bem conhecidas, a primeira de Corneille, a segunda de Schopenhauer – às quais poderíamos indefinidamente acrescentar outras – abrem perspectivas perfeitamente desconjuntadas e seus registros são tão disparatados que seria evidentemente cômico querer as reunir segundo um sentido, segundo uma significação pertinente. Sua associação visa, todavia, e apesar de tudo, à produção ou à sugestão de um efeito de desencaixe, isto é, a uma indecidibilização de toda situação ou localização homogêneas. Como decidir do lugar? E como localizar ou circunscrever uma decisão? E quem decidirá da decisão? Onde é o lugar, onde está a decisão? Qual estatuto conceder ao lugar que se faz lugar aqui, lá, alhures? A indecidibilidade desloca enquanto é ela mesma uma autodivisão contínua, isto é, enquanto não se decide, salvo para se programar ou performar-se. No que diz respeito a isso, e contra um certo uso linguageiro derridiano, ela não desenha nenhuma lei nem se constrói em teorema, ela não inaugura nenhum tipo de axiologia ou axiotopologia. Ela dessitua e desregra. 1 Professor de filosofia da Université Marc Bloch – Strasbourg II. 42 Um lugar sem (aí) ser Diremos então, para começar, que o indecidível consiste em não co-locar2. Não sobre o modo de uma simples negatividade que tomaria o avesso do co-locar ou do dar-lugar para indicar a via dialética do Lugar de todos os lugares. Mas segundo a operação de uma entreabertura, de um entredistanciamento. A porta do indecidível não estará jamais aberta ou fechada. Nem cerrada nem escancarada, ela desafia a prescrição convencional (« não é necessário senão uma porta... ») e assim desenha, apesar de tudo, alguma coisa como um lugar que não se dá nem se faz. « Alguma coisa como um lugar » não é fácil de figurar ou sugerir. Eu diria, sonhando aqui muito precisamente com Heidegger, que o indecidível abre um lugar sem ser, um lugar sem (aí) ser ou, em todo caso, sem poder aí deter-se como em um só lugar. Em um texto de 1951, Construir, Habitar, Pensar, o autor de Sein und Zeit propôs uma meditação profunda do ser do Lugar. Aí ele determina o Lugar como « o que não existe antes » de sua colocação na posição ou no espaço pelo que aí se constrói3. Como escreve Heidegger, o Lugar não devém um Lugar senão « graças à ponte », para retomar um exemplo recorrente desse texto. O espaço não é o que faz face aos homens como um objeto exterior, e não é mais uma experiência interior que seria da ordem da representação. Conviria, pelo contrário, reportar-lhe a essência ao que o limita e o organiza, a isso que abole « o espaço a si parecido, quer se acresça ou se negue » (Mallarmé) para fazer « um » espaço « colocado » (verstattet) por um lugar que aí dispõe os confins. O lugar confere então seu ser, ou sua reunião « quadripartite », aos espaços que nós habitamos. Ele é sempre um lugar-sede. Por outro lado, o lugar do indecidível é certamente um não-lugar, um lugar sem comandante, sem cauda nem cabeça. O indecidível decapita o lugar de seu ser, porque dele destitui a essência localizável, decidível, e nele dissemina a citação4 a sua aumentação interminável. De alguma maneira, o indecidível tem portanto « a ver » com o lugar. Mas de qual lugar pode tratar-se? E por que esse ter-a-ver, de que maneira e sobre qual modo? É a decisão que vem aqui cindir. O indecidível, com efeito, não é tal senão em « seus lugares », mais de um lugar, sempre, e os ditos lugares são os lugares mesmos da decisão, ou os lugares de seu não-lugar, de alguma maneira. O indecidível nomeia então, fora de toda figura, o que se faz lugar entre os lugares. 2 O autor joga com as expressões ‘faire lieu’ e ‘donner lieu’. Embora ambas possam ser traduzidas por ‘dar lugar’ no português, optou-se pelo neologismo e hifenização do verbo ‘colocar’, de modo a assinalar a diferença entre as duas expressões. (N. do T.) 3. Essais et conférences, Gallimard, p. 182-3, trad. A. Préau . 4. O autor faz um jogo com o termo ‘assignation’, que em francês quer dizer tanto citação (no sentido jurídico) quanto hipoteca (no sentido de uma garantia jurídica, igualmente, constituída ela mesma por um lugar). 43 Na trajetória derridiana, o indecidível obtém e retira seus problemas de uma travessia e de uma meditação do espaço da verdade de uma escritura. Que baste aqui reenviar ao pharmakon, ao hymen ou, ainda, e melhor ainda, à flutuação. Um traço de indecidibilidade se marca e se remarca na operação poética mallarmaica segundo a leitura que desenvolve « La double séance »5. Esse traço subtrai. Ele inaugura uma condição e uma possibilidade: subtrairse à pertinência e à autoridade da verdade, aí onde a filosofia, e para além dela toda sorte de escrituras, não autorizariam o acolhimento de semelhante subtração. Trata-se, portanto, também de fazer lugar a esse não-lugar da filosofia, mas não revertendo a verdade ou invertendo os signos, nem dandolhe lugar em uma nova escritura ou em novos « valores ». Fazer lugar a esse não-lugar consistirá em deslocar o rastro da escritura de tal maneira que aí se inicie um « des-encaixe »6, e em primeiro « lugar » um desencaixe do sentido. « Enquanto depende deles, enquanto neles se dobra, o texto [mallarmaico] joga então uma dupla cena. Ele opera em dois lugares absolutamente diferentes, mesmo que eles não sejam separados senão por um véu, a uma só vez atravessado e não atravessado, entreaberto »7. Essa dupla cena, ou essa « estrutura bífide »8, é dita e longamente descrita por Derrida como « dois sem um »9. Esta matriz, por assim dizer, do doissem-um significa fortemente a intenção expressamente antidialética aberta pela possibilidade de proposições indecidíveis. Aqui uma grande sutileza é requerida, pois se trata, com efeito, de esboçar proposições a que o idioma metafísico não pode ar lugar e que não terão posição senão acontecimental, como configurações inadmissíveis e singulares. A manobra antiespeculativa é tão sutil que ela deve passar por uma « dialética imitada »10 sobre a qual é capital não se equivocar. Com efeito, a estrutura de hymen e a lógica da suplementaridade que ela vai introduzir parecem elas mesmas constantemente levadas pela passagem decidida, decisiva, a um ultrapassamento. Elas evocam ultra-passagem de uma na outra, de uma nas duas, a qual reconstituiria, sem falhar, uma unidade de verdade na contradição dialética e sublimaria o dois do dois-sem-um em um um-com-dois, assegurando assim a « felicidade » especulativa do indecidível, de um indecidível que houvesse cedido à tentação dialética do decidível nela houvesse se efetuado. Derrida é muito claro sobre esse ponto: « é necessário sustentar a crítica sobre o conceito de Aufhebung ou relève que, como motor último de toda dialeticidade, permanece o 5. La dissémination, Seuil, 1972, p. 215-347. 6. Ibid., p. 238 7. Ibid., p. 273. 8. Genèses, généalogies, genres et le génie. Les secrets de l’archive, Paris, Galilée, 2003, p. 43 – esta estrutura bífide caracterizaria a forma literária enquanto, para ela, “seu segredo é ainda melhor selado e indecidível quando não consiste, em última análise, em um conteúdo oculto, mas em uma estrutura bífida que pode guardar em reserva indecidível isso mesmo que ela confessa, mostra, manifesta, exibe, expõe indefinidamente.” 9. La dissémination, ed. cit., p. 334 – grifo meu. 10. Ibid., p. 282. 44 recobrimento o mais sedutor, o mais « relevante », porque o mais semelhante a esta gráfica [aquela da suplementaridade e do hímem]. É por isso que pareceu necessário designar a Aufhebung como a meta decisiva. »11 Não mais do que um lugar-sede (Heidegger), o lugar fora-de-lugar do indecidível não é um lugar de passagem (Hegel). Ele não garante nem trânsito nem transação entre dois espaços releváveis em um lugar dialeticamente habitável. O desencaixe que ele efetua é uma dis-tensão, isto é, uma temporalização da temporalidade da hesitação, do suspenso, da interrupção, da oscilação. Esse tempo é passividade, afecção, destituição – do decidível pelo indecidível. Por ele indica-se o que vem desassegurar todo domínio, que é sempre domínio do tempo e da presença, empresa sobre um porvir decidido ou a decidir. Mas esse tempo « bífido » emprega também uma tomada, o vencimento de uma tomada de decisão, antes mesmo que ela o seja, antes de toda significação. Eu diria do indecidível que ele é o tempo da decisão. Nela ele dis-põe, em todo caso, o quase-transcendental como busca, como « espera sem desígnio em vista », para retomar uma sentença de Levinas a propósito do tempo, justamente. Portanto ele desfaz, evidentemente, toda possibilidade de sentido como pressuposição, como disponibilidade, como reserva preliminar, quer como aquilo de que se pode assegurar-se antes mesmo de possuir algo a resolver ou a decidir. Não há indecidível senão do sentido e não há decisão senão sobre o sentido e no tempo: o desencaixe não pode ocorrer senão como deslocamento em direção a um certo in-sensato ou ainda como temporização do tempo da decisão indecidível. Dito de outra forma, o indecidível se deporta de uma só vez para além ou para aquém de todo saber decisional ou de toda organização sensata da solução, da resolução, da boa decisão. Podese sem hesitar determinar esses usos como éticos ou prático-éticos. Sempre tenho que decidir sobre o que não sei, no elemento mesmo de um não-saber ou de um não-sentido, no balanço angustiado entre as escolhas igualmente decidíveis (ou indecidíveis, pois). Toda decisão se toma, ou ela toma aquele que a « toma », em uma temporalidade do abandono, isto é, em um abismo de indecidibilidade. De outro modo, Derrida o assinalou forte e frequentemente, a decisão aí não é uma. Se ela sabe já o que tem a fazer, ela não faz senão preceder a ela mesma até seu topos, sua possibilidade sempre-já atualizada. Ela obedece portanto a um sempre mais-de-um (ou de uma) ou a um entreos-dois. 11. Ibid., p. 303-4. 45 Flutuação Desse sintagma maior do indecidível, a flutuação de « La double séance » oferece algo como um quase-conceito, radicalmente concorrente da relève: « flutuação entre os textos : a flutuação, suspenso aéreo do véu, da gaze ou do gás...evolui segundo o hymen. Cada vez que ela aparece, a palavra flutuação sugere a sugestão mallarmaica, desvela com dificuldade, muito próxima de desaparecer, a indecisão do que permanece suspenso, nem isso nem aquilo, entre aqui e lá... Entre os dois, confusão e distinção... A hesitação de um « véu », de um « voo », de um « obstáculo » » 12. Esta indecisão, em não se decidindo, impede a decisão em sua indeterminação inata e a engaja no que ela tem de incalculável. Ela forma em última instância uma ética que se poderia nomear uma ética da flutuação. É necessário guardar-se de entender demasiado apressadamente a expressão em um mau sentido, como o mau flutuar do eterno indeciso ou a infeliz indecisão do fraco. Em jogo sobre sua dupla cena dividida sem remédio, « sem um », implicado em sua estrutura bífida e adialética, o indecidível atribui e expõe a decisão e a responsabilidade às oposições, às distinções, às fronteiras, aos cortes « entre os dois » (conceitos, territórios, línguas...). A ética da flutuação não se deixa aproximar senão como truque da ubiquidade e, para dizer tudo, marranismo. Poder-se-ia determinar elipticamente o marranismo como jogo ético do indecidível e do impartilhável, oculto sob a moral exibida de uma decisão publicamente partilhada. A ética marrana da flutuação é o mercúrio prático-moral ao uso daqueles que se mantém alhures, os exilados do lugar-uno, os tenentes do mais de um lugar. Ela é, pois, sob certos aspectos, uma ética dos dominados – menos em um sentido político imediato que a prenderia em uma oposição termo a termo dos dominados e dos dominantes, que em uma figura que Derrida nomeia em algum lugar, em uma conversa, « estratégia do vivente », ou ainda « estratégia do desejo ». Se se pode dizê-lo assim, a máxima aí seria: « você não me pegará! », em todo caso não aí onde eu teria podido me reunir todo em um, e não de imediato, pois, divisível, eu voo, eu velo e eu salto13. O desencaixe que se pode daqui em diante qualificar de marrano produz um diferimento, um distanciamento ético. O indecidível contém um recurso, 12. Ibid., p. 292-3. 13. O autor faz aqui um jogo com os verbos: je vole, je voile e je voltige, dificilmente preservada em português. (N. do T.) 46 uma reserva, uma guarda, mas também um risco sem mesura, uma extrema exposição, esses se entre-implicando por aquelas. A morte pode sempre deterse no encontro de uma decisão que resolveria para um contra o outro desejo, mesmo para um no outro, para o um do dois, como na dialética do mestre e do escravo. Mas ela bem pode também encarnar-se, retorcida e inesperada, na quase-desaparição do lugar realizada pela indecisão suspensiva do « nem isso nem aquilo ». Aconteceu que Derrida relaciona expressamente a lógica da flutuação ética e da suplementarização desconstrutiva a um biografema preciso, a experiência de uma francesidade indecidível, de uma nacionalidade flutuante, outorgada e retomada, concedida e ameaçada: « os Judeus da Argélia de minha geração [os quais] não eram, de mil maneiras, indecidivelmente, nem franceses nem não-franceses »14. Eu me permito aqui adicionar ou incluir o seguinte: após a guerra, e uma vez reestabelecido o decreto Crémieux, que lhe restituía seus direitos civis de Francês, Léon Bensussan, meu tio, um desses Judeus da Argélia da geração de Derrida, respondia a um funcionário que lhe questionava qual era sua « nacionalidade »: « variável ! ». Indecidível, portanto, ou ainda: mais de uma, isto é: não tenho senão uma e não é a minha! A ética dos dominados, como ética marrana, irônica, impaciente, certamente diz respeito a uma certa recusa, mesmo à língua e seus retornos, de dar crédito a resultados obrigatórios e institucionalmente enquadrados, tais como são propostos às pertencenças exclusivas, às escolhas, às alternativas entre os conceitos, os opostos contraditórios, às figuras ou mesmo às dobras internas às figuras. Assim, não é necessário « escolher seu campo » e seu sedentarismo. Isso seria, em menos de dois, renunciar. Seria necessário, pelo contrário, atravessar a khôra, o que abre o lugar, todos os lugares, e faz nascer ao acontecimento de uma decisão. O « nem isso nem aquilo » não significa o abandono resignado dos dois – é o inverso. Importa que se tenha fortemente o esse e o aquele na curvatura mesma da decisão indecidível, mais precisamente confiar-se a ambos, às suas instâncias decisivas. 14. « Abraham, l’autre ». In: Judéités, dir. J.Cohen et R.ZaguryOrly, Galilée, 2003, p. 28. O tempo do outro: venha, me ame 47 Conformar-se da decisão, sem poder decidi-la ou mesmo decidir quanto a decidir sem confiar em quem quer que seja – entre o indecidível, por onde o lugar do cortar se desloca, e a decisão combinada, programada e calculada nos efeitos que espera, se insinua nada menos que o outro, o outro da vontade autônoma, o outro donde fulgura o que há lugar de decidir. Se o indecidível é o tempo da decisão, esse tempo é sempre o tempo de um outro. Esta restituição da decisão no indecidível do tempo de um outro não significa, novamente, um consentimento inerte a minha própria despossessão e ao confisco de minha potência de agir – como se pura, simplesmente e de uma ponta à outra, eu deixasse fazer o outro em « preferindo não »15 decidir. O indecidível emprega uma configuração bem diferente, uma vez que se mantém, foi dito, nos lugares mesmos da decisão e de seu desencaixe. Eu faço, eu ajo, me mantenho sempre à borda do decidir e nele me sustento tão longe quanto posso. E, no entanto, eu « sei » que nada o fará : « minha » decisão obedece a coisa totalmente outra que a minha liberdade, minha capacidade de iniciativa, minha consciência antecipante – salvo se limitar-se, Derrida aí insiste sem cessar, a um programa ou a um projeto, os quais serão eles mesmos incessantemente frustrados, pelos azares do outro e pelas imprevisibilidades do tempo, pelo resto estritamente indecidível de toda decisão. Decidir, ter a decidir, é deter-se diante do outro, fazer com o outro, como se diz. O indecidível é sempre já tomado por esse fazer-com. Uma decisão desligada desse com seria uma decisão « frágil » e já comprometida, já decidida à contra-corrente dela mesma. Os acessos indecidíveis da decisão, o que a bordeja antes dela e depois dela, podem ser aproximados em uma certa língua messiânica, ou, muito mais precisamente, nos clarões messiânicos que toda palavra falada manifesta em sua força cotidiana. 15. O autor faz aqui um jogo com os verbos: je vole, je voile e je voltige, dificilmente preservada em português. (N. do T.) « Venha » é uma dessas explosões da língua das quais Derrida aplicouse a fornecer uma análise « subtrativa », tanto quanto semelhante sintagma seria de uma só vez subtraído à ordem que o porta, à língua que o proíbe e o autoriza de uma só vez. Eu aí ajuntaria a analítica rosenzweigiana do « Ameme », que atesta uma proximidade acentuada e mesmo uma profunda afinidade « estelar » com o comentário derridiano. Esses dois curiosos imperativos presentes na segunda pessoa do singular, « venha », « ame-me », impõem uma 48 aparente impossibilidade em um requerimento no entanto muito simples : a língua lhes é inóspita e ela é no entanto o que os acolhe. Eles formam a instância de um chamado que eu apreendo dizendo a tal outro para « vir » ou para me « amar ». Eu « decido » dizer, e dizer imperiosamente, porque não posso fazer de outra forma, não posso dizer numa não-língua. É-me necessário dizer na língua do outro, na outra língua que eu jamais falarei. Tudo nesse dizer é portanto radicalmente golpeado de indecisão ou de indecidível : a vinda, o amor, o vindouro e o amado a que me remeto. O dizer, aqui, não tem outro sentido senão o indecidível ao qual ele se expõe. Escutemos as duas vozes tão próximas e tão díspares a um só tempo, de Derrida, e então de Rosenzweig. « Venha não é uma modificação de vir […] Por consequência minha « hipótese » não designa mais uma operação lógica ou científica. Ela descreve sobretudo o avanço insólito de venha sobre vir. É um passo a mais ou a menos sob vir. É subtrair alguma coisa em toda posição, tal como ela se propaga e recita através dos modos do vir ou da vinda, por exemplo, o porvir, o acontecimento, o advento, etc., mas também através de todos os tempos e modos verbais do ir-e-vir. Venha não dá uma ordem, ele não procede aqui de nenhuma autoridade, de lei nenhuma, de nenhuma hierarquia […] Uma « palavra », deixando inteiramente de ser uma palavra, desobedece à prescrição gramatical ou linguística, ou semântica, que lhe determinariam ser – aqui – imperativo, presente, a tal pessoa, etc. Eis uma escritura, a mais arriscada que seja, subtraindo alguma coisa à ordem da linguagem que ela aí dobra em retorno com um rigor muito suave e inflexível […] Venha não é um imperativo, não é um presente. Não sê-lo, eis o que o que não lhe confere uma sorte de selvageria não linguística deixando o acontecimento venha em liberdade. Isso insiste, pelo contrário, na língua de maneira singular, inquietando todas as seguranças linguísticas, gramaticais, semânticas. Venha não dá uma ordem no presente a uma pessoa »16. 16. Parages, Galilée, 1986, p. 256. Não dou conta alguma aqui da referência blanchotiana da sentença. « O amor não é somente livre oferenda? E eis que se o comanda? Sim, certamente, não se pode comandar o amor; nenhum terceiro pode comandá-lo nem obtê-lo pela força. Nenhum terceiro o pode, mas o único o pode. O comando do amor não pode vir senão da boca do amante. Somente aquele que ama pode dizer: Ame-me […] O amor daquele que ama não possui outra palavra para expressar-se senão o comando […] O comando 49 no imperativo, o comando imediato, jorrado do instante e já em vistas de devir sonoro no instante de seu jorrar – pois devir sonoro e jorrar são uma e mesma coisa no amor –, o « ame-me » do amante, eis a perfeitamente pura linguagem do amor. Então quando o indicativo tem detrás de si todas as circunstâncias que fundaram a objetividade e o passado aparece como a forma a mais pura, o comando é um presente absolutamente puro, sem nada que o prepare. E não somente sem nada que o prepare, mas absolutamente sem premeditação. O imperativo do comando não faz previsão nenhuma para o porvir; ele não pode imaginar senão a imediatez da obediência. Se ele fosse pensar em um porvir ou um « sempre », não seria em nada um comando, não seria uma ordem, mas uma lei ».17 Apesar das oscilações muito significativas quanto ao uso de alguns termos, « comandar », « presente », « pessoa », que se poderia facilmente explicar sem apaga-las nem força-las, essas duas meditações engajam-se, cada uma à sua maneira, sobre a estreita passagem do acontecimento de uma palavra viva, urgente e impossível, arrancando-se à ordem da língua. É em virtude desta potência de arrancamento da palavra de sua « ordem », de uma palavra à distância dela mesma, distanciada dela mesma, que pode-se aqui (« aqui », como insiste Derrida) evocar a messianidade da injunção indecisa, carregada pelo instante e absolutamente não premeditada. A « subtração » para Derrida ou o « devir-sonoro » para Rosenzweig são modos ou exercícios de palavra em direção ao outro por onde o indecidível (« o avanço do venha sobre vir » o qual, como « ame-me », não faria « previsão nenhuma para o porvir ») abre fora-da-lei à resposta do outro. Este é de fato o decisor do indecidível, atando o tempo e a espera, o incerto e o iminente. 17. Franz Rosenzweig, L’étoile de la Rédemption, trad. Derczanski / Schlegel, Paris, 2. ed., Seuil, 2003, p. 251-2. Acrescento que Derrida aventa, ele mesmo, a possibilidade de que as duas sentenças sejam assim justapostas, quando afirma, repetidamente, “eu amo sempre o que eu amei”. 1. O indecidível é o tempo da decisão (dizer: « venha », « ameme »). 2. Esse tempo indecidível é o tempo de um outro (a quem eu digo : « venha », « ame-me »). 3. Esse outro ordena algo como uma esperança (de que isso venha e de que isso ame, logo em seguida). 50 Esta tripla articulação permite compreender melhor ou melhor determinar a ética da flutuação ou a ética dos dominados/marranos que colocou-se em questão. Para dizer a coisa mesma, uma certa messianicidade sem messianismo é muito profundamente implicada em uma possível ética do indecidível, para além mesmo de seus esperados derridianos estritos. É necessário precisar de uma vez o conteúdo da esperança no que ele se aglomera ao tempo e ao outro no indecidível – não a esperança em geral, portanto, mas a esperança pelo indecidível ou esperança enquanto ela comanda toda decisão vivente. Esperar pelo indecidível Não se espera senão pelo que está em tensão no instante mesmo em que o esperar se estabelece, de uma vinda, de um amor. Dito de outro modo, não se espera pelas coisas longínquas – ou então trata-se de uma esperança que constitui o esquema pelo qual se imagina o porvir e se dá seu conceito. Espera-se portanto pelo que é muito próximo, seja o mais incalculável, o mais não-pré-determinável, o mais im-pré-pensável, pelo que está o mais carregado de espera e de inquietude, no instante. De um lado « venha, ame-me » não pode dizer-se senão a partir de uma vinda já vinda, um amor já aí – não se poderia endereçar-se a quem se apresenta, que não entenderia, nesse sentido, nem o vir, nem o amar, nem a imperiosa injunção. É bem necessário que alguma coisa dessa espera esteja já contida no endereçamento que dela jorra para que ela possa somente proferir-se. Mas, por outro lado e ao mesmo tempo, esta atualização prévia não efetua nenhuma reatualização automática, ela não é nem tem garantia de nada. Pelo contrário, ela exacerba a questão de sua renovação indecidível, ela exige que eu não saiba decidir, isso de que não há lugar para mim « decidir », que é requerido e improvável a um só tempo. O esperar condensa assim o mais próximo e o mais indecidível em uma intensidade temporal inaudita. Aí, logo em seguida, isso acontece, isso vai acontecer; mas o acontecimento, 51 colocando-se assim na espera imediata dele mesmo, se suspende em sua irresolução de cada instante : venha, ame-me. Assim aproximado em sua condensação instantânea, o esperar se encontra descarregado de todos os cálculos, de todos os investimentos de sentido e de todas as determinações racionalizantes que o sobremarcam tão logo ele lide com as coisas distantes. Ele poderia então escapar muito bem tanto de sua constante depreciação pela filosofia e pelos filósofos quanto de sua redução concomitante a uma virtude teológica, religiosa ou laica. A decisão ela mesma poderia ser o objeto de uma distribuição inédita. Não se « decide » senão pelas coisas longínquas, na ilusão do programa e da empresa. Quanto mais o objeto da decisão de aproxima do instante do cortar, até confundir-se em um indecidível-im-prépensável, mais a decisão dá lugar a um confiar-se à tensão insigne do tempo e ao esperar de uma de-tensão. É esse movimento de um dizer ininvestível pela espera e atencipação que atesta o modo gramatical do imperativo da segunda pessoa do singular, o único que possa manifestar uma ordem sem ordem, um endereçar sem espera, uma afirmação e uma positividade sem dialética e sem processo preventivo. Há no indecidível uma aquiescência plena ao dois-sem-um – de que foi dito que não se acomodava nem com uma resignação a um dos dois, nem autorizava um ultrapassamento especulativo dos dois no um, nem renunciava a agir e a decidir. Uma « razão », no sentido em que Pascal podia escrever que trabalhar « pelo incerto » era o único fazer razoável, o único fazer « para amanhã » – uma « razão », portanto, joga indecidivelmente contra as racionalidades da decisão amadurecida e refletida: « Quantas coisas faz-se pelo incerto, as viagens sobre o mar, as batalhas! Pois eu digo que não seria necessário nada fazer do todo, pois nada é certo... Quando se trabalha para 52 o amanhã e para o incerto, age-se com razão »18. A afirmatividade essencial19 do indecidível e a gloriosa incerteza que o acompanha permitem que se possa a ela associar o esperar pelo iminente, o quase-já-lá, o impossível. Elas obrigam mesmo a se colocar ao lado desta esperança e a tentar pensar uma ética desse esperar, flutuante, marrana e messiânica, votada à injunção indecidível do outro, vinda dele e a ele endereçada. 18. Pensées (452/130), Œuvres complètes, Pléiade, p. 1216. 19. Reenvio o leitor, se posso, a “Oui, la survie... Note sur le carré affirmatif de la déconstruction”. In: Rue Descartes, “Pensar com Jacques Derrida”, dir. J. Cohen, n° 52, Paris, 2006. (tradução de Daniel Barbosa Cardoso) 53 a virada literária Nicholas Royle 54 a virada literária Nicholas Royle1 O morcego é sombrio, com enrugadas asas – Como abandonado artigo – Emily Dickinson 2 2. No original, The Bat is dun, with wrinkled Wings – Like fallow article – (N. da T.) Girar sobre ou parafusar para ajustar; causar uma virada ou giro. (entre as acepções em inglês para Desviar)3 3. No original, To Turn about or screw in order to adjust; to cause to revolve or whirl. Obs. (OED, ver v. 2, sentido 7) (N. da T.) Você não está lá. Você se desvia por sobre uma dobra na pintura que afinal iria te notificar a partitura que interpreta numa peça de teatro que se atuava a si mesma antes que você nascesse e canta imperceptivelmente em seu corpo como um morcego. É o fragmento de música que tentava ouvir, música como um construto da arquitetura. “Escrevendo numa era pós-derridiana”?4 * Tantas as viradas5 que você suspira. A virada linguística, a política, a ética e tantas mais e etc., suficiente para te fazer virar no túmulo, prematuramente, você pensa, sem necessidade de outrem, especialmente não uma virada literária, só pode ser brincadeira, você pensa. Você sempre considerou a frase “a virada linguística” como um tipo de piada, de alguma forma um gesto cômico e, ao mesmo tempo, enganoso, que aparentemente pretende se referir a uma nova tentativa à importância da linguagem no pensamento, na filosofia e na cultura de maneira geral, como se houvesse algo antes da virada, como se isso confirmasse que há escritos (os de Shakespeare, por exemplo) que não tiveram uma virada e já estavam virados desde o começo, como se as palavras “virada linguística” pudessem ser escritas, lidas, Professor de English, Centre for Literature and Philosophy da University of Sussex. O texto “The Literary turn” apareceu primeiramente em Veering – A Theory of Literature. Edinburg: Edinburg University Press, 2011, p. 92-118. A autorização dessa tradução foi concedida pelo próprio autor. 1 4. “A Virada Literária” nasceu (numa forma mais condensada) como uma aula na conferência intitulada “Escrevendo numa era Pós-derridiana”, na Universidade de Vaxjo na Suécia, em Outubro de 2008. Eu gostaria de registrar meus agradecimentos a Vasilis Papageorgiou por inicialmente ter-me convidado a lecionar este tópico. 5. Ao longo do texto, a palavra turn se repete em vários lugares, começando pelo título. A principal referência se dá em torno de The Turn of the Screw, de Henry James, que no Brasil foi traduzido por A outra volta do parafuso. Como o título do livro se refere a uma fala da personagem, traduzir turn por volta parece o mais apropriado. No entanto, em relação à referência de literary turn, a tradução que se impõe para o termo turn é virada. Durante o texto, optei por traduzir por volta ou virada conforme fosse mais adequado. Nos lugares em que turn ganha um complemento que altera seu sentido e em que não há palavra correspondente no português capaz de manter a relação com turn (volta/virada), a palavra ganha uma nota de rodapé para que o original seja marcado no texto, dando a ver os jogos em torno da palavra turn. (N. da T.) 55 faladas ou pensadas sem a necessidade de registrar ou tentar reconhecer a lógica metalinguística ali escrita. Para pontuar rapidamente, a frase “virada linguística” não pode simplesmente estar fora ou à parte da virada a que ela se refere? Sua singularidade (conceitual e histórica) precisaria se relacionar com a forma com que aquilo se engaja ao que Heidegger, Lacan e outros se referem como a impossibilidade da metalinguagem. Em resumo, é sobre o que Jacques Derrida está falando quando ele evoca a necessidade de uma “metalinguística radical, que, no entanto, se integre consigo mesma, em seu próprio cais, a impossibilidade da metalinguagem”6. Com essa metalinguística radical, a virada literária já terá começado. Mas você segura um riso, ou pelo menos um sorriso, bem como da forma com que Derrida, pensador do rastro, de uma não-alfabética, nãolinearizada escritura, de uma não-antropocêntrica concepção da linguagem, transportador marrano da desconstrução como “o que acontece” ou “o que chega”, tão rápido e tão seguramente veio a ser chamado de “filósofo linguístico”. Quão ridículas as pessoas podem ser, você pensa consigo mesmo, por que elas não tentam ler algo que ele escreveu ou disse, por exemplo, na discussão publicada em “I Have a Taste for The Secret”, em 1994, em que, de maneira retrospectiva, ele enfatiza que a desconstrução era sobre “colocar em questão a autoridade da linguística”, era, precisamente, “um protesto contra a ‘virada linguística’”. Algumas pessoas interpretaram sua elaboração do rastro “como um pensamento da linguagem” ao passo que “é exatamente o oposto”, ele disse. Não o entendam mal, linguagem e retórica “merecem enorme consideração”, ele salienta, “mas há um lugar em que a autoridade da jurisdição final não é nem retórica, nem linguística, nem discursiva. A noção do rastro ou de texto [ou de ‘escritura’, na elaboração que faz Derrida] é introduzida para marcar os limites da virada linguística7”. Você viu por que as pessoas falavam, especialmente nos anos noventa, sobre uma virada ética ou política na obra de Derrida (associada em particular com o ensaio de 1989, Força de Lei, O outro cabo, em 1991, Espectros de Marx, em 1993 e Políticas da Amizade, em 1994) e na chamada “teoria” em geral, a virada de uma está crucialmente ligada à virada de outra, ainda que tenha boas razões para não ser levado por tais generalidades, necessariamente atento à forma com que o trabalho de Derrida se engajou em questões políticas e 6. Jacques Derrida, ‘Some Statements and Truisms about Neo-Logisms, Newisms, Postisms, Parasitisms, and other Small Seismisms’, trans. Anne Tomiche, in David Carroll (ed.), The States of ‘Theory’: History, Art and Critical Discourse. New York: Columbia University Press, 1990, p. 76. 7. Jacques Derrida, ‘I Have a Taste for the Secret’, Jacques Derrida em conversa com Maurizio Ferraris e Giorgio Vattimo, in Derrida and Ferraris, A Taste for the Secret. Trad. Giacomo Donis. Cambridge: Polity, 2001, p. 76. 56 éticas, em uma politização dos conceitos em geral, no questionamento de todas as formas de etnocentrismo e em uma nova e catastrófica versão da diferença, desde o princípio. Você assume que um argumento similar e uma demonstração poderiam prontamente ser previstas em outras viradas direta ou indiretamente associadas ao trabalho de Derrida, tais como a “virada performativa”, a “virada pictórica” e a “virada animal”. A noção de uma virada literária, por outro lado, poderia soar implausível de outra forma. Não temos testemunhado, durante os últimos vinte anos ou, ainda, participado do encorajar, ou do causar, o desaparecimento dos estudos literários, o declínio ou até mesmo a morte da própria literatura? Como J. Hillis Miller sugere, no começo do seu livro On Literature (2002): “O fim da literatura está próximo. O tempo da literatura já está quase no fim”.8 E vai esclarecer essa ideia fazendo referência ao que está acontecendo nas universidades: Um dos sintomas mais fortes da iminente morte da literatura é a forma com que os novos membros da faculdade, nos departamentos de literatura por todo o mundo, estão se debandando9 dos estudos literários para a teoria, os estudos culturais, pós-coloniais, estudos de mídia (filme, televisão, etc.), estudos de cultura popular, estudos feministas, afro-americanos e assim por diante. Eles comumente escrevem e ensinam de uma forma que se aproxima mais das ciências sociais que da forma tradicional em que se concebe as humanidades. Seus escritos e aulas frequentemente marginalizam ou ignoram a literatura. Isso é assim ainda que a muitos deles tenham sido ensinadas a história literária e a leitura minuciosa de textos canônicos à maneira antiga. (10) Você poderia facilmente ser pego na imagem da virada que Miller evoca: as pessoas estão se debandando dos estudos literários.10 Parece que qualquer virada literária teria que provocar um retirar-se11 do literário. O enunciado de Miller sobre o declínio dos estudos literários quase parece controverso. Na verdade, na Inglaterra há poucos “departamentos de literatura” ao todo: “literatura” saiu da maioria das divisões departamentais há algum tempo. Todos os instrumentos concordam (como na frase de W. Auden), e especialmente todos aqueles instrumentos tecnológicos que há muito 8. J. Hillis Miller, On Literature. London: Routledge, 2002, p. 1. Mais referências de página para o livro de Miller aparecem entre parênteses no texto. 9. No original, turn in droves (N. da T.) 10. O idioma de Miller é bastante familiar, embora o Dicionário Oxford de Inglês (sigla em inglês OED) não faça referência a isso e não tenha uma entrada separada para “rebanhos” no plural. O dicionário cita, porém, um exemplo do plural de Nathaniel Hawthorne, que escreve (nos seus Diários em francês e Italiano em 1857): “Um fantasma em cada recinto e rebanhos deles em alguns dos recintos.” A fantasmaticidade de “turning in droves” talvez seja adequada. 11. No original, turning away (N. da T.) 57 deixaram de ser (se é que eles foram um dia) instrumentos, mas se infiltraram e se enredaram na própria textura do nosso ser, todos os instrumentos concordam que a literatura está sob ameaça, e sob ameaça não por causa dos instrumentos. Para recordar uma assertiva assombrosa de um dos “Envios” (datado de 23.06.1979) em O Cartão-postal de Derrida: “uma época inteira da assim chamada literatura, se não toda ela, não pode sobreviver a um certo regime tecnológico de telecomunicações (a esse respeito o regime político é secundário)”.12 Não apenas as universidades, em seu ensino, pesquisa e publicações associadas mudaram significantemente o foco na literatura como tal, mas a literatura está necessariamente ameaçada pela explosão de outros tipos de telecomunicações e teletecnologias. Como Derrida deixa claro em Mal de Arquivo e em outros lugares, televisão, internet, e-mail e telefones celulares, por exemplo, não são meramente acessórios para a literatura mais do que o são para a psicanálise ou para a filosofia. Eles geram um espaço do que ele chama de “ficção científica retrospectiva”, que necessariamente define “quando estamos [nous y sommes]” – se estivermos pensando sobre a história da literatura, da filosofia ou da psicanálise.13 Você deveria tentar deixar claro, então, que por “virada literária” estava pensando em algo bem singular. Ao tentar capturar o que a tão chamada tradição literária entende pela frase “virada literária”, é impossível não deixar de notar o jeito como Salman Rushdie a usa quando, em uma discussão com Stuart Jeffries sobre sua recente viagem a vinte e nove cidades dos EUA para promover seu romance A feiticeira de Florença (2008), ele sublinha: “Depois de J. K. Rowling, eu acho que sou a maior virada literária do Reino Unido”.14 Isto é, certamente, um pouco distante da virada literária que você tem em mente, ainda que permaneça vagamente intrigado com o que aconteceu na programação da publicação da literária contemporânea e a quase pornográfica indústria da “cultura de celebridades” (alguns oxímoros são mais estúpidos que outros), para permitir que Rushdie use a frase a sua moda. Você pode imaginar (alg)um porta-voz da indústria da publicação literária chegando e dizendo: “sua noção particular de virada literária se refere presumivelmente à expansão impressionante, sobretudo nos últimos 10 a 15 anos, daquilo que tem acontecido sob o termo auspicioso de ‘escrita criativa’”. Você olha para ele, você quer chorar, você quase não sabe por onde começar. Você pondera a 12. Jacques Derrida, “Envois”, em The Post Card: From Socrates to Freud and Beyond. Trad. Alan Bass. Chicago: Chicago University Press, 1987, p. 197. 13. Jacques Derrida, Archive Fever: A Freudian Impression. Trad. Eric Prenowitz. Chicago: Chicago University Press, 1996, p. 16; Mal d’archive: Une Impression freudienne. Paris: Galilée, 1995, p. 34. 14 ‘Everybody Needs to Get Thicker Skins’, The Guardian, G2 (11 July, 2008), p. 5. 58 possibilidade de chegar a algum lugar respondendo: “antes de tudo, ninguém disse que ‘particular’, era singular”. Se você for paciente, talvez fique claro: tem a ver com o singular e a singularidade. E depois prosseguir com o que daqui se segue. Boa sorte. Mais germânico é o que Jonathan Culler fala sobre “a literatura em teoria” em um livro com esse título publicado em 2007.15 Culler argumenta que “o aparente eclipse da literatura é algo como uma ilusão” (5); “Há evidências”, sugere, “de uma nova centralidade para o literário, tanto em um retorno às questões estéticas, que durante um tempo foram tidas por retrógadas e elitistas, quanto no uso das obras literárias para desdobrar argumentos teóricos e questionar hipóteses teóricas.”(14) Com relação a esta última, Culler nomeia Jacques Derrida e Giorgio Agambem como dois casos exemplares. Você gosta das implicações espectrais dessa referência a Derrida: ele está morto, mas a fraseologia de Culler implica que ele não está, ele ainda está ativo, um pouco como no North London Book of the Dead de Will Self, em que as pessoas não morrem, elas apenas se mudam para outra parte de Londres. “Há evidências de uma nova centralidade do literário”, diz Culler, “como nos trabalhos de Derrida sobre escritores como Celan...”. Aqui, ele parece estar (mesmo que tacitamente) remetendo a alguns dos mais insistentes motivos da escritura de Derrida: seguir vivendo; escritura enquanto estruturada pela necessária possibilidade da morte; o morto pode ser mais poderoso que o vivo, não há “pós-” para a desconstrução. Mas você também se sente inquieto com a afirmação de Culler de que aquilo atrás do que está Derrida – nos escritos sobre Celan e a poesia (como em Carneiros), postumamente reunidos na tradução inglesa no livro Sovereignties in Questions – é “o uso das obras literárias para avançar os argumentos teóricos e questionar presunções teóricas”.16 Você trava, não pode evitar, na palavra “uso”. Essa noção do uso de textos literários carrega consigo associações instrumentalistas (linguagem como algo que o escritor usa, a maestria e a autoidentidade do escritor, figurando aqui como o que aparentaria ser precisamente uma suposição teórica) que são radicalmente deslocadas nos escritos de Derrida. Você sabe disso e sabe que 15. Jonathan Culler, The Literary in Theory. Stanford: Stanford University Press, 2007. Mais referências de página para o livro aparecem entre parênteses no texto. 16. Jacques Derrida, Béliers: Le dialogue ininterrompu: entre deux inifinis, le poème. Paris: Galilée, 2003. Foi publicado em inglês como Rams: Uninterrupted Dialogue - Between Two Infinities, the Poem. Trad. Thomas Dutoit e Philippe Romanski, em Thomas Dutoit e Outi Pasanen (EDS), Soberanias em Questão: A Poética de Paul Celan. New York: Fordham University Press, 2005, p. 135-63. 59 Culler sabe. Sabe que ele sabe, em parte porque, como se alegra em recordar, aprecia algo como uma relação telepática, não apenas acerca da questão da literatura e da telepatia (como poderia manter um vocabulário instrumental, você se pergunta, à luz do cenário telepático literário do “sendo-dois-a-falarou-pensar-ou-sentir e assim por diante?),17 mas, mais especificamente, você sabe por causa dos primeiros trabalhos de Culler, como Sobre a desconstrução (1983), em que ele oferece uma explicação clara e cuidadosa sobre como o trabalho de Derrida interfere na noção de instrumentalidade ou uso: desconstrução, Culler diz: “previne que conceitos e métodos sejam tomados por certo e tratados simplesmente como instrumentos confiáveis. Categorias críticas não são apenas ferramentas para serem empregadas na produção de interpretações sonoras e sim problemas para serem explorados por meio da interação entre texto e conceito”.18 Talvez a própria literatura esteja antes e, sobretudo, entre esses conceitos ou categorias, como Culler sucintamente reforça: “A essência da literatura é não ter essência, é ser prótea, indefinida, é envolver tudo o que estiver situado fora dela”.19 Essa caracterização da literatura é necessariamente ligada à concepção de linguagem, mais geral, de Derrida, como formulada, por exemplo, em Memórias: para Paul de Man (1986): “linguagem não é o instrumento que governa um ser falante (ou sujeito)”.20 A ideia de usar obras literárias, você pensa, é profundamente antiderridiana. Isso pode ser um sinal do tão chamado tempos pós-derridianos, no entanto, porque algo similar está sendo proposto, de um modo mais explícito e sustentado, em um livro recente de Rita Felski intitulado Usos da literatura (2008)21. A discussão de Felski sobre esses “usos” envolve fundamentar os valores de “reconhecimento”, “encantamento”, “sabedoria” e de “surpresa” ao ler ou pensar sobre literatura. Mas ela fala sobre isso de uma forma curiosamente anestesiante, alternando-se entre o que ela chama de fazer “fortes alegações pela alteridade literária” e um “esculpir de textos ao âmago das funções políticas e ideológicas” Felski quer argumentar um “entendimento estendido do ‘uso’ que nos permitiria “comprometer os aspectos mundanos da literatura de um jeito que é respeitável ao invés de redutivo, mais dialógico que arbitrário” (7). Conforme ela avança, na defesa da palavra do título e conceito basilar de seu livro: “‘Uso’ não é sempre estratégico ou propositado, manipulativo ou compreensivo; ele não precisa envolver uma tendência à racionalidade instrumental ou uma cegueira desejada de forma complexa” (7-8). Basta dizer 17. Veja Culler’s ‘Omniscience’, in The Literary in Theory, pp. 183–201. Sobre telepatia, literatura e ser-dois-para-falar-oupensar-ou-sentir, veja Nicholas Royle, ‘The “Telepathy Effect”: Notes toward a Reconsideration of Narrative Fiction’, em The Uncanny. Manchester: Manchester University Press, 2003, p. 256–76. 18. Jonathan Culler, On Deconstruction: Theory and Criticism after Structuralism. London: Routledge and Kegan Paul, 1983, p. 180. 19. Culler, On Deconstruction, p. 182. Cf. also Culler’s citation (217–18) da passagem de Of Grammatology em que Derrida comenta: “the writer writes in a language and in a logic whose own system, laws and life his discourse by definition cannot dominate absolutely. He uses them only by letting himself, after a fashion and up to a certain point, be governed by the system.” Ver Jacques Derrida, Of Grammatology. Trad. Gayatri Chakravorty Spivak. Baltimore: John Hopkins University Press, 1976, p. 158 20. Jacques Derrida, Mémoires: for Paul de Man. Trad. Cecile Lindsay, Jonathan Culler e Eduardo Cadava. New York: Columbia University Press, 1986, p. 96. 21. Rita Felski, Uses of Literature. Oxford: Blackwell, 2008. Mais referências de página para o livro aparecem entre parênteses no texto. 60 que Felski oferece pouca reflexão crítica às concepções utilitárias, humanistas e antropocêntricas de “uso” que informam e estruturam suas considerações. Os limites do “reconhecimento”, “encantamento”, “conhecimento” e “surpresa” na literatura – e, portanto, de seus usos, nos seus termos – são marcados previamente pela esquiva de qualquer coisa que pareça muito com uma “alteridade literária”, especialmente na medida em que tal alteridade pode ser vinculada a questões de política, começando, talvez, com reflexões profundas que são encontradas nos trabalhos de Derrida sobre literatura e democracia (você se lembra do quiasma meticulosamente analisado: “nenhuma democracia sem literatura, nenhuma literatura sem democracia”22), assim como no lugar da ficção e o “e se” no conceito da universidade e em relação ao futuro das humanidades.23 A escala da tarefa de Felski e, num certo sentido, de seus resultados nesse livro são, talvez, mais ressonantemente evocados pelo fato dela conseguir evitar fazer uma única referência a Derrida. Assim, Usos da literatura figura como um livro progressivo, não redutivo, sobre o valor contemporâneo e a importância da literatura, no qual Derrida foi, aparentemente, tirado de cena e apagado da história.24 Escritos e pensamentos críticos posteriores a Derrida ou “posteriores à desconstrução” parecem, aqui, ter se tornado, ao menos em parte, um tipo de exercício doloroso de supressão, uma estranha negociação com aquele que não deve ser nomeado: escrevendo numa pós-(shhh, shhh) era. Isso te faz pensar por onde queremos começar: A outra volta do parafuso de Henry James. 22. Jacques Derrida, Passions: An Oblique Offering. Trad. David Wood, in On the Name, ed. Thomas Dutoit. Stanford: Stanford University Press, 1995, p. 28-ss. 23. Veja, em particular, Jacques Derrida, ‘The University Without Condition’, in Without Alibi, ed. e trad. Peggy Kamuf. Stanford: Stanford University Press, 2002, p. 202–37. 24. Talvez se deva adicionar, porém, que, de passagem, Felski faz referência (mesmo numa veia consistentemente negativa) à desconstrução e à psicanálise. Veja, por exemplo, Usos da Literatura, p. 11, 59, 60, 80 e 119. A virada literária seria ao mesmo tempo sobre o “literário em teoria” (como Culler a chama) e mais especificamente sobre as novas formas de registrar o lugar da literatura à luz do trabalho de Derrida. Como você, Culler está interessado em “um retorno à fundamentação do literário em literatura” (42). Como você e como Derrida, ele é fascinado pelo fato de, como coloca, “trabalhos literários... possuem a habilidade de resistir ou de mostrar melhor o que supostamente estão dizendo” (42). Mas a virada literária não é sobre como usar obras literárias para avançar um argumento ou um entendimento teórico: se muito, é sobre a lógica inversa de como nos encontramos sendo usados – estruturados, assombrados, tocados – pela literatura. Culler procura operar de maneira mais formalista, clínica e ostensivamente externa. Você é chamado por alguma outra coisa, mais semelhante às aparições de vertigem 61 em Derrida, às possibilidades de revirar gêneros, à necessidade de acaso, ao papel e aos efeitos da lógica de um corpo e uma cripta estrangeiros, um hiperrealismo espectral, as provocações do pensamento mágico, telepatia e clarividência como fenômeno estranhamente literário que clama por uma resposta ou contra-assinatura na forma de tipos de escrita, que não poderiam postular ser diretamente estrangeiro para o trabalho literário, mas poderiam, em uma palavra, desviar-se. Permanece crucial que vejamos Derrida como um filósofo e como um pensador desconstrutivista de política e ética. O legado de seu trabalho está sem dúvida mais urgentemente em operação, mais demandante de contínua conversação e negociação nesses domínios – quer dizer, levando em consideração aquilo que ele chamou de “um novo iluminismo”, a “democracia por vir”, a questão e a ativação de novas formas de responsabilidade e a busca por justiça no contexto da redemundial-ização25 (mondialization)26. Mas, debruçando-se27 sobre tudo isso, oscilando e se enroscando, está a questão da literatura. Então, com menos visibilidade, menos urgência, talvez, o trabalho de Derrida também nos legou as demandas e provocações de uma virada literária. É claro que ele não faz tudo isso sozinho: o voltear literário é evidente em todos os lugares, voltando, como já proposto desde Henry James e além, e passando pelos28 escritos de Maurice Blanchot, Paul de Man, Gilles Deleuze, Hélène Cixous e outros, de maneira que mereceria pelos menos uma prateleira inteira de outros estudos, mas é no trabalho de Derrida, pode-se dizer, que essa virada está articulada de maneira mais lúcida, extensa e sustentada. 25. No original, worldwide-ization. (N. da T.) 26. Para dois valiosos estudos recentes nessa área, veja Michael Naas, Derrida From Now On. New York: Fordham University Press, 2008 e Martin McQuillan, Deconstruction after 9/11. Abingdon: Routledge, 2009. 27. No original, turning about (N. da T.) 28. No original, turning throught (N. da T.) * A virada literária pode ser rastreada de acordo com três modos ou registros interrelacionados: 1. É uma questão de como Derrida descreve e, se você preferir, teoriza sobre literatura ou deixa a literatura teorizar, de acordo com um 62 conceito de literatura que é bem tradicional e reconhecível. (Aqui a noção de deixar a literatura teorizar corresponderia com sua sugestão de que “a desconstrução ... é um ‘chegar-a-um-acordo’ com a literatura”.29) Sob essa rubrica, podemos pensar sobre como Derrida elaborou novas formas de pensar o conceito de literatura, a natureza da escrita poética ou literária, a leitura de autores e textos específicos (canônicos e não canônicos) a história da literatura enquanto uma instituição e por aí vai. Em questão estaria, por exemplo: a elucidação da proposição de que “não há literatura sem uma relação suspensa de significado e referência; a ênfase na interdependência da literatura e da democracia vis-à-vis o princípio da liberdade de expressão e o direito de dizer qualquer coisa (ou de não dizer nada); uma história do conceito e da prática da literatura que implica (especialmente depois de Mallarmé) uma crescente explicitação relativa à natureza e aos efeitos da literalidade em e para a obra, a especificação da literatura como “o dispositivo básico de ser dois-a-falar”, e a exploração da literatura como constitutivamente ligada ao segredo.30 2. É uma questão da literatura de uma maneira mais fantasmal e disruptiva, em outras palavras, da literatura ou dos efeitos literários mostrando em que lugar você poderia pensar que eles não deveriam ou que não parecem pertencer. Aqui é mais uma questão de abordar os efeitos espectrais e assombrosos da literatura enquanto aquilo que não tem essência, como aquilo que não é. Para recordar a frase de Derrida em Demeure: “Não há essência ou substância na literatura: a literatura não é. Ela não existe”31. Essa nãossice (notness) não é, todavia, nada. Portanto, ainda há o que ele chama de “uma marca de narrativa fictícia” no coração da lei, por exemplo, assim como na base da fundação das instituições, seja a Declaração de Independência Americana ou o estatuto que estabelece a universidade.32 De maneira assombrosamente familiar, a literatura está em questão na noção do testemunho e arrolamento de testemunhas. Como ele comenta em Demeure: se o testemunho é, por lei, irredutível ao ficcional, não há testemunho que não implica estruturalmente, ele mesmo, a 29. Jacques Derrida, “Deconstruction in America: An Interview with Jacques Derrida”. Trad. James Creech, Critical Exchange, 17 (1985): 9. 30. Veja, em particular, Jacques Derrida, “This Strange Institution Called Literature”, Trad. Geoffrey Bennington e Rachel Bowlby, em Derek Attridge (ed.), Acts of Literature. London and New York: Routledge, 1992, p. 33–75, especialmente p. 37–43 e 48; Positions. Trad. Alan Bass. Chicago: Chicago University Press, 1981, especialmente p. 70; ‘Circumfession’, in Bennington & Derrida, Jacques Derrida. Trad. Geoffrey Bennington. Chicago: Chicago University Press, 1993; Given Time: I. Counterfeit Money. Trad. Peggy Kamuf. London: Chicago University Press, 1992, especialmente p. 153; ‘Passions’, especialmente p. 27 e ss. 31. Jacques Derrida, Demeure: Fiction and Testimony with Maurice Blanchot’s The Instant of My Death. Trad. Elizabeth Rottenberg. Stanford: Stanford University Press, 2000, p. 28. 32. Veja, por exemplo, Jacques Derrida, ‘Before the Law’. Trad. Avital Ronell e Christine Roulston, em Derek Attridge (ed.), Acts of literature. London and New York: Routledge, 1992, p. 183-220, especialmente p. 199; ‘Declarations of Independence’. Trad. Tom Keenan e Tom Pepper, em Negotiations: Interventions and Interviews 1971–2001, ed. Elizabeth Rottenberg. Stanford: Stanford University Press, 2002, p. 46-54; e ‘The Principle of Reason: The University in the Eyes of Its Pupils’, trad. Catherine Porter e Edward P. Morris, em Olhos da Universidade: Direito de Filosofia 2. Stanford: Stanford University Press, 2004, p. 129-55. 63 possibilidade de ficção, simulacro, dissimulação, mentira e perjúrio – quer dizer, a possibilidade da literatura, da inocente ou perversa literatura que inocentemente joga pervertendo todas as distinções.33 Aqui a literatura adquire um tipo de força neologística, uma forma fantasmática indecidivelmente inocente e perversa, inocentemente atuando no coração da lei e na realidade do testemunho, desviandose na promessa de fazer a verdade (como Derrida relembra a frase de Agostinho) que guia, da mesma forma, autobiografia e testemunho34. 3. É uma questão da literatura com relação ao ‘performatismo poéticoliterário’ e o caráter inventivo da resposta crítica ou a contra-assinatura. Como Derrida coloca em “Essa Estranha Instituição Chamada Literatura”, é uma questão de escritura crítica ou teórica como “uma experiência inventiva da linguagem, em linguagem”, de “invenções ‘críticas’ que pertencem à literatura enquanto deformam seus limites”35 . É um tipo de “duelo de singularidades” em que “uma contra-assinatura vem tanto para confirmar, repetir e respeitar a assinatura do outro, do trabalho ‘original’, quanto para levá-lo para fora para alhures”, em outras palavras, para fazê-lo ou deixá-lo desviar.36 Há, a esse respeito, um tipo de “imperativo” em funcionamento, sugere Derrida, a saber: Para dar espaço a eventos singulares, para inventar algo novo na forma de atos de escritura que não mais consistem num conhecimento teórico, em novas proposições constativas, para se doar a um performativismo poético-literário análogo, ao menos, àquele das promessas, ordens ou atos de constituição ou legislação que não apenas transformam a linguagem, ou que, em a transformando, transformam mais que a linguagem.37 33. Derrida, Demeure: Fiction and Testimony, p. 29. 34. Derrida, Demeure: Fiction and Testimony, p. 27. 35. Derrida, “This Strange Institution Called Literature”, p. 52. 36. Derrida, “This Strange Institution Called Literature”, p. 69. Aqui, o original francês para “levar para outro lugar” é “l’entraîner ailleurs”: ver ‘Cette étrange institution qu’on appelle la littérature’, em Derrida d’ici, Derrida de là, ed. Thomas Dutoit e Philippe Romanski. Paris: Galilée, 2009, p. 287. 37. Derrida, ‘This Strange Institution Called Literature’, p. 55. É isso que está em questão na figura de uma “metalinguística radical” evocada previamente, e na ênfase que Derrida dá, na sua discussão com Elisabeth Roudinesco em De que amanhã, ao valor e ao poder das “ficções teóricas”, essa última formulação surgindo de um reconhecimento daquilo que ele chama “a dívida de toda postulação 64 teorética (mas também jurídica, ética e política) para com um poder performativo estruturado pela ficção, por uma invenção figurativa”.38 Assim, a noção de virada literária implica um sentido bem diferente da história intelectual e cultural pós-1960, um período marcado por (1) um novo foco sem precedentes nessa “estranha instituição chamada literatura” (na frase de Derrida), incluindo o florescimento acadêmico da escrita criativa;(2) o surgimento da desconstrução (construída aqui, em particular, como um “chegar-a-um-acordo com a literatura”;(3) um novo foco sem precedentes nas ligações indissociáveis entre testemunho e ficção, assim como, um tanto diferentemente, entre lei, instituições e linguagem performativa e (4) a percepção aprofundada e a elaboração em andamento de uma interdependência entre literatura e democracia (liberdade de expressão, não censura, etc.). E isso para não mencionar as noções de literatura e do fantasmagórico – deixando de lado a questão do animal e da animalidade (“o homem não é apenas um animal político”, como salienta Derrida), e a desconstrução do antropocentrismo, especialmente no contexto da poesia...39 * Você é como a tal criatura Weyward40. Nunca se sabe se está vivo ou morto, ou se alguém jamais ouviu sua voz, se é você ou o efeito de algum ventríloquo, ninguém sabe quem te inventou, a mesma coisa, diz, você não tem nome, vira, desvia-se, chama * Uma coisa sobre Derrida, você deve lembrar, é que as pessoas pensam que ele é difícil. Esse é o ponto de partida de uma entrevista com Catherine David que apareceu no Le Nouvel Observateur, em setembro de 1983. Ela começa observando que as pessoas dizem “(seus) textos são difíceis, no limite da legibilidade” e pergunta sobre essa sua reputação de ser difícil: “Como você vive com isso? É um efeito que você procura produzir, ou, ao contrário, você sofre com isso?” Ao que Derrida responde: “Eu sofro com isso, sim, não ria, e eu faço tudo o que acho possível ou aceitável para escapar dessa armadilha. 38. Ver Jacques Derrida e Elisabeth Roudinesco, For What Tomorrow . . . A Dialogue. Trad. Jeff Fort. Stanford: Stanford University Press, 2004, p. 173. 39. Veja Jacques Derrida, ‘Afterword: Toward an Ethic of Discussion”. Trad. Samuel Weber, em Limited Inc (Evanston, IL: Northwestern University Press, 1988), p. 136. Mais geralmente sobre a “questão animal”, ver Jacques Derrida, The Animal That Therefore I Am, ed. MarieLouise Mallet, trad. David Wills. New York: Fordham University Press, 2008, e The Beast and the Sovereign, vol.1, trad. Geoffrey Bennington. London: Chicago University Press, 2009; e sobre a “poemática” animal em particular, ver “Che cos’è la poesia?” e “Istrice 2: Ick bünn all hier”, trad. Peggy Kamuf, em Points . . . Interviews, 1974– 1994, ed. Elisabeth Weber. London: Routledge, 1995, p. 288-99 e 300-26. 40. Weyward faz referência às três bruxas da peça shakespereana Macbeth. Weyward foi grafado originalmente no folio, ao longo do texto a palavra também aparece como weyard. Recentes edições do texto alteraram a palavra para weird (estranho). (N. da T.) 65 Mas alguém em mim deve tirar algum benefício disso: uma certa relação.”41 Ele observa que as pessoas não ficam bravas com físicos ou matemáticos por serem difíceis, não mais do que ficariam com alguém que fala uma língua estrangeira. O que irrita as pessoas é como alguém (e agora Derrida não está mais falando de si mesmo em particular, mas do filósofo ou escritor, em geral) “interfere com sua própria linguagem, com essa ‘relação’, precisamente, que é a sua...” (115). Nessa breve passagem, Derrida mudou o termo “relação” (ou no original em francês rapport: 124) de algo que tem ostensivamente a ver com ele (“uma certa relação”, como ele enfaticamente coloca) a algo que tem a ver com vocês (“essa ‘relação’, precisamente, que é de vocês...”). Interferir em relação ou relações: é disso que trata Derrida. E ele continua para sugerir, na verdade, que isso é o que acontece sempre que um escritor procura “inventar” e “abrir novos caminhos” (116). É sempre um “escritor”, ele diz, “que é acusado de ser ‘ilegível’.... (é alguém) que nem fala em um milieu puramente acadêmico, com a linguagem, a retórica e o costume que são a força lá, nem naquela ‘linguagem de todos’ que sabemos que não existe” (116). Isso pode até resultar em uma “escritura que, às vezes, pode ser lida com uma aparente facilidade” (a entrevistadora, talvez prestativamente, apresenta o “Envios” de O cartãopostal como um exemplo), mas Derrida continua a esclarecer, é uma questão de “uma escritura cujo status, de certa maneira, é impossível assinalar” e depois ele delineia três questões que tal escritura coloca: “é ou não é uma asserção teorética? Os signatários e os destinatários são identificáveis antecipadamente ou produzidos e divididos pelo texto? As sentenças descrevem algo ou estão fazendo algo?” (117). O exemplo que ele dá de tal locução é a frase de duas palavras “você vem (tu viens).” (117/126). 41. Jacques Derrida, “Unsealing (‘the old new language’)”. Trad. Peggy Kamuf, em Points . . . Interviews, 1974–1994, ed. Elisabeth Weber. London: Routledge, 1995, p. 115. Uma biblioteca virtual irrompe, aqui, em testemunho a tudo que Derrida diz sobre a palavra “vir” – do orgasmo cristão ao final da Bíblia, do tom apocalíptico do “vir” na teologia, na filosofia e na literatura, para o gozo da desconstrução, a experiência da promessa e da democracia por vir. Mas aquilo do que você está tentando falar aqui implica outra versão, a saber, o que é desviar-se, desviando-se, você desvia, vir a desviar, para desviar de você vindo, é você. 66 Derrida fala sobre seu “primeiro” desejo, em citações assustadoras, em citações que indicam o sentimento de precariedade que talvez marque tudo que ele diz, seu “primeiro” desejo, diz ele, nesta entrevista de 1983, em um ligeiro olhar para trás, até pelo menos o ensaio de 1963 “Força e Significação”: meu “primeiro” desejo não me levou à filosofia, mas sim à literatura, não, a algo a que a literatura abre espaço melhor que a filosofia. Sinto-me comprometido, pelos últimos vinte anos, em um longo volteio (un long détour) que irá me levar de volta a essa coisa, essa escrita idiomática cuja pureza, eu acredito, é inacessível, mas sobre a qual eu continuo a sonhar. (118/127) Estranha imagem do longo volteio. Ele tem andado ocupado por anos, de lado com a escrita de trabalhos que podem parecer mais classicamente “filosóficos”: os ensaios que compõem A Escritura e a Diferença, Gramatologia, A Escrita e o Fenômeno e Margens da Filosofia, por exemplo. Ele parece estar falando em termos da figura de um volteio em sua versão mais confortante, conforme é sabido que o volteio foi um volteio desde, a destinação está inscrita antecipadamente, e essa coisa (cette chose), como ele a chama, é algo ao qual voltar-se ou a replicar (rejoindre). Você imagina quão clara ou quão esclarecedora é essa narrativa, a estória evocada aqui pelo escritor que, não nos esqueçamos, repetidamente, clamou que nunca soube como contar uma estória.42 Perceberemos as coisas bem erradas se supusermos que houve alguma virada literária no trabalho de Derrida, rastreáveis, por exemplo, nos escritos de Glas, A verdade na pintura ou em O Cartão-postal. Não é uma questão de vê-lo (como ele parece querer se ver ou querer que sua entrevistadora o veja em 1983) como um escritor que enveredou num volteio de vinte anos, por ou para dentro das regiões da filosofia para, finalmente, voltar àquilo a que a literatura melhor abre caminho, àquela “escrita idiomática” com a qual ele continua a sonhar. Isso seria ignorar ou negar a força da destinerrância e dos efeitos adiados, assim como os abismos e as complexidades do literário em jogo em seus escritos desde o começo. 42. Ver, em particular, Mémoires: for Paul de Man, e suas observações sobre o filme Derrida (dirigido por Kirby Dick e Amy Ziering Kofman. USA: Jane Doe Films, 2002). 67 Está lá, por exemplo, na “Introdução” de A origem da geometria (1962) de Husserl, talvez mais notavelmente na celebrada passagem da equivocidade e univocidade a propósito de James Joyce, no processo pelo qual Derrida observa que “equivocidade é a marca congênita de toda cultura” e ele vai argumentar que: “se, de fato, equivocidade é sempre irredutível é porque palavras e linguagem em geral não são e nunca poderão ser objetos absolutos.”43 Mas, é claro, precisamente pela mesma razão, ela está lá por toda Introdução: você vira a página, por exemplo, e nota a circunspecção ou circunscrição que Derrida insinua com relação ao desejo ou a necessidade percebida de destruir certa “Torre de Babel” a serviço da “linguagem escolástica” – algo que emerge mais explicitamente nas meditações, nas viradas e reviradas, nas torres, tours e détours, no turismo e o no deturismo [detourism] de Babel em “Torres de Babel”, em 1985, e na conjução do erudito com a espectralidade no contexto de Hamlet, de Shakespeare, e em Espectros de Marx, uns trinta anos depois da Introdução a Husserl.44 A virada literária envolve as vozes dos fantasmas, o retorno ou até mesmo a “primeira” vinda do morto, anacronicidade e lamento, escritura-pensamento cuja aparição é mágica, os fantasmas, a vertigem e a vertigemagórica [vertighosting] que só acontece com você. Sobre a questão da “escrita idiomática” com a qual Derrida continua a sonhar. Catherine David lhe pergunta o que significa “idiomática”. Ele responde: Uma propriedade que não se pode apropriar: ela te sinaliza sem lhe pertencer; apenas aparece ao outro e nunca volta para você exceto em flashes de loucura que trazem junto vida e morte (elle ne vous revient jamais sauf en des éclairs de folie qui rassemblent la vie et la mort), que te traz junto vida e morte ao mesmo tempo. Você sonha, é inevitável, sobre a invenção da linguagem ou de uma canção (vous revez, c’est fatal, l’invention d’une langue ou d’un chant) que seria sua, não os atributos de um ‘eu’ (un ‘moi’), talvez uma rubrica acentuada, ou seja, a assinatura musical de sua história ilegível. Não estou falando de estilo, mas de uma intersecção (un croisement) de singularidades, habitats, vozes, grafismos, do que se move com você e do que seu corpo nunca abandona (ce qui se déplace avec vous et que votre corps ne quitte jamais).45 43. Ver Jacques Derrida, Edmund Husserl’s Origin of Geometry: An Introduction. Trad. John P. Leavey, Jr. (1962; Stony Brook, NY: Nicolas Hays, 1978), p. 102-4. 44. Ver Derrida, Edmund Husserl’s Origin of Geometry, p. 100–1, n.108; “Des tours de Babel”, trad. Joseph F. Graham, em Psique: Inventions of the other, vol. 1, ed. Peggy Kamuf e Elizabeth Rottenberg (1985; Stanford: Stanford University Press, 2007), p. 191–225; Spectres of Marx: The State of the Debt, the Work of Mourning, and the New International, trad. Peggy Kamuf (London: Routledge, 1994). 45. Derrida, “Unsealing (‘the old new language’)”, p. 118–9; “Desceller (‘la vieille neuve langue’)”, p. 127. 68 Esse virar-se para “você” é estranhamente intrigante, você deve confessar, aqui na forma não íntima de “vous”, alhures é “tu” – por exemplo, em “Che cos’è la poesia?” – e é claro em “Envios”: você nunca sabe quem é nesses textos, sabe? Por exemplo, em 28 de setembro de 1978: “Você fala e eu te escrevo, como em um sonho, tudo que deseja me permitir dizer. Você terá clamorosamente sufocado todas as minhas palavras.”46 Ou, aparentemente, de outro modo, um cartão-postal de maio de 1979: Tu és a única a entender porque era realmente necessário que eu escrevesse exatamente o oposto, como preocupações axiomáticas, do que eu desejo, do que eu sei que é meu desejo, em outras palavras tu: discurso vivo, presença em si mesma, proximidade, o adequado, o protetor, etc. Eu, necessariamente, escrevi de cabeça pra baixo – e a fim de sucumbir à Necessidade.47 46. Derrida, “Envois”, p. 160. 47. Derrida, “Envois”, p. 194. É o si poemático, a ferida de si, o seu sonho: rêve, circumflexivamente desviando-se. É aqui nessa entrevista de 1983, a entrevista sobre esta intersecção, no lugar de uma intersecção que está se movendo e se deslocando com você. Isso pode ser, na verdade, a descrição mais sucinta em qualquer lugar de seu trabalho de “escrever numa era pós-derridiana”. A escritura que Derrida evoca estar por vir é uma loucura, uma assinatura musical. Morto e vivo, um sonho fatal, sonhando a invenção de uma linguagem ou uma canção que seriam suas. Você ouve, ainda que fugazmente, algo como a voz de Walter Pater. Quando Pater diz, em “The School of Giorgione” que “toda arte constantemente aspira à condição de música” ele vai exemplificar, você se lembra, pela referência à noção de poema (sem especificar nenhum em particular), em que conteúdo e forma se tornariam indistinguíveis. Pater admite que isso é uma “linguagem abstrata” e procura dar alguns “exemplos de fato”, como ele coloca: “Em uma paisagem de fato vemos uma longa estrada branca, subitamente perdida à beira da montanha”.48 É um “exemplo de fato” fascinante e espectral, desorientante, constitutivamente duplo (um “exemplo de fato”, um “cenário de fato”, que é, deveras, a imagem de uma paisagem): Pater indica que ele tem uma gravura de Alphonse Legros em mente, mas é claro que não podemos ver, realmente. É algo, diz Pater, “visto” ou “meio- 48. Walter Pater, ‘The School of Giorgione’, in The Renaissance. New York: Modern Library, 1919, p. 111. 69 visto”, o momento à deriva de “uma longa estrada branca, subitamente perdida à beira da montanha”.49 49. Pater, ‘The School of Giorgione’, p.111 Em resposta à evocação de Derrida de um sonho, de uma escritura que poderia “juntar morto e vivo ao mesmo tempo”, “a invenção de uma linguagem ou canção que seriam suas”, Catherine David pergunta: “Você irá escrevê-la?” A princípio, Derrida responde: “Você deve estar brincando”, ou, mais literariamente, talvez, “O que você acha? (Pensez-vous)”. Mas, então, ele muda de rota: Mas a acumulação de sonhos, projetos, ou notas, sem dúvida pesa sobre o que é escrito no presente. Um dia, um pedaço de livro pode cair como uma pedra que mantém a memória de uma arquitetura alucinante a qual pode ter pertencido... a pedra ainda vibra e ressoa, ela emite um tipo de bênção dolorida e indecifrável, que já não mais se sabe de quem ou para quem...50 Essa bonita e assombrosa passagem gagueja (como diria Gilles Deleuze), ela vira e deriva e interrompifica [interruptifes] tanto quanto identifica, à deriva, em um refrão de elipses.51 Tem a ver com o que Derrida chama de “velha nova linguagem”, algo ao mesmo tempo mais antigo do que o conhecimento, absolutamente novo e inédito. É música em um momento, memória de uma arquitetura alucinatória outra.52 O movimento dessa passagem ressoa, para você, com a sensação de uma estranha deslugaridade [placelessness], o incessante deslocamento do lugar da literatura, como Derrida fala em tantos textos. É uma questão, como ele diz, de algo a que “a literatura abre caminho melhor do que a filosofia (quelque chose que la littérature accueille mieux que la philosophie)”.53 Tem a ver com o segredo. Isso é o que ele diz que mais gosta na literatura, uma experiência da literatura enquanto “no lugar do segredo”.54 Você deve estar certo disso: não haveria virada literária sem vertigem. A virada literária não pode ser situada ou mensurada, como virar uma esquina ou conseguir fazer um perfeito retorno pela contramão55. Você deve imaginar, ao contrário, que algo acontece em uma velocidade inimaginável, girando, dobrando. Isso é desviando-se para você. Você não pode se decidir, de pronto, 50. “Unsealing (‘the old new language’)”, p. 119, tr. sl. mod.; “Desceller (‘la vieille neuve langue’)”, p. 128. 51. Ver Gilles Deleuze, ‘He Stutters’, em Essays Critical and Clinical, trad. Daniel W. Smith e Michael A. Greco (London: Verso, 1998), p. 107-14. 52. Isso traz à mente algumas coisas que ele fala noutros lugares acerca das relações entre música e arquitetura. Ver, por exemplo, Jacques Derrida e Peter Eisenman, Choral Works, ed. Jeffrey Kipnis e Thomas Leeser. New York: Monacelli Press, 1997, p. 166-8. 53. Derrida, “Unsealing (‘the old new language’)”, p. 118; “Desceller (‘la vieille neuve langue’)”, p. 127. 54. Derrida, Passions: ‘An Oblique Offering, p. 28. 55. No original, three-point turn. (N. da T.) 70 se o que está sob consideração é uma virada literária ou uma virada literária, se a virada seria ela mesma literária ou se a virada seria de alguma forma além da literária, referindo-se a ela de um lugar não literário, literatura para além de si mesma. Em 1997, no contexto de uma discussão sobre a noção de “crença pura” (que, como ele diz, “só é possível acreditando no impossível”), Derrida é levado a refletir sobre a célebre proposição em Gramatologia (1967) de que “nós devemos começar onde quer que estivermos”, ou seja, “em um texto em que já acreditamos estarmos”56. Ele escreve: O ‘texto em que acreditamos estarmos’, outro nome para esse lugar, lugar em geral, me interessa apenas onde o impossível, ou seja, o incrível, o circunda e o assola, fazendo minha cabeça virar, deixando um rastro ilegível com o tomar-lugar, aqui, na vertigem, ‘onde acreditamos estarmos’... (sic) para mim, Lugar é sempre inacreditável, assim como a orientação.57 É uma questão sobre aquilo a que literatura abre lugar, ou acolhe, a propósito desse “milagre” (como ele também o chama) do lugar, no lugar do segredo. É o sonho de uma escritura idiomática no contexto de uma orientação para além do crível, o que ele alhures chama de “indireção destinerrante” – ou desvio – do rastro.58 * Para terminar, você quer voltar, ou virar, como se, pela primeira vez, para onde começou. Depois de um volteio de vinte anos, você volta para o ponto de partida do primeiro livro que publicou,Telepatia e Literatura, em outras palavras, o curto romance de Henry James A outra volta do parafuso (1898).59 Naquele tempo esse romance seria seu assunto, você até mesmo anunciou isso, mas então ele desapareceu. Você começou por sugerir que ele operaria “como um texto-fantasma” e de certo desapareceria de vista.60 Você não fingiria lê-lo agora, nem lê-lo ou relê-lo, nem fingir ou fingir que finge. Simplesmente quer observar umas palavras. Duas palavras para Henry James, duas palavras de Henry James, no lugar de uma conclusão a propósito da virada literária. 56. Derrida, Of Grammatology, p. 162. 57. Jacques Derrida, em Catherine Malabou e Jacques Derrida, Counterpath: Travelling with Jacques Derrida, trad. David Wills. Stanford: Stanford University Press, 2004, p. 147, tr. sl. mod.; Jacques Derrida, La Contre-allée. Paris: La Quinzaine Littéraire–Louis Vuitton, 1999, p. 147. O caráter desviante dessa obra co-autorada está, talvez, mais claramente anunciado no subtítulo da publicação francesa original: Dérive, Arrivée, Catastrophe (Drift, Arrival, Catastrophe). 58. Ver Derrida, Passions: ‘An Oblique Offering, p. 30. Aqui, de novo, está a questão daquele desvio mais radical que Derrida aponta em Rogues, quando observa que “nunca houve nos anos 80 ou 90 uma virada ética ou política em ‘desconstrução’“. Não se trata de supor que desconstrução “se desvia, ou muda de direção”, mas, sim, do que tal imagem “ignora, ou se contrapõe”, a saber, um pensar do rastro, o desvio diferencial do “descarte” (renvoi) em relação a “o que resta a ser pensado”. Nesse sentido mais radical, desviar seria o abrir-se do próprio futuro, indissociavelmente ligado a um pensar do rastro e da “democracia por vir”. Ver Rogues: Two Essays on Reason, trad. Pascale-Anne Brault e Michael Naas. Stanford: Stanford University Press, 2005, p. 39. 59. Henry James, A Volta do Parafuso e Outras Estórias, Com introdução de S. Gorley Putt (Harmondsworth: Penguin, 1969). Demais referências de página são desta edição e aparecem parenteticamente no corpo do texto, abreviadas “TS” onde apropriado. 60. Nicholas Royle, Telepathy and Literature: Essays on the Reading Mind. Oxford: Basil Blackwell, 1990, p. 10. 71 * A primeira palavra é “virada” – revirar-se61, se você puder dizê-lo. Algo acontece à volta em A outra volta do parafuso: algo é estranhamente inaugurado, talvez sem precedentes na história ou “uso” dessa palavra aparentemente tão simples, dessa volta enquanto tropo e tropo enquanto volta62. Você é tentado a datar “a virada literária” (como tem tentado evocá-la no contexto da literatura inglesa) nesse pequeno texto de Henry James, assim como uma mudança decisiva no sentido de “desvio” que pode ser tracejada até ao Prelúdio de Wordsworth. Você gostaria de começar recordando, a fim de prestar homenagem ao ensaio de Shoshana Felman “Virando o parafuso da interpretação” (1977).63 É uma tour de force, na sua opinião, uma pièce de résistance, crítica que fez por merecer, por sua vez, o mais detalhado e exaustivo comentário. E, com tais pequenas viradas frasais (o tour de force, por sua vez64), a loucura talvez já seja familiar. Poucos textos críticos conseguem conspirar, como ela faz, traçar-se dentro da “loucura da literatura”, mostrando como essa loucura é (como ela coloca) inabitual, unheimlich, até o preciso ponto em que não pode ser situada, coincidindo com o próprio espaço da leitura (201). Em cento e dez páginas, o ensaio de Felman se detém, vira e alterna sobre formas que são fantasmagoricamente e singularmente responsivas ao caráter do texto de James. É, portanto, parte do poder digressivo, porém peculiar de seu ensaio, que apenas depois de oitenta e cinco páginas, finalmente, ela vira o foco de maneira explicita às viradas da palavra “virada” em A outra volta do parafuso, mesmo se você dificilmente deixasse de notar como ela joga a palavra no seu texto, em vários momentos, desde o título do ensaio e adiante. 65 Você fala do retorno66 dos mortos, eis uma das frases mais engraçadas que você pode pensar, ou assim agora ocorre a você, pela primeira vez, que isso é o que o texto de Henry James sugere. A frase “o retorno do morto” vem com tanta facilidade aparente, mas por que, você pensa consigo mesmo, por que as pessoas dizem “retorno”? Não é um retorno – por mais “revoltante... contra a natureza” (TS: 111) que isso possa parecer – é o morto vindo pela primeira vez, é uma completamente outra volta67 no retorno, o desfazer de 61. No original, turn itself (N. da T.) 62. No original, this turn as trope and trope as turn. (N. da T.) 63. Shoshana Felman, ‘Turning the Screw of Interpretation’, in Yale French Studies, 55/56 (1977): 94-207. Onde apropriado, demais referências de página são dadas entre parênteses no corpo do texto. 64. No original, in turn (N. da T.) 65. Ver, por exemplo, “in turn” [retorna, revida], (120, 122), “turning into” [reverte-se] (133), “turns out” [revela] (130, 131, 147, 176). 66. No original, note que a palavra no original – return – contém turn. (N. da T.) 67. No original, turn (N. da T.) 72 todo o sentido de retorno. Há uma volta68 no retorno que o texto de James traz, dá uma volta69 em, estabelece o giro, algo pequeno e fácil de perder talvez, mas algo novo, no entanto, na história da literatura. Depois do que James fez com e para com a “volta70”, na tortura e na felicidade de A outra volta do parafuso, não há retorno. A forma com que o texto trabalha com a “volta” faz a “volta” trabalhar sobre o tempo, e como a “volta” trabalha sobre o texto, sobre o tempo... Você poderia passar dias, semanas ou anos se voltando ao que acontece com todas as versões de volta que voltam no texto de James, pelas “pequenas voltas folclóricas” (20), a experiência do que é virar-se e ver alguém (20), “dan(do) uma volta no terreno” (25), imaginando que alguém possa aparecer “na virada do caminho” (26) a governanta sentindo que sua “imaginação em um instante, tornou71-se real” (26), o sinal do que transparecia ser Peter Quint, um homem morto visto (tão claro quanto “as letras... nesta página”) “in(do) embora72”(28), a experiência de “voltar(se) sobre73” a questão da natureza da existência dessa sua figura mortal (28,29), a suposição de que o mistério do que sucedeu ao jovem Miles na escola tem a ver com a percepção de “diferenças” e “qualidades superiores” “volta(ndo) para o vingativo” (30), a governanta “volta(ndo) para74 a chamada sala de jantar ‘dos adultos’ para “recuperar” sua luvas que caíram (32), então uma nova visão do homem morto que a faz “segurar o (seu) fôlego e ficar75 gelada” (32), saindo correndo da casa, “vira(ndo) uma esquina e (vindo) (a ficar completamente) à vista” – de nada, pois o “visitante desapareceu (32) e então quando Mrs. Grose vê a governanta “ela fica76 branca”(33), “volta(ndose) para (ela) com uma inconsequência abrupta”(35), afastando-se, revirandose77 (36), virando-se de costas, virando para “a esquerda e para a direita” (46), fican(do)78 pálida”(47), voltando-se, virando (48), “a virada de uma página” e “a grande volta da escadaria”(58) vendo a figura do homem morto desaparecer “no próprio silêncio” ele “volta(se)”, escreve a governanta, “ao que (ela) pode ter visto o pobre desgraçado a quem ele pertenceu um dia, virar ao receber uma ordem” (59-60), ela prossegue “(dando) voltas silenciosas na passagem” (62) então é compelida a “afastar-(se)”79 para longe da repugnância (63). Mrs. Grose então “(virando-se) para tirar (dela) uma vista da parte de trás do tapete” (65), a governanta diz algo e Mrs. Grose e “se vira”(70), a governanta pode vêla “visivelmente vira(ndo) as coisas”(70), é como se a governanta, em seu trato 68. No original, turn (N. da T.) 69. No original, give a turn (N. da T.) 70. No original, turn (N. da T.) 71. No original, turned (N. da T.) 72. No original, turn(ing) away (N. da T.) 73. No original, turning over (N. da T.) 74. No original, turning in (N. da T.) 75. No original, turn (N. da T.) 76. No original, turn (N. da T.) 77. No original, turning away, turning around (N. da T.) 78. No original, turning pale (N. da T.) 79. No original, turn away (N. da T.) 73 com “(seus) pupilos”, estivesse “perpetuamente vindo à luz de assuntos ante os quais (ela) para subitamente, virando-se de uma vez para fora de becos que (ela percebe) serem sem saída”(71-2) suas “maneiras” agora deram uma “virada” (73), “o verão virou” (73) um “olhar amável” do garoto Miles voltou-se para ela (74) e, quando ele quer saber quando estará pronto para retornar à escola, ela faz sua “pose mais responsável” enquanto passa a diante80 (a questão) (79), quando Miles está na igreja com os outros, ela pensa em “fugir juntos”, em como seria mais simples “desistir de tudo – dar81 as costas e se retirar”(82), ela diz algo possivelmente acusatório para a Mrs. Grose que “ficou82 um tanto pálida” (86), ela diz a Miles algo e observa como ele volta-se sobre aquilo (89), ela o pergunta se há algo que ele quer dizer a ela e ele “vira-se um pouco, encarando a parede” como uma criança doente, e a governanta sente que “dar as costas a ele” é “perdê-lo” (90), quando ela finalmente coloca sua questão mais apavorante à pequena Flora, dizendo o nome pela primeira vez com as palavras “onde, meu bichinho, está a Miss Jessel?” e a mulher morta aparece subitamente, Mrs. Grose profere “o guincho de uma criatura assustada, ou, antes, ferida, que, por sua vez, em alguns segundos, estava completo” lembra a governanta, “por um suspiro próprio (dela)” (98), e então a menininha, ao invés de olhar para o fantasma da Miss Jessel, “vira-se para (a governanta) com uma grave expressão de dureza” em “um golpe” que “de alguma forma converte a menininha na mesma presença que (faz a governanta) acovardar-se” (99), e depois a especulação da governanta, ou a esperança declarada de que, se ela saísse, apenas “fosse embora”, Miles “não ligaria”83 (105) mesmo assim, pouco depois, a descoberta de que “ele roubou”, e, acima de tudo, de que “(ele) roubou cartas”, a faz “se entregar”, tentando ser “mais judicial”(108) e uma vez que Mrs. Grose vai embora da casa com Flora, ela deixa a governanta sozinha com Miles “em um lugar menor do que (ela) já tinha se virado84”(109), e mais tarde no jantar é Miles que “se vira” depois que o garçom saiu e declara “Bom – então estamos sós!” (112), e depois novamente quando sua “insistência” é tida como tendo “o tirado85 (dela)” e o mantido silente na janela (116), e o verdadeiro fervilhar de viradas nas duas páginas finais em que a governanta pergunta a Miles mais uma vez sobre o porquê dele ter “largado86” a escola e ele “se afasta87” (119) e, finalmente, ela “se entrega” e ele “novamente vira para (ela) seu lindo rosto febril” (120). 80. No original, turn over (N. da T.) 81. No original, turn her back (N. da T.) 82. No original, turn her back (N. da T.) 83. No original, turn on (N. da T.) 84. No original, turned around in (N. da T.) 85. No original, turned him from her (N. da T.) 86. No original, turned out (N. da T.) 87. No original, turns away (N. da T.) 74 E nenhuma dessas viradas da virada pode ser lida fora da questão da chamada “narrativa de moldura” ou ainda da alternância de viradas em que sua forma fantástica é projetada (fantástica na medida em que as molduras acabam por não existir, já que a novela termina simplesmente com um virarse para o abismo), em outras palavras a cena de abertura da estória em que vários personagens (Douglas, o narrador anônimo e outro personagem anônimo referenciado simplesmente como “alguém”) pronunciam a frase “vire o parafuso”88. Você se lembra que Douglas, dono do manuscrito do texto da governanta, reflete sobre o fato de, se numa estória de fantasmas uma criança for o objeto de uma visita fantasmagórica, isso “dá o efeito de mais uma volta do parafuso” (7). E você já poderia dizer que a linguagem de James está tramando algo esquisito [screwy]: nós já estamos na esfera da estranha repetição, pois sabemos que o título do texto é A outra volta do parafuso – e assim a palavra “outra” aqui é marcada por uma estranheza suplementar. E o “efeito” a que Douglas se refere é correspondentemente peculiar, já que ele dificilmente pode ser previsto sem que a volta seja invocada. A volta já é o efeito, na realidade – é como se, aqui, “volta” estivesse operando como um substituto para “causa”, como se a lógica de causa e efeito, de primeiro e segundo, tivesse sido silenciosamente, porém irrevogavelmente desparafusada. Aqui está a troca, seguindo com o que Douglas diz: 88. Para mais discussão da “narrativa em abismo” como uma ficção crítica, permitam-me referir ao meu ensaio “Spooking forms”, Oxford Literary Review, 26 (2004), 155–72. “... mas não é a primeira ocorrência de seu tipo encantador que soube ter envolvido uma criança. Se a criança dá ao efeito outra volta do parafuso, o que você diz de duas crianças – ?” “Nós diremos, é claro”, alguém exclamou, “que elas dão duas voltas! E que também queremos saber delas” (7) Entre a primeira e a segunda frase, a criança mudou de objeto (“envolveu a criança”) a sujeito (“a criança deu”); ao mesmo tempo não é a criança, mas o envolvimento que a criança “dá” (começamos, talvez, a sentir a volta desde já inscrita no volver do “envolveu”); e não é o efeito que o envolvimento dessa criança dá, mas a volta que o envolvimento dá para o efeito. As frequentes pequenas voltas despercebidas, você quer dizer, que James dá à linguagem conversacional, te coloca em contato com o belo axioma de Elizabeth Bowen sobre a escrita do romance: “O diálogo deve parecer realista 75 sem o ser”89. Singular, perversamente verista, o diálogo aparentemente realista de James é, na verdade, vinculado a duplos negócios de vários tipos. “Para dois”: Douglas não está perguntando a seus ouvintes o que eles dizem de duas crianças, mas, sim, o que eles dizem, ou diriam, da ideia ou do envolvimento de duas crianças. De forma correspondente, um “alguém anônimo” pega Douglas por suas palavras e as volta contra ele: “Nós dizemos, é claro...” (7). Esse nós real já é, claro, uma duplicação ainda maior do narrador que é e não é James, o “nós” e o “Eu” anunciados ainda nas palavras de abertura do texto: “A estória nos segurou, ao redor do fogo, suficientemente ofegantes... Eu lembro...” (7, grifos meus). “Nós dizemos, claro, que eles nos deram duas voltas! E também que queremos ouvir sobre eles”: essa resposta dá mais uma ou duas voltas por si mesma – ela se apropria do plural, multiplicando-se em uma voz (“nós dizemos”, não “Eu disse”), então assimila o discurso ao desejo (“nós dizemos” se torna “nós queremos”). Essa breve assertiva de ser dois (ou mais) a falar – e de subsumir um conhecimento do desejo de outro ou outros dentro de si mesmo – em um tipo de ilustração miniatura ou condensada do que Jacques Derrida identificou como uma característica definidora da ficção literária, a saber: “o dispositivo básico de ser-dois-a-falar”.90 E em James, você deve enfatizar, sempre há mais de dois: mesmo quando há dois, há três. É uma questão de como, nas palavras de Maurice Blanchot, James “consegue fazer o papel do terceiro elemento na conversa, aquele elemento obscuro, que é o centro e a causa de cada um de seus livros, e fazer dela não apenas a causa de desentendimentos, mas a razão para ansiar por entendimentos profundos”.91 Assim, o próprio título do romance deve ser ouvido como um delírio verístico de múltiplas vozes. Entre elas, está a voz da própria da governanta. A frase-título é uma fala dela, com efeito, porém estranhamente, sem o conhecimento do narrador, sem seu conhecimento ao menos dentro do espaço do desdobramento linear, que o pensamento mágico, a telepatia, a clarividência e a clariaudiência da narrativa literária terão lançado, pela mesma volta, ao desvio desde o começo. Como a governanta observa, perto do fim: o que sua “monstruosa provação” equivale a, embora “desconfortável” e embora demandante de ir “numa direção incomum” é “apenas outra volta do parafuso da ordinária virtude humana” (TS:111). É como se o próprio título fosse um fantasma, vindo ou voltando, muito tarde, anacronicamente, desviando no 89. Elizabeth Bowen, ‘Notes on Writing a Novel’, in The Mulberry Tree: Writings of Elizabeth Bowen, ed. Hermione Lee. London: Virago, 1986, p. 41. 90. Derrida, Given Time: I. Counterfeit Money, p. 153. 91. Maurice Blanchot, ‘The Pain of Dialogue’, em The Book to Come. Trad. Charlotte Mandell. Stanford: Stanford University Press, 2003, p. 153. 76 tempo. No processo de rejeição, como você poderia chamar, o narrador declara que tem um título, mas Douglas não repara: “‘Ah, eu tenho (um titulo)!’ Eu disse. Mas Douglas, sem me dar atenção, começou a ler com uma fina clareza, que era como tradução aos ouvidos, da beleza das mãos do autor” (14). O que se segue, o estranho zigzag no começo da narrativa da governanta (“eu lembro de todo o começo como um sucessão de voos e quedas, uma pequena gangorra da pulsação certa e da errada” (14)), já começou. Oitenta e cinco páginas do ensaio, você dizia, e Felman finalmente chega à volta, propondo que o romance de James é “organizado como uma verdadeira topografia de voltas” (179), um labirinto no qual estamos frente “à perda de todo o sentido de direção” (180). Ela destaca uma passagem no capítulo 6 em que a governanta relata as considerações feitas a ela pela Mrs. Grose sobre a morte de Peter Quint. Aqui, a governanta descreve a volta errada ou ainda (para citar a própria inversão sintática da governanta) a “errada volta” em que Peter Quint, deixando o bar no escuro, bêbado, pegando o “caminho completamente errado”, escorrega fatalmente em uma “rampa de gelo” (TS: 42). Felman propõe que essa volta conte, no final, para o final – do romance e daquele “outro acidente” de “morte” (aquela do jovem menino Miles). Isso dá origem, ao mesmo tempo, ela sugere, a “um terrível e fatal erro de leitura” (180) da parte da governanta. Aqui, Felman se concentra na “carga semântica” da palavra volta [turn] como “conotando a possível ressonância de ‘um ataque de loucura’ (cf. ‘tornar-se histérico92’)” (180) e continua para citar, do capítulo 20 do romance, o que ela considera ser “o momento crucial, quando a governanta furiosamente acusa Flora de ver Miss Jessel e se recusa a admiti-lo, (e quando) Mrs. Grose que, como a garota, não vê nada, protesta contra as acusações da governanta” (180). Mrs. Grose exclama: “Nossa, que virada terrível, na certa, Miss! Onde foi que você viu alguma coisa?” (TS: 100). (Felman coloca “Nossa que virada terrível” em itálico: aqui, por um momento, Você imagina uma digressão violenta e revoluta sobre a virada dada às palavras perpassadas pelo itálico, os efeitos efervescentes, quase mesmerizantes do itálico que atua sobre o texto de Felman, e em de Henry James, por sua vez93). 92. No original, turn of hysteria (N. da T.) 93. No original, in turn (N. da T.) Nesse momento em que a meditação mais extensa de Felman sobre a palavra virada [turn] aparece. Ela escreve: 77 Aqui, a palavra ‘virada’ significa um ‘momento decisivo’, ‘uma mudança de significado’, ‘uma mudança de eventos’, ‘uma mudança de histeria, ‘um ataque de nervo’, ‘um ajuste’, ‘uma formula mágica’? E se ela significa um momento decisivo (uma mudança de significado), ela designa uma simples reorientação ou uma desorientação radical, isto é, uma reviravolta delirante ou um desvio? Ou a ‘virada’ nomeia precisamente a figura textual irônica de sua própria capacidade de revirar-se, de se transformar em loucura, de ‘projetar outro caso possível’ ou outra virada? Qualquer que seja o caso, a metáfora da ‘volta do parafuso’, se referindo a uma virada – ou uma torção – do sentido, estabelece uma equivalência irônica entre direção e desvio, entre uma virada de sentido e uma virada em loucura, entre uma virada de interpretação e um momento decisivo94 para além do qual a interpretação se torna delirante. (181) Essa acumulação delirante de questões parece colocar o significado de “virada” em termos de alternativas (ou isso ou aquilo) e equivalências (entre isso e aquilo), concluindo pela “equivalência irônica” entre “a virada de uma interpretação e o momento decisivo95, para além do qual a interpretação se torna delirante”. Você coloca “irônica” em itálico, para sugerir que as próprias noções de equivalência e de interpretação estão aqui dando um tipo de virada engraçada, e imaginas o que, talvez, tenha se perdido com a decisão de Felman de enquadrar sua análise em “termos de interpretação”, em primeiro lugar. O tropo da “interpretação” anunciado em seu título (“Virando o parafuso da interpretação”) sinaliza uma preocupação com a hermenêutica que está funcionando em todo seu ensaio. Isso parece estar vinculado a uma confiança na linguagem da volição e implica liberdade de escolha, quando ela pergunta de modo declarativo: “mas qual, na verdade, é o significado de uma virada, se não aquela de uma mudança, precisamente, de direção, de modificação de uma orientação, isto é, tanto um deslocamento quanto uma escolha de sentido, de significado?” (179). A virada literária, você se sente compelido a apontar, não seria mais uma questão de “escolha” do que de “interpretação”. 94. No original, turning point (N. da T.) 95. No original, turning point (N. da T.) Você sente que o que faz de A outra volta do parafuso uma obra-prima tem a ver com as suas viradas e o que faz com a “virada”. Ela mostra um desvio dentro da figura ou do tropo da virada. Ela deixa a “virada” se desviar de uma maneira singular e ao mesmo tempo delirante ou até mesmo desconhecida. 78 Ela apresenta um caso clássico da grande obra literária como uma obra de desvio dentro de seu duplo e aparentemente antitético sentido – de uma só vez um exercício extraordinário de controle e uma liberdade impressionante. Todos têm a impressão de James como um Mestre – e de quão à vontade e conhecedor, controlador e calculista ele era em seus escritos. Você propõe como indicativo um comentário em uma das entradas de seu caderno, de abril de 1894, a propósito de uma estória não escrita: “eu sei que meus saltos e elisões, minhas pontes voadoras e laços abrangentes (em uma ou duas admiráveis vívidas sentenças) devem ser impetuosas e magistrais”.96 Ele sabe tudo sobre saltos e laços, giros e parafusos. Mas essa arte de desviar, como chamam, é também o que se permite ou se abre para o outro. É uma questão das formas com que tal controle é inseparável do precipitado, do mergulhante, a virada delirante do literário – desviando para além de qualquer ancoragem em noções de intenção autoral, consciência ou inconsciência. Você pode escolher, talvez, sobre todos os poréns, nos silêncios, no sentido de palavras abandonadas, órfãs verbais, deixadas para brincar consigo mesmas o melhor ou o pior, em seu próprio mundo orfantasmático [orphantasmatic]. 96. Veja Cadernos de Henry James, ed. F. O. Matthieseen e Kenneth B. Murdock. New York: Oxford University Press, 1961, p. 161. A estória à qual se refere James é “The Coxon Fund” Estamos “no mesmo barco que a governanta” (182), aponta Shoshana Felman. O tropo da navegação, de se estar num barco, de estar no mesmo barco da governanta, talvez seja surpreendentemente central no trabalho de James. A virada do parafuso pode muito bem parecer um tema terrestre, um romance contado numa casa, sobre uma casa, sobre aquilo que assombra o chamado território caseiro. Mas o barco desliza (por sobre isso). É uma “nave à deriva”, com a governanta “estranhamente ao timão” (TS: 18), como ela coloca, logo cedo, em sua narrativa. A governanta segue guinando, e com ela nós guinamos. Somos – numa deriva transegmental – parte da tripulação [crew] da governanta (seu parafuso) [screw]. Você está inclinado a supor que James faz um jogo deliberado sobre a etimologia de “governo”, do latim gubernare, e originalmente do grego kybernaein, de guinar (uma vela), assim como joga com o nome de Mrs. Grose enquanto o adjetivante “crasso”, o advérbio “crassidade”, a incômoda suspeita de algo que cresce [grows]. Mas quão longe você supõe que isso vá? Enquanto escrevia o romance em seu flat em Londres, na rua De Vere Gardens, 34, terá James tencionado deixar a “guinada” embutida em “governanta” dar a volta, ou querido que víssemos as letras de “grose” 79 embutidas anagramaticamente em “governanta”? Teria um olho nas letras da palavra “turn” em “Peter Quint”? Esse tipo de orfantasia (orphantasy) é, como se diz, um efeito colateral, um efeito-colateral-de-leitura. Um tal jogo não é algo que qualquer um escolha. Não mais uma questão de intenção autoral que de inconsciência putativa. É o que está ocorrendo na virada literária. É uma questão de abordagem da efervescência subatômica da linguagem, das atividades e passividades infectadas e infecciosas de uma máquina de escrever que, quando operando a todo vapor (como em Shakespeare, Wordsworth, Dickinson, James, Freud, Bowen, Cixous), não obstante desdobra aquilo que partilham a psicanálise e a literatura: “uma espécie de mágica” em movimento, 97. Sobre uma “espécie os efeitos poético-performativos de desvio.97 Então, você se volta à estranheza da localidade, a um sentido de orientação para além da crença. “Na certa, que terrível virada, Miss! Onde é que foi que você viu alguma coisa?” Essa questão lembra e repete outra que apareceu um pouco antes, novamente da boca da Mrs. Grose, com referência a Flora depois que ela fugiu pelo lago em um pequeno barco: “mas se o barco está lá, onde raios ela está?” (96). O interrogativo “onde”, certamente, é um dos grandes ressonantes verbais, um sinistro insistir no texto de James. A última palavra de Miles é, ao final, uma palavra literária, a palavra que, talvez, mais nitidamente que qualquer outra, convida a uma compreensão da virada literária, a vertigem de uma orientação para além da crença. A governanta vê o homem morto na janela e o menino “aturdido, olhando em vão para o lugar e sentindo falta totalmente... a ampla esmagadora presença”, diz a ela: “é ele?” ela se vira: de mágica, ver Sigmund Freud, “The Question of Lay Analysis: Conversations with an Impartial Person’” (1926), em SE 20: 187; “Uma Espécie de Mágica” foi, também, objeto de uma aula notável de Hélène Cixous, lecionada na Universidade de Leeds, 2 de Junho de 2007. Para duas recentes e impactantes elaborações sobre os entrelaçamentos da literatura, psicanálise e mágica, ver Elissa Marder, ‘Mourning, Magic and Telepathy’, Oxford Literary Review 30: 2 (2008), 181–200; e Sarah Wood, ‘Foreveries’, Oxford Literary Review 31: 1 (2009), 65–77. Eu estava tão determinada a ter toda minha prova que eu me atirei no gelo para desafiá-lo. “Quem você quer dizer com ‘ele’?” ‘Peter Quint – seu danado!’ Seu rosto deu de novo, ao redor da sala, sua súplica convulsiva. ‘Onde?’ Eles ainda estão nos meus ouvidos, sua rendição suprema ao nome e seu tributo a minha devoção. ‘O que ele importa agora, meu próprio? – o que ele jamais irá importar? Eu te tenho’, Eu gritei para a besta, ‘mas ele te perdeu para sempre!’ (TS:121) 80 Virtualmente é o fim – a queda da narrativa no abismo, como Felman e outros enfatizaram, em que somos deixados com a narradora governanta, deixada, por sua vez98, com o belo garoto morto em seus braços, o fim “Onde?” ainda lá, no ouvido, um estranho quadro em que qualquer assim chamada narrativa de moldura foi irrevogavelmente cortada, não retornável, sempre a desviar: “... te perdi para sempre...”. 98. No original, in turn (N. da T.) * A segunda palavra, que aqui também é a última, é “você”. Se, como Shoshana Felman argumenta, A outra volta do parafuso é exemplar em mostrar o “estranho poder da armadilha” de um trabalho literário “como um efeito de leitura inescapável” (102), seria sobre você, o você que você acha que se tornou, o destinatário da carta chamada A outra volta do parafuso. Há um jogo estranho e singular do “você”, ao longo de todo o Parafuso, começando com o aparentemente alegre arquear sobre a questão do que “você irá julgar” (TS: 9), com atenção à escrita que se segue, e que termina mais surpreendentemente, talvez, nas palavras convulsionadas do garotinho: “Peter Quint – seu danado!” (121). Você imagina se esse peculiar efeito-de-você não é algo que foi sugerido ou sorrateiramente jogado naquele célebre comentário que James faz em seu Prefácio para a New York editions: Faz apenas a visão geral do leitor sobre o mal, intenso o bastante, eu disse a mim mesmo – e isso já é um trabalho encantador – e em sua própria experiência, sua própria imaginação, sua própria simpatia (com as crianças) e o horror (de seus falsos amigos) irão supri-lo suficientemente com todas as particularidades. Faça-o pensar no mal, faça-o pensar por si mesmo, e você estará livre de especificações fracas.99 99. Veja The Novels and Tales of Henry James, New York ed., vol.12 (London: Macmillan, 1908), p. xxi–xxii. É uma curiosa passagem encriptada dentro dos peritextos críticos, essa reminiscência embutida de um solilóquio (“eu disse a mim mesmo...”). Que começa com “Eu” e termina com um você: “você está liberado...”, quanto à narrativa da governanta, você fica dentro da espiral, você se vê inscrito lá, em 81 fugazes vislumbres espectrais, apenas duas ou três vezes, quando a governanta escreve: “pense no que você quiser” (TS: 27), “você vai ver o quê” (61) e então “você pode imaginar” (62). Esses são momentos singularmente estranhos, nos quais você mal pode deixar de se perguntar: a quem a governanta se dirige? O desvio não pertence a nenhum -ismo ou escola de crítica ou de teoria. Não é psicologia ou filosofia ou literatura. É uma força, alterando a intimidade, desviando-se nela, desviando-se para fora. Você diz isso tudo. Você para. Você sorri. Mas as lágrimas começam a cair. Não tenho ideia de quem ou que raios você é. (tradução de Mariangela Andrade Praia) 82 o instante literário e a significação corporal do tempo – Levinas leitor de Proust Danielle Cohen-Levinas 83 o instante literário e a significação corporal do tempo – Levinas leitor de Proust Danielle Cohen-Levinas1 Nós sabemos o quanto a relação com o outro é originariamente primeira. Essa intersubjetividade não é em nada sinônimo de comunicação, mas “suprema passividade da exposição a Outrem”, diz Levinas em Autrement qu’être2. Esse movimento de exposição que pode chegar à substituição, à fissura do sujeito, ao seu aniquilamento, “como uma pele se expõe àquilo que a fere, como uma face oferecida àquele que bate”3, é vivida como trauma, como “dizer ao outro” incomensurável relativo a um enunciado que se contenta em dizer qualquer coisa. O “dizer ao outro”, constitutivo da subjetividade, atesta uma reviravolta da estrutura de significação do dito. Ao apresentar o motivo da “exposição” como aquilo que sempre excede a ordem lógica daquilo que se mostra, Emmanuel Levinas terá examinado a maneira como o sujeito desvela sua sensibilidade definida como vulnerabilidade e como essa exposição que nos leva à transcendência de outrem transforma profundamente os pressupostos fenomenológicos. A exposição de um sujeito não é somente exposição do sujeito intimado ao outro e pelo outro. Trata-se igualmente de uma exposição que faz emergir a ideia mesma de intencionalidade e de teleologia. Esse pôr em abandono da fenomenologia, que pode ser ainda interpretado como um gesto requerido por ela, é que funda, em Levinas, a passagem da necessidade ao desejo e do desejo à exposição de outrem, que é particularmente eloquente na obra de Proust, lida por Levinas nos anos de cativeiro. Há uma onipresença da literatura na obra filosófica de Emmanuel 2. LEVINAS, Emmanuel. Autrement qu’être. Ed. Nijhoff, La Haye, 1974; Le livre de poche, 1978. As referências bibliográficas citadas por todo o texto remetem às respectivas edições no original e as citações aparecem aqui traduzidas livremente do francês para o português. 3. Ibidem, p. 83. Levinas, mas essa onipresença não se limita a idiomas narrativos únicos ou a Professora na Université Paris IV Sorbonne desde 1998, onde fundou o Centro de Estética, Música e Filosofia Contemporânea, depois, em 2008, o Collège des études juives et de philosophie contemporaine – Centre Emmanuel Levinas. Pesquisadora-associada nos Arquivos Husserl de Paris na École Normale Supérieure. 1 84 referências pontuais. É este um dos traços característicos da modernidade do século XX, o suscitar de uma proximidade de escritura e de pensamento entre filosofia e literatura; quanto a isso, Proust representa a ele aquilo que Roland Barthes chamava, em 1974, “um sistema completo de leitura do mundo. (…) Não há, em nossa vida cotidiana, qualquer incidente, encontro, traço, situação que não tenha sua referência 4. BARTHES, Roland. Entretien em Proust”4. Se Emmanuel Levinas não rompeu com essa tradição, muito antiga no que concerne à França, é preciso imediatamente acrescentar que ele foi atento, como poucos filósofos o foram, à literatura e à poesia, e que a grande originalidade de Levinas, ou mesmo a radicalidade de seu gesto, foi de sustentar como hipótese ou, ao menos, de deixar entrever, em seu ensaio de 1948 em Les Temps Modernes, “La realité et son ombre”5, que a literatura não é entendida como arte, que a palavra narrativa não se contenta em falar ou em se imergir na paixão do verbalismo e do contentamento psicológico, mas que ela é uma palavra que se faz ela mesma no movimento da narração, no ato de escritura. Nesse sentido, ela é já, em si, um apelo a outrem – isso que Levinas entende como a modalidade mais essencial do “desconfiar de si próprio” que é, como sabemos, o adequado à filosofia e à crítica. A literatura moderna, sincronizada com as preocupações e prioridades filosóficas, manifestaria a certas considerações, mais que a filosofia, ou tanto quanto, aquilo que Levinas chama de “uma consciência mais e mais certa dessa insuficiência basilar da idolatria artística”6. O processo expresso de maneira bastante incisiva por Levinas não é aquele da literatura, mas da arte, na medida em que ele não é linguagem. Consequentemente, ele não está à altura da questão da verdade e do bem que a filosofia, desde Platão, tenta articular. A tentação estética rigorosamente condenada por Levinas no contexto do imediato pós-guerra e já em De l’existence à l’existant7, começado em cativeiro, pelo motivo de que ela constitui o evento mesmo da obscuridade do ser e que ela o conduz ao seu assombramento não é comparável à tentação literária expressa por Levinas em Carnets de captivité – tentação que se deve, creio, levar muito a sério e examinar (ausculter) muito atentamente. Levinas, leitor de Proust, certamente, mas de tantos outros escritores durante esse período em que interrogava tragicamente por essa fórmula inscrita em Carnets, “Que dirá a história?”8, detecta na literatura a possibilidade de reintroduzir, no cerne do rigor conceitual, uma inteligibilidade do mundo em que a noção de “experiência” ocupa um lugar central. Com a narração, tornada forma de relação a outrem, Levinas aborda de Roland Barthes avec Claude Jannoud (Le Figaro, 27 juillet 1974). In Œuvres complètes, volume 3, Paris: Editions du Seuil, 2002, p. 569 5. LEVINAS, Emmanuel. La realité et son ombre. Texte repris dans Les Imprévus de l’histoire. Montpellier: Ed. Fata Morgana, 1994, p.123-148. 6. Ibidem, p.123-148. 7. LEVINAS, Emmanuel. De l’existence à l’existant. Paris: Librairie philosophique Vrin, 1ère édition 1947, réédition 1981. 8. LEVINAS, Emmanuel. Carnets de captivité et autres inédits. Volume publié sous la responsabilité de Rodolphe Calin et de Catherine Chalier (œuvre 1). Paris: Ed. Grasset/Imec, 2009, p. 79. 85 o status do sujeito, da subjetividade que deve provar a modificação, até mesmo da fissura e da devastação. Definitivamente, as narrações e os escritores que retêm sua atenção estão todos marcados por aquilo que podemos chamar de a extradição do sujeito, que será definitivamente o verdadeiro motivo das narrações em torno de que se enlaça uma dramaturgia, uma intriga de acordo com a experiência de Levinas, ou ainda, como ele escreve no sexto caderno: O medo de ser simplório – não seria tal regra prática que me parece absoluta, não é ela pura e simplesmente da ‘literatura’ – essa esfera da literatura se alargou infinitamente. A virtude é ela?9. Levinas então vivenciou o cativeiro, a condição de refém, como ele mesmo o disse – referindo-se a diversas retomadas da palavra “refém”, ele a conhece “desde a perseguição nazista”10, em “a passividade total do abandono, no desprendimento em relação a todos os laços”11, e ao mesmo tempo como um momento em que se revelam “as verdadeiras experiências”12. A narração de Levinas é de uma força inaudita: Sofrimentos, desesperos, lutos – certamente. Mas, sob tudo isso, um ritmo novo de vida. Nós pisamos em um outro planeta, respirando uma atmosfera de uma mistura incomum e manipulando uma matéria que não pesa mais13. A força singular do termo “refém”, que imediatamente entra em ressonância com “cativeiro”, relaciona-se, sem dúvidas, com a maneira como Levinas o desloca pelo registro conceitual, detectando, então, aí, a eminência de um Dizer que se narra carregado de uma força ética irrecusável. Esforço que tende ao que Levinas chama em Autrement qu’être de “tematização, pensamento, história e escritura”14, que vem necessariamente para ser ferido por, não somente o rastro da significância, do “fazer signo” e da proximidade, mas pela experiência vivida e por sua temporalização no processo de escritura e no exercício do pensamento. Levinas então viveu o cativeiro, ele foi, como se diz, prisioneiro de guerra, dividido entre 1942 em Frontstalag, Rennes, Laval e Vesoul, e, desde 1942 até o fim do cativeiro em 1945, foi prisioneiro em Stalag XI B de Fallingbostel, na Alemanha, separado de outros prisioneiros franceses 9. Ibidem, p. 161. 10. Ibidem, p. 31. 11. Ibidem, p. 213. 12. Ibidem, p. 203. 13. LEVINAS, Emmanuel. Carnets de captivité et autres inédits. Volume publié sous la responsabilité de Rodolphe Calin et de Catherine Chalier (œuvre 1). Paris: Ed. Grasset/Imec, 2009. 14. LEVINAS, Emmanuel. Autrement qu’être. Ed. Nijhoff, La Haye, 1974; Le livre de poche, 1978, p. 20. 86 e sob a obrigação de trabalhar em um kommando especial reservado aos juízes que partiam à floresta todos os dias desde as quatro horas da manhã. Foi nessas condições inumanas que ele confiou, cada dia, ao retornar da floresta onde ele exercia o trabalho de lenhador sob os uivos e insultos de soldados alemães, notas, aforismos e pensamentos a uma série de pequenos cadernos que hoje em dia nós percorremos tentando reconstituir, tempos depois, a gênese de sua obra, a partir da acumulação desses fragmentos em que se intercalam reflexões filosóficas, referências à tradição bíblica e talmúdica, excertos de textos romanescos que Levinas reescrevia rigorosamente e rascunhos de três romances dos quais dois permaneceram inacabados, Eros e La dame de chez Wepler. Porque a condição de refém tinha isto de paradoxal: autorizava os prisioneiros que tivessem sido submetidos aos piores maus tratos durante o dia a irem a bibliotecas no fim da tarde. Leitura, escritura e cópia representaram para Levinas espaços de sobrevivência frente à “terrível realidade que se tece”15. Mais tarde, em uma entrevista, Levinas voltou a essa experiência que ele comparou em Carnets de captivité a uma “vida monástica ou moral”, evocando as leituras que eles jamais teriam feito sem o cativeiro. 15. LEVINAS, Emmanuel. Carnets de captivité et autres inédits. Volume publié sous la responsabilité de Rodolphe Calin et de Catherine Chalier (œuvre 1). Paris: Ed. Grasset/Imec, 2009, p. 72. Fazendo de você um refém, puniria-se você por algum outro. Para mim, esse termo não tem outra significação, salvo se ele recebe no contexto uma significação que pode ser gloriosa. Essa miséria do refém tem uma certa glória, na medida em que quem é refém sabe que corre o risco de ser morto por um outro. Entretanto, nessa condição de refém, que eu chamo ‘a incondição de refém’, não tem aí, para além do destino dramático, uma dignidade suprema. Condição e incondição É possível expor e tematizar a figura do refém quando nós mesmos o somos? É possível passar a experiência vivida da condição de refém à experiência filosófica da incondição de refém, sem fazer degringolar essa questão, tomada no trauma do tempo histórico, na ordem daquilo que Levinas procura transpassar? O que é a passagem do Dito do cativeiro ao Dito do refém, um pode traduzir o outro sem o trair? Isso seria por um retrair-se jamais alcançado, sempre recomeçado, em que Levinas foi bem sucedido ao 87 interpretar a significação do Dito do refém da experiência vivida, submetendo-a à irreductibilidade do Dizer da incondição do refém – o lugar onde se elabora um pensamento filosófico que será abertura àquilo que Levinas chama, em Carnets de captivité, “a significação corporal do tempo”16. Essa significação aparece na obra de Levinas a partir de suas leituras incessantes de Proust, feitas enquanto foi prisioneiro de guerra. Em Proust, a realidade humana não se deduz da dialética única da totalidade histórica e da ruptura escatológica. Ela está sempre em tensão constitutiva com a pura significância de outrem, excluindo assim o desvelamento objetivo e se evadindo a uma ordem políticohistórica: “Toda a história de Albertine prisioneira – é a história da relação com outrem”, escreve Levinas em Carnets de captivité�. Assim, em Proust, a aproximação amorosa e erótica não é responsável pela justiça da face e da palavra. Ela transita pelo silêncio duvidoso e significativo que, em Levinas, tornar-se-á em Totalité et infini a intencionalidade da carícia como momento “sensível que transcende o sensível” e que, ao transcendê-lo, permite acessar a dualidade que é própria do mistério incomensurável de outrem. Esse mistério é, para Levinas, “a base mesma do amor”17. O tema da sexualidade, muito presente em Carnets, é a partir deles abordado como constitutivo da egoidade. Em 1942, entre uma reflexão sobre Joseph de Maîstre e Alfred de Vigny, e uma alusão à festa de Simha Torah (4 de outubro de 1942), Levinas recopia essa breve passagem de Albertine desaparecida: Eu não parei de me amar porque meus laços cotidianos comigo mesmo não haviam sido rompidos como haviam sido aqueles de Albertine. Mas se esses com meu corpo, comigo mesmo, também o fossem? Certamente será a mesma coisa. Nosso amor à vida não é nada além de uma velha ligação da qual não sabemos nos libertar. Sua força reside em sua permanência. Mas a morte que a rompe vai nos curar do desejo da imortalidade18. 16. Ibidem, p. 186. 17. Ibidem, p. 114. 18. Ibidem, p. 77. Poderíamos listar temas muito precisos que, em Em busca do tempo perdido, fundam a subjetividade proustiana, e poderíamos, de maneira sistemática, colocá-los em relação com os idiomas levinasianos: amor, erotismo, sexualidade, socialidade, significância e significação, exposição, estrutura ética da subjetividade do o-um-pelo-outro (l’un-pour-l’autre), a morte oposta à experiência, o momento em que o heterogêneo se impõe como Outro na 88 medida em que é Todo e qualquer Outro (Tout Autre), a impossibilidade de uma retomada de todo e qualquer Outro no mesmo, o feminino assimilado à figura de Outrem “antes que Outrem(,) seja uma outra pessoa”19. Esses temas podem ser pensados como atestações narrativo-filosóficas em que se encontra o rastro de uma arqueologia genética em Carnets, e que Levinas, em Autrement qu’être, articulará em torno de uma única questão: o que há com a subjetividade quando ela está exposta à alteridade do outro? Essa dualidade de um sujeito simultaneamente exposto à alteridade do outro e de um sujeito que repousa substancialmente sobre si, isso que Levinas chama de “o outro no mesmo”, exposto a um “apesar-de-si” (malgré-soi), caracteriza aquilo que chamamos aqui de “o instante literário” para Levinas, em que as leituras de Proust representam um momento que consideramos como fundador. Os temas proustianos são todos determinados por uma identidade subjetiva que não coincide jamais consigo. Assim, poderíamos inscrever o movimento especulativo do pensamento de Levinas no movimento narrativo de escritura de Proust e aí deduzir, a partir das três ocorrências, Amor, Alteridade, Subjetividade, no sentido fenomenológico do termo, o que significa “mostrar isso que é uma pessoa frente a uma outra”20. Proust é, portanto, um dos eixos para os quais se volta a ruptura de Levinas com o substancialismo em prol do emergir efetivo da intersubjetividade do amor. Essa ruptura só é possível se é operado um movimento de substituição, se se passa do ato como manifestação primeira da substância à “volúpia que não é nem ato nem pensamento”21. O esforço de Levinas consistirá em articular a questão da volúpia com as da socialidade e da alteridade radical. Ele escreve: 19. Ibidem, p. 76. 20. Ibidem, p. 145. 21. Ibidem, p. 144. Quando eu digo que Proust é um poeta do social e que toda a sua obra consiste em mostrar aquilo que é uma pessoa frente a outra, eu não quero evocar simplesmente o antigo tema da solidão fatal de cada ser (Cf. – Solitudes d’Estaunié) – e a situação é diferente: a um ser, tudo do outro é velado – mas não resulta disso uma separação – é precisamente o fato de se velar que é o fermento da vida social. Essa minha solidão que interessa a outrem e todo seu comportamento é uma agitação em torno de minha solidão. Marcel e Albertine – é isso. A obra tão vasta de Proust conduz a esses dois temas de Albertine prisioneira e possessa que não é distinta de Albertine desaparecida e morta. Seu tormento que engendra seu laço com ela, isso que tem tantas coisas dela – de coisas simples, atitudes, gestos, pose – que ele não conhecerá 89 jamais. E isso que ele conhece dela é dominado pelo que ele ignora sempre – pois todas as evidências objetivas dela são menos fortes que as dúvidas que restarão a jamais nele – e que são sua relação com Albertine.22 22. Ibidem, p. 145. Gênese e genética de um pensamento novo Se a publicação do primeiro volume dos inéditos de Emmanuel Levinas permite traçar e reconstituir de maneira quase genética as premissas de um pensamento que interroga o status da escritura, isso se dá, em grande parte, graças à descoberta, em Carnets de captivité, da abundância explícita de referências literárias e, sobretudo, pela descoberta daquilo que poucos exegetas e especialistas na obra de Levinas conheciam: a ambição, a vocação claramente expressa por Levinas de conceber sua obra como uma constelação que articularia a filosofia com a literatura e a crítica. Levinas escreve desde o primeiro caderno de cativeiro, começado em oito de setembro de 1937: “Minha obra a fazer: Filosófica: 1) O ser e o vazio 2) O tempo 3) Rosenzweig 4) Rosenberg Literária: 1) Triste opulência 2) A irrealidade e o amor Crítica: Proust”.23 23. Ibidem, p. 74. É, portanto, em Proust que desejo me deter, insistindo na ideia de que, se Levinas expressou a vontade de engendrar um trabalho crítico a respeito da literatura – exatamente como seu amigo Maurice Blanchot, quem o fez descobrir, nos anos 20, quando eram estudantes em Strasbourg, não somente a obra de Proust, mas também a de Léon Bloy, de que medimos, com espanto admirativo na leitura de Carnets, a importância capital para Levinas e as páginas admiráveis que esse último consagra ao autor de Lettres à sa fiancée 90 (1889-1890). Dois escritores que Levinas recopia cuidadosamente ao longo dos cinco anos de cativeiro em fragmentos de narração que são como a possibilidade mimética de responder de sua própria língua, arrancando ao “haver” impessoal e inumano da condição de refém, de maneira a fazer surgir a materialidade da linguagem tornada coisa, a coisa experiência que Levinas nomeia no sétimo e último caderno “a significação corporal do tempo”24. Muitos escritores aparecem ao longo dos cadernos, numerosos demais para serem citados na economia geral deste texto, mas Léon Bloy, sobre quem não me demorarei, e Marcel Proust requerem cada um deles um gesto de escritura que é um pulsante movimento de transcendência, essa liberação da imanência do ser heideggeriano que Levinas vê se efetivar na literatura de Bloy e de Proust. Levinas não hesita em dizer de Leon Bloy essa frase sobre a qual nos faz meditar longamente, conforme ela coloca em abandono a intencionalidade husserliana na qual Levinas se detém: “Ele sabe coisas que não estão na fenomenologia”25. Admirável percepção do tempo narrativo em busca de um verdadeiro a-além do ser, que tira sua inspiração de uma meditação sobre a negatividade da morte desviando momentaneamente a espiritualidade do idealismo alemão, que vê nela, na morte e em seu vazio, a condição da vida e do Espírito. Isso está, então, no ponto extremo do excesso e da excedência que Levinas, em cativeiro, lê e recopia de Bloy e de Proust, e não está excluído, mesmo se Levinas se defende, que ele viveu esse instante literário como uma experiência de “consumação”, de que fala em De l’existence à l’existant26; como a possibilidade de vislumbrar, do interior mesmo de sua reflexão, a exterioridade absoluta, o fora que ele alcançará no último capítulo de Autrement qu’être. Como em Proust, a emoção e a significação portada pela escritura são sempre acionadas por um movimento de reflexividade sobre sua própria emoção, “e mais ainda”, especifica Levinas falando de Proust, “pela reflexão sobre a emoção de outrem. Melhor ainda: essa reflexão é essa emoção mesma”27. Novamente o tropo do excesso contido na ideia de uma reflexão como paradigma da emoção induz, em Levinas, a uma leitura de Proust da qual nós já conhecemos um aspecto no ensaio que ele lhe dedica em Noms propres28, “L’Autre dans Proust”. Em verdade, Levinas sempre teceu seu discurso sobre Proust e a partir dele, ancorando-o em uma interpretação ambivalente que 24. Ibidem, p. 186. 25. Ibidem, p. 162. 26. Ibidem, p. 93-4. 27. Ibidem, p. 71. 28. LEVINAS, Emmanuel. Noms Propres. Montpellier: Fata Morgana, 1976. 91 se divide em dois movimentos contrários29 no cerne da transcendência, suscitando assim uma diacronia irreconciliável na temporalidade da narração. Tomo aqui de Jean Wahl os semantemas, forjados por ele, a partir da palavra transcendência, para tentar descrever uma dupla transcendência que detecta na relação kierkegaardiana da subjetividade ao absoluto. O primeiro movimento, a “transcendência”, corresponderia, como seu nome indica, ao retorno, a uma recaída no dentro-aquém do ser, no “há” obsessivo e sem saída, como o é o enraizamento no solo primordial ou o enraizamento carnal que pressuporia sempre a imprevisibilidade da interpelação de uma palavra vinda a romper e interromper esse enraizamento. São esses os momentos em que, de acordo com Levinas, Proust se livra das descrições concretas, até mesmo exóticas, nas quais desaparece ou se dilui a estrutura ética da subjetividade do face-a-face amoroso. É esse o momento em que, na obra de Proust, “a magia começa, como um Sabá fantástico, desde que a ética é finda”30. Em Carnets de captivité, são esses os momentos em que Levinas sublinha o caráter paradoxal e inatingível, o enigma da atração irreprimível que opera Albertine em toda a sua potência de aniquilamento que será anulação da face – o aniquilamento abrindo sobre um nada que ele mesmo não abre sobre nada, se esse não está sobre o incomensurável de uma subordinação a um outro que não reconhece mais a travessia da alteridade, ou, para dizer como Hegel, que não reconhece mais um pensamento da morte que deve provar do vazio “olhando-o no rosto” – reflexão hegeliana com a qual Levinas estava rompido. Tão distante que ela se abandona ou se espalha, qualquer que seja a alteridade objetiva e amada à qual ela se refere, Albertine permanece sempre idêntica a ela mesma. Ela é, poder-se-ia dizer, a identidade por excelência: (...) Que é Albertine (e suas mentiras) – comenta Levinas – se não a evanescência mesma de outrem, sua realidade feita de seu vazio, sua presença feita de sua ausência, a luta com o imperceptível? E além disso – a calma frente a Albertine que dorme, frente a Albertine vegetal. O ‘caráter’, o ‘sólido’ = coisa31. Três fragmentos depois, Levinas prossegue com sua reflexão, alternando comentários e cópias de excertos de Albertine desaparecida: 29 .As duas expressões próprias a esses dois movimentos contrários, “transdescendência” (transdescendance e “transascendência” (transascendance) são de Jean Wahl; cf., Immanence et transcendance, “La transcendance intériorisée”. (N. da A.) 30. LEVINAS, Emmanuel. Noms Propres. Montpellier: Fata Morgana, 1976, p. 119. 31. LEVINAS, Emmanuel. Carnets de captivité et autres inédits. Volume publié sous la responsabilité de Rodolphe Calin et de Catherine Chalier (œuvre 1). Paris: Ed. Grasset/Imec, 2009, p. 72. 92 Porque a questão não se coloca mais entre um certo prazer – advindo do uso, e talvez pela mediocridade do objeto, quase nulo – e de outros prazeres, aqueles tentadores, encantadores, mas entre esses prazeres e qualquer coisa de muito mais forte do que eles, a piedade pela dor32. 32. Ibidem, p. 73. O segundo movimento, a “transascendência”, designa o movimento metafísico em direção ao Outro, o movimento de afeto por outrem que passa pelo corpo, por sua significação temporal e pela impossibilidade de satisfazer o desejo metafísico de outrem – daí a ideia de que a sensibilidade é definida como vulnerabilidade. Essa distinção entre transdescendência e transascendência não é verdadeiramente tematizada por Levinas. Ela irriga, sobretudo, a relação de Levinas com a literatura, e essa relação não é identificável com um enunciado filosófico, mas antes de tudo a sua enunciação. É o Dizer narrativo que age profundamente sobre o Dito filosófico. Não se trata de um discurso de verdade, mas de uma palavra sobre a ambiguidade absoluta contingente à oposição entre alteridade e saber; e é certo que na morte que Outrem é o mais fixo, o mais atarraxado, que sua alteridade é ao máximo inatingível, o menos redutível à matriz de um saber. Levinas escreve: a doença ela mesma é esse pensamento da morte (e o envelhecimento e o tédio) 2) Proust tem a noção desse pensamento pela doença ou pelo envelhecimento que são um acesso positivo (e apropriado) a uma noção e sem a qual podemos ter somente um conceito negativo33. O vazio de Albertine não é, portanto, um nada. É ele que, como destacou Levinas em seu ensaio sobre Proust, “descobre sua alteridade total”. A morte não é mais somente sua própria morte, “é a morte de outrem contrariamente à filosofia contemporânea ancorada à morte solitária de si”34. Esse passo essencial dado por Levinas, esse passo de-além (Blanchot), terá sido em parte, não exclusivamente, graças à literatura e em particular à obra de Proust. Esta tem de notável que não decide jamais entre a “transdescendência” e a “transascendência”. Nela, os dois movimentos, de um só inquilino, reúnem-se em uma recusa compartilhada de ceder ao ser heideggeriano. Deixar a ambivalência a uma total tensão ética, isso é o que fez dizer a Levinas que a obra de Proust é ao mesmo tempo “mais e menos 33. Ibidem, p. 73. 34. LEVINAS, Emmanuel. Noms Propres. Montpellier: Fata Morgana, 1976, p. 153-4. 93 que o ser”. É esse, creio, o papel essencial e decisivo das leitures proustianas de Levinas em cativeiro, o lugar onde é constituída uma reflexão paradoxal, ainda que husserliana, sobre a questão da experiência, que Levinas colherá mais tarde nessa frase extraordinária que relaciono imediatamente à questão da significação temporal do tempo: “As grandes experiências de nossa vida jamais foram, propriamente dizendo, vividas”35. A significação corporal do tempo 35. LEVINAS, Emmanuel. En découvrant l’existence avec Husserl et Heidegger. Paris: Vrin, 1994, p. 211. Reencontramos aqui a análise husserliana da consciência íntima do tempo, mas esta é articulada à modalidade da significação corporal do tempo, à experiência vivida, à incessante passagem do Dito ao Dizer e ao Desdizer: consciência íntima do tempo não mais vinda para apoiar totalmente o conceito de uma consciência transcendental egoica e intencional. As grandes experiências de nossa vida, que jamais foram, propriamente dizendo, vividas, situam-se no ponto de intersecção em que a consciência íntima do tempo está tomada na elipse da significação temporal, empurrando-a em direção a limites extremos, ao ponto de ruptura com os objetos intencionais que não pertencem mais à consciência como os momentos constitutivos, mas que são primordialmente reconhecidos em sua plena transcendência e idealidade. A experiência é, então, de natureza perceptiva, pré-predicativa, inteiramente transformada pela temporalidade fluente do vivido e dos atos intencionais. O fenômeno de retenção daquilo que foi vivido escorrendo-se e escoando-se na protensão do que vai ao ser, do que precisamente não foi ainda vivido, do que está no ponto de ser e ao mesmo tempo não chega, permanece sempre suspenso à vinda ou sobrevinda de um acontecimento, a um “despertar” que não tem nada a ver com um fenômeno de rememoração ou com uma síntese de reconhecimento. O gesto decisivo operado por Levinas consiste em não pensar mais em dois tempos – um ativo, a retenção; o outro passivo, a protensão –, mas a apreender o sujeito como “passividade em sua origem”, que não se tornará ativo a não ser de forma secundária e lateral. As grandes experiências de nossa vida que nós não vivemos – e toda a obra de Proust é uma admirável exemplificação disso, isto é, uma verdadeira fenomenalidade narrativa – o 94 são, porque a passividade do sujeito não é mais pensada como o Mesmo já constituído que, em seguida, reencontra o Outro. A passividade do sujeito é pensada originariamente como Outro-no-Mesmo – o Outro que em Hegel, ainda, abriu o Mesmo ao Outro. No caso de Proust, de acordo com a leitura que Levinas fez em cativeiro, o interesse não tem a ver com uma percepção que reduziria as fontes impressionais da consciência a uma análise psicológica de personagens e da ação. O interesse se relacionava, como precisamente esclarece Levinas, “ao tema: o social”36. A maneira como Levinas faz intervir o motivo da socialidade é verdadeiramente excepcional, pois isso não entra em contradição com a ideia de um sujeito-refém que desfaz a relação da retenção à protensão, que desfaz o momento preciso em que as intencionalidades, como objetivo e acontecimento, coincidem. É preciso introduzir aqui um outro motivo, o da passividade, de uma passividade mais passiva que toda passividade, segundo a expressão de Levinas incessantemente rearticulada. O sujeito-refém se expõe ao outro sem objetivo esperado, sem destinação já presente na consciência íntima do tempo. Sua passividade é sem assunção, como “uma pele se expõe àquilo que a fere”. Frente à intimação, por outrem, a passividade não se elimina atrás de um tempo por detrás do tempo. A passividade deve ser compreendida como um retorno ao tempo ele mesmo, um tempo social, portanto, que não é contável frente a seus limites, sem, contudo, surgir de um lugar-nenhum ou de um tempo nulo. A passividade não é mais negativada. Ela é tão infinita quanto a responsabilidade, a proximidade e, consequentemente, tão impossível de se ter. Isso porque a passividade é responsável por um atraso que ela não saberia suprir. Sincronia alguma é possível, simetria alguma, porque ela é ao mesmo tempo o retentivo e o protentivo disso que jamais poderá coincidir. A passividade do sujeito-refém é passiva apesar dela. Ela vem de sua “paciência integral”37, e nela vivendo ela atinge o outro sem jamais se mostrar. A passividade, portanto, renunciou a ser o contemporâneo daquilo que ela deseja atingir e tocar. Daí a ideia muito presente em Levinas, em Les carnets, de que o desejo erótico, aquilo que ele chama de “sexualidade humana”, é a ordem de uma irritação38. Eros está na base dessa irritação, como ele é a base de uma socialidade para Levinas. Trata-se de uma questão central, de uma dimensão do pensamento de Levinas que Les carnets nos revelam de maneira decisiva. 36. LEVINAS, Emmanuel. Carnets de captivité et autres inédits. Volume publié sous la responsabilité de Rodolphe Calin et de Catherine Chalier (œuvre 1). Paris: Ed. Grasset/Imec, 2009, p. 70. 37. LEVINAS, Emmanuel. Autrement qu’être. Ed. Nijhoff, La Haye, 1974; Le livre de poche, 1978, p. 86. 38. LEVINAS, Emmanuel. Carnets de captivité et autres inédits. Volume publié sous la responsabilité de Rodolphe Calin et de Catherine Chalier (œuvre 1). Paris: Ed. Grasset/Imec, 2009, p. 182 95 Por um lado, Levinas definia sua filosofia, desde o período de cativeiro, como uma filosofia do face-a-face, do panim el panim, que, em hebraico não se diz no singular, mas no plural – faces a faces. De outro, esse face-a-face, que é o próprio da relação erótica, excede o motivo geral da existência. Em Levinas, o motivo da existência significa penalizar, subjugação, preguiça de ser e não passividade. Essa presença do mim por um ti escravizado constitui para Levinas uma esperança. Se Eros está na origem do social, isso se dá porque o social está já em um ser. Essa é a base mesma da dualidade do eu-por-si e do mistério de outrem que se abre para uma intimidade que não é sinônimo de fusão. É desde o motivo da concupiscência carnal que Levinas descreve o processo dessa dualidade. Essa dualidade, não compreendida, não entendida como fenômeno de fusão, abre-se então sobre uma intimidade que é “a soma dos indivíduos”39, em outras palavras, o social. O elo dual temporaliza aqui a relação do eu-por-si a outrem, na alforria dele mesmo. A dualidade já é em si uma figura do tempo, de um tempo dramático porque sempre confrontado com o mistério de outrem que ele não chegará a atingir. Precisamente, contudo, esse desprendimento temporal entre a dualidade do eu-por-si próprio à sexualidade como constitutiva da egoidade e o mistério de outrem é a condição que permite ultrapassar o antagonismo entre egoísmo e altruísmo. Há aí uma “ruptura com a concepção antiga de amor”40, a possibilidade, então, de uma verdadeira exterioridade. Essa abertura é de duas ordens, simultaneamente, sexual e social. O desejo erótico temporaliza a relação a outrem que impede o ser de afundar-se e beneficiar-se de seu aniquilamento. Essa esperança por um presente liberto Levinas chama de “carícia”: “Ela não é loquaz, ela não diz que vai melhorar – mas ela compensa no presente mesmo. Com a carícia – nós temos o terno e o carnal. Significação corporal do tempo”41 O sofrer puro não é então uma categoria. Ele não é a consequência de uma simples sensação. É no sofrer e na punição, nessa passividade absoluta, mais passiva que a passividade, que reside o estremecimento de uma eleição, no sentido em que Eros traz em direção a outrem, no sentido de “o amor de uma pessoa que te deflora (acaricia)”42. Esse trazer em direção a – que é o exato contrário de uma visão arbitrária do mundo, o exato contrário do entorpecimento do ser a ser, o exato contrário de um ser que é dois – abre-se sobre um horizonte de socialidade e de filiação, pois se opera em uma relação de assimetria a passagem de um ser que é dois a “dois seres no instante”. 39. Ibidem, p. 66. 40. Ibidem, p. 114. 41. Ibidem, p. 186. 42. Ibidem, p. 180. 96 Levinas especifica: “Aqui se pode soltar”. E ele adiciona: “Mas não soltamos”43. O drama da temporalização do tempo do sujeito! Este último busca interromper essa síntese de entendimento voluntário, ativo e triunfante, opondo a ela uma síntese passiva que será síntese da temporalidade mesma da passividade; única possibilidade – única esperança! – de interromper a surda e tenaz perseverança do ser em seu ser de superar a obstinação ontológica do ser-em-si e por-si. O que se dá, então, com a relação de transcendência? Não será a esperança do pelo-outro no ser que se coloca? Se a experiência vivida não pode ser pensada senão a partir da relação do pelo-outro, desde a questão que coloca tanto a mortalidade de Outrem quanto o desejo metafísico e erótico de Outrem, então, a relação de transcendência é sempre reduzida a uma continuidade social que Levinas põe em cena como uma relação de atraso, de distância irreconciliável entre aquele que vem, aquele que vai e aquele que já está lá. Ter um encontro com outrem, isso é estar em atraso em relação a ele, o que quer que venha. As páginas de Proust comentadas por Levinas mostram bem que a passiva e desmesurada relação amorosa que se ata em torno de Albertine já está sempre encoberta na sociedade à qual pertence o sujeito. É por isso que a exposição última e radical, esse gesto tão extravagante de Levinas, é necessário para pensar – “sobre a loucura” – isso que cerca o humano e condiciona imperativamente sua relação com o tempo, de que ele não pode se aproximar senão em seu despojamento. A convocação da interioridade própria à narração proustiana não é, então, para Levinas, uma questão de escapar à experiência vivida da exposição à morte. Ela permite cruzar as exigências e a vocação ética da narração para além da factualidade da história que sempre busca se enunciar ou se denunciar ao se tematizar. Mas a significação última o escapa, pois a exposição do sujeito-refém ao outro é dissimétrica, como o é a irreversibilidade do tempo ele mesmo, em que os rastros indeléveis na estrutura da significação que se narra não pertencem a uma lógica formal, mas faz parte de um movimento infinito de des-dizer e re-dizer que é uma das características do des-interessar do amor. 43. Ibidem, p. 178. (tradução de Luísa de Freitas) 97 Porém, sem medida S i lv i n a R o d r i g u e s L o p e s 98 porém, sem medida Silvina Rodrigues Lopes1 Propõe-se neste texto uma leitura de Num ameno azul... [In lieblicher Bläue...], de Hölderlin (ver tradução em anexo), onde o fundamental é um pensamento da poesia como condição da vida dos homens, que em cada um supõe singularidade e partilha sem fim de textos e imagens que dão forma e transformam o viver-em-comum: não sendo apenas condição do fazer poético ou artístico, poesia é sinónimo de afirmação do desejo como saída do trágico, impulso de qualquer fazer ou gesto que se não isole numa finalidade. Quanto às formas poéticas, ou artísticas, não só elas não supõem um poder ou competência particular de quem as faz, mas testemunham a saída das competências através do exercício de um fazer que é também desfazer de significações e imagens. Fazem assim parte da resposta poética ao desejo de individuação/desindividuação, manifestado no medo de morrer e no desejo de morte. Afastando-se do trágico como representação da existência centrada na oposição vida/morte como sobredeterminante, Hölderlin afirma a estranheza (o ser-estrangeiro de cada um) que mina o valor categórico daquela oposição e com ela de todas as outras e dos sistemas que as organizam. Trata-se de uma insubordinação ou insubmissão sem método ou programa, na qual se afirma que os homens (como sabemos, dedicados a uma diversidade de práticas – seja cultivar a terra, lançar as redes ao mar, produzir e usar a mais alta tecnologia, ou qualquer outra actividade que vise a subsistência ou o conhecimento –, e existindo em relação uns com os outros) participam igualmente na transformação do mundo, a qual supõe a invenção do que escapando à previsibilidade interrompe o que seria o curso da história (o termo sublinhado, “igualmente”, não pretende significar igualdade estabelecida por uma medida, Professora catedrática do Departamento de Estudos Portugueses da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. 1 99 mas refere uma maneira de existir em comum, que, como adiante se dirá, não tem medida). Ao designarmos essa transformação do mundo como transformação poética, o qualificativo assume uma grande ambiguidade, pois a palavra “poético” desdobra-se em significações, tais como: o sentido grego de poiesis; um tipo de escrita caracterizada pela ficção; o género lírico; uma forma literária. Esclarecer o termo “poético” pela busca de uma essência da poesia seria situar-se imediatamente na continuidade da tradição metafísica caracterizada como tradição do mesmo, seria ignorar a filosofia e poesia que trouxeram para primeiro plano a importância da desconstrução e da sua relação com o que é estrangeiro. Toma-se então aqui “poesia” como uma designação para a intratável afirmação da singularidade na relação com o outro, sendo que em todos os seus lances esta é também pensamento e como tal “exigência de escrever”, num sentido mais vasto do que o da organização de signos sobre um suporte materialmente delimitável (escreve-se ao pensar, e como tal nenhuma actividade do homem pode ser colocada fora dessa exigência de escrita). O fazer que consiste na construção do poema (que poematisa, recorrendo-se à adaptação de poématiser, tradução de Dichten para francês) é apenas uma das manifestações visíveis dessa exigência, aquela a que o homem responde enquanto poeta no sentido de fazedor de uma certa forma escrita; como limite genérico, essa forma é compreendida pela designação “literatura”. Trata-se, em síntese, de ir ao encontro do que em Hölderlin é «exigência de escrever», retirar-se da onto-teologia, o que implicará o diálogo e confronto com diversos comentários seus e de outros sobre o que escreveu. 1. Pode eleger-se a frase “De pleno mérito, mas poeticamente, assim habita o homem nesta terra”, como abreviatura da referida saída do trágico, pois ela pode ser desdobrada em várias implicações que, ao esboçarem sentidos para o que seja habitar-poeticamente, acentuam o “próprio” do homem, de cada um, como (des)apropriação. Heidegger apresenta aquela frase como um dos 100 Leitmotive, o último, da sua conferência “Hölderlin e a essência da poesia”2, onde começa por esclarecer que a essência que pretende investigar não corresponde a um conceito geral, porque este, aplicando-se indiferentemente a qualquer particular, não pode tornar-se essencial, e que a sua busca é a da “essência essencial da poesia”, que se tornará visível (ficará “diante dos olhos”) através do seu discorrer sobre aquele que considera num sentido privilegiado como o poeta do poeta, aquele que poematisa a essência (essencial) do poema. Esse propósito de Heidegger retoma um propósito anunciado no Romantismo e que veio a dar lugar ao que Alain Badiou designou como sutura da filosofia ao poema. 2. HEIDEGGER, Martin. Approche de Hölderlin. Trad. Henri Corbin, Paris, 1951. Interpretando o referido verso, ou frase, Heidegger chama a atenção para o que considera “o vigor do contraste” (marcado na tradução portuguesa por “mas”). Para além desse contraste, importa sublinhar a continuidade do que contrasta: (habitar) de «pleno mérito» e (habitar) «poeticamente» não são separáveis, partilham a composição do habitar; de imediato, o homem aparece pleno de méritos, cheio de competências, e no entanto, apesar disso, ou seja, sem que tal seja causa ou medida disso (pode até ser-lhe contrário, mas não necessariamente), ele não habita apenas pelos méritos (aquilo que se pode medir imediatamente pelo cumprimento de finalidades), o seu habitar não é redutível ao mérito. Da pretensão heideggeriana de investigar a «essência essencial do poeta e da poesia» sem ser pela construção de um conceito, mas pelo «colocar diante dos olhos» destacam-se de imediato duas consequências: 1. ao fazê-lo, Heidegger está a instituir Hölderlin como o exemplo de «o poeta do poeta e da poesia», iludindo que esse instituir supõe implícito um conceito de poeta e de poesia que permitiu a escolha do exemplo, 2. aquilo que se pretende «colocar diante dos olhos» implica uma hierarquização apresentada como essencial – o poeta do poeta é o poeta (no sentido de poematizador) como fundador, donde, habitar poeticamente é para uns fundar, para outros serem fundados, viverem «poeticamente» por delegação, o que nunca se poderia concluir de «De pleno mérito, mas poeticamente, assim habita o homem nesta terra». Na frase de Hölderlin não se diz que é aquele que escreve poemas que habita poeticamente, mas sim que é o homem. O propósito de Heidegger, buscar a essência essencial do poeta e da poesia, é já limitação 101 da sua leitura, pois, partindo da crença naquela essência (em consonância com uma concepção da essência da linguagem, que estrutura o seu sistema filosófico), Heidegger vai projectá-la sobre a interpretação que faz, o que a condiciona à partida. Os homens não habitam senão nesta terra onde a habitação começa com o nascimento e termina com a morte: o redobramento de habitar por «nesta terra» vem então sublinhar a finitude do habitar, ao mesmo tempo que «poeticamente» coloca a sua infinitude, a sua indefinição (o que não é mérito não pode ser contido por um dispositivo limitador, não se apresenta como tal). Ao falar do “trágico moderno”, Hölderlin toma-o como consciência da descontinuidade que é a morte, sem divindade ou natureza que a resgate. Mas na descontinuidade há a continuidade do continuar: aquilo que (em) cada homem começa é participação do trans-individual: inflexão que se sujeita às memórias do mundo interrompendo-as e assim delas participando. A relação entre o começo e a morte é a mesma pela qual a morte não é um fim absoluto, mas uma vida, sobrevida, em signos. O que de uma existência não tem semelhança é o seu infinito, a dissemelhança de cada um, a sua participação do que não tem fim, que não acaba no corpo. Que a hipótese de abandonar a identificação da formaindivíduo com a forma homem, exigida para se sair do trágico moderno, vem do trágico antigo, onde a forma-indivíduo ao colocar-se se coloca em insubmissão, lemo-lo nas Notas de Hölderlin sobre Édipo e sobre Antígona. Lemo-lo também em Num ameno azul, cuja última frase diz que nem o nascimento nem a morte são em absoluto princípio e fim: «A vida é morte, e a morte é também uma vida». Pelo que uma vida não é trágica nem não-trágica, ela é o retirar-se (poeticamente) à fatalidade: não há um momento de plenitude de uma vida, não apenas porque desde que se nasce se começa a morrer, mas porque uma vida de homem na sua absoluta singularidade nunca é vida nua, é inseparável da morte que a atravessa (o que morreu e retorna, diferente, como morto-vivo) e a retira à jurisdição puramente bio-lógica. Por outro lado, apenas da forma-indivíduo, o corpo, há morte certa: a certeza desta é sempre desdobrada pela incerteza da vida que há na morte, pela sobrevida de uma vida. É a junção de vida e morte em cada vida que impede que qualquer gesto 102 se esgote na plenitude de uma intenção ou num tempo definido, pelo que “uma vida”, não sendo aquilo que se apresenta como “uma vida”, não se limita ao que, corpo finito, conferindo semelhanças e dissemelhanças, desaparece na morte. Há em cada vida uma sobrevida indeterminável e sem fim, em nenhum sentido, a não ser na hipótese de um total desaparecimento dos homens da superfície da terra. 2. Não se diz no poema de Hölderlin em que consiste o habitar poeticamente. Nunca é dito que seja através da escrita de poemas, no sentido de construção de uma forma como tal identificável, nem que esta sirva de mediação daquele. Diz-se que é o homem, pleno de méritos, que habita. O homem, resposta de Édipo ao enigma da Esfinge, é bem o enigma colocado por Édipo, o enigma mais profundo, como lhe chamou Blanchot. Em Num ameno azul, ele é uma figura caracterizada pela plasticidade que decorre da sua auto-apresentação, ou auto-encenação: a arbitrariedade do signo, pela qual não há qualquer semelhança entre as palavras e o que elas designam, implica que tudo na linguagem são convenções e que é através delas, e dos seus vazios decorrentes da força deslocante do habitar, o poético, que cada um é singularização-universalização na relação com os outros e com as coisas. A convencionalidade não tem um exterior da linguagem que a garanta: apenas a relação diferencial entre os signos constitui a significação, pelo que há sempre uma cena da significação. Num ameno azul começa com essa evidenciação: Num ameno azul floresce, com o telhado metálico, o campanário. À sua volta pairam os gritos das andorinhas, cerca-o o mais tocante tom azul. Acima dele ergue-se no alto o sol, e dá cor à chapa metálica, ao vento porém, lá em cima, range tranquilamente o catavento. Quando alguém desce então aqueles degraus, abaixo do sino, é uma vida serena, pois quando assim tão isolada se encontra a figura, a plasticidade do homem ganha então relevo. As janelas por onde tocam os sinos são como pórticos para a 103 beleza. Pois, por serem ainda feitos à imagem da natureza, eles parecem-se com as árvores da floresta. Logo no início do poema (excerto acima) «florescer» e «erguer» são aquilo que liga o artificial, as construções do homem, e a natureza, ligação que se apresenta ela própria como uma construção, uma descrição, que como tal se afirma através da ênfase num cenário: o «ameno azul» não existiria sem o sol que dá cor ao que floresce, mas ao mesmo tempo delimita, ilimitando-o, ligando ao infinito do «azul» (o do firmamento, simbólico; mas também o da cor que ao ser sublinhada enquanto cor chama a atenção para um equívoco: aquilo que aparece como suposta emanação do Sol é encontro luz-matéria, no qual habitualmente esta é esquecida pela suposta invisibilidade do ar, e para glória da luz) o espaço em que a cena se organiza como cena e assim instaurando uma transição, uma passagem, em que o “sentir como” (ameno, tocante) é iniludível como parte do cenário que apresenta uma única acção – descer. Repare-se que esse espaço não aparece como espaço do voo das andorinhas, mas sim dos seus gritos (naturais? não, porque se se chama grito a esse som é porque há nele a projecção de um hábito de antropomorfização da natureza), que se colocam em contraponto ao ranger (artificial? não, pois é o vento que move o catavento). O ameno azul é enquanto cenário algo de imanente-transcendente ao representado, envolve-o vindo de dentro dele e retira à cena qualquer centro estável: nem o sol nem a gramática a determinam completamente – descrevese o visível, porém nele se descreve o que não é visível, como o florescer, o grito, o erguer-se, o dar cor. O cenário, na sua serenidade, participa do conflito irreparável e criador entre o dizível (inteligível) e o visível (sensível). Numa distância não-absoluta, o catavento, instrumento que o homem construiu, lembra-lhe sobriamente a permanente deslocação que o envolve e o constitui. É semelhante a distância do poema, o qual mostra o movimento de combinações de palavras que rangem (o “porém”, ou o “mas” são signos da descontinuidade que é como um ranger) pois, tal como o vento, aquilo que as move sopra de muitas direcções. Enquanto construção, o poema está mais próximo do ranger, mecânico, do que do grito ou do canto: nem desarmonia nem harmonia, mas o choque monótono e repetitivo de variações, a alteração 104 sintáctica como processo de cura e não como sintoma. É de variabilidade e semelhança que se trata em seguida no poema. Descendo os degraus do campanário, colocando-se numa perspectiva mais terrena – mais afastada daquilo que anuncia o culto (o sino) e mais ao rés do habitar quotidiano – o homem (alguém, qualquer um) mostra-se na sua des-figuração, pois o que ganha relevo é a sua plasticidade, a sua forma-em-devir, o seu habitar poeticamente. Desse habitar são sinal as construções que faz à «imagem da natureza», a qual por sua vez é formada de imagens, entre as quais a evocada imagem das «árvores da floresta». A continuação da leitura faz-nos notar que as imagens construídas, imagens «tão simples», não são substituíveis por outras. Há o temor de as descrever. E isso poderá assinalar não só que do visto ao dito se não encontra passagem sem alteração, mas também que na descrição cada palavra é já oscilação entre imagem e significado. Repare-se na passagem de «tão simples» a «tão sagradas»: «Tão simples são porém as imagens, tão sagradas, que realmente muitas vezes se teme descrevêlas.» O «sagrado», entendido como o mais simples, o singular irredutível a qualquer imagem e que por isso mesmo se dá em imagens – em cada descrição há imagens que se formam e que mostram a sua insuficiência – é inseparável do sofrimento de não haver, para o homem, o Todo, o dado acabado que ele possa limitar-se a recolher. Essa mesma falha que o condena a errar é no poema colocada em confronto com o mitológico enquanto palavra da origem, a qual institui a crença na plenitude dos deuses : «Os celestiais, porém, sempre clementes, tudo de uma só vez, como reinos, essas possuem, virtude e alegria». A imagem que os homens fazem dos «celestiais» (aquilo em que os celestiais consistem, pois são sempre os homens que os descrevem) é a de uma plenitude dita como «virtude e alegria». Aquilo que nem os factos permitem ao homem induzir, nem a lógica o conduz a deduzir, constrói-o ele como imagem ideal a imitar, como qualquer coisa que, não sendo inteiramente ficção reguladora, não deixa de dar resposta á contingência do existir, ao mínimo de estabilidade que a consciência de si pressupõe e onde nasce a exigência ética. Tudo isto pode o homem imitar. Pode um homem, quando a vida não é mais do que a soma das suas penas, olhar para o alto e dizer: assim quero eu ser também? Sim. Enquanto perdurar ainda 105 no coração a amabilidade, a pura, não será no infortúnio que o homem se mede com a divindade. Será Deus desconhecido? Será ele manifesto como o céu? – antes o creio. É do homem a medida. De pleno mérito, mas poeticamente, assim habita o homem nesta terra. Ao homem é atribuído o desejo de plenitude, de escapar ao sofrimento e perdoar as próprias faltas. Esse desejo está na base da imagem que ele faz dos deuses, ou de Deus, a qual surge da amabilidade, e por conseguinte da relação com os outros que afirma a sobrevida em cada um, deixando na distância, inapropriável, o retirar-se da sua obscura singularidade: uma tal imagem de Deus surgiria do luto enquanto exigência, face à perda, de relação com o outro na sua irredutibilidade a uma imagem ou ideia. Deus não será desconhecido porque ele não é senão a sua manifestação, a sua ficção, imagem/discurso, mesmo se essa imagem é a da sua dissolução no azul do céu, por conseguinte manifestação distante e próxima: o céu toca a terra, mas dela se afasta sem limite visível. Essa pode também ser a imagem do «próximo», qualquer outro, que na sua estranheza se distancia sem limite, como que absolutamente outro. A imagem de deus vem da capacidade de imaginar sem modelo, da ficção que é distanciação do conhecido e que nem pretende ser cópia nem garantia de verdade. O homem tem o poder de inventar e a consciência de que participa do inventado. Daí a duplicidade da medida que é sem medida: a expressão «É do homem a medida» tanto pode referir-se a Deus, significando que é este a medida do homem, como significar que o homem detém a medida – duplicidade da poesia, ou do habitar poeticamente, que não decorrendo do pleno mérito do homem, o qual inclui a sua capacidade de imitação eficaz, vem de uma imitação cuja medida não é a da eficácia, mas a de ser-semmedida, por ser sempre já imitação de imitação, trazendo inscrito o vazio da origem enquanto força alteradora, desejo. A duplicidade, que advém de no funcionamento dos signos não haver senão semelhanças e diferenças e, por conseguinte, não haver uma relação imediata entre signo e coisa – nunca se suspende. Não há relação imediata com o incomensurável (o céu estrelado por cima da nossa cabeça, exemplo que Kant dá de sublime), nenhuma falha da faculdade de imaginação a suprir pela Ideia: a noite apresenta-se já como sombra da noite, não como imediato puro choque do irrepresentável, que a Ideia apazigua. 106 Mais pura porém não é a sombra da noite com as estrelas, se me é permitido dizê-lo, do que o homem, que é chamado uma imagem da divindade. Por um lado, o nome do homem, isto é, «homem», é identificado com uma imagem da divindade, por outro, tanto o homem como a divindade (incomensurável como “a sombra da noite com estrelas”) se apresentam em signos que enquanto relação não são mais puros ou menos puros uns que outros. O signo «divindade» com o qual se funda uma hierarquização do mundo que tem como centro um exterior dele pertence ao plano horizontal, não hierarquizado, dos signos. Apesar de se afirmar pouco depois que «o andamento do trovão, nunca o impedirão os mundos do Criador» e isso ser dito decorrer de não existir na terra, nos «mundos do criador» (no qual se inclui o nosso mundo, o do homem), uma medida, tal não significa que essa medida exista fora dela, isto é, que exista essa medida. Voltando à já analisada passagem da primeira estrofe – «Será Deus desconhecido? Será ele manifesto como o céu? – antes o creio. É do homem a medida» – repita-se por outras palavras o que já se disse anteriormente: se Deus é manifesto como o céu e se este se manifesta como indefinido, sem limite, sendo ele «do homem a medida» ele nada mede, pois o indefinido não pode ser um padrão de medida. É então uma medida que não mede: ele é a medida do homem na medida em que este é sem medida. Mas assim sendo, também podemos ler «É do homem a medida» como pertencendo a medida ao homem, o que implicaria que o homem conhece Deus como conhece o céu, porque é capaz de colocar/aceitar o indefinido, possui a medida sem medida, a qual lhe permite medir o que não é comparável. Chamemos-lhe “medida poética”, querendo com isso dizer que se trata de resposta, avaliação que é também promessa e que parte da consciência de não ser um centro estável do mundo, de não haver centro do mundo, nem dentro nem fora dele, de a consciência não ser ela própria um centro do homem, pois se o fosse haveria uma medida na terra, aquela que alguém teria de si. Porém, «nenhuma existe». Numa perspectiva mitológica, a imaginação atesta a omnipotência de um Criador (os deuses, o sol, Deus), 107 que detém o poder absoluto de dar forma (entenda-se aí uma sinédoque do poder), do qual a imaginação do homem seria mediadora. A inexistência, na terra, de uma medida é então referida a uma suposta medida fora dela («a essência, a figura»). O que perturba esse quadro (violento e idílico) é a consciência do natural-não-natural do sofrimento aos olhos dos que habitam na terra. O que distingue os homens é o sofrimento – a consciência de na vida não poderem excluir em absoluto o sofrimento e a morte (cada um morre no seu corpo, com ele desaparece a sua absoluta singularidade; a sobrevida, o que permanece, fica no sofrimento dessa perda, no luto). Princípio do amor e do ser-em-comum, a consciência da mortalidade põe em causa a omnipotência da natureza, mitologicamente figurada num Criador, e abre a distância do pensamento como discórdia ou seja, como liberdade: o sofrimento é necessário, mas, a partir dele se coloca o desejo, a força de sair da arbitrariedade da natureza (é o que se chama liberdade) e com isso o desejo de ser medida que não espelhe uma medida absoluta, aquela segundo a qual tudo participa do idêntico. Desejar é pensar: diferenciação, poesia e ética são indissociáveis. A Natureza não seria o paradigma da beleza (note-se o «seriam» da primeira frase do excerto que se segue e o que ele implica como modalização da afirmação, que sugere que dela não há justificação absoluta). Isso di-lo o pensamento que pensa radicalmente a mortalidade: a morte sem superação, sem além. Tantas vezes encontra o olhar na vida seres que muito mais belos ainda de nomear seriam do que as flores. Oh, sei-o bem! pois sangrar do corpo e do coração, e deixar inteiramente de ser, agradará isso a Deus?A alma, porém, assim o creio, deve permanecer pura, de outro modo alcança o poderoso a águia, levada pelas asas, com um cântico de louvor e a voz de muitos pássaros. É isso a essência, a figura. Assim, «sangrar do corpo e do coração, e deixar inteiramente de ser», poderia o homem partilhá-lo com aqueles animais para os quais a morte de outros é sofrimento e que também eles deixam inteiramente de ser. Mas a consciência da morte, na sua ligação com a vida, isto é, a consciência, seria 108 aquilo que separa o homem da natureza e que a ela o liga em ficção. Independentemente de haver ou não resposta para a pergunta formulada no excerto acima, isto é, independentemente de o sofrimento e a morte agradarem ou não a Deus, diz-se: “A alma, porém, assim o creio, deve permanecer pura”. Sublinho “porém” e “deve”: numa e noutra destas palavras se diz a afirmação decisiva – apesar de tudo, para além de todas as razões, o haver sofrimento exige. E o que exige ele? Que a alma permaneça pura, não se retire da terra, não seja imitação do poderoso, de uma forma, essência, figura, da qual não deve senão separar-se. A alma pertence ao mundo dos signos e à sua duplicidade, de que se falou acima, manter-se pura será por conseguinte permanecer como tal, única força de oposição ao que a devora, o Um (o poderoso) suportado pelo uníssono das vozes que reduzem o seu artifício e se assemelham num «cântico de louvor» (Note-se aqui a simetria com o início do poema, onde o canto das andorinhas era «grito»). O poderoso, o Um (Deus), confundindo-se com a Natureza, ou espelhando-se nela – «É isso a essência, a figura». Note-se que o separar-se que aqui se propõe como leitura, ecoa uma passagem do início do poema: «tão isolada se encontra a figura, a plasticidade do homem ganha então relevo» (sublinhei «plasticidade»). Na verdade, a primazia do visível (sinédoque do sensível), o que se «coloca diante dos olhos», dada como manifestação de uma força, figurada no «florescer», é a primazia da indiferença porque é a rasura da plasticidade do homem. Repare-se que esta é indissociável do sentir enquanto nele o que passou e o que é desejado se confundem, excedendo a síntese que é a consciência de uma situação, aquilo a que chamamos memória ou conhecimento: Tu, belo riacho, pareces comovente por correres com tanta clareza como o olho da divindade através da Via Láctea. Conheço-te bem, e todavia jorram-me lágrimas dos olhos. O excesso inscreve-se na letra do poema através das relações diferenciais, não lineares, entre palavras e grupos de palavras que o compõem (esse jogo não pode ser circunscrito numa só descrição, mas dele pode haver sempre novas descrições, pois o acaso sempre dele fará parte). Há no entanto no poema 109 passagens, como a comparação no excerto acima, em que o pensamento do excesso (que não é o absolutamente grande ou pequeno mas o sem medida, a sua singularidade, porque sem qualidades, ao mesmo tempo maravilhoso e monstruoso, inidentificável, sem figura) se apresenta mais directamente. O «como» da comparação poética não visa a analogia, ele liga o que não se assemelha, essa ligação é corte com uma definição prévia dos elementos em jogo e deslocação deles pela mútua interferência, pela criação de sentido metafórico-metonímico. Sendo a capacidade de sofrer (e com ela de alegrarse) aquilo que impede o homem, em sentido genérico, de ser si-próprio, de ter uma definição, uma figura, é também aquilo que permite a singularidade de cada um. Nessa medida, o mitologema de que o alto e o baixo se espelham, como no poema o riacho e a Via láctea, é um anestésico, mas a comparação poética não o é. Sentir que cada coisa é só aquela coisa, incomparável, é sentila no seu desaparecimento, pois cada coisa só é aquela coisa no mundo (onde faz sentido, mas não um sentido) que a dá retirando-a, isto é, já no seu luto que faz as lágrimas jorrar, e com elas o visível turva-se. A crença numa força primordial – o Criador, a Physis como dom, florescer, ou Luz que torna visível – seria imediatamente a possibilidade de equivalências entre tudo. Mas não existe essa medida Absoluta, medida de todas as coisas, o que há são tensões, cortes, sobressaltos, e nisso os homens, «figuras da criação» (anteriormente no poema lia-se «o homem, que é chamado uma imagem da divindade») destacam-se do resto pela quebra da monotonia. Vejo florir à minha volta uma vida mais jovial nas figuras da Criação, pois não é injustamente que a comparo com os tristes pombos solitários no cemitério. O riso dos homens, porém, parece encher-me de amargura, pois tenho um coração. A comparação, da qual é dito não ser injusto fazê-la, opõe o «florir» de «uma vida mais jovial» ao que seria ausência de emoção (os pombos são solitários, a possibilidade da morte dos outros não os amargura, a vida deles não os alegra, são tristes de indiferença). Os homens vivem no medo da morte (dos outros) e isso retira-os da solidão, fá-los celebrar a vida com os outros. Mas note-se, a «vida mais jovial» é também riso, corte. Consciência de 110 partilha e consciência de separação fariam ambas parte do sofrimento, relação entre a vida e a morte, de dois modos diferentes, como se houvesse um riso que fosse a absoluta solidão, a perda de si, perda das ficções, pura paixão. Na escrita, «consciência» aguda da mortalidade e «experiência» do morrer, ambos modos do sofrimento, são dilaceração. A duração do riso é um corte que celebra a não naturalidade ou falha do próprio, instaurando um contraste que põe em relevo que nada se separa em absoluto, nada se isola completamente do fundo em que se recorta e que lhe dá plasticidade. Contrapõe-se assim ao que seria o instante do fogo, o da entrega ao Absoluto ou auto-sacrifício, como em Empédocles. Sem abdicar da crença que alimentava esse desejo, mas aspirando à sobriedade, a Grécia terá encontrado a jovialidade do «espírito solene», da medida ritual das musas, como Érato, a amável fonte de júbilo, coroada com flores de mirto que superintendia a poesia lírica: A «vida mais jovial» é a da saída do dispositivo unificador que é o mito, é a vida das diferenças, do diferir de si no cálculo das formas. Depois de desaparecidos os rituais de naturalização que lhes fixavam a letra, as narrativas míticas, propiciaram motivos para celebrar e assim se distanciar da ligação da palavra ao efeito imediato. «Mirtos, porém, há-os na Grécia». Num período que o Romantismo inclinara para a vontade de remitologização, a qual se iria prolongar pelo século XX, com as consequências que se conhecem, aquilo que Hölderlin escreveu sobre o trágico a partir das tragédias de Sófocles Édipo Rei e Antígona, que traduziu, veio perturbar ou interromper a lógica identitária, a que não escapava a filosofia moderna, nem o conceito romântico de crítica. Hölderlin encontra nessas tragédias um ponto de interrupção da significação, que designa como cesura, o qual corresponde a uma viragem rítmica, cisão da Unidade de uma Ordem, que Deleuze leu como apresentação da forma vazia do tempo, um tempo fora-dos-eixos em que o anterior e o seguinte deixam de rimar: «A saída do kantismo não está em Fichte ou Hegel, mas somente em Hölderlin, que descobre o vazio do tempo puro e, nesse vazio, o afastamento contínuo do divino, a cisão prolongada do Eu e a paixão constitutiva do Eu»3. A semelhança, o sofrimento, a luta com o divino e o fim da Ásia, são os principais topos da 3ª estrofe de Num ameno azul, cujo início é: 3. DELEUZE, Gilles. Différence et répétition. Paris : PUF, 1976, p. 161. 111 Quando alguém se olha no espelho, um homem, e aí vê a sua imagem, como pintada; ela assemelha-se ao homem. Tem olhos a imagem do homem, tem luz, em contrapartida a lua. O rei Édipo tem um olho a mais, talvez. Estes sofrimentos deste homem parecem indescritíveis, indizíveis, inexprimíveis. Se a peça apresenta algo assim, é por isso. A imagem que alguém vê quando se olha no espelho é «como pintada» e «assemelha-se ao homem»: não se assemelha àquele que olha, «alguém», «um homem», mas sim ao homem, que não existe, que é conceito de um indeterminado. Quem olha o espelho vê uma figura, mas não é essa figura pois enquanto singularidade ele não tem figura (é esse o tema de Lacan num texto sobre o estádio do espelho). Aquele que olha tem olhos, mas o que lhe permite ver é a luz ou a capacidade de a reflectir, que ele não tem. Mas se «O rei Édipo tem um olho a mais, talvez», ele vê diferentemente de quem olha o espelho. O rei Édipo, na peça de Sófocles, pois é deste que se trata, vê através de Tirésias, cego, vê através das palavras que ele lhe dirige, e que são, talvez, o seu olho a mais. Ele apresenta-se como alguém (uma singularidade), por isso os seus sofrimentos parecem «indescritíveis» «indizíveis», «inexprimíveis», são o acontecimento, em ruptura com o destino, o tomar para si a responsabilidade, não como inocente culpado, no dizer de Schelling, mas como responsável para além da responsabilidade possível. Isso é o que acontece no poema: quando aquele que escreve vê e se vê, ele vê-se outro, no que apresenta, o que descreve ou põe em cena, ele vê-se indescritível e vê o indescritível (lembremos a dificuldade de descrição declarada no início de Num ameno azul). Mas não serão as narrativas míticas descrições do indescritível? Não o serão os mitos de Édipo que conhecemos? E todos aqueles mitos que a escrita, desde sempre, desviou da coincidência com uma acção, um sentido? A relação com o indescritível – aquilo que o tempo traz em permanente perda, em sofrimento (e em júbilo nele) –, não tendo um começo, vem dispersa em «riachos» (ver o próximo excerto do poema), plural, estende-se «como a Ásia» (para a Grécia, uma figura do estrangeiro). E isso que vem – o sentido de uma finitude que se infinitiza – são mitos dispersos, detritos, fragmentos, eles próprios sempre outros, lugares também do fim do mitológico, isto é, da crença no Um. 112 O que se passa comigo, quando penso agora em ti? Como riachos, impele-me nesse sentido o fim de alguma coisa que se estende como a Ásia. Claramente, este sofrimento – tem-no Édipo. Claramente, é por isso. Terá Hércules sofrido também? Certamente. Os Dioscuros, na sua amizade, não terão suportado também o sofrimento? Pois lutar com Deus, como Hércules, é isso o sofrimento. E a imortalidade, na inveja desta vida, partilhá-la, é também um sofrimento. A expressão «quando penso agora em ti», coloca o dirigir-se a alguém não nomeado. Mesmo supondo que há ali pressuposto um destinatário, a figura deste esbate-se na indeterminação e prevalece o «qualquer um», que não é exactamente aquele que lê, mas apenas a confiança na resposta. O que impele aquele que pensa, escreve, a dirigir-se ao outro é dito ser «o fim de alguma coisa que se estende como a Ásia». Então, a expressão «Claramente este sofrimento tem-no Édipo», refere-se ao sofrimento por uma perda. Sofrimento que impele a pensar e que nesse movimento corresponde à paixão, ao extremo da passividade, e à distanciação dela. A frase seguinte, «Claramente é por isso», volta a leitura no sentido de se entender que o sofrimento de quem escreve o texto Num ameno azul é idêntico ao sofrimento de Édipo, ambos são impelidos, como riachos, pelo fim de alguma coisa que se tornou irrecuperável, pois esse fim é um dispersar-se, um estender-se como a Ásia, um tornar-se estrangeiro. Pelo sofrimento, quem escreve torna-se estrangeiro. Mas não apenas isso: ele partilha o tornar-se estrangeiro. Pela dispersão, subtrai-se à discórdia. Essa seria a saída do mito e de um certo tipo de heroísmo, o do indivíduo que se auto-sacrifica a um fim. A haver sacrifício fora do mitológico prevaleceria dele o que o anula, a sua impropriedade. As perguntas e afirmações seguintes do poema (ver excerto acima) parecem indicar que no heroísmo das narrativas míticas a discórdia e o sofrimento se apresentavam como duas faces do mesmo: a imortalidade dos filhos legítimos dos deuses introduzia necessariamente a inveja dos heróis e com ela o sofrimento, o que significa que essas narrativas míticas não colocavam explicitamente uma relação com o desejo, hipotecando-o à crença unificadora, o que não significa que tais narrativas não inscrevam 113 na irredutibilidade da sua voz narrativa, no seu plural indefinido, a desconstrução dessa hipoteca, que se pode supor tão antiga como o mundo. O desejo impossível de realizar, o desejo de fugir ao tempo (imortalidade), tem como matriz o desejo de pertencer à natureza enquanto necessidade de eterna repetição: eterno florescer, eterna manifestação de formas belas, introduzindo assim o desejo de morte. O que retira o homem de tal desejo é a inseparabilidade de medo e descrença, o atravessar do que unifica pelo que interrompe – o espaço vazio do nascimento. Ao retirar-se do desejo do nada, da necessidade, o homem não deseja nada senão esse retirar-se, isto é, deseja, tem confiança e esperança no que vem, mas em nada que possa representar como fim do sofrimento. É a partir daí que se coloca o bem e o mal, ou o belo e o feio, como não necessários – até o sol, símbolo supremo da natureza, essencial à vida, ao seu florescer e à sua visibilidade, pode causar sofrimento (veja-se no poema a possibilidade de o sol causar manchas no corpo e lhe retirar aquilo que se toma como uma primeira forma natural, sob ele mesmo formada). Se, ao sentir-se estrangeiro à natureza pela reflexividade da sua consciência, o homem a naturaliza e quer regressar a ela como paraíso perdido; pela descrença no que essa consciência lhe traz, ele descobre-se sem falta, em falta de nada, que é a «falta de alguma coisa». É isso, que desvia do auto-sacrifício, que permite a um «pobre homem viver». Lamentar-se pela falta de alguma coisa, é já desviar-se do acordo categórico. Os sofrimentos que Édipo suportou parecem-se com um pobre homem que se lamenta pela falta de alguma coisa. Filho de Laio, pobre forasteiro na Grécia! A vida é morte e a morte é também uma vida. A semelhança entre o sofrimento de Édipo na tragédia de Sófocles, um sofrimento intenso para o qual não há figuração exacta (anteriormente no poema foi dito que «estes sofrimentos deste homem parecem indescritíveis, indizíveis, inexprimíveis»), e «um pobre homem que se lamenta pela falta de alguma coisa», é decisiva em Num ameno azul. Através dessa semelhança coloca-se o habitar (poeticamente) em relação com o pensamento da vida e da morte – da sua inseparabilidade, isto é, da sua insuperabilidade como condição 114 do pensamento e da historicidade. Édipo, figuração do ser-estrangeiro, é figuração do sofrimento sem o heroísmo do herói, aquilo que na vida de «qualquer pobre homem que se lamenta pela falta de alguma coisa» se dá na não coincidência de si consigo, sem que ele deva essa falha ao Outro – a um pai (protector ou ameaçador), ou a um destino como cômputo fatal –, pois ela vem dos outros, do que o faz sofrer, alegrar-se, pensar, conhecer, habitar poeticamente, do que interrompe as tristes certezas que conquista pelo mérito. 3 Segundo Hölderlin, é a intervenção de Tirésias que em Édipo-Rei instaura a cesura, «a pura palavra, a interrupção anti-rítmica a fim de se encontrar a alternância capaz de arrancar as representações numa tal culminância que o que aparece não é mais a alternância das representações e sim a própria representação»4. Esta anotação coloca no seu cerne a fala divinatória, fala profética como vazio de significação que corta a representação, mas não a faz desaparecer, antes lança sobre si a atenção, colocando em cena a impropriedade da linguagem, a de os signos não encontrarem antes nem depois que os justifiquem. A condição da escrita poética seria a desse intervalo da significação. Daí a sua proximidade com o profético num sentido de fala do deserto onde o múltiplo encontra uma forma que, não sendo arbitrária, não tem outra necessidade senão a desse encontro. Uma tal proximidade da escrita é da ordem da proximidade e do afastamento entre a escrita e a vida de qualquer «pobre homem que se lamenta pela falta de alguma coisa» e que promete cegamente pela simples afirmação do seu existir. A forma poética faz da apresentação dessa indefinibilidade o princípio orientador da sua construção. No ensaio «Sobre “A Heroína” de Siegfried Schmid», Hölderlin, depois de dizer que «os caracteres e as situações desta peça, tal como toda a intriga são o que eles devem ser também nesse domínio da poesia», esclarece o 115 que deve ser a construção de um tipo de forma poética: «o reflexo fiel, mas poeticamente percebido e artisticamente representado da vida comum, quer dizer da vida cujas relações com o todo são mais fracas e mais longínquas e que, por esse facto, concebida poeticamente é infinitamente significante, em si altamente insignificante»�. Não se trata de passar da dispersão (relações com o todo mais fracas e longínquas) para a unificação. Trata-se de acentuar o movimento da dispersão, de tornar o insignificante – aquilo que supõe a máxima singularidade – infinitamente significante. Como se a escrita do poema correspondesse a paragens da insignificante fluidez da vida, ao corte da fluidez como operação de insuportável e indescritível implosão da significação insignificante. A forma poética faz-se na relação com a vida comum, com o habitar poeticamente, em si insignificante porque o hábito impede que se veja a sua cegueira, os seus desvios das linhas previamente traçadas. O corte com a representação, em que as palavras aparecem sem nada representar, é aquilo que as torna opacas, aquilo pelo qual participam da significação infinita, e vêm assim fazer parte do mundo, da «vida comum» insignificante, como parte da insubmissão que a sustenta. Ao ser concebida poeticamente, a vida representada, em si altamente insignificante, torna-se a matéria de uma invenção quase ilimitada em que poesia e filosofia se reúnem desviando-se do mito, pois a vida concebida poeticamente é infinitamente significante. Essa concepção da poesia como relação poesia-filosofia em nada se assemelha à do texto intitulado O Mais Antigo Programa do Idealismo Alemão. Ela supõe o completo afastamento, quer em relação ao mitológico, quer à sutura da filosofia aos mitemas da poesia. 4 Voltando agora ao texto de Heidegger inicialmente referido, nele a sutura ao mitológico é claramente enunciada a partir de Hölderlin, referimo-nos aqui 116 apenas ao comentário de «De pleno mérito, mas poeticamente, assim habita o homem nesta terra», que se pode sintetizar no seguinte: 1. uma definição de poesia: «mas por poesia (Dichtung) o que nós entendemos agora é a nomeação dos deuses e da essência das coisas, nomeação fundadora (…) a essência da poesia deve ser concebida a partir da essência da linguagem (…) a língua primitiva (Ursprache) é a poesia enquanto fundação do ser (…) Poematisar é a original nomeação dos deuses (…) A fundação do ser está ligada aos signos dos deuses. E ao mesmo tempo a palavra poética não é senão interpretação da voz do povo»; 2. uma estipulação da missão do poeta: «Quanto ao poeta, ele está no entre-dois, entre aqueles, os deuses, e este, o povo (…) É em primeiro lugar e unicamente neste entre-dois que se decide quem é o homem e onde ele estabelece o seu ser-aí. “É poeticamente que o homem habita sobre esta terra” (…) fundando de novo a essência, Hölderlin começa por determinar assim um tempo novo. É o tempo dos deuses retirados e do deus que vai vir». A ideologia nazi é por demais evidente na missão atribuída por Heidegger à poesia e ao poeta. Entre os deuses e o povo, o poeta é um segundo Führer. Como nota Philippe Lacoue-Labarthe, existem em Hölderlin muitas passagens que se adequariam ao comentário de Heidegger, porém, aquilo que ele traz de importante é justamente o que com tal se incompatibiliza. 5 A noção de “missão do poeta” não é exclusivamente heideggeriana, ela é pressuposta ou explícita noutras leituras de Hölderlin, nomeadamente Adorno e Benjamin, com as quais Philippe Lacoue-Labarthe5 se confronta, considerando por sua vez um imperativo categórico – é preciso – que, na hipótese que a partir dele coloco é apenas, como o diz uma expressão de Blanchot, “exigência de escrever”. A intransitividade de uma tal exigência não remete a escrita para o campo da pura inspiração, no sentido de uma total ausência de trabalho, de cálculo, pois supõe-se que quem escreve é “pleno de mérito”, mas também não permite determinar as condições desse trabalho nem atribuir-lhe uma finalidade, mesmo que fosse a de não ter finalidade. 5. LACOUE-LABARTHE, Philippe. Heidegger. La politique du poème. Paris : Galilée, 2002. 117 A exigência de escrever como a exigência de poesia que encontramos em Hölderlin enquanto exigência colocada aos homens pelo seu serem finitos-indefinidos, não é delegável em nenhuma figura, nem a do poeta, nem a do filósofo, nem a do poeta-filósofo ou do filósofo-poeta. Ninguém vive por um outro, assim como, na expressão de Paul Celan, “ninguém testemunha pela testemunha” e por conseguinte cada um testemunha por si, pela sua insignificância de que se tece a significância do mundo, a sua criação anónima. No sentido em que cada um é, poeticamente, parte sem nome da transformação do mundo, da sua destinerrância, não cabe a ninguém traçar tarefas para o habitar poeticamente. Mas, pelo mesmo motivo, também ninguém tem o poder de determinar qual é a tarefa do poeta em sentido estrito (aquele que cria formas poemáticas, formas designadas como poemas): isso aprenderíamos com Hölderlin, com a sua insistência no corte, no luto, no nascimento – «operações» que não são apenas mérito. Habitar poeticamente não é necessariamente escrever poemas, formas designadas como tal, constituídas pela composição singular de palavras que se coloca à disposição dos outros. Mas a exigência de escrever pode ser entendida como uma exigência ética, a de participar da alteração do mundo, como acima se disse, fora de qualquer determinismo e messianismo. A transformação do mundo não é apenas a consequência de competências, mas de desvios que (des)figurando aquilo que se apresenta são, por não serem verbo divino nem tecnologia, manifestações precárias que atravessam em graus diferentes de intensidade todo o viver-em-comum. As artes, incluindo aquela que se designa por “poesia”, são lugares de intensa (des)figuração, incompatíveis com uma figura ou solução final, e como tal não são fundadoras, o que as colocaria a par do Estado. O poeta em sentido estrito, aquele que compõe uma forma escrita cuja estranheza é irredutível, não foi investido de nenhuma missão ou tarefa, e não pode sem autoritarismo pretender estar no lugar de uma relação privilegiada com qualquer suposta verdade (do ser, da vida, da linguagem). Aquele que o lê só arbitrariamente pode atribuir-lhe esse lugar, mesmo que para tal encontre justificação no que lê. 118 A leitura que Heidegger fez de Hölderlin e deu continuidade à tradição romântica enquanto prescrição de uma sutura da filosofia ao poema ou ao mythos, tem como fundamento uma concepção da poesia que lhe atribui (e ao poeta) a missão de “educadora da humanidade” – lugar de manifestação da verdade fundadora e da profecia, sua desvelação antecipada – justificada a partir da declaração de originariedade do mito como paradigma de uma função por excelência da linguagem. Essa missão radica na sua identificação com uma força superior da linguagem que faz dela escuta do ser, seu médium, o que circularmente vai demonstrar recorrendo à poesia de Hölderlin, na qual encontrou versos ou expressões em que essa crença é explícita. Como por definição não pode haver verdade superior à verdade, a filosofia só circularmente pode “justificar” a superioridade da poesia, isto é, só pode apresentar como poesia aquilo que considera declarado na poesia instituindose como seu testemunho válido ao instituí-la como lugar da desvelação. Se se entender que a sutura da filosofia à poesia corresponde à ocultação dessa auto-instituição através da ilusão de um diálogo entre dois modos de relação com a Verdade, e que como tal é da ordem da construção da crença numa autoridade mística, o desfazer desse tipo de sutura implica o abandono do mitológico ou do teológico, indissociável do pensamento das linguagens, dos textos, das frases e dos versos na sua irredutível singularidade, pluralidade e infinita abertura, o que significa um pensamento não-determinista da origem, incompatível com qualquer tipo de messianismo. Vão neste sentido as Anotações que Hölderlin fez das tragédias Édipo e Antígona, de Sófocles, e outros textos do poeta que Heidegger não comentou e que constituem, na sua enigmaticidade, uma possível afirmação de desvio da onto-teologia, através da relação-separação finito-infinito, a qual se mostra indissociável da tecnicidade da origem, da différance enquanto assemelhar-se na ausência de algo a que se assemelhar, luto imperfeito, idealização impossível. Importa salientar que, enquanto construção rigorosa, alguns poemas de Hölderlin, nomeadamente os hinos tardios, colocam a exigência de não serem lidos linearmente. Neste sentido é fundamental o texto de Adorno «Parataxe», não só pela crítica das leituras de Heidegger, mas sobretudo por aquilo que suporta essa crítica: a atenção ao desfazer da sintaxe enquanto sistema de subordinações na poesia de Hölderlin. A composição poética 119 aparece aí justamente como saída dos constrangimentos da lógica e das suas regras ou modelos de ordenação, e como construção de uma forma que, tendo como matéria a linguagem não instrumental, é organização de um sistema de tensões em que o que é histórico se dá de maneira original. Nesse texto, em que também se demarca Hölderlin do «princípio realista da poesia», lê-se: «fazendo voar em estilhaços a unidade simbólica da obra de arte [Hölderlin] lembra o que há de mentiroso na reconciliação do universal e do particular no seio do irreconciliado».6 Supõe-se aqui a relação da poesia com a história enquanto processo que põe fim ao «irreconciliado». É a ficção de uma origem que assim se coloca, o que permite a Adorno dizer a propósito dos últimos hinos do poeta: «A língua pura, de que eles figuram a ideia, seria uma prosa análoga aos textos sagrados»� . Continuando a poética do Romantismo de Iena, Adorno reconduz a poesia a uma produção da linguagem: «Em Hölderlin o movimento poético abala assim a categoria do sentido (…). Ao mesmo tempo que o sujeito legislador, a sua intenção, quer dizer a primazia do sentido, é cedida à linguagem (…) Hölderlin procurou salvar a linguagem ameaçada pelo conformismo, o «uso», elevando-a, na sua liberdade de sujeito, ele próprio acima do sujeito»7. Convocando Benjamin em apoio da sua concepção de linguagem, Adorno considera que a poesia de Hölderlin não tem relação com a teologia senão porquanto «ela é um ideal, ela não se lhe substitui. A distância que ela toma em relação àquela é o que há nela de eminentemente moderno»8. O ideal é a reconciliação, que «deve ser, concretamente, a do interior e do exterior, ou, para falar uma última vez em termos idealistas, do génio e da natureza»9. Opondo-se ao mito enquanto Mesmo eterno, a reconciliação supõe uma afinidade entre génio (espírito) e natureza, baseada na assunção da mortalidade enquanto perda da vontade de domínio, passividade. A passividade aparece como fuga ao mito enquanto Unidade de significação, e supõe uma outra Unidade, a da natureza perdida no espírito que a domina, a do sem-sentido, em que a linguagem seria nomeação. O conteúdo da poesia de Hölderlin, o seu teor de verdade, consistiria na passividade, na qual a vida viria inscrever-se. Embora, como nota Lacoue-Labarthe, a poesia de Hölderlin não seja de modo nenhum estranha ao desígnio remitologizador e grecizante, a leitura de Adorno ao colocar a poesia como perda de sentido, toca num aspecto fundamental, o da dispersão da significação, sem unidade apresentável. E no entanto, não se pode deixar de pensar o sentido, isto é, as 6. ADORNO, Theodor W. Notes sur la littérature. Paris : Flammarion, 1974, p. 327. 7. Op. cit., p. 337. 8. Op. cit., p. 338. 9. Op. cit., p. 339. 120 tematizações em que o poema insiste e que estilhaça, as imagens que desloca e tudo aquilo que uma mestria põe em jogo excedendo-se a si própria. O problema é o do «próprio» da «poesia», nome dado ao que não é uma forma construída de acordo com certos critérios, a sua historicidade implica que não haja critérios prévios. Mas para Adorno a sua relação com a «vida comum» impõe-lhe uma missão, a de vanguarda na destruição do sentido: o poeta não é apenas um dos que habitam poeticamente na terra, mas é uma excepção, a excepção da passividade na qual se expõe o que só pode ser obra da linguagem que se desfaz do seu uso instrumental, dominador . Essa ideia da excepção da arte em relação à «vida comum» é aquilo que de algum modo aproxima Adorno e Benjamin de Heidegger: eles não partilham apenas uma concepção da linguagem enquanto relação com a origem, mas igualmente, no que vão ao encontro da tradição, a ideia do génio como passividade (ao que antes supunha receber dos deuses o poema feito substitui-se a ideia de um dom de, por um trabalho árduo da forma, reconciliar interior e exterior) na qual vem eclodir a energia da linguagem, a phusis que se desvela, ocultando-se. Enquanto em Heidegger a autoridade da origem é a do mito, Adorno e Benjamin colocam uma autoridade mística como origem da poesia. A partir da colocação dessa autoridade, embora em novos moldes, coloca-se sempre uma transcendência, um exterior do mundo do qual não se pode senão fazer derivar um sistema de hierarquias, um sistema de competências. Ora, em certos momentos da poesia, em ensaios, cartas e nas Anotações, Hölderlin vai justamente contra a tendência para assim proceder. A poesia enquanto construção de uma forma escrita é então uma actividade sem compromissos particulares ou universais, um jogo a que se não pode pedir contas nem impor limitações, como a tudo o que da «vida comum», da habitação em comum, se não identifica com o mérito, sem deixar de o pressupor. Não há então como atribuir ao poeta qualquer tarefa, nem à poesia qualquer exemplaridade. Philippe Lacoue-Labarthe chama a atenção para o facto de, no final de O Conceito de Crítica no Romantismo Alemão – apoiando-se nas referidas Anotações e chamando a atenção para o cálculo da forma, para o seu carácter mecânico –, Benjamim se distanciar do esoterismo e messianismo para colocar uma tese decisiva em relação a Hölderlin, a tese da sobriedade da 121 poesia, do devir prosa da poesia. Esta sobriedade não seria incompatível com o mito, mas sim com a mitologia, tal como Benjamin o fez notar no texto «Dois poemas de Friedrich Hölderlin», de 1915. Trata-se de, fora da crença nos mitos como totalidades delimitáveis, entender os mitos no sentido em que Thomas Mann usa a expressão “a vida no mito” que é “a vida em forma de citação”, a vida na linguagem. Colocar ou não uma «tarefa do poeta» depende de se esclarecer que ficção se constrói quando se pensa essa vida em forma de citação: se a citação do mito implica a repetição como estruturadora do mundo, ou se implica uma escrita em que repetir é já da ordem do diferenciar, do diferir, do diferendo, isto é, da iterabilidade, sem qualquer prevalência de um anterior enquanto tal. A distinção que o texto de Thomas Mann faz entre a «vida no mito» – «uma vida que se exprime em citações, a vida no mito, é uma cerimónia religiosa; enquanto tal, ela torna-se uma cerimónia solene, a realização por um celebrante de um rito prescrito, um ofício, uma festa [...]. Uma festa é o eclipse do tempo, um acontecimento, uma acção solene que se desenrola segundo os dados primitivos conservados pela tradição»10 – e a arte, embora pudesse deixar em aberto o entendimento desta como desmitologização (a relação da arte com o mito entendida como «farsa», «execução teatral do rito» pela criação de um «presente facecioso»), inclina-se nitidamente para a remitologização, e com ela investe o escritor de uma tarefa de formação dos outros, conduzidos a partir de uma menoridade, um infantilismo que o escritor retira ao inconsciente mítico e consegue fazer «jogar a cada instante na limpidez da consciência tanto quanto na profundidade infantil da atenção» 11. A tarefa do escritor, tarefa de formação, é então claramente a de proporcionar um pai: « esta formação e esta marca que vos imprime o que se admira e o que se ama, é a identificação com a imagem de um pai escolhido por simpatia íntima» 12. 10. MANN, Thomas. Noblesse de l’esprit. Paris, 1960, p. 206-207. 11. Op. cit., p. 209. 12. Op. cit., p. 208. A ideia de citação como repetição de uma memória imemorial, de um começo, justificaria uma exemplaridade colocada em bases místicas, uma autoridade mística do escritor, que em última instância teria um fundamento genético (a perigosa associação entre génio e genos): o poeta teria o dom especial de desencadear a memória imemorial, aliando paradoxalmente esse dom – a capacidade de auto-sacrifício, de passividade, que o colocaria em 122 contacto ou afinidade com aquilo que é negado pelo espírito, ou pela técnica – ao mérito (cultura, erudição, raciocínio, etc.). Do poeta como figura exemplar ao poeta como fundador, não haveria muita, talvez nenhuma, distância. O problema que importa colocar não é o da figura do poeta, da função que teve na conservação das tradições e na ruptura delas. Também não é o do cânone, o daquilo que se foi sedimentando como história. É o da essencialização da poesia e do poeta: qualquer pretensão de estabelecer uma tarefa do poeta separa-o do habitar poeticamente que é o nosso, o de qualquer um, e destaca-o como figura de pai. A questão é justamente a do nascimento: quando é que se nasce? Nascese de uma vez por todas e fica-se preso à «cena primitiva»? O nascimento é a morte? Lacoue-Labarthe, num texto com o título «O nascimento é a morte» escreveu: «Qualquer existência – o facto de existir, ou de que há existência – é a recordação daquilo de que não existe, por definição, nenhuma recordação: o nascimento»13. Quanto à literatura: «a origem da literatura seria, também ela, imemorial. Com a única diferença, todavia, de que ela se apoiaria numa recordação ainda mais impossível, mesmo se constitui o seu reverso exacto, do que a impossível recordação do nascimento: a recordação da morte».14 13. LACOUE-LABARTHE, Philippe. Duas Paixões. Trad. Bruno Duarte. Lisboa: Vendaval, 2004, p. 11-2. 14. Ibidem. A distinção que Lacoue-Labarthe faz entre a existência, de qualquer um, e a literatura, assenta na ideia de um irrepetível associado ao nascimento, a qual só pode introduzir uma vinculação a um anterior, o Criador (mãe, Deus, Phusis). O existir repetiria sem repetir (recordação sem recordação) esse momento imemorial. Poderia então dizer-se, forçando a leitura, que a repetição é já literatura, no sentido de ficção, o que implicaria que: 1. a distinção proposta entre o existir e a literatura não existe. 2. o nascimento é também morte, ou nos termos de Hölderlin: «a vida é morte e a morte é também uma vida». Assim se desfaz uma outra hipótese de pensar a tarefa do poeta: o que o distinguiria não seria o génio como dom à partida, mas a entrega à literatura, a qual seria, ela, apenas nascimento e morte. Colocar a relação entre vida e morte como a condição da existência é deixar implícito que não se nasce e morre de uma vez: a cesura assinala isso, o haver acontecimento, não apenas na literatura que o pensa, o assinala, mas no existir como exigência de justiça. Daí que não seja justo falar da poesia como 123 «poesia da poesia» num sentido estrito (apenas se escreve poesia a partir da poesia,ou a poesia só se pensa a si própria) ou defini-la como reflexo da vida, ou afinidade com ela (o que quer que se entenda por vida). Impropriedade, tanto a há no habitar poeticamente como no poema. Daí que deste não se possam directamente tirar lições para a existência, que ele, ou o poeta, não possa ser investido de qualquer tarefa. Da arte e do poema poderia dizerse: também aí a impropriedade se manifesta. Lacoue-Labarthe fala de duas cenas que vêm dos poemas homéricos, a da cólera e a da experiência. Pode dizer-se que nessas duas cenas – a da cólera como exigência de justiça sem fim, sem juízo final, e a da experiência como confiança e risco – se trata de impropriedade, desejo, abertura. Pelo que, só temos que as considerar como não sendo apenas da literatura, nem do ocidente. Concluindo, no seu mais imponderável, na sua máxima singularidade, um poema toca-nos inexplicavelmente, de estrangeiro a estrangeiro. Disso não há nada a dizer, ou a exaltar, ou a explicar, embora se possa querer aprender o poema de cor. Não é que este não tenha consequências, mas a sua extrema singularidade, que põe em jogo a nossa auto-imunidade, torna-as, se elas existem, indetermináveis. Talvez não haja o poema puro, absolutamente fechado e, no seu fechamento, defendendo-se, ameaçando o exterior. Se o houvesse diríamos apenas que há poemas como há o ouriço: eles sujeitos ao acidente e nós sujeitos a podermos ser feridos por eles15. Por conseguinte, estamos sempre já na impropriedade literária, aquela em que poesia, ficção e filosofia se contaminam. A exigência de justiça como exigência de (e da) literatura só pode ser também exigência de experiência, pois da origem não há senão ficções em permanente alteração, aquilo mesmo porque não há destino. Destacando do poema Num ameno azul a frase final, «A vida é morte e a morte é também uma vida», é preciso pensar a poesia como aporia, exigência de «experiência interminável», que é preciso manter para que haja decisão, constituindo-se assim, como escreveu Derrida, um duplo dever: «A forma mais geral e portanto a mais indeterminada deste duplo e mesmo dever, é que uma decisão responsável deve obedecer a um «é preciso» que não deve nada, a um dever que não deve nada, que deve não dever nada para ser um dever, que não paga nenhuma dívida, um dever sem dívida e portanto sem dever»16. 15. Alusão a Jacques Derrida que em O que é a poesia comenta um fragmento de F. Schlegel em que o fragmento é apresentado como um ouriço. 16. DERRIDA, Jacques. Apories. Paris : Galilée, 1996, p. 37 124 A tensão, a discórdia, a parataxe do poema Num ameno azul, «conduzidas», na leitura que neste texto se apresentou, a algumas teses, não deixaram de existir. Teses e argumentos só serão justas em relação ao poema pelo que nelas houver de experiência, de resposta – é esse o seu risco e a sua nenhuma autoridade. Esquivar a leitura de um texto (e com mais razão de um poema) à tematização, argumentação ou formulação de teses ou, pelo contrário, pretender determinar o seu conteúdo de verdade, seria manter a tradição da distinção entre forma e conteúdo, situando-se na história da filosofia (isto é, do platonismo). «Literatura» para além de ser a instituição moderna de um determinado tipo de direito à escrita, terá sido, desde sempre, e não só no ocidente, a composição verbal que atravessando os discursos impede que eles se fechem em histórias (da filosofia, da poesia, da literatura). 125 Anexo Tradução de [In lieblicher Bläue...] [No ameno azul…] Friedrich Hölderlin Num ameno azul floresce, com o telhado metálico, o campanário. À sua volta pairam os gritos das andorinhas, cerca-o o mais tocante tom azul. Acima dele ergue-se no alto o sol, e dá cor à chapa metálica; ao vento porém, lá em cima, canta silenciosamente o catavento. Quando alguém desce então aqueles degraus, abaixo do sino, é uma vida serena, pois quando assim tão isolada se encontra a figura, a plasticidade do homem ganha então relevo. As janelas por onde tocam os sinos são como pórticos na sua beleza. Pois, por serem os pórticos ainda feitos à imagem da natureza, parecem-se com as árvores da floresta. Mas também a pureza é beleza. No interior, a partir do que é distinto forma-se um espírito solene. Tão simples são porém as imagens, tão sagradas, que muitas vezes realmente se teme descrevê-las. Os Celestiais, porém, sempre clementes, tudo de uma só vez, como ricos, possuemnas, virtude e alegria. Tudo isto pode o homem imitar. Pode um homem, se a vida não é apenas a soma das suas penas, olhar para o alto e dizer: assim quero eu ser também? Sim. Enquanto perdurar ainda no coração a amabilidade, a pura, não será infortunadamente que o homem se mede com a divindade. Será Deus desconhecido? Será ele manifesto como o céu? — antes o creio. É do homem a medida. De pleno mérito, é poeticamente que habita o homem nesta terra. Mais pura porém não é a sombra da noite com as estrelas, se me é permitido dizê-lo, do que o homem, que é uma imagem da divindade. ____________________ Existirá na terra uma medida? Nenhuma existe. Pois o andamento do trovão, nunca o impedirão os mundos do Criador. Também uma flor é bela porque floresce sob o sol. Tantas vezes encontra o olhar na vida seres que muito mais belos ainda de nomear seriam do que as flores. Ó, sei-o bem! Pois sangrar do corpo e do coração, e deixar inteiramente de ser, agradará isso a Deus? A alma porém, assim o creio, deve permanecer pura, de outro modo alcança o poderoso a águia, sobre asas, com um cântico de louvor e a voz de muitos pássaros. É a essência, a figura. Tu, belo riacho, brilhas comovente, quando corres tão claramente como o olho da divindade através da Via Láctea. Conheço-te bem, e todavia brotam-me lágrimas dos olhos. Vejo florir à minha volta uma vida mais jovial nas figuras da Criação, pois não as comparo injustamente com os tristes pombos solitários no cemitério. O riso dos homens, 126 porém, parece causar em mim uma amargura, pois tenho um coração. Gostaria eu de ser um cometa? Acredito que sim. Pois têm a celeridade dos pássaros; florescem ao contacto do fogo, e na sua pureza são como crianças. Aspirar a algo de maior, a tal não pode afoitar-se a natureza do homem. Também a alegria da virtude merece ser louvada pelo espírito solene que sopra por entre as três colunas do jardim. Uma bela jovem tem de coroar a fronte com flores de mirto, porque é simples, de acordo com o seu ser e com o seu sentimento. Mirtos, porém, há-os na Grécia. ____________________ Quando alguém se olha no espelho, um homem, e aí vê a sua imagem, como pintada; ela assemelha-se ao homem. Tem olhos a imagem do homem, mas tem luz, pelo contrário, a lua. O Rei Édipo tem um olho a mais, talvez. Estes sofrimentos deste homem parecem indescritíveis, indizíveis, inexprimíveis. Se a peça apresenta algo assim, é por isso. O que se passa comigo, que penso agora em ti? Como riachos, impele-me nesse sentido o fim de alguma coisa que se estende como a Ásia. Claramente, este sofrimento — tem-no Édipo. Claramente, é por isso. Terá Hércules sofrido também? Certamente. Os Dioscuros, na sua amizade, não terão suportado também o sofrimento? Pois lutar com Deus, como Hércules, é isso o sofrimento. E a imortalidade na inveja desta vida, partilhá-la, é também um sofrimento. É também um sofrimento, porém, quando um homem se vê coberto de sardas, e fica completamente recoberto de inúmeras manchas! É o que faz o belo sol — pois tudo puxa para cima. Rege o trajecto dos jovens com a atracção dos seus raios, como com rosas. Os sofrimentos que Édipo suportou parecem-se com um pobre homem que se lamenta pela falta de alguma coisa. Filho de Laio, pobre forasteiro na Grécia! A vida é morte, e a morte é também uma vida. (tradução de Bruno Duarte) F. W. Waiblinger, Phaëthon, Stuttgart Verlag (Friedrich Franckh), 1823. 127 kafka e derrida: a origem da lei Marc Crépon 128 kafka e derrida: a origem da lei Marc Crépon1 A partir do momento em que nos questionamos sobre a relação entre direito e literatura, um terceiro termo logo vem à mente sem que saibamos previamente que estatuto conferir àquilo que ele designa (o de uma disciplina, de um saber ou de uma ordem do discurso): a filosofia. Antes de tudo, há tempos ela faz tanto de um quanto de outro seu objeto: existe uma “filosofia da literatura”, assim como existe uma “filosofia do direito”. Mas, acima de tudo, ao fazer da origem da lei uma de suas questões recorrentes, ela não deixou de apelar para as “ficções” a fim de tentar responder ao seu enigma. Só para citar dois exemplos, é assim que acontece na narrativa proposta por Rousseau com a saída do estado de natureza no Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens. E o mesmo acontece no modo com que Freud relata a origem da culpabilidade, do interdito e da lei – logo, de todas as instituições morais e jurídicas –, em Totem e tabu, com sua história da horda primitiva e do assassinato do pai. Mas uma pergunta surge no mesmo instante: podem tais textos ser considerados “literários”? Qual o estatuto deles? E quem está em condições de julgá-los? A qual tribunal devem eles se submeter para que um veredito seja pronunciado a seu respeito? O dos juristas, o dos teóricos da literatura, o dos filósofos, ou dos psicanalistas? Existem, sem dúvida, ao menos duas maneiras de pensar a relação entre o direito e a literatura. A primeira, extrínseca, refere-se às novelas, romances ou dramas que têm o rigor da lei, do aparelho ou da máquina judiciária como objeto – que, em outras palavras, fazem da escrivania, da pretória, do tribunal e dos processos, com seu cortejo de interrogatórios, de testemunhos, Professor e Diretor de Pesquisa no CNRS (Archives Husserl). Diretor do Departamento de filosofia da École Normale Supérieure. 1 129 requisitórios de veredictos, seu “assunto”. Como sabemos, a descrição que implica uma tal relação pode, assim, pretender-se tanto realista, nas fronteiras de uma pesquisa sociológica, quanto pode se mostrar fantasmática, pesadelesca ou alucinatória. Nesse segundo caso de figura, não é apenas o aparelho judiciário que está em questão, mas [também] o “imaginário sobre a justiça”, tal qual ele determina nossa ligação com a lei, e as diferentes afeições que o complexificam ou o contaminam. Se é verdade, com efeito, que a ligação com a lei jamais é puramente racional, mas ao menos igualmente afetiva, e por vezes até “mais-que-afetada” – ansiosa, angustiada, senão angustiante – é evidentemente no espaço dessas afeições (e inclusive no desejo ou na loucura pela lei) que a literatura também pode achar de fazer do direito seu objeto. Tal contribuição, então, não é desprezível. Desde o instante que a ligação com a lei é um elemento constitutivo da gênese de cada subjetividade – ou, para dizer ainda de outro modo, que tal ligação ocorre na singularidade de cada um, tal qual ela é para todos, impermutável e insubstituível –, é essa singularidade que a literatura faz conhecer e que ela lembra ao direito. Mas existe uma segunda relação (aquela que evocávamos no começo), que é ainda de uma outra complexidade. Ela se constrói em torno de uma dupla incerteza: a da origem da lei e a da literariedade do texto literário. Ou mais, ela articula entre ambas duas questões essenciais: a da acessibilidade (ou da inacessibilidade) dessa origem e a da possibilidade da narrativa (ou de sua impossibilidade) que pretende lhe dar acesso. Acontece que, assim que entramos na ordem desses prefixos negativos (a inacessibilidade da lei, a impossibilidade da narrativa), uma obra logo chama a atenção: a de Kafka, assentada sob o signo de uma dupla incompletude e de uma dupla busca inalcançada; aquelas dos heróis kafkanianos que jamais chegam a saber de onde vêm as leis, os decretos, os motivos do julgamento que lhes são aplicados e aquelas das narrativas que, para muitos dentre eles, não alcançam seu fim. Por isso, as narrativas de Kafka não são muito estranhas à primeira relação descritiva, que acabamos de evocar. Se é verdade que elas permitiram numerosos comentários, como é do conhecimento de todos, elas se distribuem, em todo o caso, entre duas constelações receptivas que coincidem com essas duas grandes orientações. A primeira reúne, nos anos 1930 e 1940 – marcados pela ascensão dos fascismos na Europa, pelas políticas discriminatórias, pelo 130 exílio, pela deportação e pelo extermínio dos judeus da Europa –, as primeiras leituras de Hanna Arendt, Walter Benjamin, Günter Anders ou, ainda, Thomas Mann. O traço singular da constelação que esses primeiros leitores esboçam é o que eles têm em comum ao ler, ao comentar ou ao prefaciar as narrativas de Kafka, na situação de terem de fugir de seu próprio país – compartilhando com K, o “herói” de O Castelo, essa situação de “estrangeiro” ou de “exilado” que expõe aquele que a suportou para viver na expectativa de uma decisão declarada que lhe reconheça o direito de existir no lugar em que chegou. No universo de Kafka, eles descobrem sucessivamente a descrição ou a profecia do pesadelo no qual a Europa está se precipitando, à medida que cada novo decreto, cada nova lei, identifica-se com uma ameaça à liberdade e aos direitos fundamentais. A segunda, 40 anos mais tarde, nos anos 1970 e 1980, agrupa uma outra geração de filósofos: Gilles Deleuze e Félix Guatarri, Jean-François Lyotard e Jacques Derrida; sem mencionar Maurice Blanchot que, dos anos 40 aos anos 80, não deixa de voltar a Kafka. Ainda aí suas diferentes abordagens não deixam de ter correspondência: todas elas têm em comum se interrogar, com base em propósitos diversos, a respeito da função política dessas narrativas como “política da literatura”. De uma maneira ainda mais geral, elas se apoiam nas narrativas de Kafka para pensar a “essência” ou a “função” da literatura, naquilo em que esta é inseparável de uma reflexão sobre o direito. Mas essas duas grandes orientações – a que busca na literatura uma descrição de nossa relação, real ou fantasmal, com a lei e com o aparelho judiciário e a que se questiona sobre a possibilidade de uma narrativa que dê acesso à lei, a sua origem ou ao seu fundamento – são elas rigorosamente separáveis? Ao contrário, não é seu entrelaçamento ou seu nó que as narrativas de Kafka nos fazem experimentar e imaginar? Supondo que mantenhamos tal hipótese, existe ao menos um texto que permitiria pensá-lo: a curta narrativa intitulada Diante da lei – ainda mais se, de fato, quisermos nos lembrar que, antes de ser desmembrada para constituir uma narrativa publicada à parte, ela pertencia a O Processo. Ela é narrada a K, com efeito, pela boca de um padre, embora este suspeite de todos aqueles que aparentam ter certa antipatia por ele. No romance, por outro lado, essa narrativa dá lugar àquilo que se assemelha a uma verdadeira exegese talmúdica que, a partir daí, universalizou-se a ponto de não contarmos mais somente as interpretações em todas as línguas, mas 131 [também] as reexibições teatrais (reprises), as reescrituras que ele permitiu – começando pelas de Coetzee em O Cio da Terra: Vida e Tempo de Michael K ou de Boubacar Boris Diop. Todavia, é seguindo os passos de uma delas em especial que nos colocaremos nas páginas que se seguem. Trata-se da leitura que Derrida propõe em um texto intitulado “Préjugés” e pronunciado por ocasião de uma década de Cerisy dedicada ao trabalho de Jean-François Lyotard. Agradalhe, mais do que a ninguém, com efeito, ter reposto, na leitura de Kafka, a dupla questão da acessibilidade da origem da lei e da possibilidade de uma narrativa “literária” que permitiria pensar tal origem, lá onde se lança a tensão paradoxal entre a generalidade ou a universalidade da lei e a singularidade absoluta de toda ligação com essa mesma lei. I A narrativa é conhecida; conta a história de um “homem do campo” que, tendo chegado à porta da lei, fica contrariado com a oposição do guardião que lhe proíbe a entrada. Durante anos ele espera, contrariando-se com a mesma recusa a cada vez que ele renova sua solicitação. Consumido, envelhecido, acaba ficando surpreso por ser, há tanto tempo, o único a reivindicar um acesso à lei; e ele obtém a seguinte resposta: “aqui, nenhum outro, a não ser você, podia adentrar, pois essa entrada só foi feita para você, agora vou embora e fecho a porta2.”. Por conseguinte, eis que aí se apresenta a questão da acessibilidade à lei (ou, antes, de sua inacessibilidade, do mistério ou da opacidade de sua origem), como Derrida não deixará de recordar. Mas de imediato o autor de “Préjugés” igualmente faz a pergunta que associa à indagação sobre tal origem uma interrogação sobre a definição ou a delimitação da literatura, como se as duas temáticas fossem, em realidade, indissociáveis: “A dupla questão seria então a seguinte, escreve ele: ‘quem decide, quem julga, e de acordo com quais critérios, quanto ao pertencimento desta narrativa à literatura?’3”. 2. Diante da Lei de Kafka, citada em: DERRIDA, Jacques. “Préjugés” In: La faculté de juger. Colloque de Cerisy: Les éditions de Minuit, 1985. 3. DERRIDA, Jacques. “Préjugés”, op. cit., 1985, p. 104. [N. do T.]: a tradução dessa e de todas as outras citações neste texto é nossa. 132 Não é por acaso que começamos aqui citando o fim do texto: “Aqui, nenhum outro, a não ser você, podia adentrar”. Desde a primeira leitura, parece, com efeito, que, se esse texto pode passar por emblemático das relações entre o direito e a literatura, é na medida em que ele coloca em perspectiva a ligação paradoxal entre a generalidade da lei e a absoluta singularidade daquele ao qual ela se aplica. No que se refere à lei, poucas narrativas terão mostrado, de fato, tanto quanto as de Kafka, a que ponto a ligação que se tem com ela se inscreve singularmente no corpo de cada um, em sua voz, em seus gestos e em suas posturas, em sua maneira de se manter ereto ou inclinado, à imagem das silhuetas que o autor de O Processo desenhava. Longe de ser abstrata, estranha (étrangère), a sua vida, ela pertence a sua história mais íntima. Ninguém sabe, no mais, quando isso começou e como ela foi incorporada. Sem dúvida, essa incorporação é ela mesma, com a consciência de nossa finitude, a parte mais secreta daquilo que foi imposto a nós, a nossa revelia. Por isso, ninguém pode ignorar que se tem de viver com ela, por toda sua vida. É por isso que, se a origem da ligação com a lei permanece indeterminada, pelo menos seu fim é conhecido. Essa longa duração é o primeiro tema de Diante da lei. Não sabemos que idade o homem do campo tem quando ele se apresenta a sua porta para adentrar na lei, mas sabemos quando a história termina: no limiar da morte. Além do mais, a narrativa, não obstante muito curta, é pontuada de observações que evocam o tempo que passa, inexoravelmente, esperando por uma resposta e uma solução: ...o guardião lhe dá um banquinho e faz com que se sente ao lado da porta, um pouco afastado. Lá ele permanece sentado por dias, anos. [...] por anos e mais anos, o homem observa o guardião, quase sem interrupção [...] mais tarde, ficando velho, ele se restringe a resmungar. Ele volta à infância [...]. Agora, ele não tem muito mais tempo de vida. Antes de sua morte, todas as experiências, por tantos anos acumuladas em sua cabeça, vão dar em uma pergunta que até o momento ele não tinha feito ao guardião. Ele [então] lhe fez um sinal porque [já] não pode mais mover seu corpo enrijecido4. 4. Diante da Lei de Kafka, citada por Derrida em “Préjugés”, op. cit, 1985, p. 100-01. 133 Mas a lei não se deixa ser conhecida e o acesso continua fechado. Em suma, desconhecemos inclusive que tipo de lei está em questão: lei da natureza, lei moral, lei jurídica, lei fundamental. A ponto de se dizer que sua generalidade se vê reduplicada. Existe mesmo uma “lei”, real ou fantasmal, que atesta a singularidade da ligação que o homem do campo mantém com ela, mas nada sabemos dela. Acima de tudo, a narrativa frustra em nós sabermos mais a seu respeito. Ela não torna a lei mais acessível. A única coisa de que é capaz é dizer e reproduzir, reduplicar, em sua própria escritura, a inacessibilidade da lei. Eis o hiato: a lei diz o geral, ela se pretende universal, supõe-se dela não ter que criar casos particulares, ela não tem de cuidar de eventualidades subjetivas de sua incorporação, nem do enigma que constitui – para aqueles aos quais ela se aplica – sua origem; enquanto a narrativa talvez trabalhe a singularidade de uma expectativa, de uma exigência, de uma inquietude, de uma angústia. Portanto, no que diz respeito à narrativa, poderíamos supor que ela fornece um corretivo para essa generalidade, colocando-a em ligação com a singularidade que julga, ela, ter o direito de saber. Tal como se poderia supor em O Processo, quanto à tomada de conhecimento que, por fim, Joseph K teve dos motivos de sua incriminação e, em O Castelo, o agrimensor da fonte e da lógica dos decretos que regem sua chegada, ou ainda, em A Metamorfose, da causa efetiva da repentina e imprevisível transformação de Gregório Samsa em uma barata. Mas não é nada disso. Deve mesmo existir aí, para dar conta de todos esses eventos “extraordinários”, uma lei que os explique e os justifique, independentemente de qual seja sua natureza (natural, moral ou jurídica). Mas, quanto mais aqueles parecem usuais, banalizados e, por fim, considerados como ordinários, quanto mais parecem ingressar nos costumes ou ter sempre lhes pertencido, menos essa lei se deixa conhecer. Mais avançamos na narrativa, mais a perspectiva de ter acesso a ela se perde na mesma proporção em infinitos rodeios. Eis porque, ao ler Diante da lei, Derrida de imediato ressalta, como tema central da narrativa, o fracasso do encontro entre a singularidade da ligação com a lei e a essência geral ou universal dessa mesma lei: Existe uma singularidade quanto à ligação com a lei, uma lei de singularidade que deve se colocar em ligação sem jamais poder 134 realizá-la, com a essência geral ou universal da lei. Acontece que tal texto, esse texto singular, talvez você já o tenha observado, ele nomeia ou relata, a sua maneira, esse conflito sem encontro da lei e da singularidade, esse paradoxo ou esse enigma do estar-dianteda-lei.5 5. DERRIDA, Jacques. “Préjugés”, op. cit., 1985, p. 104. E ele continua pouco depois: Podemos supor, então, que aquilo que permanece invisível e oculto em cada lei é a própria lei; o que faz com que essas leis sejam leis. Inevitáveis são a pergunta e a investigação – ou seja, o itinerário com vistas ao lugar e à origem da lei. Esta se dá ao se privar, sem dizer sua proveniência e sua localização. Esse silêncio 6. DERRIDA, Jacques. “Préjugés”, e essa descontinuidade constituem o fenômeno da lei.6 op. cit., 1985, pp. 109-110. Se nos recordamos das duas questões que levantávamos no começo, o que deve prender a atenção aqui é a maneira como a questão da acessibilidade (ou da inacessibilidade) da lei se revela efetivamente indissociável daquela da possibilidade (ou da impossibilidade) da narrativa e, em todo o caso, de sua completude. Como todos sabem, essa inacessibilidade é, nos anos de 1980, uma das grandes questões sobre as quais se concentra o trabalho de Derrida. Se é verdade que desde o início – isto é, os três grandes livros de 1967: Gramatologia, A escritura e a diferença e A Voz e o fenômeno – tem por objeto a desconstrução do sujeito soberano em sua própria soberania, esta adquire, naqueles anos, uma dimensão mais abertamente política, que passa pela evidenciação daquilo que, na esteira de Montaigne, o autor de Força de lei chama de “o fundamento místico da autoridade”. Também é nessa perspectiva que devemos ler o comentário de Diante da lei. Nas narrativas de Kafka, nada proíbe, com efeito, compreender o impossível acesso à lei como uma outra figura ou, para ser mais exato, como o efeito, cada vez singular, de tal “fundamento místico”. É isso que faz com que, em último caso, as leis sejam leis e que a elas devamos nos submeter, quaisquer que sejam as razões dadas para tal submissão; eis o “fundamento” que sempre nos escapa. E isso, independentemente do que dizem os representantes da lei, não é estima pela 135 pátria, pela cidadania, pelo sentimento de dever e todas essas questões que o guardião da lei propõe ao homem do campo “com indiferença, à maneira dos grandes senhores” que mudam alguma coisa. Independentemente das respostas que lhes são fornecidas – aquelas que uma filosofia do direito, uma filosofia moral, ou um tratado de educação do cidadão, por exemplo, podem lhe fornecer –, estas em nada resolvem o enigma de nossa ligação com a lei. Acima de tudo, elas em nada diminuem o desejo pela origem. II Assim, três fatos exigem serem articulados. O primeiro é a resistência da lei que só conserva sua autoridade categórica ao manter seu fundamento em segredo. De fato, para respeitá-la, não há necessidade de se conhecer sua história. Ao contrário, ela não apela, em si mesma e por si mesma, a qualquer narrativa que pudesse vir condicionar tal respeito. É preciso, inclusive, que ela se proteja de qualquer tergiversação histórica que pudesse vir a contestar tal autoridade e colocá-la em questão. Tampouco há necessidade de se voltar para si e interrogar seu passado, em alguma vã introspecção. Em suma, ninguém sabe por quais boas ou más razões o homem do campo, na narrativa de Kafka, apresentou-se à porta da lei. Seria isso para se dar um motivo a mais de se submeter a ela? Ou para aprender a melhor se conhecer? Tão só está seguro de que querer “entrar na lei”, como diz a narrativa, é um propósito legítimo? O desejo de desvendar o mistério ou o segredo da lei é, contudo, inegável, talvez até inevitável. E a narrativa nos diz, persevera por toda uma vida. É por isso que o segundo fato que exige ser levado em conta e que tem de ser articulado a essa resistência é a “pulsão genealógica” que daí resulta. Eis onde nos encontramos: de um lado, há a soberania da lei que não se deixa aproximar, que não exige justificação nenhuma, que só realiza casos particulares, que os mantém a distância (não se sabe quantos guardiões a protegem), que não deve satisfações a ninguém. E, além disso, há ao mesmo tempo o fato de que ninguém no mundo vive assim sua ligação com a lei – pois cada um, com efeito, está comprometido, em sua carne, com uma ligação absolutamente singular com a lei (traduzida em seus gestos e em sua voz, em sua expressão verbal e 136 em seus silêncios). Para dizer tudo, acontece que essa ligação é precisamente, sem dúvida, a experiência primeira de sua singularidade, na qual cada um está inscrito de corpo e alma. Ele, o homem do campo, portanto, quer saber. Não há nada que ele deseje mais conhecer. Ele quer entrar na lei, vê-la ou tocá-la. Sua pulsão é irresistível – e ela só desaparece com a morte –, pois que se trata da vida, porque conhecer o segredo da lei faria talvez, por fim, a vida mais passível de ser vivida. Sim, é sempre assim que se apresenta a ligação com a lei: com a vida com a morte. Entrar em relação com a lei, aquela que diz ‘Você deve’, ‘você não deve’, é de uma só vez fazer como se ela não tivesse história ou, em todo caso, não dependesse mais de sua apresentação histórica e de um só golpe abandonar-se à fascinação, ao desafio, ao insulto causados pela história dessa não-história. É abandonar-se à tentação causada pela impossibilidade: uma teoria sobre a origem da lei e, por conseguinte, sobre sua não-origem, da lei moral, por exemplo7. 7. DERRIDA, Jacques. “Préjugés”, op. cit., 1985, p. 110. O terceiro fato, então, é a própria possibilidade da literatura e da língua que aí é inventada. Se é verdade que a origem da lei é inacessível, que ela é ela mesma (a lei) imperiosa e que, ao mesmo tempo, cada um é constituído, no mais íntimo de si, de uma ligação com a lei absolutamente singular, irredutível, impermutável, então uma língua é invocada, procurada, desejada para preencher esse hiato – isto é, para legitimar o desejo de conciliar a singularidade da ligação com a generalidade da lei. Mas como dar direito ao singular? O que é que faz a “singularidade do singular”? Primeiro, e antes de tudo, é a sua história. O singular existe, como tal, ao ser contado. Eis por que é preciso partir de uma narrativa; na esperança de que ela acabe chegando ao lugar em que a lei surge – a lei que, apesar de tudo, permanece geral, ou seja, que continua resistindo. Tal é a verdade que a narrativa de Kafka comporta: ela é o enunciado desse difícil paradoxo – um enunciado ele próprio paradoxal, considerando que a narrativa continua impossível. Para que ele tome corpo, para que ele responda às expectativas que suscita, seria preciso, com efeito, ao menos duas coisas. Seria preciso, em primeiro lugar, que a lei se tornasse 137 acessível; seria preciso, em seguida, que a singularidade daquele que pede para entrar na lei respondesse. Acontece que, de ambos os lados, a experiência da singularidade é posta em xeque. A lei persiste em manter o segredo de seu fundamento e a singularidade daquele que se compromete com a investigação da origem esbarra na generalidade da linguagem. Em outros termos, é possível que o guardião da lei não seja outra coisa senão a própria língua – que só diz o geral, ao mesmo tempo em que traz consigo a promessa impossível de legitimar o singular. Essa ligação entre a língua e a lei, Derrida a teria frisado inúmeras vezes. Ela reaparece especialmente em O monolinguismo do outro [do qual é importante lembrar aqui o subtítulo] ou a prótese da origem, texto escrito uma dezena de anos depois de “Préjugés”. Dentre os múltiplos temas que constituem a trama desse livro, há um, com efeito, que deve prender nossa atenção. Derrida diz que sempre existe algo perdido (e até desorientado) em nossa ligação com a língua, habitado para sempre pela nostalgia de uma origem inencontrável: não temos senão uma língua, cada um de nós; nós nos dobramos a sua lei – e, ao mesmo tempo, porque essa lei se impõe a nós, essa língua nunca é a nossa. Essa é a razão pela qual não existe ligação com-sigo transparente que possa assegurar o ego de sua identidade; na língua, somos desenraizados, exilados, estrangeiros de nós mesmos, assim como o homem do campo o é diante da porta da lei e como Kafka, se acreditarmos em seu diário, tinha tão frequentemente o sentimento de sê-lo, em sociedade. Nada, em outros termos, garante-nos ou atesta-nos que nós encontraremos a nós mesmos naquilo em que dizemos, naquilo em que pensamos, naquilo em que acreditamos poder estar convencidos de pensar e de expressar por intermédio de nós mesmos. Eis porque a questão da nossa ligação com a língua é indissociável daquela da loucura, como o é, possivelmente, a de nossa ligação com a lei também. Três formas de loucura, explica Derrida em O monolinguismo do outro, espreitam a impossível identificação do ego, não diante da lei, mas na e com a língua. A primeira é a “desintegração” completa da identidade – uma ligação com-sigo e com a língua de tal forma fragmentada, de tal forma desestruturada, que a própria possibilidade de qualquer invenção linguageira singular (a mesma à qual Derrida dá o nome de idioma) encontra-se destruída; 138 portanto, uma quase afasia, como aquela na qual Hölderlin afunda, por sua vez, abandonado aos cuidados do marceneiro Zimmer, ou aquela de Nietzsche, que por anos recebeu os cuidados de sua irmã. Quanto à segunda forma de loucura, jamais é assumida como tal. Longe de se ver dessa maneira, ela está convencida, ao contrário, de sua “normalidade” – e, sem dúvida, nada é tão louco ou ameaçador quanto tal convicção. Essa loucura é aquela que habita qualquer identificação normativa, compreendendo aí o que ela pode ter de exclusiva e de discriminante. Ela se opõe ao trabalho da diferença na ilusão de ter uma identidade com-sigo que é, ao mesmo tempo e integralmente, a da coletividade, com a qual ela se identifica. Ela é aquela com a qual, sem duvidar disso, somos melhor preparados pela família, pela escola, assim como por todas as forças que nos ditam sua lei. Mas ela não é mais estranha aos romances e narrativas de Kafka que, definitivamente, talvez não narrem outra coisa em O Processo, O Castelo, ou A Metamorfose que a disjunção de uma integração social familiar (a relação com o pai), profissional ou outra, em um assustador curto circuito da lei, do corpo e da linguagem. E, quanto ao mais, há aquela terceira forma de loucura descrita por Derrida nos seguintes termos: A loucura de uma hipermnésia, um suplemento de fidelidade, um acréscimo, verdadeiramente uma excrescência: engajar-se, no limite de duas outras possibilidades, a partir de traçados (tracés) – de escritura, de língua, de experiência – que levam a amnésia para além da simples reconstituição de uma dada herança, para além de um passado disponível. Para além de uma cartografia, para além de um saber ensinável. Trata-se aí de uma amnésia totalmente outra e mesmo de uma amnésia do totalmente outro8. 8. DERRIDA, Jacques. Le monolinguisme de l’autre. Paris: Édition Galilée, 1996, p. 116-17. “Uma amnésia do totalmente outro”: na medida em que chegamos a compreender do que se trata, pode ser que, retrospectivamente, consigamos captar o que está em jogo em Diante da lei. Supondo, portanto, que recomecemos do ponto que acaba de ser estabelecido, a falta de “identificação estável do ego” pela (e na) língua, ou seja, pela (e na) dominação, pela (e na) possessão, pela 139 (e na) disposição de uma língua que seria nossa, perfeitamente nossa, com a qual sempre seria possível nos encontrarmos e nos reencontrarmos. Supondo, ainda, que não possamos nos assentar sobre a (sua) língua para responder à questão “quem sou?”; seria preciso admitir, todavia, que cada um fala. Seria preciso admitir que há, seguramente, uma língua para cada um: a língua que ele fala. E mesmo que existe, na realidade, mais de uma língua. Cada evento singular, cada percepção, cada emoção, cada sensação, tentamos, com efeito, traduzir em uma língua que lhes seja apropriada – ou seja, que legitime aquilo que faz de sua chegada um acontecimento singular. Dito de outro modo, devemos, a cada vez, encontrar na língua, com a língua, uma singularidade linguageira – não para legitimar nossa própria singularidade, mas para dar [esse direito] àquela que chega e que produz o acontecimento. Eis porque Derrida pode escrever, de maneira paradoxal, que nesse nosso monolinguismo só existem “línguas de chegada”. Eis porque existe pluralidade na chegada. Se não houvesse, se postulássemos de antemão que não devemos tê-la, que é uma ilusão pensar que deveria haver, estaríamos, de súbito, no limite daquela outra loucura (a da integração – a segunda possibilidade) que há pouco evocamos: a loucura da dominação e da possessão, soberana, de uma língua de saída. Mas, na medida em que admitimos ou reconhecemos que ela não existe, só nos restam efetivamente línguas de chegada – mas de uma chegada que permanece indefinida, que não atinge seu termo, como diz Derrida: “que não chega a chegar”. Por quê? Esse é, sem dúvida, o ponto mais decisivo ou mais nodal que nos faz lembrar que o termo, o fim, a completude, são impossíveis. Se esse não fosse o caso, não haveria loucura da língua, mas programas que ela cumpriria e que voltariam toda vez à mesma coisa: a re-dução ao mesmo. O que forma a loucura da língua, ao contrário, é a irredutível transcendência daquilo que lhe chega, daquilo que vem a ela – ou seja, daquilo que nos faz abrir a boca. Toda vez que falamos (ou que escrevemos), experimentamos essa transcendência; experimentamos a irredutível alteridade daquilo que chega. E não existe ipseidade (ligação com-sigo) livre dessa experiência. Não existe ipseidade que se constitua fora do desejo de legitimar essa alteridade, lá onde, de fato, jamais é possível chegar. Tudo se passa como se a constituição da ipseidade, inacabável, estivesse sempre em suspenso – suspendida pelo desejo 140 de inventar uma língua, dobrada pela promessa de uma língua por vir. Assim, a cada um se impõe a invenção de sua própria singularidade na língua. Qual é, agora, a situação no que diz respeito à relação com o direito? Qual é a situação do “homem do campo”? Se sua estada diante da porta se assemelha a uma forma de loucura, de qual loucura se trata? A narrativa de Kafka, já o dissemos, combina duas inacessibilidades da lei: a do homem que se mantém a sua porta e a quem o guardião proíbe o acesso e a da própria narrativa que não a encontra mais. Assim, a narrativa é simultaneamente possível e impossível, legível e ilegível, necessária e interdita, ou, ainda, como na maioria dos textos de Kafka, sua possibilidade e sua legibilidade não são evidentes. Elas resistem assim como a lei resiste àquele que gostaria de vê-la e tocá-la, entrar nela, de maneira direta e imediata, sem rodeios. O que o guardião sabe, [e] que o homem do campo ignora, é que jamais acontece assim – a ninguém. E que a lei, assim como todo texto, necessita ser decifrada por cada um, de maneira absolutamente singular. Ela apela, como toda narrativa, para a invenção impossível de uma língua que a decifre. Derrida destaca isso fortemente: A leitura pode, com efeito, revelar que um texto é intocável, propriamente intangível, porque legível e de um só golpe ilegível, na medida em que a presença nele de um sentido perceptível, captável, permanece tão escondida quanto sua origem. Assim, a ilegibilidade não se opõe mais à legibilidade. Mas talvez o homem, também homem do campo, desde que não sabe ler, ou que sabendo ler, ainda se comprometa com a ilegibilidade naquilo mesmo que aparenta dar-se à leitura. Ele quer ver ou tocar a lei, quer se aproximar dela, “entrar” nela porque talvez não saiba que a lei não é para ser vista ou tocada, mas decifrada. Talvez seja o primeiro sinal de sua inacessibilidade ou postergação que ela impõe ao homem do campo.9 9. DERRIDA, Jacques. ”Préjugés”. In: La faculté de juger. Colloque de Cerisy: Les éditions de Minuit, 1985, p. 115. É apenas nessa invenção – a de uma língua que decifra – que o hiato, entre a generalidade da lei e a singularidade da ligação que cada um mantém com ela, volta a ser passível de ser vivido. Ele não será preenchido, entretanto 141 – e é nisso que a narrativa, ainda que possível e necessária, continua in fine impossível e interdita. Mas, ao menos ser-lhe-á prometido tornar possível o impossível, com a certeza de que qualquer atitude contrária às portas da lei conduz mais seguramente à margem da aniquilação. Se concordarmos em recordar as três formas de loucura que O monolinguismo do outro retrospectivamente nos permitiu identificar, parece, com efeito, que nenhuma das duas primeiras está ausente na narrativa de Kafka. A primeira, inicialmente, – aquela desestruturação completa que conduz progressivamente ao silêncio ou, mais brutalmente, irrompe na afasia – descreve muito precisamente o que acontece com o homem do campo e talvez dela não se tenha frisado suficientemente a ligação com a linguagem tal qual ela evolui, ao longo dos anos passados próximo às portas da lei. De início, “ele cansa o guardião com suas súplicas”, em seguida, “com desprezo e em voz alta, ele passa a maldizer seu azar”. Depois, “ficando velho, ele se limita a resmungar. Volta à infância”. Ele fica, então, prostrado, silencioso. Apenas um último sobressalto lhe devolve a palavra para que faça a derradeira pergunta: “Se todos aspiram à lei […] por que durante todos esses anos, ninguém, além de mim, pediu para entrar?”. Esgotado, consumido, o homem do campo se une, então, ao cortejo de todos aqueles que a lei, inacessível e imperiosa, destrói por dentro. Entretanto, a segunda forma de loucura descrita por Derrida não está menos presente em Diante da lei. Ela se traduz por essa submissão, essa resignação, essa aceitação dos códigos e das regras, sua incorporação passiva, que são igualmente maneiras de querer, a todo custo, entrar na lei a fim de não formar senão um (mais que um) com ela. Ela consona com aquela de K em O Processo e com aquela do agrimensor em O Castelo, para com os quais os primeiros leitores de Kafka foram tão sensíveis e que alguns, como Günther Anders, chegaram até a reprová-lo. Ela espreita, na realidade, qualquer veneração, qualquer sacralização da lei. Resta, então, essa “excrescência da memória” que, [segundo] nos diz Derrida, aproxima-nos das outras duas formas de loucura, de suas imediações e de sua ameaça, como o testemunham o destino de Hölderlin, o de Nietzsche, ou de Artaud, “a partir de traçados (tracés) – de escritura, de língua, de experiência – que levam a amnésia [ou seja, a investigação da origem e notadamente da origem da lei]10 para além da simples reconstituição de uma dada herança, para além de um passado 10. Os colchetes aqui são um recurso do próprio autor do texto. [N. do T.] 142 disponível. Para além de uma cartografia, para além de um saber ensinável.”11. Ela surge de uma injunção que talvez já pudesse ser aquela que poderia ter levado consigo em filigrana a última resposta do guardião, se não fosse tarde demais e se não tivesse de fechar a porta: “essa entrada só foi feita para você”. Em outras palavras: “ela exigia de você uma decifração, uma invenção singular, um traçado (tracé) de escritura – uma narrativa talvez”. Pois essa injunção é também aquela que comporta a própria narrativa, enquanto “narrativa impossível do impossível”. Lá onde o homem do campo reivindica um ingresso imediato na lei, a narrativa, por suas vias tortuosas, tenta em vão encontrar um acesso, fazer o impossível – tornar possível o impossível. Derrida recorda: De certa maneira, Vor dem Gesetz é a narrativa de tal inacessibilidade, dessa inacessibilidade à narrativa, a história dessa história impossível, o mapa deste trajeto interdito: sem itinerário, sem método, sem caminho para acessar a lei, aquilo que nela teria lugar, o topos de seu acontecimento.12 Que vias são essas? Inicialmente, precisamos lembrar isso, decididos a rir. Quanto à narrativa de Kafka, estaríamos enganados, com efeito, se considerássemos pouco importantes os impulsos cômicos e as marcas de humor que, sem dúvida, são uma maneira dentre outras de viver com o interdito da lei. Em primeiro lugar, lembramo-nos que existe a descrição caricatural do guardião que faz pensar nos retratos de Ivan, o Terrível, “em seu casaco de pele, com seu nariz pontudo, sua longa barba de tártaro, rala e negra”. Acontece, em seguida, a solicitação dirigida às pulgas: “como, por ter examinado o guardião durante anos, acabou conhecendo até as pulgas de seu casaco de pele, ele suplica às pulgas que o ajudem e que mudem o temperamento do guardião13”, talvez exista, por fim, a diferença de proporções invertidas no fim da narrativa. Rir da inacessibilidade da lei (rir e fazer rir dela ao falar dela) em uma narrativa na qual é impossível manter a seriedade diante dessa mesma lei, por mais soberana, por mais majestosa, por mais imperiosa e misteriosa que ela seja, isso já é escapar das duas formas de loucura que salientávamos ainda agora: a paralisia alienante e a incorporação cega (ou seu fantasma). 11. DERRIDA, Jacques. Le monolinguisme de l’autre. Paris: Édition Galilée, 1996, p. 116-17. 12. DERRIDA, Jacques. Préjugés. In: La faculté de juger. Colloque de Cerisy: Les éditions de Minuit, 1985, p. 114. 13. Diante da Lei de Kafka, citada por Derrida em “Préjugés”, op. cit., 1985, p. 100. 143 Mas, sobretudo, a primeira via – a que toda obra de Kafka, talvez, as narrativas, mas também os diários e a correspondência, permitiria exemplificar – é a escritura, ela mesma; a escritura como adiamento. Sem dúvida, cabe ao guardião intimar o homem do campo a experimentar um acesso indefinidamente diferido da lei, mas essa inacessibilidade é, antes de tudo, a narrativa que lhe dá forma. O que ela produz, tal como as histórias de Sherazade em “As mil uma noites”, não é outra coisa, com efeito, senão o pôr em movimento (ou o pôr em [uma] língua) da diferensa (différance)14 – como se, no fundo, estivesse aí a razão de toda escritura, como se a impossível anamnese com relação à origem nos comprometesse com o diferir indefinidamente seu encontro na (e pela) invenção de uma língua e na (e pela) retomada de uma narrativa que são igualmente suspensões da ligação com a lei, ou ao menos de qualquer relação com ela que se pretenda direta, imediata, frontal. Sim, no fim das contas, é bem possível que seja nesse lugar improvável, a literatura, que se misturam, lá onde elas fazem o cadinho de toda singularidade, nossa relação com a lei e nossa relação com a língua: 14. A fim de preservar ao máximo a letra do neologismo derridiano, optamos pela fabricação de “diferensa”, termo que, ao lado de “diferença”, conserva respectivamente o mesmo jogo de sonoridade e escrita que há entre différance e différence. Aqui e mais adiante, vê-se que différance está estritamente ligada ao sentido de “protelação”, “de “postergação”, de “demora” como espaço de tempo que se estende para além do esperado ou do desejável; por fim, de différér, différé do francês. [N. do T.] A interdição da lei não é, portanto, uma interdição, no sentido da constrição imperativa, é uma diferensa. [...] o homem dispõe da liberdade natural ou física para adentrar nos lugares, exceto na lei. Assim, ele deve e precisa, precisa constatar isso, interditar-se a si mesmo de entrar. Ele deve obrigar-se a si próprio, dar-se a ordem não de obedecer à lei, mas de não acessar a lei que, em suma, faz-lhe dizer ou lhe permite saber: não venha a mim, ordeno-te a não vir ainda até mim. É nisso e naquilo que sou a lei e que você atenderá meu pedido. Sem me acessar. Pois a lei é a interdição [...]. Não podemos chegar até ela e para ter ligação com ela, de forma respeitosa, não é preciso, não é preciso ter ligação com ela, é preciso interromper a ligação [como o faz a narrativa]. É preciso não entrar em relação senão com seus representantes, seus exemplos, seus guardiões. E esses são tanto interruptores quanto mensageiros. É preciso não saber quem ela é, o que ela é, onde ela está, onde e como ela se apresenta, de onde ela vem e onde ela fala.15 15. DERRIDA, Jacques. “Préjugés”, op. cit., p. 120-21. 144 Assim, não é de se surpreender que, in fine, Derrida atribua essa diferensa (différance) da lei a uma loucura – um riso, uma loucura, mas talvez também um desejo subversivo. Pois aquilo que a narrativa opõe à língua da lei é inicialmente, e antes de tudo, a singularidade de seu idioma, do mesmo modo que ela é compartilhada com todos aqueles que a entendem – é mesmo, para dizê-lo mais precisamente, sem jogar com palavras, a lei dessa singularidade. Eis onde reside, diz-nos Derrida, a subversão! A literatura “impõe a sua lei” que, diante da lei (vor dem Gesetz), coloca-a para fora da lei. Ela resiste à resistência da lei na (e pela) invenção repetida de seu idioma. Não existe outra via. É isso que o homem do campo ignora, para quem ela permanece fechada. (tradução de Juliana Cecci Silva e William de Siqueira Piauí) 145 a palavra e o deslizamento: co n s i d e r a ç õ e s s ob r e a l i t e r at u r a n a ob r a d e ma u r i c e bla n c h o t Daniel Barbosa Cardoso 146 a palavra e o deslizamento: considerações sobre a literatura na obra de maurice blanchot Daniel Barbosa Cardoso1 “Nunca temos diante de nós o espaço puro, nem mesmo um único dia, para onde as flores desabrocham sem fim - Sempre é o mundo e nunca o em-parte-alguma, sem nada: o puro, o inesperado, que se respira e sabe infinito, sem cobiça”. (Rainer Maria Rilke2) « Peut-être faut-il dire que l´artiste, cet homme que Kafka voulait être aussi, en souci de son art et à la recherche de son origine, le ‘poète’ est celui pour qui il n´existe pas même un seul monde, car il n´existe pour lui que le dehors, le ruissellement du dehors éternel. » (Maurice Blanchot 3) 2. RILKE, Rainer Maria. Sonetos a Orfeu-Elegias de Duíno. Bragança Paulista: Editora Universitária São Francisco, 2005. 3. BLANCHOT, Maurice. L´Espace Littéraire. Paris: Gallimard, 1955. A literatura, para Blanchot, carrega consigo uma questão limítrofe. Tanto sua literatura como seu discurso crítico carregam consigo essa necessidade do estrangeiro, do estranho que não se deixa situar segundo os limites da inteligibilidade, do mundo, que não se deixa perscrutar sob a face do dia. Este outro, que para Levinas é a condição crítica de toda possibilidade de linguagem e de todo mundo, como em Totalidade e Infinito, em que critica Heidegger justamente por sua noção de horizonte, entendido aqui como o horizonte neutro e impessoal que antecede toda significação. A literatura blanchotiana parte do pressuposto, mais radical, de que uma relação com o outro é impossível; ou poderíamos dizê-lo de outra forma: no que diz respeito a sua obra, há relação com um outro, mas essa relação é compreendida como distanciamento infinito, como a incapacidade de percorrer a distância infinita estendida entre o um e o outro, incapacidade do mesmo de preencher os nexos Mestre em Filosofia pela Universidade de Brasília. Doutorando do Programa de Pósgraduação em Literatura da Universidade de Brasília. 1 147 significativos de sua própria linguagem, uma relação precisamente impossível, isto é, que excede o quadro do possível. A literatura, na obra de Blanchot, é essa curiosa arte das antecâmaras, em que personagens espectrais (dos quais nem o leitor, nem Blanchot, nem eles mesmos conhecem os desígnios) são obrigados a efetuar travessias inúteis, a passar por umbrais e corredores vazios que não levam a lugar algum; em que o próprio narrador não sabe dizer o que se passa com seus personagens, que desconhece por completo; esses romances, enfim, sobre o nada, mas sobre a parcela do nada que não edifica, sobre as cercanias das clareiras do possível, que não participam do caráter construtivo do mundo, a narrativa da potência anti-criadora do λόγος grego e cristão, a literatura edificada sobre as ruínas do que o movimento da dialética não pode sublimar; esse é o romance de Blanchot, e essa é sua narrativa. Basta folhear as primeiras páginas de Thomas o Obscuro ou de Aminadab para perceber que se trata de uma escritura em que o que é posto em questão é o próprio estatuto da escritura, do romance, da narrativa. Mas não basta dizer isto do romance de Blanchot: como afirmou Georges Poulet, o «universo» literário de Blanchot é um universo «vestibular», um mundo oco, uma escritura em que tanto o leitor com o próprio protagonista do romance são postos diante da necessidade e da possibilidade da tarefa infinita da redução, ou da impossibilidade e necessidade de leitura e interpretação do texto. Trata-se de um mundo feito de vestíbulos, de corredores que não levam a lugar algum, de espaços que são perpetuamente percorridos e que nunca levam a estadia alguma, qualquer que seja. Esta é, de fato, uma das características fundamentais das narrativas de Blanchot. Encontramos referências a esses corredores mal iluminados, a esses espaços obscuros constantemente percorridos em vão, citados por Poulet e por Michel Foucault4, em praticamente todas as obras «literárias» de Blanchot, e especialmente em Aminadab, de que colhemos ao acaso alguns exemplos: 4. POULET, Georges. Maurice Blanchot, Critique et Romancier. Revue Critique, Nº 229, Paris, Jun. de 1966. 148 Il pénétra dans un couloir long et spacieux où il fut surpris de ne pas voir tout de suite l’escalier. D’après ses calculs, la chambre qu’il cherchait se trouvait au troisième étage, peut-être même à un étage supérieur; il avait hâte de s’en rapprocher en montant aussi vite que possible. Le couloir semblait sans issue. Il le parcourut rapidement et en fit le tour. Puis, revenu à son point de départ, il recommença, en ralentissant cette fois le pas et en se collant contre la cloison dont il suivait les anfractuosités.5 Il suivit le jeune homme qui l’entraîna dans un couloir sombre où l’obscurité ne l’empêcha pas de marcher avec rapidité. De chaque côté du couloir, il y avait des portcs qui ressortaient dans l’ombre à cause de la couleur noire dont elles étaient recouvertes. Thomas ne pouvait pas voir grand-chose. L’une de ses mains était liée au poignet gauche du nouveau venu qui le tirait en avant sans précaution. Après quelques pas d’une démarche saccadée, le couloir se resserra et il ne fut plus possible d’avancer.6 Além de Poulet, Sartre também assinalou – em um artigo talvez algo desatento, mas que permanece sendo, com toda sua virulência, uma das grandes análises da narrativa de Blanchot – a curiosa inversão presente em sua literatura, que diz respeito especialmente a sua filiação ao «fantástico»: pois, segundo Sartre, os escritos de Blanchot – e os de Kafka – não são simplesmente absurdos, dado que o absurdo seria a ausência total de qualquer fim, e seria ainda o objeto possível de um pensamento que se posiciona ainda diante de um objeto, o construto do pensamento soberano de um sujeito soberano, o que tornaria o absurdo ele mesmo um dos objetos possíveis do sentido, absorvido pelo horizonte do mundo. A literatura do absurdo, portanto, produz ainda sentido. Na obra de Blanchot, de modo radicalmente distinto, o que vemos é a aniquilação de todo sentido (e de toda subjetividade), isto é, a aniquilação de toda permanência possível. Nos seus relatos certos fins são perseguidos, mas são fins de que nem os personagens nem os leitores tomam consciência, não existe para o pensamento, nesses textos, a possibilidade de totalizar a coisa narrada e o relato em um só tecido.7 Experiência, portanto, de um espaço limitado, percorrido incessantemente, e também experiência de um tempo « hors temps », desde sempre já iniciado, recomeço que é a única possibilidade do relato, um passado absoluto e um presente inexoravelmente atravessado pelo devir, esse é o tempo do récit blanchotiano – sempre tarde demais, sempre cedo demais. A tentativa de relatar o irrelatável leva às dobras da linguagem, e aos seus limites, no intento talvez ingênuo de que assim possam ser ultrapassados. 5. BLANCHOT, Maurice. Aminadab. Paris: Gallimard, 1942, p. 9. 6. Ibidem, p. 25. 7. « (...) No mundo maníaco e alucinante que tentamos descrever o absurdo seria um oásis, um repouso, de modo que aí não há lugar algum para ele. Nesse mundo não posso me deter por um só instante: todo meio me remete sem descanso ao fim fantasmagórico que o assombra e todo fim me reenvia ao meio fantasmagórico pelo qual eu poderia realizá-lo. Não posso pensar coisa alguma, a não ser por noções escorregadias e cintilantes que desagregam sob meu olhar. » - SARTRE, Jean-Paul. Situações, Vol. 1: Críticas Literárias. São Paulo: Cosac & Naify, 2006, p. 140. 149 Esta borda, contudo, não se desfaz de bom grado; não é simples a superação dos limites, não se trata de uma linha que se pudesse simplesmente romper. Há aí uma questão de «método». Não basta, por exemplo, que a linguagem literária se torne totalmente opaca, impenetrável, de modo que a experiência – a experiência da literatura, se podemos ainda falar de «experiência» nesse caso – seja apenas a experiência do ser «bruto, escarpado» da linguagem, em que a linguagem dobra sobre si mesma e torna-se sólida como um bloco, de modo frontalmente oposto à linguagem do realismo, que pretendia tornar-se tão transparente quanto possível, e mostrar, em sua translucidez, o evento em si, o relatado (supondo que fosse possível dizer o mínimo necessário e assim conter o deslizamento do significante). Blanchot sempre tratou da linguagem literária partindo de uma concepção semelhante à de Mallarmé, como se nota desde Faux Pas até L´Entretien Infini, e talvez até mesmo em seus últimos livros, no que diz respeito à diferença entre a linguagem cotidiana e a linguagem literária. No começo de sua obra ainda se conserva, em certa medida, como podemos ler em La Part du Feu, essa divisão clara entre os dois registros da linguagem (que é antes uma diferença de grau, mas, como toda diferença de grau, uma diferença ontológica), mas já nesse livro a linguagem, mesmo a linguagem cotidiana,que pretende conter o deslizamento do significante, que pretende bastar para o que diz, que pretende, enfim, estabelecer uma ordem entre as palavras e as coisas que elas «representam » – não pode ser contida em seus limites: (...) Comment l´absence infinie de la compréhension pourrait-elle accepter de se confondre avec la présence limitée et bornée d´un mot seul? Et le langage de chaque jour qui veut nous en persuadér ne se tromperait-il-pas? En effet, il se trompe e il nous trompe. La parole ne suffit pas à la vérité qu´elle contient. Qu´on se donne la peine d´écouter un mot, en lui le néant lutte et travaille, sans relâche il creuse, s´efforce, cherchant une issue, rendant nul, ce qui l´enferme, infinie inquiétude, vigilance sans forme et sans nom. Déjà le sceau qui retenait ce néant dans les limites du mot et sous les espèces de son sens s´est brisé; voici ouvert l´accès d´autres noms, moins fixes, encore indécis, plus capables de se concilier avec la liberté sauvage de l´essence negative, des ensembles instables, non plus des termes, mais leur mouvement, glissement sans fin de “tournures” qui n´aboutissent nulle part.8 8. BLANCHOT, Maurice. La Part du Feu. Paris: Gallimard, 1949, p. 315. 150 O relato fundado nesta linguagem que rompeu o receptáculo da palavra não pode aceitar mais a estrutura tradicional da narrativa9, em que os personagens tem vontades, anseios, características delimitáveis de uma subjetividade, de um sujeito soberano no qual se confundem as pessoas do escritor, do personagem e do leitor. O mundo relatado nessas narrativas é um mundo críptico, opaco, mas somente até certo ponto. Pois a narrativa deve dar a ambos, leitor e personagem, alguma chave para sua decifração, algo como uma senha que desse acesso à antecâmara do relato; mas nunca a chave que permita decifrar por completo do relato, que permita o comentário, que permita dizer, por exemplo, o que se passou no relato, o que foi relatado, de que experiência se dá testemunho. Pois o relato, em Blanchot, não é relato de um acontecimento da experiência, isto é, não dá a ver essa experiência, qualquer que seja, isto é, a linguagem não chega nunca a garantir a transparência absoluta do relato, mas também nunca se materializa por completo, nunca se torna totalmente opaca, não-portadora de sentido. Um mundo profundamente estranho, de fato, mas um mundo – talvez mais estranhamente ainda – compreensível. Levinas diz em Totalidade e Infinito que a palavra orienta o mundo, o dota de significação. Pois é através da palavra que « (...) o sistema de reenvios a que se reduz toda a significação recebe o princípio do seu próprio funcionamento, a sua chave »10. Para o filósofo, a palavra – expressão do rosto do outro, contato imediato com o rosto do outro – é a promessa sempre renovada de esclarecer o que nela havia de obscuro, promessa da vinda do mundo à proposição, «retomada do que foi um simples sinal lançado por ela». Para Blanchot, como se pode notar, o evento que se dá na palavra é também uma promessa, mas que se dá estritamente enquanto promessa: que não promete o além da promessa. O fato de a palavra trazer consigo a promessa sempre renovada de esclarecimento do que ficou obscuro na última palavra, do comentário que vem para trazer luz ao texto hermético é a maior prova, para Blanchot, do caráter paradoxal da própria palavra. Ou poderíamos dizer, uma vez mais opondo sua posição à de Levinas: em Blanchot, especialmente em sua literatura, há ênfase no aspecto indicativo da linguagem. Linguagem que, portanto, não revela, mas não oculta. O espaço descrito por esse 9. Subscrevemos, aqui, a posição de Manola Antonioli em L´Écriture de Maurice Blanchot: Fiction et Théorie: « Qu´est-ce que reste à dire quand toutes les garanties du langage et du récit ont été retirées? Le langage est rendu a son danger, à son désordre originelle; il sollicite et interroge ses limites, mais il ne peut le faire qu´à travers des mots, dans un récit qui pose la question même du récit, de la fable, de la narration. C´est là souvent le paradoxe de la recherche de Blanchot: il s´agit de mettre en question l´espace de la littérature, l´espace du livre, la dimension d´un langage réglé et des règles du langage, tout en étant dans un discours qui hérite des ces codes, de ces structures, d´une certaine organization du sens. » - ANTONIOLI, Manola. L´Écriture de Maurice Blanchot: Fiction et Théorie. Paris: Éditions Kimé, 1999, p. 25. 10. LEVINAS, Emmanuel. Totalidade e Infinito. Lisboa: Edições 70, 2008, p. 89. 151 discurso é, talvez, ainda o espaço de uma revelação, é ainda, talvez, o de um acontecimento da verdade, mas de uma revelação do próprio limite, de um acontecimento da verdade enquanto limite: para Blanchot, a literatura é, ao lado do exílio bíblico, o lugar da «errância»; e, na errância, nada se abre, nada está fechado, e portanto não há horizonte algum11. O relato, nesse caso, não é um ente à parte do que relata: é precisamente o acontecimento do relato que é relatado. No espaço do relato não se delimita com clareza as distâncias, não situa-se o sujeito, ou esse não participa ao modo da visão, as coisas não se mostram, não se apresentam – não mais do que não se ocultam. Nessa concepção da linguagem, o relato, diferentemente do romance, que seria ainda o relato de um acontecimento, de uma experiência, é o próprio acontecimento. Esta é talvez a contribuição maior da escritura de Blanchot para uma fenomenologia da experiência literária, e uma de suas formas condensadas se mostra de forma mais intensa no relato que, editado uma vez sem nome em 1949, ganhou na segunda, em 1973, o nome de La Folie du Jour. À questão da literatura, portanto, sempre foi associada uma certa questão do limite em Blanchot, do limite da experiência ou da experiência do limite. A própria noção de experiência limite, tal como Blanchot a lia em Bataille – especialmente no ensaio que porta esse nome, L´Expérience Limite, presente em L´Entretien Infini, assinala esse caráter liminar do próprio espaço literário. A experiência limite é a experiência, de certo modo, de um outro que não se deixa absorver. É esse « étrange surplus » anterior à própria experiência, que impede que ela aproprie-se de si mesma, pois quando o «homem» constrói o mundo do dia, da inteligibilidade, e dá sentido às coisas, essa decisão – e é de uma decisão que se trata, sempre – é de antemão sulcada por um excesso, inscrita por este «evento que não pertence à possibilidade», que excede mesmo o trabalho da potência da linguagem erguendo o mundo do sentido e o sentido do mundo. E é esse excesso que, junto a todos seus espectros e consequências, pode ser entendido como a grande constante da obra de Blanchot – excesso que abre no ser realizado e finito um « ínfimo interstício » pelo qual o sentido transborda, rompendo o limite sem rompê-lo, relação dupla que faz com que tudo que é compreendido, totalizado, dominado, tudo que dá e que recebe 11. BLANCHOT, Maurice. L´Entretien Infini. Paris: Gallimard, 1969, p. 36. 152 o sentido seja excedido de antemão por esse «acréscimo de negatividade»12. Ao referir-se à noção de Bataille de experiência « interior », Blanchot diz: (...) Et cependant l´expérience intérieure exige cet événement qui n´appartient pas à la possibilité; elle ouvre em l´être achevé un infime interstice par où tout ce qui est se laisse soudainement déborder et déposer par un surcroît qui échappe et excède. Étrange surplus. Quel est cet excès qui fait que l´achèvement serait encore et toujours inachevé? D´où vient ce mouvement d´excéder dont la mesure n´est pas donné par le pouvoir qui peut tout? Quelle est cette ‘possibilité’ qui s´offrirait après la réalisation de toutes les possibilités comme le moment capable de les renverser ou de les retirer silencieusement?13 12. Não é a intenção do presente artigo, mas vale assinalar a importância das lições sobre a Fenomenologia do Espírito e a obra de Hegel em geral de Alexandre Kojève, ministradas nos anos 30 e por tantos assistidas, em um certo enriquecimento da noção de negatividade. 13. BLANCHOT, Maurice. L´Entretien Infini. Paris: Gallimard, 1969, p. 307. É também nesse sentido que pode-se dizer que toda experiência é uma experiência liminar. Pois somos obrigados a viver sob o duplo registro do dia: ora o mundo do sentido e da inteligibilidade, ora a face noturna de toda presença ou obliteração. Assim como diversos outros conceitos da obra crítica de Blanchot, há uma ambiguidade irredutível nas múltiplas experiências da linguagem. É o caso, talvez, de todos seus romances e de todas suas narrativas. Especialmente da que recebeu o nome de La Folie du Jour, que incorpora em uma narrativa extremamente densa e curta alguns dos temas fundamentais de Blanchot. Em La Folie du Jour somos apresentados, subitamente, ao relato. A sentença que destacamos a seguir dá início à narrativa: Je ne suis ni savant ni ignorant. J´ai connue des joies. C´est trop peu dire: je vis, et cette vie me fait le plaisir le plus grand. Alors, la mort? Quand je mourrai (peut-être tout à l´heure), je connaîtrai un plaisir immense. Je ne parle pas de l´avant-goût de la mort qui est fade et souvent désagréable. Souffrir est abutissant. Mais telle est la vérité remarquable dont je suis sûr: j´éprouve à vivre un plaisir sans limites et j´aurai à mourir une satisfaction sans limites.14 14. BLANCHOT, Maurice. La Folie du Jour. Paris: Gallimard, 1973, p. 9. O relato, aparentemente, é autobiográfico: fala-se de uma vida aparentemente vulgar, de alguém que foi rico, que foi pobre; que amou, que possuiu, e que perdeu; que urrou, vagou pelas ruas vazias, alguém que participou da loucura do mundo, de alguém que viveu e participou da ruína do mundo. Alguém, enfim, que encontrou satisfação na ordem das coisas, 153 na ordem visível das coisas. Alguém que, como Dostoievski, como Blanchot, viveu o momento da iminência maior, o da iminência de uma execução por fuzilamento que não se realiza de fato. Alguém satisfeito com o devir das coisas, com a vida e com a morte, com a infinitude e a finitude das coisas. Mas, também subitamente, esse alguém passa por um acontecimento traumático, que é impossível determinar com clareza qual: uma experiência limítrofe, se nos é permitido dizê-lo. Atiram-lhe vidro nos olhos. Esse acontecimento tornará todo o relato impossível. O narrador-personagem perderá a capacidade de relatar, mas lhe será necessário relatar, de dar testemunho de sua experiência. Figuras da autoridade e da lei exigem do personagem que ele relate tudo que se passou, exigem o testemunho do que aconteceu, em especial do evento traumático que lhe danificou os olhos, que o afastou da experiência do dia (que o tornou excessivamente luminoso). Médicos lhe questionam: inquirido, o narrador diz que não pode relatar, não pode agir segundo a vontade da lei, não pode dar testemunho do que se passou. Quando, por fim, é vencido pelas autoridades, que pretendem descobrir «o que se passou de fato», excluindo toda possibilidade de segredo, o narrador diz as seguintes palavras: On m´avait demandé: Racontez-nous comment les choses se sont passées ‘au juste’. – Un récit? Je commençai: Je ne suis ni savant ni ignorant. J´ai connu des joies. C´est trop peu dire. Je leur racontai l´histoire toute entière qu´ils écoutaient, me semblet-il, avec intérêt, du moins au début. Mais la fin fut pour nous une commune surprise. ‘ Après ce commencement, disaient-ils, vous en viendrez aux faits.’ Comment cela! Le récit était terminé.15 No momento de relatar, isto é, no momento da consumação do récit, o texto repete as mesmas palavras com que começa o próprio relato que o leitor tem em mãos, há vinte páginas. O récit que estamos lendo, e essa narrativa sobre um acontecimento que deixa o narrador cego, incapaz de relatar, é a narrativa do próprio acontecimento da narrativa; mas não da narrativa enquanto adequatio do relato com a experiência de que pretende dar conta, não a narrativa enquanto o acontecimento da verdade, em que ela é sempre capaz de relacionar-se com os entes a que se refere, em que a verdade é a própria coincidência do relato com o que o relato relata; mas sim a narrativa que é a própria disjunção entre relato e experiência, disjunção do relato que 15. BLANCHOT, Maurice. La Folie du Jour. Paris: Gallimard, 1973, p. 29. 154 cinde tanto o relato como a experiência que ele relata. E a prova maior da disjunção é que o récit que o leitor tem em mãos, lhe é revelado no final da narrativa, é o récit que o narrador inicia quando uma das figuras da lei lhe exige que diga a verdade, que diga o que aconteceu. O relato, portanto, já havia iniciado, já é ele mesmo um recomeço, isso mesmo quando se o lê pela primeira vez. E o fim aparente também é provisório, dado que retoma o início do relato, evidenciando a impossibilidade do testemunho, e, por que não, dando testemunho – um testemunho impossível – da impossibilidade do testemunho. Situação limite: um narrador incapaz de narrar, um relato que hesita em produzir sentido, mas contudo um relato. Esta pequena porém incisiva « mise en abîme », ao lado de outros recursos, coloca o leitor no contato impossível com o próprio espaço literário, o espaço do récit que, não mais pretendendo reproduzir ou replicar o espaço do mundo, como o vidro que funciona como lente, isto é, em que a linguagem é perfeitamente transparente para o que pretende representar (tornar presente uma vez mais), mas um espaço em que o vidro, introjetado nos olhos, introduz uma disjunção essencial entre a visão e a linguagem. O vidro impede o olho de agir enquanto olho, como o forro do fundo de um espelho que cria a reflexão16, a reflexão infinita, que não permite nunca que o relatum encontre, de fato, seu referente. Interrupção do circuito do mundo, suspensão dos limites entre a linguagem e o que supostamente ela « representa ». O que dizemos aqui de Blanchot vale, talvez, para toda a literatura influenciada pela obra de Martin Heidegger. Foi Heidegger que inverteu, em sua leitura da fenomenologia, a noção de que a verdade corresponde à adequação entre o juízo apofântico e um determinado estado de coisas. Já não se trata, no entanto, de meramente inverter os termos dessa noção de verdade, e de mostrar assim o âmbito pré-predicativo, ontológico, da « verdade do ser », que corresponderia totalmente ao « ser da verdade ». Como Levinas já havia assinalado em um de seus ensaios sobre Blanchot, o vidro que se aloja nos olhos do narrador-personagem – que mencionamos anteriormente – é uma imagem precisa do acontecimento da verdade do mundo levado ao paroxismo, em que o leitor é levado à face fulgurante do dia, à experiência da luz excessiva que não permite que se enxergue, que se defina com clareza os contornos, que não torna visível forma e conteúdo. A abertura da verdade, do 16. Jacques Derrida diz, referindose à literatura de Mallarmé, algo que é perfeitamente válido também para a literatura de Blanchot, em especial La Folie du Jour: « (...) Dans ce speculum sans réalité, dans ce miroir de miroir, il y a bien une différence, une dyade, puisqu´il y a mime et fantôme. Mais c´est une différence sans référence, ou plutôt une référence sans référent, sans unité première ou dernière, fantôme qui n´est le fantôme d´aucune chair, errant, sans passé, sans mort, sans naissance ni présence. » - DERRIDA, Jacques. La Dissemination. Paris: Éditions du Seuil, 1972, p. 255. 155 mundo visível, torna-se, por assim dizer, demasiado obtusa em Blanchot. A claridade, aqui, queima as retinas de quem a experimenta. E é este o « símbolo central » da narrativa.17 O dia que fere os olhos de quem o enxerga é o dia da reiteração, da repetição infinda da narrativa, do acontecimento propriamente mimético da literatura. Poderia-se falar, em termos fenomenológicos, de um evento no qual o personagem não consegue dar conta de seu mundo, mas é obrigado a viver sob seu signo. Um relato, enfim, em que é narrado um evento inapropriável sob o horizonte do mundo. Um nexo de significação, como foi dito, mas limitado em seu próprio ser. Como Blanchot já havia dito em La Littérature et le Droit à la Mort, um dos ensaios cruciais reunidos em La Part du Feu, o dia da literatura não é o dia enquanto transparência, desvelamento da verdade do ser, mas o dia enquanto inevitabilidade, enquanto impossibilidade de cessar a visão. Como escapar ao domínio do sentido? Qual a literatura, se há, que dará testemunho do impossível sentido do que não se dá sob o horizonte do sentido? Como operar sob o registro duplo da linguagem, dado que esta é a linguagem que edifica o próprio dia? É possível escapar ao poder realizador da linguagem ? En niant le jour, la littérature reconstruit le jour comme fatalité; en affirmant la nuit, elle trouve la nuit comme l’impossibilité de la nuit. C’est là sa découverte. Quand il est lumière du monde, le jour nous rend clair ce qu’il nous donne à voir il est pouvoir de saisir, de vivre, réponse « comprise » dans chaque question. Mais si nous demandons compte du jour, si nous en venons à le repousser pour savoir ce qu’il y a avant le jour, sous le jour, alors nous dévouvrons qu’il est déjà présent, et ce qu’il y a avant le jour, c’est le jour encore, mais comme impuissance à dis paraître et non comme pouvoir de faire apparaître, obscure nécessité et non liberté éclairante. La nature donc de ce qu’il y a avant le jour, de l’existence prédiurne, c’est la face obscure du jour, et cette face obscure n’est pas le mystère non dévoilé de son commencement, c’est sa présence inévitable, un « Il n’y a pas de jour » qui se confond avec un « Il y a déjà du jour », son apparition coïncidant avec le moment où il n’est pas encore apparu. Le jour, dans le cours du jour, nous permet d’échapper aux choses, il nous les tait comprendre et, en nous les faisant comprendre, il les rend transparentes et comme nulles; mais le jour est ce à quoi on n’échappe pas : en lui nous sommes libres, mais lui-même est fatalité, et le jour comme fatalité est l’être de ce qu’il y a avant le jour, l’existence dont il faut se détourner pour parler et pour comprendre.18 17. « Pero lo día no es solamente la sincronía de lo sucesivo, la presencia donde el tiempo se abisma, donde se envuelve en las horas sin que él nada se ensombrezca, y donde el ensombrecimiento mismo tiene su hora; el día no es solamente el énfasis de una existencia que, a fuerza de ser, se muestra e resuena y resplandece en conciencia. En cuanto claridad y visión, la conciencia es también una modalidad del ser que toma distancia en relación consigo mismo, representacion que no pondera ya a sí misma ateniéndose a su propia medida en la transparencia de la verdad; transparencia donde se disuelven las pantallas y se disipan las sombras que crean contrastes y encierran el ser en contradicciones; transparecia donde el ser se hace verdad. Que esta apertura de la verdad – esta claridad que adviene en la transparencia del vacío – pueda herir la retina como un cristal que se rompe sobre ele ojo agudizando su vista, y que esta herida sea buscada, sin embargo, como lucidez e y desencantamiento, he ahí nuevament en qué consiste la locura del día. Iteración infinitamente repetida de la locura deseada como luz del día que hiere el ojo que lo busca. ‘ A punto estuve de perder la vista por haberme machacado alguien cristal en los ojos’ – aquí tenemos el símbolo central de la Locura del día. » - LEVINAS, Emmanuel. Sobre Maurice Blanchot. Madrid: Trotta, 2000, p. 85. 18. BLANCHOT, Maurice. La Part du Feu. Paris: Gallimard, 1949, p. 318. 156 É da visão que a palavra nos liberta, diz Blanchot, pois a palavra é responsável pela derrubada de um certo paradigma ótico da tradição ocidental do pensamento. Pois a visão supõe a separação, e a separação que a noção de horizonte sugere, isto é, a separação que opera enquanto mediação entre a distância e a presença; como a linguagem cotidiana que supõe transparecer o ser das coisas, a ênfase na visão supõe a transformação da distância em imediata, em « i-mediatriz », nos termos de Blanchot, trazendo ao olho a presença total de um horizonte, em que a linguagem é toda ela preenchida por significações que se preenchem de intuições. A visão define com clareza os seus limites. É por isso que « falar não é ver »: enquanto a visão nos retém nos limites de um horizonte, as palavras desorientam, suspendem a relação entre a percepção e o horizonte, contra a soberania do olhar. « la terrible parole passe outre à toute limite et même à l´illimité du tout », nos diz Blanchot. São vários os textos que exploram esse aspecto central da obra de Blanchot, e que diz respeito também a sua relação com a fenomenologia, não somente a fenomenologia tratada topicamente em seu texto, mas o que há de crítica fenomenológica em seus escritos. O de Marlène Zarader é um exemplo recente. 19 A autora explora algumas das possíveis leituras fenomenológicas da obra de Blanchot, e busca demonstrar que não se trata em sua obra somente de uma descrição do fenômeno do Neutro, do Fora ou da Literatura, mas também a tentativa de mostrar como esses eventos impossibilitam sua reinscrição sob a própria noção de horizonte. O « dado» que aparece do mundo e do horizonte, na obra, é para Blanchot seu próprio «éclatement», uma experiência – se é que continua sendo uma experiência – de sua própria impossibilidade. Trata-se de procurar pensar, uma vez e sempre, qual o papel da literatura em pensar esse evento do fora do horizonte do mundo. Como diz Blanchot em Le Livre à Venir, « mais decisiva que o dilaceramento dos mundos, é a exigência que rejeita o próprio horizonte de um mundo » 20. Não somente nos ensaios recolhidos em La Part du Feu, como pode-se notar acima, mas também em L´Espace Littéraire, e no Le Livre à Venir, toda a literatura e crítica de Blanchot é um esboço das formas possíveis de acesso à esta experiência liminar. Este esforço se acentua em seus escritos literários, mas sua crítica não cessou nunca de buscar esse lugar limítrofe, a que se deu diversos nomes: neutro; literatura; obra; desastre. A sucessão dos nomes dissimula, talvez, a dificuldade de acesso de cada um desses fenômenos, se 19. Referimo-nos a L´Être et le Neutre: à partir de Maurice Blanchot. A autora explora as relações de Maurice Blanchot com a noção de horizonte. Dele extraímos a seguinte passagem, se referindo à postura “fenomenológica” da obra de Blanchot: “ (...) la donnée phénoménologique est aytre: ce qui apparaît du monde, c´est son éclatement, et ce qui est vécu au cours de cette expérience, c´est son impossibilité. C´est une telle donnée que Blanchot s´emploie à décrire. Et c´est en parfaite conformité à l´expérience dans laquelle elle se donne qu´il la nomme: le Dehors. Cette expérience en effet ne se situe pas dans le monde (ce qui reconnaissait Maldiney), elle n´ouvre pas non plus un autre monde (en tout cas, rien en elle ne permet de l´affirmer), elle désigne bien plutôt l´autre de tout monde: ce qu´Yves Bonnefoy nommait (pour s´en détourner) ‘le revers inhabitable du monde’. C´est parce qu´elle est vouée à se déployer hors du monde qu´elle peut et doit être dite ‘dehors’.” – ZARADER, Marlène. L´Être et le Neutre: à partir de Maurice Blanchot. Lagrasse: Verdier, 2001, p. 105-6. 20. BLANCHOT, Maurice. Le Livre à Venir. Paris: Gallimard, 1959, p. 278. 157 podemos ainda chamá-los assim. Poderíamos dizer que se trata sempre da mesma « experiência-limite », termo que Blanchot utiliza ao falar de Georges Bataille, se a sucessão dos nomes não mostrasse precisamente que os termos, ainda que somente indicativos, não bastam para dar conta do que pretendem indicar. Na experiência-limite, a negação dialética da atualidade cessa de operar; e o que o mesmo Bataille denominou « excesso do trabalho », trabalho responsável por erguer o mundo do sentido, torna-se o excedente sempre presente e ausente, inacessível à apropriação do próprio trabalho. Os procedimentos textuais utilizados por Blanchot são muito variados, mas alguns exemplos podem ser dados, e definitivamente merece destaque o que Evelyne Grossman apontou em L´Angoisse à Penser: o uso que Blanchot faz dos anagramas. De maneira análoga à de Saussure em seus Anagramas, Grossman busca no texto de Blanchot (em especial em Thomas l´Obscur) a repetição de sílabas e letras, a ida e vinda de sílabas e letras, jogo que fica muito claro em certos momentos dos récits e romances de Blanchot. Podemos estender esse argumento e dizer que em Blanchot a concepção da própria escritura é anagramática, a escritura é entendida enquanto retorno sempre possível do anagrama: nela as palavras são antecipadas, adiadas, retomadas, suspendidas, tornando o movimento do texto (que, como foi mencionado, já carrega consigo certo efeito de estranheza) um movimento de vai e vem, de relação e derrelição, de idas e voltas, e não somente ao nível da narrativa como um todo, mas ao nível das sílabas, das letras, ao nível dos fragmentos indetermináveis de palavras (e este é um dos sentidos em que se pode afirmar que a escritura de Blanchot é fragmentária). A questão que jamais é deixada de lado é se há uma linguagem que possa agir sem edificar, sem participar da constante retomada da realização do mundo do dia. Não se poderia deixar de lado, em uma análise da questão do limite na obra de Blanchot, a função que a imagem desempenha em seus textos. A imagem é esse âmbito que apresenta uma dimensão ontológica irredutível à significação e à verdade. Pois existem duas dimensões do imaginário para Blanchot: há a imagem enquanto imitação de um modelo disponível de antemão, a imagem enquanto mímese, repetição bem ou mal sucedida de algo que lhe é anterior; e há a noção de imagem explorada pela literatura, a imagem enquanto o próprio movimento da alusão e da analogia. Nesse domínio, a imagem se relaciona à fascinação: distintamente de quem vê, isto 158 é, quem domina a distância, quem tem ainda o poder de manter à distância cada elemento do horizonte, que pode evitar se confundir com as coisas que vê, a imagem enquanto fascinação remete a um outro tipo de visão. No caso de quem sofre a atração da imagem, o ver é entrar em contato, é confundir-se com a coisa. Levados pela força da imagem, perdemos a capacidade de dotar toda experiência de um sentido, isto é, de doar-lhe um limite. A imagem faz o mundo recuar, se afirmando em uma presença constituída de ausência, uma presença estranha à toda presença temporal ou espacial. Uma vez atingida pelo fascínio – pela « paixão da imagem » – a visão se confunde com o visto. Perdido o foco do olhar, a visão não é mais entendida como a possibilidade de ver, mas sim como « impossibilidade de não ver ». Como no récit – é essa uma das faces da Folie du Jour –, quem se encontra sob o domínio da fascínio não percebe objeto algum, não vê nada senão o « meio indeterminado da fascinação », meio absoluto em que os limites são destroçados pela profundidade sem limites da própria imagem, « absolutamente presente embora não dada», em que os objetos afundam, deslizam para o horizonte indeterminado e absoluto da imagem. Não se delimita mais um começo e um fim do horizonte, um começo e um fim da atração, quando é do imaginário que se trata. A imagem, no domínio do imaginário, não é mais o que alude a outra coisa, mas, como foi dito, o próprio movimento infinito da alusão. E a literatura – a escritura – é a entrada no abismo da fascinação, no domínio do imaginário. É deixar que a linguagem seja arrebatada pelo fascínio, por essa « ouverture opaque et vide sur ce qui est quand il n´y a plus de monde, quand il n´y a pas encore de monde ». A obra de Blanchot é cheia dessas pequenas lacunas, desses buracos que vazam o ser, dessas aberturas que deixam vazar o mundo, figuradas também nesses olhos abertos sobre si mesmos, refletindo o vazio de seu próprio olhar, aparição da dissimulação enquanto dissimulação. Em Thomas l´Obscur temos um exemplo citado à exaustão desta visão opaca, voltada sobre si mesma. Les mots, issus d’un livre qui prenait une puissance mortelle, exerçaient sur le regard qui les touchait un attrait doux et paisible. chacun d’eux, comme un œil à demi fermé, laissait entrer le regard trop vif qu’en d’autres circonstances il n’eût pas souffert [...] Il se voyait avec plaisir dans cet œil qui le voyait. Son plaisir même devint très grand. Il devint si grand, si impitoyable qu’il le subit avec une sorte d’effroi et que, s’étant dressé, moment insupportable, 159 sans recevoir de son interlocuteur un signe complice, il aperçut toute l’étrangeté qu’il y avait à être observé par un mot comme par un être vivant, et non seulement un mot, mais tous les mots qui se trouvaient dans ce mot, par tous ceux qui l’accompagnaient et qui à leur tour contenaient eux-mêmes d’autres mots, comme une suite d’anges s’ouvrant à l’infini jusqu’à l’œil absolu.21 A própria linguagem poética é redefinida, por Blanchot, em uma das notas mais importantes do Espace Littéraire, não como a linguagem figurativa, comparativa, metafórica e metonímica, mas a linguagem que não produz imagem, que não figura. Não signos, mas « imagens, imagens de palavras e palavras em que as coisas se fazem imagens ». No mundo do dia, as coisas, os entes são transformados em objetos, de modo que se estabelece entre elas uma divisão clara, garantindo a continuidade do espaço, mantendo as distâncias conhecidas em seu lugar e garantindo, talvez, uma estadia. No imaginário as coisas são levadas à aporia de sua aparição, e é nessa interrupção do circuito do mundo – que, de certa forma, era já a concepção heideggeriana da obra de arte22, sempre presente nos escritos de Blanchot, ainda que de forma negativa – é que inopera a literatura, retirando-nos o abrigo possível do mundo, sacudindo mesmo o limite entre o sujeito e o mundo e marcando a descontinuidade entre a palavra e o mundo, sulcando no seio do mundo a profundidade ilimitada da imagem, imagem essa que, diferentemente do signo, não significa, não acena, não desvenda, não alude, ou deixa plenos de intransitividade todos esses verbos, não restando senão o movimento metonímico da alusão. Não o além, mas o aquém do mundo, a sua eterna iminência. Uma literatura que se detém na soleira do mundo, que busca na linguagem os artifícios e a potência capaz de interromper as realizações da própria linguagem, « o sol situado eternamente abaixo do horizonte, a mancha cega que o olhar ignora, ilhota de ausência no seio da visão », é o que Blanchot procurou insistentemente ao longo de toda sua obra. Pois a palavra, em Blanchot, e é isso que deveria ter ficado evidente, talvez, nesse ensaio, sempre já deslizou – o que torna a narrativa, sempre, a narrativa de um interlúdio, em que o prelúdio era já o reinício do relato, o lugar em que esse «acontecimento ainda por vir » do próprio relato é chamado a realizar-se. 21. BLANCHOT, Maurice. Thomas l´Obscur. Paris: Gallimard, 1950, p. 27-28. 22. HEIDEGGER, Martin. A Origem da Obra de Arte. Lisboa: Edições 70, 2005. 160 corpo de estrela e s e x mac h i n e : sobre a estética d o g lamo u r Serge Margel 161 corpo de estrela e sex machine: sobre a estética do glamour Serge Margel1 Convidado por Christian Indermuhle, no âmbito de um seminário sobre a questão do “corpo-máquina”, este texto foi tema de uma conferência na École Polytechnique Fédérale de Lausanne, em 13 de outubro de 2010. Passos de corpo em corpo/ nem palavra nem fala, o gesto, atitude, som, grito, suspiro,/ insuflação profunda que inspira ao homem o esquecimento,/ o esquecimento do que quer que seja que pudesse estar à volta do corpo simples/ O corpo humano./ Mas quem disse que era um ser e que existia?/ Ele vive./ Isto não lhe basta?/ Ganharei o nada antes de ti, deus,/ dizia o corpo ao espírito, porque vivo./ E o que é um corpo? / Ao que chamamos um corpo?/ Chamamos corpo a tudo o que é feito sobre o modelo do homem,/ que é um corpo./ E quem jamais disse ou acreditou que este corpo era o finito, estava finito?/ Cessou já de viver,/ de avançar,/ até onde irá,/ não na eternidade certa mas no tempo ilimitado?/ E isto que nunca o disse/ onde iria?/ Ninguém./ Até agora ninguém. O corpo humano nunca está acabado./ É ele que fala, / ele que bate,/ que marcha,/ que vive./ Onde está o espírito,/ que nunca se viu/ exceto para lhes fazer crer,/ nos corpos/ à sua volta, / como uma besta, uma doença. É assim que o corpo é um estado ilimitado que necessita que o preservemos, / que preservemos o seu infinito./ E o teatro foi feito para isto./ Para pôr o corpo em estado de ação ativa,/ eficaz/ efetiva,/ para devolver ao corpo o seu registo/ orgânico inteiro/ no dinamismo e na harmonia./ Para não fazer esquecer ao corpo/ que é dinamite em atividade. / Mas isto que ainda em um mundo em que o corpo humano ainda só serve/ para comer/ para dormir,/ para chiar e/ para fornicar./ Quando o corpo humano se completou no coito disse tudo,/ pois o Professor na Université de Lausanne e na Haute école d’art et de design de Genebra. O presente texto apareceu em francês em La société du spectral, Éditions Lignes, 2012, p. 11-44. 1 162 coito da sexualidade apenas foi feito para fazer esquecer ao corpo pelo/ heretismo do orgasmo que é uma bomba,/ um torpedo enamorado/ perante o qual a bomba atômica de biquíni não têm mais, e não é mais, que a/ ciência e a consistência/ de um velho talismã regressado. Antonin Artaud, O corpo humano, maio de 1947. Corpo híbrido, corpo fronteira § 1º – Esse texto de Artaud, que cito em destaque, abre aqui um horizonte de leitura sobre o corpo-máquina e suas representações, seu teatro ou sua cena. Entre a hipótese de um “corpo reprimido”, fechado, limitado, censurado, dobrado sobre si mesmo, oprimido, vigiado, controlado, sempre “mergulhado”, escreve Foucault, “em um campo político”, preso em relações de poder “que o investem, marcam-no, domesticam-no, supliciam-no, obrigamno a trabalhar, forçam-no a cerimônias, exigem dele sinais”,2 e a hipótese de um “corpo utópico”, aberto a forças múltiplas e infinitas, em “um estado ilimitado”, como sob influência, e atravessado por potencialidades, por virtualidades ou poderes, que fazem “o corpo entrar”, diz Foucault, “em comunicação com poderes secretos e forças invisíveis”,3 entre repressão e utopia, fechamento e abertura, na fronteira dos extremos, no limiar de uma tensão, é para aí que seguem todos os seus sentidos, o que chamamos de “corpo-máquina”, mas é aí que sobretudo o corpo mantém uma relação secreta com sua própria morte, com seu espectro ou seu fantasma. Partindo disso, adoraria mostrar, finalmente, ou sugerir algo bastante simples: a expressão “corpo-máquina” pode ser traduzida como “poder de morte”, um poder, uma força, uma virtus, que opera sempre entre a repressão e a utopia, fechamento e abertura, censura e liberdade. Um poder que sobretudo se exprime, encena, em nossa cultura ocidental, greco-romana e judaico-cristã, por essa cadeia significante de exemplaridades, ou esse desafio de corpos exemplares, corpos híbridos, mistos ou misturados, do herói, do mártir, do santo, do anjo, ou de “dois corpos de Rei”, e hoje mais do que nunca da estrela.4 2. FOUCAULT, Michel, Surveiller et punir – Naissance de la prison. Paris, Gallimard, 1975, p. 30. 3. Idem. Le corps utopique, les hétérotopies. Paris, Éditions Lignes, 2009, p. 15. 4. Cf. MORIN, Edgar, Les stars. Paris, Éditions du Seuil, 1972, p. 38, e DYER, Richard. Le starsystème hollywoodien. Traduzido do inglês por N. Burch. Paris: L’Harmattan, 2004, p. 18-20. 163 O corpo de estrela, ou a exemplaridade de um poder de morte próprio ao mundo ocioso, desencantado, livre, da modernidade, que nos convida a pensar, a repensar hoje o que representa um tal poder no corpo, desde que se diz “corpo-máquina”. Des jarretelles de Marlene Dietrich aux James Dean, eis o que poderia ter se tornado o título deste texto, eis sobretudo duas modalidades exemplares, poderíamos dizer de modo mais simples, duas formas, duas formatações ou encenações dessa máquina de morte, que diz o corpo em seu hibridismo. Evocando aqui a máquina, a maquinaria, entre produção e estratagema, engenhosidade e embuste, da mercadoria à farsa, é sobre a cena que gostaria de falar, a encenação, mas também o obsceno, o fora de cena, uma cena que se dobra sobre si mesma, como quando arregaçamos as mangas, ou viramos do outro lado o invólucro de uma luva. O obsceno, escreve Baudrillard, é o corpo que se reveste de suas próprias secreções,5 que surge, representa-se, é mostrado descoberto ou livre de seus segredos. É um corpo que é encenado naquilo e por aquilo que oculta, um corpo que se manifesta para o exterior, ou que torna visível o que produz para o interior, e em segredo. A “secreção” é evidentemente a questão do segredo, “poderes secretos e forças invisíveis” de que fala Foucault, que se desdobram em toda obscenidade e ainda em toda discrição, na cadeia significante das exemplaridades, aqui para nós este corpo de estrela – sua estética, sua retórica, sua gramática, nomeada glamour. E este é, talvez, a única tese que defenderei aqui: o glamour é a gramática do obsceno. 5. “Um corpo suado já oferece uma relutância e atração erótica. A tentação primordial do corpo de se revestir de suas secreções”, em: BAUDRILLARD, Jean. O que você esta fazendo depois da orgia?.Traverses, 29 (L’obscène), 1983, p. 8. Mas voltemos ao corpo-máquina, à sua expressão e seu “traço”: um corpo “que é” máquina, que é “apenas” máquina, poderíamos dizer também “que maquina”, que, portanto, “forma em segredo”, segundo a definição de Robert, “desenhos, combinações contrárias à honestidade, à legalidade”. Maquinar significa urdir, combinar, conspirar, conluiar, entrançar, tratar, mas também conspirar e intrigar. Ora, onde podemos dizer do corpo-máquina que ele “maquina”, e como compreender o que liga do interior, secretamente tanto quanto soberanamente, a máquina e a maquinação? Há sem dúvida um segredo – “maquinar é formar em segredo” –, mas também uma secreção, que secreta o poder de morte do corpo-máquina. E, para ir rapidamente, talvez um pouco rápido demais, já poderíamos dizer que o corpo-máquina é o corpo que forma em segredo uma relação soberana com sua morte, com 164 seu próprio desaparecimento, ou que produz o segredo de sua morte – nós o veremos, que secreta sobre seu corpo uma superfície de ilusão, a imagem de seu desaparecimento, de seu fantasma ou de seu espectro. Quando se diz em latim machina, é preciso ouvir uma “maneira engenhosa usada para alcançar um resultado”. E é nisso que consiste a “máquina”: um meio, porém engenhoso, um meio como nenhum outro, que permite alcançar um resultado, visar a um fim, a um objetivo, a atingir um propósito, ou ainda um meio que permite produzir algo para alguém. Voltemos um pouco mais atrás: da máquina, em latim machina, chegamos ao machana em grego, aí também a máquina, mas que provém, por um lado, de mèchos, meio, expediente, preservativo ou remédio, e, por outro, de mèchanè, invenção engenhosa, máquina de guerra ou máquina de teatro – aqui vemos a questão da cena reaparecer – a máquina de artifícios, de truques ou de subterfúgios, que fabrica algo que afeiçoa e dissimula. Continuando o jogo lexical do termo machana, vemo-lo relacionado ao verbo alemão e eslavo mag, alto-alemão antigo magen, megin, hoje mögen, e Macht, “o poder”, “a força”. O mogol, o mongul, este “personagem potente, importante, influente”, que designa ainda hoje e especialmente na indústria do cinema o grande proprietário hollywoodiano, que determina, possui e domina o mercado. A máquina tem um poder, uma força que lhe permite ao mesmo tempo exercer uma influência, ou produzir uma rede de influências, e formar em segredo as combinações fora de controle, de inventar truques, subterfúgios para frustrar soberanamente os olhares e burlar qualquer espera. A máquina é enganada, a máquina é um engano, um passe, um bom dito, um chiste. Ela sempre age em segredo, ela sempre engendra um segredo, um deixar de lado, um deixar em permanência, que produz algo, um objeto ou um corpo, secretando sua própria morte, uma relação com sua morte, como uma imagem de seu desaparecimento.6 A máquina é um corpo como o corpo é uma máquina, ou “maquina”, urde, combina, manipula e intriga. Ora, no “corpo-máquina”, há máquina, e há corpo. Há “o que maquina”. E este corpo, poderíamos dizer doravante seu “dispositivo”, significa, em primeiro lugar, em grego o “cadáver”, o corpo inanimado, ou o corpo morto. E se a invenção da filosofia – outra máquina, outro truque – opõe tão radicalmente o corpo à alma, a sôma e a psyché, a 6. É o que destaca Derrida em sua leitura de Freud e da máquina do aparelho psíquico: “A máquina não anda sozinha, isso significa outra coisa: mecânica sem energia própria. A máquina está morta. Ela é a morte. Não porque arrisquemos a morte ao brincarmos com as máquinas, mas porque na origem das máquinas está a relação com a morte”. (DERRIDA, Jacques. Freud et la scène de l’écriture. In: L’écriture et la différence. Paris: Le Éditions du Seuil, 1967, p. 335). A este respeito, remeto ao artigo: SZENDY, Peter. Machin, machine et mégamachine. In: FAROCHI, Harun, GRAHAM, Rodney. Paris: Black Jack Éditions, 2009, p. 66-75. 165 razão, a palavra, o logos, é que o termo sôma, vemo-lo em Homero, designa precisamente o “corpo morto”, ou mais exatamente o “corpo de morte”, morte em combate, fria, dura, imóvel, e se opõe não à psyché, mas ao démas, “o corpo vivo”, a postura, a marcha, a torção. Não há corpo unificado que viva submetido aos princípios de um logos, em Homero, mas há várias posturas, várias torções, que cortam membros, braços, pernas, mãos, sexos, olhos, bocas, ou que articulam gestos, atos, olhares e palavras na trama de um muthos, de uma história, uma narrativa, uma odisseia. Quando falamos de sôma, de corpus, então a história se conclui, a narrativa é fechada, o corpo está morto, cadáver, algo que cai no chão. E, se a máquina é um poder, uma força que produz sempre secretamente alguma coisa para alguém, o corpo é um cadáver, é sempre o corpo de uma morte, do morto ou da morte. Daí essa tradução possível, esta transcrição do “corpo-máquina” para “o poder de morte”. Dizer do corpo-máquina que ele é como um poder de morte propõe finalmente uma pista de leitura, uma aproximação, uma perspectiva ou um ponto de vista para abordar este desafio de exemplaridades, do herói à estrela. Como falar do corpo, uma vez que sua potência ou sua força está sempre investida pelo próprio corpo, como um poder de morte? Spinoza e Deleuze diriam que o corpo expressa maquinalmente suas potências, que ele as contém e ao mesmo tempo as manifesta, expõe-nas, mas sempre como um poder da morte, isto é, como um poder sobre a morte, que se exerce no sujeito da morte, por diferentes formas de representações, de produções, físicas, biológicas ou simbólicas, até mesmo sociopolíticas, mas também como um poder da morte, em que é a morte, se assim podemos dizer, que opera, produz, trabalha e mesmo representa, agindo sobre o corpo por seus próprios meios. No e por meio do corpo-máquina, a morte é também um meio, um mèchos, uma ferramenta, um expediente, um remédio. A morte nunca se reduz ao simples fato de um acidente que acontece ao corpo. A morte não é – ou não é somente – o que acontece ao corpo acidentalmente, ela constitui, muito pelo contrário, sempre o que o corpo produz maquinalmente. Como uma “força produtora”, uma força de trabalho, uma força útil, que afeiçoa e dissimula, a morte permite ao corpo “se produzir”, como dizemos de um ator no palco que ele se produz em cena, que ele se apresenta, ou se representa “em comunicação 166 com poderes secretos e forças invisíveis”. Ela lhe permite, lhe dá, lhe oferece, nós veremos lhe prometer uma relação em segredo, a seus poderes secretos, a suas próprias secreções. Ela promete soberania, ou lhe promete revelar seu segredo pela metamorfose de sua realidade em ilusão, ou formando a imagem de seu desaparecimento. § 2º – Todos os corpos exemplares secretam, todos expressam secretamente uma relação com a morte. O herói, morto na batalha, o mártir, morto por sua fé, o santo, que morreu de amor, todas essas mortes são narrativas, como em Homero, narrativas, encenações, retóricas, gramáticas do desaparecimento, diremos hoje, estéticas, especialmente quando se trata do corpo exemplar da estrela, e de sua estética chamada glamour. Mas prefiro falar em gramática. Vamos ver rapidamente o porquê. Segundo a hipótese que coloquei em debate aqui, o glamour estará para a estrela assim como o combate está para o herói, o sacrifício para o mártir, a devoção para o santo. Este é o lugar secreto de um poder de morte em que se encena, forma-se em segredo, digamos, maquina-se uma força produtora de morte e de desaparecimento. Em suma, é um lugar de secreções, entre o corpo e sua própria morte. Mas a que chamamos glamour? Trata-se de um anglicismo, que nada tem nada a ver com a morte, nem mesmo com o amor. Citemos a descrição de von Sternberg, o diretor que “inventa” ou “maquina” Marlene Dietrich: O glamour é a qualidade que consiste em provocar, deslumbrar, seduzir, fascinar, encantar, enfeitiçar, todas coisas que submetem a estrutura emocional do espectador a um estado de vibração e de torção. O glamour pode igualmente, embora raramente, produzir uma satisfação puramente estética, distinta de qualquer impulso primitivo, começando por esvaziar o corpo de todo seu sangue.7 A sedução, o fascínio, o arrebatamento, o encantamento, todos termos aqui para denotar uma retórica da submissão, da caça e da captura – “todas coisas que submetem a estrutura emocional do espectador a um estado de vibração e de torção”. Muitos termos, especialmente, para dizer a magia de um segredo e, ao mesmo tempo, para expressar um poder de secreções. Na verdade, e contra todas as expectativas, a palavra glamour provém de 7. Artigo: GRAEFE, Fr. “Marlene, Sternberg. Glamour, beauté née de la caméra”. In: G. FARINELLI, G.; PASSEK, J.-L. (orgs.). Stars au féminin: naissance, apogée et décadence du star system. Paris: Éditions du Centre Pompidou, 2000, p. 124-5. 167 “gramática” e designa esta gramiae, esta remela em francês, essa secreção remelosa, este líquido pegajoso que se acumula sobre a borda das pálpebras. Falamos de remela viscosa, dizemos, os olhos estão remelosos. “Ele lava os olhos”, escreve Lesage em Gil Blas, “para remover uma espessa remela de que estavam cheios”. Nossa fonte latina é o gramático Festus, diz precisamente Festus grammaticus, ao fim do século II d.C: “Gramiae oculorum sunt vitia, quas alii glamas vocant”.8 Gramiae é outro termo para glama, do grego glamôn, “remeloso”, que encontramos em vários termos bálticos e em outros: em lituano gléimes, em polonês gléimes, ou em inglês clemmy “pegajoso, tenaz”, em seguida, em nosso glamour, essa secreção viscosa, este líquido espesso que se acumula na borda das pálpebras, e que às vezes cobre os olhos – como para velá-los, perturbá-los, enfeitiçá-los. A palavra remelosa também o diz muito bem, do francês antigo chacie, do latim vulgar caccita, derivado de cacare, merda em francês, ou mais precisamente, excretar, secretar algo de dentro. 8. A palavra francesa grimoire significa livro de magia, conforme o próprio autor esclarece. Optamos por não traduzi-la com o intuito de acompanhar as relações etimológicas que seu texto pretende estabelecer com outras palavras. (N. do T.) E não há somente glama em glamour, mas há também gramma. Citemos ainda uma definição de dicionário: Do escocês gramarye (“magia, encantamento, feitiço”), glamour vem de uma longa história, da palavra francesa gramática, que originalmente significava praticamente tudo o que poderia se relacionar com áreas de difícil compreensão ou dissimuladas. A palavra grimoire [livro de magia] tem a mesma origem. Encontramos o termo gramarye, que evolui para glamour, e designa a magia, ou pelo menos um encanto ou encantamento. Com o cinema, o significado se restringe ao encanto feminino. Isso é um pouco parecido com o emprego da palavra “magia” ou “mágica” para descrever um ambiente extraordinário.9 Mais uma vez o encantamento, o arrebatamento, o fascínio, a sedução, o encanto. O glamour é mágico, mas uma magia secreta, criptografada, cifrada, obscura ou incompreensível. Como em “gramática”, que significava precisamente em latim medieval os regimes de ininteligibilidade, daí esta alteração do termo em gramoir, depois grimoire, livro de magia, livro misterioso, livro secreto de feitiçaria. Em Igitur, de Mallarmé, o livro de magia [grimoire], o lugar onde está guardado o segredo do Livro. Um livro a decifrar, um livro em que se deve decifrar o segredo, digamos, naquilo que nos diz respeito, tudo 9. Cf. fr.wiktionary.org/wiki/ glamour. Sobre a complexidade do termo inglês glamour, e seus derivados, leremos também The Century Dictionary and cyclopedia. New York: Century co, 1896. 168 o que submete “a estrutura emocional do espectador a um estado de vibração e de torção”. Mas a corrente continua. De gramática para gramoir, de gramoir para grimoire, encontramos ainda em franco “grima”, máscara, como em grimace [careta], grimaud [trombudo], grimage [caracterização para teatro], ou simplesmente grimer [caracterizar-se], para dizer pintar, maquiar, especialmente quando um ator marca linhas para envelhecer o rosto. Um termo que também pode significar até mesmo, por metonímia ou sinédoque, a própria cabeça, o ar ou a expressão. Faire la grime [fazer careta] é fazer beicinho, fazer cara feia, mostrar-se enfadado, como se diz. Encontramos também em alemão moderno Grimm haben (estar com raiva) ou grimmig gucken (olhar com raiva), e, em russo, grim significa simplesmente maquiagem. Mas grima é também no saxão antigo “espectro”, que encontramos hoje no inglês Grim Reaper, bicho-papão ou ceifeiro de cabeça, alegoria da morte. Há tudo isso na palavra glamour, a secreção, o livro de magia [grimoire] e a face da morte. Um ar, uma expressão, um olhar, um look, que expressam uma relação secreta com a morte ou que secretam algo da morte – digamos, que encenam um líquido viscoso, uma cor verde-azul da morte. O glamour é o corpo-máquina da estrela, o corpo que maquina e engana, urde e trama, trata, entrança e combina um segredo de morte, para soberanamente lançar um feitiço, para enfeitiçar, como enredar, ou enganar os olhos do espectador. O glamour diz respeito a uma questão de olhos, não diretamente a partir da visão, do visual ou do visível, mas a partir do olho, de sua esfera globular, que engloba tudo, secretando um líquido viscoso, tal como o muco, em que imagens se aglutinam. Mas o que dizer deste corpo-máquina exemplar, desde que seu glamour se restringe ou se reduz unicamente ao “encanto feminino”? O corpo de estrela é sempre um corpo de mulher, um corpo feminino, um corpo no feminino? O corpo-máquina não pode maquinar mais do que o corpo feminino, embuste de feminilidade? Em suma, há apenas sex machine feminino? E o corpo exemplar, protótipo de uma modernidade desencantada, não pode mais produzir ou encenar o único nome de uma mulher, ou seu nome de batismo: Marlene, Greta, ou Marilyn? Lembremo-nos da palavra de Sternberg: “Marlene, sou eu”. Eu vou estar de volta em um instante, o tempo para citar uma longa passagem sobre o glamour no feminino: 169 Como qualquer coisa, o glamour conhece estilos; em alguns anos, ele enfatiza as senhoras gordas em calças justas, empoleiradas sobre bicicletas, como nos primeiros daguerreótipos; mais um ano, ele se casa com seios roliços, pernas enfeitadas com ligas, os véus e outros chapéus extravagantes, características de figuras estáticas, de olhos angelicais, de meladas nudezas afligidas pela síndrome de pin-up; e agora é o reinado de tristeza documentária. Mas uma das características – a principal – do glamour que permanece inalterada é que ele promete algo que não pode oferecer. Na fotografia, o glamour é o tratamento da superfície, uma superfície que ainda não tem a espessura da epiderme; ela é apenas a espessura do papel que reproduz a imagem. Para o caso de que ainda não tenhamos bem compreendido, beleza interior e beleza exterior não compartilham o mesmo endereço. Diz-se que o glamour era uma arte perdida. Eu não acho que ele nunca tenha sido um produto atual com uma estreia e um fim. Não é uma invenção nascida com a fotografia. Lendas de glamour estão enraizadas na história. Para citar alguns, aqui Helena e seus mil navios, Phryne que turva as ideias de seus jurados, Cleópatra e o tapete enrolado, e mais recentemente Duse que decide rastejar diante de Annunzio; as mulheres de glamour são uma legião. É preciso naturalmente considerar que o ápice do glamour só é acessível desde que se disponha de uma grande personalidade. Seja qual for seus poderes de sedução, uma mulher nua em um calendário é apenas uma entre milhares de outras, até que ela seja identificada com a personalidade de uma Marilyn Monroe. As duas representações mais populares de glamour nos primeiros anos do cinema, antes de ser reduzido a esqueleto visual nas vozes que se entrechocam, foram Garbo e Valentino. De Valentino é melhor dizer o menos possível; suas maneiras beiravam o ridículo. Mas a imagem de Garbo, que se diz ser glamour, tem mostrado uma permanência extraordinária. Da Suécia e formada por um mestre artesão, Mauritz Stiller, ela conseguiu tomar a consciência do mundo inteiro com sua elegância e personalidade. Uma análise objetiva de sua imagem, que ainda pertence à aparência glamourosa, revela uma aparência lânguida, quase anêmica, uma voz grave, quase masculina, e 170 um luminoso par de olhos trágicos que parecia ir mais em direção ao interior do que em direção ao que havia para ver. Mas é difícil examinar objetivamente o glamour. A imagem de Garbo teve um impacto não só sobre a maioria dos homens, mas também sobre quase todas as mulheres. Ela não se considerava uma imagem de glamour – longe disso –, mas apenas a menção de seu nome despertava êxtase em outras mulheres. Que isso afetou outras pessoas do mesmo sexo é digno de nota, já que o glamour de uma mulher não se destina a provocar apenas a emoção masculina.10 § 3º – O glamour é a moda, a arte do efêmero, da passagem, da mudança; do “transitório”, diria Baudelaire; hoje falamos de tendências.11 O glamour é tendência, por vezes valorizando um corpo em bicicleta, às vezes “pernas enfeitadas com ligas”, mas quase sempre há corpos femininos. E, se há Valentino, seu glamour é grotesco, seu olhar, sua aparência, suas maneiras são ridículas: “De Valentino é melhor dizer o menos possível; suas maneiras beiravam o ridículo”. Enquanto Valentino cria maneiras, assume aparências educadas, afetadas, comprimidas, carecendo assim de naturalidade, de simplicidade, e de consistência, Garbo “tem mostrado uma permanência extraordinária”. Ela provou a permanência de uma personalidade, “uma grande personalidade”, embora ainda condicionada ou formada por um “mestre artesão”. “Da Suécia e formada por um mestre artesão, Mauritz Stiller, ela [Garbo] conseguiu tomar a consciência do mundo inteiro com sua elegância e personalidade”. Como um demiurgo, aqui o mestre artesão, de sua mão firme e hábil, revela ao mundo, destaca e traz à consciência as potencialidades da mulher, as virtudes adormecidas, os poderes secretos, as forças latentes e invisíveis de elegância, de fascínio, de êxtase, de sedução e de provocação que habitam como um sex machine o corpo enfeitiçante da mulher. A mulher não tem acesso a suas próprias forças. Sem a intervenção de um mestre artesão, um intérprete, um hermeneuta, um tradutor de encanto em algum feitiço, ela jamais poderá liberar, expressar, expor ou usar à luz do dia, fazer ouvir, encenar ou produzir suas propriedades essenciais, seus atributos especificamente femininos, seus atrativos sexuais, suas atrações maquinais, da graça à elegância, ou ainda revelar seu segredo, que a natureza levou tantos milênios para criar. Escreve Sternberg: 10. “The von Sternberg Principle”, op. cit., p. 124, grifo nosso. 11. Cf. CHASTELLIER, Ronan. Tendançologie. La fabrication du Glamour. Paris: Eyrolles, 2008, spéc. p. 13-15. 171 Eu não tinha a intenção de reduzir a grandiosidade da feminilidade, porque nada no mundo é mais gracioso e sedutor do que uma mulher em plena floração. A natureza fez muitos experimentos antes de chegar a uma versão perfeita. Mas o homem não se satisfaz em reconhecer às mulheres as extraordinárias qualidades que levaram milhões de anos para eclodir e prefere muitas vezes uma imagem cujas qualidades nascem da fração de segundo que foi usada para encerrar a realidade em uma caixa preta para fazer dela uma ilusão.12 12. “The von Sternberg Principle”, op. cit., p. 124. Ouvimos não apenas ressoar aqui o antropofalocentrismo “Marlene, sou eu”, mas vemos como sobretudo o glamour, sua gramática, sua retórica, sua estética, inscreve-se como um momento de ruptura, descontinuidade, utopia no curso da história. Por um lado, “a natureza fez muitos experimentos antes de chegar a uma versão perfeita [da mulher]”. Vimos acima que “as lendas de glamour estão enraizados na história”, “Helena e seus mil navios”, “Cleópatra e o tapete enrolado” e muitas outras histórias poderiam confirmar essas “experiências” da natureza para alcançar a sua própria realização. Mas, por outro lado, o homem, o masculino, o mestre de obra, o artesão, ou demiurgo, não se contentam, “se satisfazem” com essas qualidades excepcionais, extraordinárias, incomuns, entre todos os seres que a natureza criou. O homem nunca poderá reduzir seu gozo, seu olhar, sua escuta a este único estado de exceção, seja ele dos mais extraordinários. O gozo masculino nunca se contentará com a realidade da natureza, mas sempre procurará a imagem ou a ilusão, a máquina sexual por excelência, e o que Sternberg diz sobre este ponto é esplêndido, esplendidamente perturbador. Para colocar em competição o homem e a natureza, até mesmo o homem e Deus, o masculino e o divino, ele compara, segundo uma escolha de preferência, os “milhões de anos” que a natureza terá usado para criar a realidade da mulher e a “fração de segundo” que bastou ao cinema para transformar esta realidade em ilusão. Mas o homem não se satisfaz em reconhecer às mulheres as extraordinárias qualidades que levaram milhões de anos para eclodir e prefere muitas vezes uma imagem cujas qualidades nascem da fração de segundo que foi usada para encerrar a realidade em uma caixa preta para fazer dela uma ilusão. 172 A caixa preta, o livro de magia (grimoire), o glamoir, ou a gramática do glamour, atolada de remela, de líquido viscoso, os olhos glaucos, pertubações, os olhos perturbados, enfeitiçados, despossuídos de espectadores. A perfeição masculina da mulher é aqui revelada em e por essa fração de segundo, esta irrupção fulgurante da máquina, do sex machine, que transforma a realidade natural em gramática da ilusão, um grammage, uma caracterização para o teatro (grimage) ou um rosto encaretado (visage grimé). Não demorará um segundo, no cinema, não se poderá contar ou medir o tempo que tomou o masculino, digamos, o “cinemasculino”, para encerrar no livro de magia [grimoire] a realidade da mulher, para reduzir o “tratamento de superfície”, não tendo mais a aparência de uma pele, mas a espessura de uma película, “que reproduz a imagem”. Mal dando tempo para um piscar de olhos, para produzir esta metamorfose, que nenhum milhão de anos nunca poderia alcançar. Essa é a “versão perfeita” da mulher: uma ilusão, o tratamento de uma superfície, secretamente escondida no livro de magia [grimoire], maquinalmente mas soberanamente conservada no caixa preta do cinema. E, se há de fato glamour neste momento deslumbrante da metamorfose, assim por mais de um milhão de anos, mas sem nunca alcançá-lo, a natureza sempre terá tendido para o glamour, como em direção a seu fim, seu telos, então se o glamour terá sido sempre a tendência ou o princípio teleológico da natureza, ou terá sempre sido “tendência”, para a natureza, como o que atrai ou seduz, provoca ou enfeitiça os olhos atônitos da natureza, é que o glamour contém ou detém, fecha ou oculta no livro de magia [grimoire], caixa preta do cinema, o segredo da natureza, o segredo de seu fim, a sua morte e seu desaparecimento. Em suma, o glamour já terá sempre desempenhado, na natureza, o papel do princípio transcendental de vontade de potência, de vida e de conservação. Pode-se dizer do glamour segundo Sternberg o que Kant dizia da metafísica: de um lado, é tudo e nada; de outro, é tudo ou nada. A natureza é inerentemente glamour, e o glamour, a ilusão que deseja a natureza. Daí o segredo do glamour, o segredo contido na caixa preta, ou mais precisamente a ilusão que secreta a caixa, quando metamorfoseia a realidade natural da mulher em sua versão perfeita, de Greta, de Marlene ou de Marilyn. E, se “é difícil, diz Sternberg, examinar o glamour objetivamente”, dizer o que é o glamour como tal, defini-lo em um conceito, a realidade secreta, ou simplesmente o 173 segredo, que dá este poder soberano para encantar os olhos de quem vê, ou para esvaziar o corpo de seu sangue, ainda podemos construir, entre seus diversos estilos, um personagem principal e imutável, diz Sternberg. “Mas uma das características – a principal – do glamour, que permanece inalterada, é que ele promete algo que não pode oferecer”. Já podemos ouvir o eco aqui da definição lacaniana do amor: “dar algo que não se tem a alguém que não o quer”. Mas Sternberg fala principalmente da promessa, que não deve ser entendida ou apreendida entre a verdadeira e a falsa promessa, como quando dizemos manter ou não manter uma promessa. Aqui não oferecer, não dar aquilo que se promete, não quer dizer quebrar a promessa, nem fazer uma falsa promessa. Não se trata de uma falta, de um defeito, de uma falha, ou mesmo de um engano ou de uma mentira, mas sim de uma perfeição – ou “de chegar a uma versão perfeita” da mulher. O corpo da mulher, o corpo-máquina da estrela, ou sex machine, é perfeito, finalmente chegou a sua perfeição, finalmente reduzido à sua superfície, tratado como uma superfície, papel ou película, quando “promete algo que não pode oferecer”. E o corpo sexuado, o que desempenha o sexual no corpo, só faz maquinar esta promessa, agitar e combinar, engendrar e tramar, ou “formar em segredo” a promessa disso mesmo que não se pode dar. Veremos mais adiante a ligação direta, objetiva, é preciso dizer da objetiva, entre a promessa e a ilusão, que se trata de uma promessa de ilusão ou a ilusão de uma promessa. O que importa agora é que tal promessa, esta promessa, o tipo singular e único de promessa, tipicamente masculina, diria Sternberg, produziu as condições de possibilidade da caixa preta, onde se formou a ilusão de realidade. Prometer algo que não se pode oferecer, isto é, em suma, ser glamour, ser um corpo de estrela, um sex machine, o único exemplar de uma superfície de papel, equivaleria a produzir uma imagem completamente singular, eu diria sem igual na história antiga da representação, da imagem, da cópia, da imitação ou da mimese. Essa imagem, esta superfície, esta tela, esta cena não se destaca pelo duplo, nem pela reprodução, nem mesmo pelo mimético para falar propriamente, mas de fato por certa promessa. Esta imagem de papel, na verdade, não pertence mais ao registo de oposições, do modelo para a sua cópia, do autêntico ao simulacro. Esta imagem não reproduz nem representa nada, ela não imita nada nem é o duplo de nada; mais ainda, 174 ela não diz nada, não se expressa sobre nada, nem se afasta de qualquer coisa, ela não nos informa nada nem apreende nada sobre a realidade que ela encerra “em uma caixa preta para fazer dela uma ilusão”. Esta imagem transcendental do glamour não é nada mais do que uma promessa, nem verdadeira nem falsa – uma promessa que não promete nada, nem fazer nada mais, do que não dar o que promete. A magia desta promessa, o que seduz e encanta os olhos do espectador, seu encanto, é que ela promete justamente não dar o que promete. É a única promessa que promete isso – contradizendo por aí também as leis formais, habituais e convencionais, as leis performativas da promessa em geral. Em outras palavras, e, finalmente, essa promessa é a única que promete não manter sua promessa. E isso, para Sternberg, é a versão ideal do corpo da mulher, o corpo da estrela, sexo e máquina e ao mesmo tempo superfície, “tratada, formada” pelo livro de magia [grimoire] cinematográfico de um mestre artesão – digamos, o “cinemasculográfico”. Caixa preta e corpo de estrela § 1º – Vou apresentar uma nova hipótese sobre a caixa-preta do corpomáquina. Esta caixa conteria o duplo horizonte ou a tensão, mencionada anteriormente, entre a repressão e a utopia, fechamento e abertura, censura e liberdade. Esta metamorfose da realidade em ilusão, em que se promete o que não pode oferecer, é na verdade uma economia da censura, um novo espaço para a repressão interna na fábrica de imagens pegajosas, enfetiçantes. E o segredo da caixa inteira nesta economia plástica, em que a censura reproduz o erotismo de imagens tanto quanto o erotismo desempenha papel de transgredir a censura. Desde 1930, como também se sabe, a indústria cinematográfica de Hollywood foi submetida ao famoso Código Hays ou MPPC (Motion Picture Production Code). Um código de censura que regula a produção de filmes, preparado pelo senador William Hays, um representante legal do poder, e escrito por dois clérigos, Quigley Martin e Daniel Lord, guardiões da moralidade do poder. Um código de autocensura imposta pelo governo, e que diz respeito à criminalidade, à sexualidade, à decência, à patria, à família e à religião, que consiste ainda em proteger a moral burguesa e os valores 175 tradicionais. Este código de censura representa o espaço de repressão interna à caixa preta cinematográfica, ao livro da magia [grimoire] do corpo da estrela, ao sexo de papel que maquina, ou forma em segredo um novo mundo de promessas e ilusões. Não haveria nenhuma estética de glamour sem um código de censura, que dita suas regras de gramática, seus gestos, suas atitudes, sua aparência e suas posturas. Cito um texto de Eric de Kuyper, crítico de cinema: É preciso considerar esta estética [do glamour] como intimamente ligada ao código de censura que dita, a partir dos anos trinta, suas regras estritas relativas a tudo em que há traço de sexualidade. Ela, em todas as suas formas, é um tabu. Mesmo sugerida indiretamente por meio, por exemplo, da nudez corporal, ela é ainda muito explícita para os censores. Trata-se, portanto, de encontrar um vocabulário estético, por meio do qual o erotismo e a sensualidade são exploradas ao máximo, sem que de nenhuma maneira a fronteira que cerca o campo sexual seja atravessada. Nesta estética de erotismo, o corpo da estrela é central e fundamental porque sempre presente na tela: este corpo está necessariamente sexuado, mas as técnicas de glamour, ao apagar seu aspecto puramente sexual, permitem de alguma maneira aguçar a sua dimensão sensual. Essa estética, que joga com a sexualidade física, negando-a para melhor destacar indiretamente, exige obviamente uma arte e um dedilhado mais sutil. A atratividade física – o sexappeal – das estrelas, mais do que seu talento de ator, torna-se assim para Hollywood uma verdadeira obsessão. Constantemente equilibrada entre o Código Hays – que rejeita qualquer alusão explícita ou mesmo implícita – e a necessidade essencial de usar e de encenar ao máximo todo o potencial do corpo da estrela, Hollywood, ao longo de todos estes anos, coloca em prática a máxima de Cocteau: “saber quão longe se pode ir muito longe...”. O código antigo garante a estrita observância das regras; o sistema, ao aceitar, experimenta continuamente processos para transgredir estas regras, respeitando-as.13 A regra das regras, própria à gramática do glamour, é produzir e organizar “processos para trangredir estas regras, respeitando-as”. Seja qual for o código, e quaisquer que sejam as regras, o que é preciso sempre colocar em cena é uma transgressão que as respeita. Nada, portanto, opõe-se portanto aqui à observância de regras e sua transgressão, mas tudo repousa sobre uma certa encenação das regras, uma representação do espaço repressivo interno à 13. KUYPER, Eric de. La guerre des sexes: corps féminins et corps masculins. In: Stars au féminin. op. cit., pp. 31-32. Poderíamos ler ainda do mesmo autor. Le corps: fabrication Hollywood. Trafic, 24, 1997. 176 caixa preta cinematográfica – ou do corpo da estrela. E, se as coisas mudaram para a indústria econômica e sociocultural de Hollywood desde os anos 50, se o Código Hays se viu cada vez menos obrigatório, até finalmente desaparecer em 1966, o “código” sempre representa normas, que regem o movimento dos corpos, ditam-lhes as formas de inscrição social e determinam seus comportamentos, seus afetos, seus desejos. O código e suas regras de uso, plásticas e lábeis, permanecem sempre criptografadas na gramática do corpomáquina. Assim, releiamos Foucault, quando ele descreve as regras repressivas que oprimem o corpo: Mas o corpo está também diretamente imerso em um campo político; as relações de poder operam sobre ele uma tomada imediata; elas investem-no, marcam-no, domesticam-no, supliciam-no, obrigam-no a trabalhar, forçam-no a cerimônias, exigem dele sinais. Este investimento político do corpo está ligado, segundo relações complexas e recíprocas, a seu uso econômico; é, em grande medida, como uma força de produção que o corpo é investido pelas relações de poder e dominação; mas, em contrapartida, sua constituição como força de trabalho só é possível se ele está preso em um sistema de sujeição (em que necessidade é também um instrumento político cuidadosamente projetado, calculado e utilizado), o corpo se torna força útil se for tanto o corpo produtivo e corpo assujeitado. Este assujeitamento não é alcançado somente por instrumentos de violência ou ideologia, ele pode muito bem ser direto, físico, jogar a força contra a força, desgastar seus elementos materiais, e ainda assim não ser violento, pode ser calculado, organizado, tecnicamente pensado, pode ser sutil, não fazer uso de armas ou terror, e ainda permanecer na ordem física. Isto quer dizer que pode haver um “conhecimento” sobre o corpo que não é exatamente a ciência do seu funcionamento, e um domínio de suas forças, que é mais do que a capacidade de superar: este saber e este domínio constituem 14. Surveiller et punir, op. cit., p. 30-1. o que poderia ser chamado de tecnologia política do corpo.14 Esse texto, famoso, celebrado por um grande número de Estudos de Gênero, entre outros, também é um texto que fala – sem nomear ou até mesmo indicar – da caixa preta, ou o livro de magia [grimoire] cinematográfico, que encerra a realidade do corpo, que o aprisiona em uma folha de papel, que o reduz à superfície de uma película, para fazer uma ilusão, para fazer um corpo de estrela, enfeitiçante. “Mergulhado em um campo político”, o corpo 177 é sempre e ao mesmo tempo “corpo produtor e corpo assujeitado”. O corpo da estrela também produz algo estando assujeitado a alguma coisa. “Tornase também força útil”, instrumento político, ferramenta, meio, mèchanos, máquina uma vez mais, ou sex machine. Mas ele produzirá apenas seu próprio assujeitamento. É aqui que Foucault chama de “tecnologia política do corpo”. Não há necessidade de fazer violência ao corpo, de submetê-lo à tortura, ao trabalho forçado, de supliciá-lo, de marcá-lo a ferro quente, nem mesmo de aterrorizá-lo por ideologias, de obrigá-lo a cerimônias, rituais e crenças. Um “saber” sobre o corpo é o suficiente, mas um saber que é somente a simples “ciência do seu funcionamento” ou a vitória sobre suas próprias forças. É uma tecnologia política, ou, diz Foucault, uma microfísica do poder que as instituições colocam em jogo, mas cujo campo de validade é colocado de alguma forma entre esses grandes funcionamentos e os próprios corpos com sua materialidade e suas forças.15 A caixa preta cinematográfica é ela mesma um “aparelho”, e, ao mesmo tempo, esta “instituição” por si só representa a máquina industrial, que envolve, que coloca em jogo, que encena relações de poder nas quais o corpo está mergulhado, fechado, sua materialidade deformada, e suas próprias forças transformadas. Esta caixa é um saber tecnológico, uma “tecnologia política do corpo” ou uma modalidade estratégica ou uma manobra pela qual o corpo “se torna força útil”, ao mesmo tempo corpo produtor, de fascínio, de sedução, de feitiçaria, e corpo assujeitado, livre, privado, despossuído, que antes do “Marlene, sou eu” de Sternberg, a faz dizer a si própria, “sem você eu não sou nada”.16 Todo o mistério da caixa preta está aí, seu encantamento milagroso, nesta metamorfose tecnológica das forças vivas do corpo em força de trabalho, “poderes secretos e forças invisíveis do corpo” em forças úteis para a manutenção do poder soberano. Uma metamorfose instantânea, invisível, indiscernível, que, de acordo com as regras socioeconômicas, bem como político-teológicas, que ela transgride, inventa um novo corpo, uma nova maquinaria sexual do corpo, uma nova manobra ou artifício, que produz e processa uma superfície capaz de gerar em si e e de exemplificar por si as condições materiais, instrumentais, tanto ideológicas e institucionais, de 15. Ibid., p. 31. 16. Cf. HASKELL, Molly. La femme à l’écran. De Garbo à Jane Fonda. Traduzido do inglês por B. Vernet. Paris: Seghers, 1977, p. 85. 178 autorreprodução do poder – uma gramática, uma retórica, uma “estética da superfície”, capaz de reinventar, ou repetir indefinidamente o poder soberano. § 2º – O corpo da estrela, uma superfície de película, representa o corpo novo do poder, o poder das imagens, ou o poder que produz a ilusão da imagem. O corpo da estrela, sua “força útil” ao poder, o que faz ou maquina toda a força sexual do poder é a ilusão de que o corpo já não tem segredo, que ele é a própria revelação do segredo, ou que se tornou ele mesmo o acesso direto ao segredo – como o obsceno de que fala Baudrillard17. Não se diz nada quando se trata de glamour. Para este tratamento de superfície, o corpo finalmente revela seus segredos, suas potências, suas forças ou seus poderes – “que ele promete algo que ele não pode oferecer”. Seu segredo é a sua promessa, e essa promessa, o novo poder do corpo-sexo-máquina. Podemos chamá-lo assim, de autoerotismo de exposição, que produz uma ilusão, como um verdadeiro striptease. O glamour do corpo da estrela poderia, assim, ser definido como o striptease da realidade, esta máquina de incomodar o real, quando ela “dá a impressão de mostrar a verdade nua e crua”, escreve Alain Bernardin, antigo diretor de Crazy Horse Saloon, em uma texto célebre, citado e comentado por Baudrillard. Texto célebre, mas do meu conhecimento não encontrado em nenhuma biblioteca pública ou universitária. Aqui, no entanto, um fragmento decisivo: “Nós não strip nem tease... fazemos paródia... Eu sou um fraudador: damos a impressão de mostrar a verdade nua, a falsificação não pode ir mais longe.” 17. “O que você esta fazendo depois da orgia?”, op. cit., p. 2. Isto é o oposto da vida. Porque, quando ela está nua, ela é muito mais decorada do que vestida. Os corpos são maquinados com fundos especiais tingidos extremamente bonitos, que tornam a pele sedosa... Ela tem luvas que cortam os braços, o que é sempre bonito, as partes inferiores verdes, vermelhas ou pretas, que também cortam a perna na coxa... Striptease de sonho: a mulher do espaço. Ela dançava no vácuo. Porque, quanto mais uma mulher se move lentamente, mais erótico é. Então eu acho que o ápice seria uma mulher na leveza. 179 A nudez das praias nada tem a ver com a nudez da cena. Em cena, elas são deusas, elas são intocáveis... A onda de nudez, em teatro e em outros lugares, é superficial, ela se limita a um ato mental: eu vou nu, eu vou mostrar atores e atrizes nus. É irrelevante para os seus próprios limites. Além disso, apresentamos a realidade: aqui estou sugerindo apenas o impossível. A realidade do sexo que exibe em todos os lugares diminui a subjetividade do erotismo. Irridescente de luzes vivas, decorado com joias, adornada com uma peruca laranja grande, Usha Barock, um meio-sangue austro-polonês, continuará a tradição do Crazy Horse: criar aquilo que não se pode prender em seu sutiã. 18 Como Sternberg, Bernardin também fabrica ilusão, trata as superfícies, máquinas de aparições, ele também é um mestre artesão, um mestre de obra, que produz uma mistificação – do corpo da mulher. Tanto a “caixa preta” de Sternberg transforma a realidade natural da mulher em uma ilusão que aperfeiçoa ou completa, como a “cena” de Bernardin não representa a realidade, ainda muito “mental”, mas “sugere apenas o impossível”. Por um lado, prometemos algo que não podemos oferecer, por outro lado, sugerimos o impossível. E, quando Bernardin diz o que não quer dizer, para ele, e para toda “a tradição” do Crazy Horse Saloon, “eu sou um mistificador”, ainda se pode ouvir ressoar a voz de Sternberg. Mistificar, “dar a impressão de mostrar a verdade nua e crua”, é “criar aquilo [mulher] que não pode prender em seu sutiã”. De certa forma, podemos dizer que Bernardin “percebe”, produz ou encena a promessa de Sternberg. O que não se pode prender em seu sutiã, do corpo glamour da mulher, do sexo feminino, que máquina o corpo de ilusão, é justamente esse “algo” que ela promete não poder dar. Mais uma vez um segredo que sobe, revela-se, manifesta-se, mas lentamente, diz Bernardin. Aqui temos de analisar o que é dito sobre a lentidão, encontrando nos opostos esta instantaneidade da caixa preta de Strenberg: “quanto mais uma mulher se move lentamente, mais erótico é”, incluindo que o “ápice”, ou a “versão perfeita”, “seria uma mulher na leveza”, sem peso corporal, portanto, nenhum peso, sem gravidade, massa ou volume, como sem corpo, como uma pluma, nem 18. Texto citado por: BAUDRILLARD, J., L’échange symbolique et la mort. Paris: Gallimard, 1976, p. 165. 180 mesmo a consistência da carne e a espessura da pele. É lento este movimento do corpo, porque o seu objetivo não é se colocar nu, ou mostrar sexo nu, mas a fabricação de ilusão, todo o processo discursivo, o dispositivo tecnológico, digamos, o processamento tecnodiscursivo, ou a implantação maquínica “sexomaquínico” de uma superfície pela qual o corpo se metamorfoseia em poder de sedução, fascinação e encantamento. O striptease é uma dança, escreve Baudrillard: a única talvez, a mais original do mundo ocidental contemporâneo. O segredo está na celebração autoerótica por uma mulher de seu próprio corpo que se torna desejável nessa medida [...]. É por isso que o striptease é lento: ele deveria ir o mais rápido possível se o fim fosse o desnudamento sexual, mas é lento porque é discurso, construção de signos, desenvolvimento cuidadoso de um sentido diferido.19 A lentidão do movimento do corpo não é aqui uma exposição pura, um véu simples levantado, que mostra o sexo, mas uma elaboracão discursiva, uma produção técnica de signos, de sentido, “que consiste”, diria Sternberg, em ser lembrado, “para provocar, deslumbrar, seduzir, fascinar, encantar, enfeitiçar, todas coisas que submetem a estrutura emocional do espectador a um estado de vibração e de torção” para esvaziar o corpo de seu sangue. É autoerotismo do corpo-máquina, que produz o desejo do espectador. Um erotismo que inventa seu próprio discurso, ou o dispositivo tecnodiscursivo – da caixa preta do cinema na cena de striptease – digamos, que produz ou maquina o tratamento de uma superfície pela qual o corpo, tornando-se “força útil”, transforma-se em ilusão, a toda velocidade ou muito lentamente. Estamos aqui mergulhados diante do autoerotismo da máquina, que manipula suas próprias regras de gramática, ou forma em segredo essa gramática de ilusão de um corpo desejante, “que não se pode prender em seu sutiã” , de um corpo cujo encantamento é a promessa de não dar o que promete. Esta fabricação, a maquinação, a formação secreta de uma superfície, que não é mais a ilusão de corpo, mas o corpo mesmo da ilusão, o corpo de um fantasma ou de um espectro, como nova utopia do corpo, ou o novo corpo utópico, novo exemplaridade da modernidade desencantada. 19. Ibid., p . 165-68. E a “contradição” do striptease, do qual fala Roland Barthes: “dessexualizar a mulher no momento em que é desnudada” (Striptease. In: Mythologies. Paris: Éditions du Seuil, 1957, p. 147. 181 Digamo-lo para terminar. O corpo da estrela representa “algo” do corpo-máquina, algo da superfície que o corpo “maquina”, fabrica ou trata, entrança ou combina, mas que não se pode dar, ou oferecer, nem abraçar, ou tocar. O que o corpo “maquina” de sua própria superfície, o que ele “forma em segredo”, promete-se sempre como algo de impossível. E é nisso que consiste finalmente o corpo-máquina da estrela, ou o sex machine: a promessa do impossível – uma promessa que dá um corpo à ilusão. Igualmente, o que chamamos de um corpo de estrela, seu glamour, sua produção maquinal e mágica, ou seu encanto que perturba e enfeitiça os olhos do espectador, não representa mais a ilusão fantasmática de um corpo, Bernardin diria “o ato mental” de uma nudez, mas constitui de outra forma o corpo real de uma ilusão, a superfície sensível da aparência de um espectro. O corpo de estrela é um espectro, o glamour é espectral, fantasmagórico. Mais ainda, podemos dizer que o glamour do corpo da estrela é uma máquina para produzir a superfície sensível de um espectro, uma máquina que secreta superficialmente, que cria artificialmente a aparência de seu próprio fantasma. Diante de um corpo de estrela, o espectador vê apenas um espectro ou um fantasma, um corpo já morto ou ausente, embora bem real, bem sensível, bem aí e bem presente. Ele vê “algo de impossível”, um corpo “natimorto”, um corpo de morto “vivo”, como um “morto-vivo”, um sex machine da morte que passa, que se desloca, que se move lentamente, e que também fala, e que fala com ele, mas que é apenas a superfície e aparece somente como um piscar de olhos. Tempo de um desaparecimento, de um desmaio. Esta é a realidade do corpo-máquina da estrela, a superfície deslumbrante de um instante, como a obscenidade de uma visão pura e absoluta. Um corpo-máquina, com o seu próprio tempo: uma fração de segundo, que encerra a realidade em uma caixa preta para fazer dela uma ilusão. Um corpo-máquina, com o seu próprio espaço: uma superfície sensível, que tem apenas a espessura de uma película na qual se projeta sua imagem e se produz a ilusão. (tradução de Marcos de Jesus Oliveira) 182 le i b ni z e benjam i n: uma introdução às teorias tradicionais da tradução ou às metafísicas da língua de saída e de chegada J u l i a n a C e c c i S i lva e William de Siqueira Piaui 183 leibniz e benjamin: uma introdução às teorias tradicionais da tradução ou às metafísicas da língua de saída e de chegada Juliana Cecci Silva1 e William de Siqueira Piauí2 Considerações preliminares No que diz respeito à possibilidade da tradução, uma das perguntas que poderíamos fazer seria: os Nouveaux essais sur l’entendement humain par l’auteur du système de l’harmonie prétablie do filósofo alemão Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) são uma obra de arte? Acreditamos que se nos ativermos ao que o filósofo, também alemão, Walter Benjamin (1892-1940) diz no início de seu texto Die Aufgabedes Übersetzers (A tarefa do tradutor), a saber: “se ela [a tradução] estivesse destinada ao leitor, também o original o deveria estar”3, teríamos, pois, de nos perguntar primeiro: a obra Novos ensaios está destinada ao leitor? Ora, parece-nos que essa obra está expressamente destinada aos leitores, aos filósofos ingleses e aos empiristas em geral e, mais especificamente, ao filósofo inglês John Locke (1632-1704)4; e pretende, de acordo com seu título, dar a conhecer, informar, comunicar, aos filósofos insulares o essencial quanto ao sistema da harmonia preestabelecida ou aquilo que o filósofo alemão costumava chamar de sua hipótese da harmonia pré-estabelecida, a qual ele fez o personagem Filaleto defender em sua conversa com Teófilo. Nesse sentido, talvez pudéssemos dizer que essa obra está comprometida ou se autorregistra no âmbito da concepção burguesa de linguagem5. 3.BENJAMIN, Walter. A tarefa do tradutor (quatro traduções para o português). Org. Lúcia Castello Branco. Belo Horizonte: UFMG, 2008, p. 83. 4. Um leitor defunto. Leibniz chegou a adiar a publicação dos Novos ensaios (doravante simplesmente N.E.) por conta da morte do filósofo inglês. Os N.E. foram escritos em forma de diálogo, uma conversa entre os personagens Teófilo (amigo de Deus) e Filaleto (amigo da verdade), o primeiro defendia as opiniões de Leibniz e o segundo as de Locke, em geral repetindo apenas o que o inglês afirmava em An essay concerning human understanding (publicado em 1690). Quanto ao sistema da harmonia preestabelecida, cf. também Monadologie, § 80. Daqui em diante mencionaremos a obra de Benjamin também com a sigla A.U. 5. BENJAMIN, Walter. Escritos sobre mito e linguagem. Org. 1 Tradutora e mestranda do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Tradução na Jeanne Marie Gagnebin. Rio de Universidade de Brasília (Postrad – UnB), sob orientação do Prof. Dr. Piero Eyben, é membro Janeiro: Duas cidades, 2011, p. 55. do grupo de pesquisa Escritura: Linguagem e Pensamento; e-mail: [email protected]. Doutor em Filosofia pela Universidade de São Paulo, FFLCH – USP, e, atualmente, é professor adjunto do Departamento de Filosofia e Letras da Universidade Federal de Sergipe (DFL– UFS); e-mail: [email protected]. 2 184 Isso quer dizer que é necessário tomar algum cuidado quando se usa o texto de Benjamin para uma discussão geral da tradução: nem todo texto é sagrado ou obra de arte! É necessário, no mínimo, problematizar os critérios que definem a informação a ser veiculada e até que ponto trata-se de um texto sagrado ou obra de arte a ser traduzida. Como vimos, os N.E. não parecem ser uma obra de arte no sentido oferecido naquele início6; além disso, indo ao final do texto de Benjamin, se pensarmos que os “grandes textos, e em mais alto grau os sagrados”7 têm como característica “conter nas entrelinhas a sua tradução”, novamente, os N.E. não parecem poder ser considerados um grande texto, menos ainda um texto sagrado e, certamente, não contêm em suas entrelinhas a sua tradução, aquilo que faria o tradutor vislumbrar uma “língua pura” (die reine Sprachen) a partir do original8 9. Vale lembrar inclusive que Leibniz escreve na língua francesa e tem como ponto de partida uma obra escrita na língua inglesa, ou seja, nem o que escreve nem o que lê está em sua língua materna, a alemã10. Contudo, dadas as características dos N.E., não são certamente essas as questões que nos permitiriam comparar o que pensavam Leibniz e Benjamin; além disso, até onde pudemos saber, em nenhum momento dos N.E. a tradução de uma obra de uma língua para outra é a questão principal. Resta saber, todavia, se lá encontraríamos algo que permitisse uma possível e pertinente oposição ou, quem sabe, um acordo entre esses autores quanto à verdadeira natureza desse tipo de tradução. Dito assim, se atentarmos para o que é afirmado ainda bem no início da A.U., poderíamos vislumbrar uma pergunta possível e pertinente: se, como quer Benjamin, “a tradução tem por finalidade dar expressão à relação mais íntima das línguas umas com as outras”11, o que dizer de uma obra que supõe um forte e amplo acordo entre as línguas e nações? De uma obra que, nesse sentido, seria ela mesma a expressão da possibilidade fácil e tranquila da tradução? Uma obra que teria sido escrita tendo em vista o que há de comum entre os seres humanos quando se trata das várias línguas que estes criaram na história, seus variados parentescos, e que tomou como ponto de partida as conexões entre todos os povos ou nações que tiveram ou têm uma determinada língua? Eis que adentramos nos temas desenvolvidos no início do livro III – 11. WALTER, Benjamin. A tarefa do tradutor (quatro traduções para o português). Org. Lúcia Castello Branco. Belo Horizonte: UFMG, 2008, p. 83. 6. BENJAMIN, Walter. A tarefa do tradutor (quatro traduções para o português). Org. Lúcia Castello Branco. Belo Horizonte: UFMG, 2008, p.82. 7. Idem, p. 98. 8. BENJAMIN, Walter. A tarefa do tradutor (quatro traduções para o português). Org. Lúcia Castello Branco. Belo Horizonte: UFMG, 2008, p.89. 9. Se lembrarmos o comentário que Derrida faz ao texto de Benjamin, para além do fato que a comunicação não é o essencial, o texto sagrado faz cessar a transferência óbvia, isso é, põe em cheque a noção comum de sentido, e por isso mesmo nos colocaria diante da essência da tradução (DERRIDA, 2006 [Torres de Babel], p. 34 e 71). 10. No final do prefácio dos Ensaios de Teodiceia: sobre a bondade de Deus, a liberdade do homem e a origem do mal, doravante E.T., que foi publicado cerca de sete anos depois do término dos NE, Leibniz chega a mencionar seu estranhamento com a língua francesa: “On a écrit dans une langue étrangère, au hasard d’y faire bien des fautes, parce que cette matière y été traitée depuis peu par d’autres, et y est lue davantage par ceux à qui on voudrait être utile par ce petit travail. On espère que les fautes du langage qui viennent non seulement de l’impression et du copiste, mais aussi de la précipitation de l’auteur, qui a été assez distrait, seront pardonnées; et si quelque erreur s’est glissée dans les sentiments, l’auteur sera des premiers à les corriger, après avoir été mieux informé: ayant donné ailleurs de telles marques de son amour de la vérité, qu’il espère qu’on ne prendra pas cette déclaration pour un compliment”. (LEIBNIZ, 1969, p. 49). Podemos dizer que, feita como resposta a Bayle, diferentemente dos N.E., pois, esta obra estava dirigida principalmente aos filósofos do continente. 185 Des mots, isso é, nos objetivos que fazem o fundamento dos capítulos I a III do livro III dos N.E.: os aspectos materiais das palavras (le matériel des mots). Uma obra que estaria diretamente associada com essa peculiaridade da “vida linguística”12. Assim, os capítulos I e II do livro Des mots dos N.E. de Leibniz podem ser considerados, com bastante pertinência,o pano de fundo da seguinte afirmação de Benjamin: aquela relação muito íntima entre as línguas, em que estamos a pensar, é a de uma convergência original [ou própria] (einer eigentümlichen Konvergenz), que consiste em as línguas não serem estranhas uma às outras, mas sim, a priori e sem pensar agora em todas as relações [ou referências] históricas, aparentadas [mutuamente ou] umas com as outras naquilo que querem dizer.13 12. No original o termo aparece negado “des nicht sprachlichen Lebens”. (BENJAMIN, 2008, p. 12). 13. BENJAMIN, Walter. A tarefa do tradutor (quatro traduções para o português). Org. Lúcia Castello Branco. Belo Horizonte: UFMG, 2008, p. 86. Se, pensando no que enunciamos mais acima, prestarmos atenção às opiniões aparentemente semelhantes de Leibniz e Benjamin, ou seja, que para ambos as línguas não são estranhas umas às outras (die Sprachen einander nicht fremd), mas sim mutuamente ou umas com as outras aparentadas (verwandt), e que justamente isso fundamentaria a possibilidade de tradução, a partir da presente citação da A.U., veremos que a simples aparência se revela na própria advertência de Benjamin, qual seja: a relação muito íntima entre as línguas é a de uma convergência original ou própria (einer eigentümlichen Konvergenz) – com o que Leibniz concordaria –, a priori – daqui em diante não mais – sem pensar em todas as relações ou referências, ou quem sabe ainda conexões históricas (historischen Beziehung); e esse final, precedido pela conjunção adversativa sondern, indica muito exatamente o limite da concordância aparente. Mas, para compreendê-lo adequadamente é preciso fazer uma pertinente parada. Da transferência óbvia e da língua radical primitiva 186 Leibniz já havia se detido em um possível a priori, que poderia fazer compreender uma primeira tradução (transfer), ao tematizar as afirmações feitas por Locke em seu An essay concerning human understanding14 quanto à “origem de todas as nossas noções e conhecimentos”, e, a esse respeito, advertia: C’est que nos besoins [da nossa espécie] nous ont obligés de quitter l’ordre naturel des idées, car cet ordre serait commun aux anges et aux hommes et à toutes les intelligences en général et devrait être suivi de nous, si nous n’avions point égard à nos intérêts: il a donc fallu s’attacher à celui [ordem] que les occasions et les accidents, où notre espèce est sujette, nous ont fourni; et cet ordre ne donne pas l’origine des notions, mais pour ainsi dire l’histoire de nos découvertes.15 16 Ou seja, um a priori que dissesse respeito à ordem natural das ideias que constituiriam os objetos próprios não de uma, mas da língua primitiva está vedado à espécie humana, e o filósofo inglês estava enganado quanto à obviedade daquela transferência; além disso, se era dessa maneira que se pensava a significação da língua adâmica, que poderíamos associar à teoria mística da linguagem17, tal ordem estava perdida para todos nós, incluindo Adão. Leibniz teria, então, explicitado, mas talvez sem coragem de levar tal reflexão ao seu limite, os principais termos e lugares da crise do sentido18. 14. “It may also lead us a little towards the original of all our notions and knowledge, if we remark how great a dependence our words have on common sensible ideas; and how those which are made use of to stand for actions notions quite removed from sense, have their rise from thence, and from obvious sensible ideas are transferred to more abstruse significations, and made to stand for ideas that come not under the cognizance of our senses (…)”. LOCKE, 1952 [III, II, §5], p. 252 (A), grifo nosso. Cf. DERRIDA, 2006 [T.B.], p. 28. 15. LEIBNIZ, G. Nouveaux essais sur l’entendement humain. Paris: GF-Flamarion, 1990, p. 215, grifo nosso. 16. A desatenção a essa afirmação, o que ela compreende e suas consequências, levou alguns comentadores a considerarem equivocadamente Leibniz como um nominalista, é o que afirma, por exemplo, Frédéric Nef em seu Leibniz et le langage (cf. também A linguagem: uma abordagem filosófica, pp. 115-6); sobre esse ponto em específico, cf. nosso artigo “Leibniz e a linguagem: uma introdução”, no prelo. De qualquer modo, essa afirmação também nos adverte a tomar algum cuidado ao comparar o modo como Leibniz pensava a linguagem e o modo como Agostinho pensava que aprendemos a falar. O “diálogo solitário” e, quanto a Locke, “a transferência” exigiam que o conceito de ideia e a noção de expressão fossem problematizados adequadamente; certamente parte dos motivos que levaram Leibniz a escrever seu texto Quid sit idea. Quanto ao problema da língua de Adão e sua associação à natureza mais própria das coisas, cf. todo o capítulo “A prosa do mundo” de As palavras e as coisas (especificamente, FOUCAULT, 2002, p. 49); cf. também MERLEAU-PONTY, 2002 [A prosa do mundo], p. 26 e DERRIDA, 2006 [Gramatologia], p. 93. 17. BENJAMIN, Walter. Escritos sobre mito e linguagem. Org. Jeanne Marie Gagnebin. Rio de Janeiro: Duas cidades, 2011, p. 63. 18. Cf. DERRIDA, 2006 [T.B.], pp. 30-1. 187 De acordo com Leibniz, assumida tal impossibilidade, só restava então tentar reconstituir parte da história das nossas descobertas19 no que diz respeito às várias línguas que a espécie humana criou; e aqui é preciso fazer algumas outras advertências, não mais a partir dos N.E., mas de um texto escrito um pouco depois, o Brevis designatio meditationum de originibus gentium ductis potissimum ex indicio linguarum, de 171020; isso porque, no Brevis, afirmava o alemão: “nascidos pouco a pouco conforme a ocasião [ou seja, por acaso], os vocábulos surgem nas línguas a partir da analogia dos sons emitidos (vox) com as paixões (affectus); de algum modo a sensação é comparada com a coisa (qui rei sensum comitabatur)21. Tenho para mim que não foi de outro modo que Adão atribuiu nomes (nec aliter Adamum nomina imposuisse crediderim)”22. Essa afirmação completava a advertência feita um pouco antes no texto, a saber: “as línguas nem surgiram ex instituto [nem], por assim dizer, foram estabelecidas por convenção; mas certo ímpeto natural nascido dos homens (sed naturali quodam impetu natae hominum); dos sentimentos e paixões que se ajustam aos sons (sonos ad affectus motusque animi attemperatium) [é que as fez surgir]”. Ou seja, de uma só vez era necessário também recusar as opiniões de Crátilo e Hermógenes, extremos das opiniões de que as línguas eram naturais ou de que as línguas eram por convenção (ou ex instituto)23. Quando se trata de línguas derivadas, o que temos é a mistura (mêlé – NE III, III, §1) da escolha e do acaso; por consequência, tinha de ser recusado o contemporâneo convencionalismo extremo de Locke. Por outro lado, tal afirmação também atingia o “mito” em que acreditava toda uma longa lista de autores que buscavam encontrar uma língua de ordem superior que havia sido utilizada por Adão, defensores da posição extremada de que as línguas eram naturais ou dadas por Deus e partiam da língua universal primitiva, uma linguagem pura histórica associada a um acontecimento não babélico24. 22. LEIBNIZ, G. W. “Breve plano das reflexões sobre as origens dos povos traçado principalmente a partir das indicações [contidas] nas línguas”. Intr. Olga Pombo, trad. e notas de Juliana Cecci Silva e William de Siqueira Piauí. In: Kairos Revista de Filosofia & Ciência – Universidade de Lisboa, nº 4, 2012, pp. 119-149. Disponível em: http://kairos.fc.ul.pt/nr%204/Kairos%204.pdf (último acesso: 02 fev. 2013), pp. 126-127. 23. Cf. Platão, Crátilo, 383 a-b; 2001, p. 145. 24. Cf. DERRIDA, 2006 [T.B.], p. 66-71; quanto à menção ao mito, cf. MERLEAU-PONTY, 2002, p. 27. 19. O uso do termo “descoberta” e não “invenção”, pelo filósofo que gostava de dizer que a lógica aristotélica é suficiente para julgar, mas não para inventar, certamente indica o afastamento da noção de convenção ou artificialidade dessa parte de suas investigações sobre a linguagem. Contudo, se pensamos no que dizia Benjamin, Leibniz, ao contrário de Locke, parece não ter esquecido que as coisas só têm nome próprio, em seu sentido primeiro, em Deus, daí que as línguas nomeiam de fato utilizando apelativos, marcando sua distância da palavra de fato criadora. Cf. BENJAMIN, 2011, p. 61. 20. A tradução integral do Brevis (de Brevis designatio meditationum de originibus gentium ductis potissimum ex indicio linguarum, em português: Breve plano das reflexões sobre as origens dos povos traçado principalmente a partir das indicações [contidas] nas línguas) pode ser encontrada em Kairos Revista de Filosofia & Ciência – Universidade de Lisboa, nº4, 2012, p. 119-49. 21. Vejam que a transferência não é tão óbvia, é difícil dizer exatamente como a sensação é comparada com a coisa, e como determinadas paixões parecem dar origem a determinados sons, em muitos casos obras do acaso; talvez por isso mesmo também era difícil dizer até que ponto o Aristóteles do De interpretatione devia ser considerado um convencionalista; cf. DERRIDA, 2006 [G], p. 13 e HEIDEGGER, 2003 [O caminho para a linguagem], p. 193. Nos N.E. Leibniz afirmava: “Sans parler d’une infinité d’autres semblables appellations, qui prouvent qu’il y a quelque chose de naturel dans l’origine des mots, qui marque un rapport entre les choses et les sons et mouvemens des organes de la voix; et, c’est encore pour cela que la lettre L, jointe à d’autres noms, en fait le deminutif chez les Latins, les demi-Latins et les Allemands supérieurs” (LEIBNIZ, 1990 [III, II, §1], p. 220). 188 Voltando ao que dizíamos, nos NE, parte do fundamento da unidade das línguas que permitiria compreender a unidade perdida das nações, isso é, sua história, era expressa do seguinte modo: De sorte qu’il n’y a rien en cela, qui combatte et qui ne favorise plutôt le sentiment de l’origine commune de toutes les nations, et d’une langue radicale primitive. Si l’hébraïque ou l’arabesque25 y approche le plus, elle doit être au moins bien altérée, et il semble que le teuton a plus gardé du naturel, et (pour parler le langage de Jcaques Böhm26) de l’adamique: car si nous avions la langue primitive dans sa pureté, ou asséz conservée pour être reconnaissable, il faudrait qu’il y parût les raisons des connexions soit physiques27, soitd’une institution arbitraire, sage et digne du premier auteur”.28 Quer dizer, dentre outras coisas, que a conexão que serve de base para a ligação entre as nações tem um fundamento que compreende as línguas em geral e que, até certo ponto, permitiria pensar que mesmo a diversidade das línguas não foge ao “princípio de razão suficiente”29 e à “harmonia preestabelecida”, que parecem estar expressos em uma infinidade de onomatopeias conservadas nas línguas30, evidências históricas daquela unidade das nações, perdida para a história, e da existência d’une langue histórica radicale primitive. Certamente não é daquele a priori perdido, ou da língua superior, ou da língua radical primitiva e pura que estava falando Benjamin, mas é óbvio que ele conhecia a problematização que remontamos aqui, e que ela deveria fazer inclusive o pano de fundo de suas opções conceituais no desenvolvimento de A tarefa do tradutor. De qualquer modo, e como esperamos ter deixado transparecer, Leibniz certamente criticaria o fato de Benjamin ter abandonado tão rapidamente o solo fértil da “história”, o a posteriori, tão rico em “analogias” entre as línguas, os costumes, os povos, os climas, as localidades, as nações. Na verdade, ao pensarmos no título do Brevis, isso é, que Leibniz havia escrito um Breve plano das reflexões sobre as origens dos povos traçadas principalmente a 29. Também na carta a Sparvenfeld de 29 de novembro de 1697 (a tradução dessa carta pode ser encontrada no site www.leibnizbrasil.pro.br), Leibniz afirmava que “não existe nada sem razão”. Quanto às onomatopeias, vide nota 41. 30.LEIBNIZ, G. W. “Breve plano das reflexões sobre as origens dos povos traçado principalmente a partir das indicações [contidas] nas línguas”. Intr. Olga Pombo, trad. e notas de Juliana Cecci Silva e William de Siqueira Piauí. In: Kairos Revista de Filosofia & Ciência – Universidade de Lisboa, nº 4, 2012, pp. 119-149. Disponível em: http://kairos.fc.ul.pt/nr%204/Kairos%204.pdf (último acesso: 02 fev. 2013), pp. 126-127. 25. Quanto à que língua seria a mais primitiva (aqui, hebraico ou árabe), na carta ao linguista sueco Johan Gabriel Sparvenfeld (ou Sparwenfeldt, 1655-1727) de 7 de abril de 1699, Leibniz afirmava: “é divertido ver como cada um quer tirar tudo de sua língua ou daquela pela qual tem afeição, Goropius Becanus e Rodornus da alemã (sem distinguir as novas inflexões daquilo que é da língua antiga). Rudbeckius do escandinavo, um certo Ostrocki do húngaro, este abade francês (que nos promete as origens das nações) do baixo bretão ou cambriano, Praetorius (autor do Orbis gallicus) do polonês ou esclavão; Thomassin, depois de muitos outros, e Bo[r]chart inclusive, do hebreu ou fenício, Ericus, alemão estabelecido em Veneza, do grego. E eu acredito, se um dia os turcos ou tártaros [se tornassem] eruditos ao nosso modo, que eles encontrarão em sua língua e em seu país palavras ou alusões das quais eles provarão com o mesmo direito que o senhor, [e defenderão, então,] que os Argonautas, Hércules, Ulisses e outros heróis foram deles, e que os deuses saíram de seu país e de sua nação. Eles encontrarão muitas passagens dos antigos favoráveis à sua hipótese”. A tradução da presente carta se encontra no prelo; quanto aos outros nomes mencionados aqui e à questão de qual seria a língua mais próxima da primitiva, vide também notas 32 e 40. 26. Leibniz menciona o filósofo e místico alemão Jacob Boehme (1575-1624); cf. também DERRIDA, 2006 [T.B.], p. 14 e 2006 [G], p. 94. 27.Sua apresentação de razões físicas e de instituição arbitrária faz de Leibniz um misto de Crátilo e Hermógenes, assim como de nominalismo e realismo. 28. LEIBNIZ, G. Nouveaux essais sur l’entendement humain. Paris: GF-Flamarion, 1990, p. 218-19, grifo nosso. 189 partir das indicações [contidas] nas línguas31, é fácil supor que seu autor teria criticado Benjamin por ter abandonado tão rapidamente aquilo que permitiria reconstituir parte da história perdida, ou seja, a conexão histórica das línguas, a qual permitiria compreender as origens dos povos; por ter abandonado tão rapidamente aquilo que parece ser a prova mais definitiva do que há de comum nas línguas a partir de seus parentescos (apparentés – cognatae), isso é, uma infinidade de onomatopeias que surgem do que há de mais íntimo e comum aos homens, seus instintos (instinct naturel – naturalis impetus), seus sentimentos ou paixões (affectus), aquilo que constituía as razões físicas (raisons physiques – NE, III, II, §1) daquelas conexões. Mas certamente a distância entre ambos se dá principalmente porque o problema de Leibniz não é a tradução de uma obra de arte de uma língua para outra, mas a tentativa de criar ou encontrar, a partir do parentesco entre as línguas, uma língua universal fábula antiga e mito ainda mais antigo que, para Leibniz, tinha pelo menos dois objetivos principais: destruir a torre de Babel32 e comprovar a antiguidade dos germanos na Europa33. O primeiro objetivo também havia sido compartilhado por Locke e o segundo tinha a ver com a defesa da hipótese de que os germanos tinham origem nos povos celto-citas, sendo uma das ramificações mais antigas da Europa34, o que já havia esclarecido a genealogia dos membros da Casa de Brunswick a ponto de elevá-los do ducado de Hanôver ao eleitorado do Sacro Império Romano. Por isso mesmo, o segundo ponto gerava um amplo debate político, muitas vezes agressivo, e uma vasta produção nas áreas da história, etimologia e 34. Nos N.E. essa tese também é afirmada do seguinte modo: “Assim, parece que por um instinto natural (instinct naturel) os antigos germanos, celtas e outros povos com eles aparentados (apparentés) empregavam a letra R para exprimir um movimento violento em um ruído que corresponde ao que se produz pronunciando esta letra”. (LEIBNIZ, 1990 [NE, III, II, §1], p. 219); cf. também Brevis designatio, p. 2 do original. Os §§ 136-143 dos E.T. (a tradução pode ser encontrada no site www.leibnizbrasil.pro. br) são a própria expressão do que se pretende com a explicitação de tal parentesco; eles apresentam as evidências históricas, a partir do parentescos entre determinados vocábulos, para a defesa da hipótese segundo a qual as origens das nações podem ser compreendidas a partir do parentesco entre as línguas e que os germanos tinham origem nos povos celto-citas, sendo um dos povos mais antigos da Europa. Trata-se de uma série de considerações a partir do significado de determinadas denominações (apellationes) e paixões (affectus) associadas a determinadas letras que encontram respaldo em muitas autoridades (E.T., § 142) em história, filologia e etimologia. A esse respeito, Leibniz trocou uma vasta correspondência com muitas das “autoridades” que viviam em sua época; Goropius Becanus (15191572) e Adrianus Rodornius Scrieckius (1560-1621) já haviam defendido a hipótese de que os germanos estavam entre os povos mais antigos da Europa e encontraram a oposição de, dentre muitos outros, Matthaeus Pretorius (1635-1704), Louis Thomassin de Eynac (1619-1695), Samuel Borchardt (15991677), Paul-Yves Pezron (abade da Charmoye), Ericus Johanis Schroderus (c. 1608-1639), Olaus Johannis Rudbeck (1630-1702) e Johan Gabriel Sparvenfeld (1655-1727). 31. No início da carta a Sparvenfeld de 6 de dezembro de 1695, Leibniz tematizava a connexion des langues e formulava uma de suas hipóteses gerais segundo a qual ela permitiria compreender a connexion des nations (a tradução integral desta carta se encontra no prelo e será publicada em o mutum - revista de literatura e pensamento). O Brevis será a própria expressão dessa hipótese; nele Leibniz afirmará: “Visto que as ‘origens dos povos’ [mais] remotos estão para além da história, as ‘línguas’, em seu lugar, são os monumentos dos [povos] antigos” (LEIBNIZ, 1710, p. 1). A busca de evidências para a defesa da hipótese segundo a qual as origens das nações podem ser compreendidas a partir das línguas será o motivo de Leibniz pedir a Sparvenfeld, no final da carta de 29 de janeiro de 1697 (a tradução dessa carta pode ser encontrada no site www.leibnizbrasil.pro. br), que apresentasse um risttreto sobre o assunto. Além disso, no final da carta é mencionado um “além da história” que se associa à perda da unidade das línguas após a inundação, o dilúvio. Entendido como um plano ou projeto, o Brevis já havia sido anunciado no §2 do capítulo II do livro III dos N.E., mas também podemos considerá-lo associado ao pedido de elaboração daquele ristretto. 32. LEIBNIZ, G. Nouveaux essais sur l’entendement humain. Paris: GF-Flamarion, 1990, p. 267. 33. LEIBNIZ, G. Essais de théodicée: sur la bonté de Dieu la liberté de l’homme et l’origine du mal. Paris: GF-Flamarion, 1969, p. 193. 190 filologia. De qualquer modo, todo o trabalho que Leibniz teve para manter tais teses também era suficiente para mostrar que não se tratava mais da época do Crátilo de Platão (c. 423-347 a.C.) ou do De interpretatione de Aristóteles (384-322 a.C.) e que a discussão sobre a relação da linguagem com os estados e as afecções ou paixões da alma35 e se as línguas eram naturais (opinião do personagem Crátilo) ou ex instituto (opinião do personagem Hermógenes e de Aristóteles) tinha de passar não só por investigações sobre o entendimento humano, mas também pelas novas descobertas da etimologia e filologia, isso é, da história das línguas, o que fazia soarem meio ridículas as observações tão rápidas, e sem qualquer menção a esta imensa produção, feitas pelo filósofo inglês John Locke, principalmente nos capítulos I, II e III do livro III de seu Um ensaio sobre o entendimento humano. 35. ARISTÓTELES, 2010 [De interpretatione, 16 a 5], p. 81. Como muito bem perceberam, dentre outros, Heidegger no início de O caminho para a linguagem e Derrida no início de Gramatologia, era preciso reproblematizar os fundamentos de tal afirmação, isso é, intensificar a crise da velha noção de sentido. Vide nota 19. As águas da teoria tradicional da tradução ou sobre a metafísica das línguas de saída Voltemos ao ponto em que havíamos parado. A fim de fazer compreender as dessemelhanças de seu objetivo e ponto de partida com relação aos perigos da empreitada leibniziana, mesmo que muitas das observações feitas por Leibniz tivessem contribuído para a valorização da “história”, advertia Benjamin: “nossa reflexão parece ir desaguar de novo na teoria tradicional da tradução”36. É preciso ter cuidado, pois, quanto à verdadeira distância que separa ambos os alemães; se, por um lado, Leibniz não estava explicitamente preocupado com o problema da tradução, por outro, o todo de suas investigações parece estar intimamente ligado às bases da teoria tradicional ou costumeira da tradução (in die herkömmliche Theorie der Übersetzung); ou seja, mesmo com aquele a priori perdido37, referente a l’ordre naturel des idées, a empreitada leibniziana no sentido do a posteriori, referente a l’histoire de nos découvertes, era suficiente para fornecer os principais fundamentos teóricos do que se costumava entender por traduzir. E, também por isso mesmo, advertia mais uma vez Benjamin: 36. BENJAMIN, Walter. A tarefa do tradutor (quatro traduções para o português). Org. Lúcia Castello Branco. Belo Horizonte: UFMG, 2008, p. 86. 37. Vale lembrar que Leibniz defendia uma teoria do conhecimento, associada às línguas artificiais ou à Characteristica universalis, que praticamente fazia voltar aquele fundamento. No espírito do que temos dito até aqui, um resumo do projeto leibniziano de uma língua ou característica universal pode ser encontrado em DERRIDA, 2006 [G], pp. 93-101, projeto amplamente considerado no livro Leibniz e o problema de uma língua universal de Olga Pombo. 191 Se aquilo que tem de afirmar-se na tradução é o parentesco entre as línguas (die Verwandtschaft der Sprachen), como poderia ela fazê-lo a não ser através da transmissão, o mais exato possível, da forma e do sentido da obra. É certo que aquela teoria não saberia como dizer em que consiste esta exatidão, não estaria, pois, em condições de dar conta do que é essencial numa tradução.38 Ora, nesse sentido, podemos dizer que a empreitada de um Leibniz, sua busca pela origem das línguas e parentesco entre elas, apresentada nos três primeiros capítulos do livro III (Des mots) dos Nouveaux essais, parece justamente oferecer as águas que faziam o fundamento de tal advertência e – se incluímos o que está afirmado no Brevis, algumas das cartas ao linguista sueco Sparvenfeld e os §§ 136-143 dos Essais de Theodicée, ao encontrar o que há de comum nos homens e daí nas línguas, o parentesco entre as palavras e as paixões de origem – encontrava ou explicitava o que supostamente há de essencial nas línguas em geral e que permitiria, pois, aquela tradução tranquila e sempre possível entre elas. Será que podemos concluir que seria a isso que Benjamin chamaria de os fundamentos da teoria tradicional da tradução? Como confirmação de nossa opinião, podemos lembrar, dentre outras, a fala de Haroldo de Campos, para quem o “modo de reprodução (Darstellungmodus)” benjaminiano característico da tradução é independente de “todo parentesco etimológico ou histórico”39 40; bem como a de Derrida (1930-2004), para quem um “dos temas essenciais do texto [A tarefa do tradutor] é o parentesco das línguas em um sentido que não é mais tributário da linguística histórica do século XIX”41. De fato, a época de Leibniz ofereceu muitos pais para a linguística histórica do século XIX. Eis a total pertinência de uma reavaliação daquela empreitada, de investigarmos quais são seus limites e até que ponto ela oferecia os fundamentos daquela visão de tradução, ou se também estava baseada neles. 38. BENJAMIN, Walter. A tarefa do tradutor (quatro traduções para o português). Org. Lúcia Castello Branco. Belo Horizonte: UFMG, 2008, p. 86, grifo nosso. 39. CAMPOS, Haroldo. “Transluciferação Mefistofáustica”. In: Deus e o Diabo no Fausto de Goethe. São Paulo: Perspectiva, 1981, p. 179. 40. Os textos de Leibniz que temos mencionado, especialmente o Brevis, permitiriam compreender as ideias mais básicas daquele jogo etimológico que Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) lembrava a partir da obra de Karl Philipp Moritz (1756-1793); cf. CAMPOS, 1981, p. 184. 41. DERRIDA, Jacques. Torres de Babel. Trad. Junia Barreto. Belo Horizonte: UFMG, 2006, p. 28. Em termos mais gerais e mais fundamentais, se pensamos no que Benjamin afirma na p. 86 da A.U., talvez tenhamos de ir ao limite de afirmar que Leibniz sempre esteve comprometido, inclusive, com uma “teoria do conhecimento” que demonstrava, ou pensava demonstrar, a possibilidade da imitação muito semelhante àquela transferência primeira e óbvia afirmada por John Locke, e a busca pelo alfabeto dos pensamentos humanos por parte do 192 filósofo das mônadas42 – associada ao fato de que a linguagem também serve para raciocinar (N.E., III, II, §2) – seria a explicitação disso, mesmo apesar daquela tímida, e muitas vezes falsamente afirmada, impossibilidade do a priori43. Em uma palavra, para Leibniz o conhecimento era objetivo, no sentido que podemos alcançar ao menos parte das cópias do real (mas agora a priori e que se manifesta no a posteriori, possível-real no efetivo-existente – N.E., IV, IV), especialmente quando se trata de línguas artificiais ou da Characteristica universalis, e é esse, sem dúvida, um dos principais problemas enfrentados nos N.E. a partir do capítulo III do Des mots e de grande parte do livro IV, o De la connaissance, sendo esse o último lance leibniziano contra a tabula rasa de Locke. Tais problemas também devem, a partir desse capítulo III, ser interpretados sob a luz das línguas artificiais ou ex instituto, até a da lógica 42. Não é sem mais, portanto, que Heidegger, ao lembrar o fato de que Humboldt era um leibniziano defensor da noção de essência da linguagem como energeia, lembre a Monadologia e não o Brevis designatio; é nela que podemos encontrar uma reafirmação da metafísica do sentido a partir da total espontaneidade da mônada, cf. HEIDEGGER, 2003, p. 195-9. 43. Mesmo que essa parte das investigações de Leibniz esteja diretamente associadas às línguas artificiais, às não históricas, ela certamente coloca o problema da fácil e tranquila tradução dos textos técnicos, que, em geral, parte de uma língua grandemente construída artificialmente. Quanto à importância da separação entre as línguas históricas e artificiais, na p. 2 da versão original do Brevis, Leibniz afirmava: “Quantas vezes for possível penetrar até a raiz da onomatopeia (τῆς ὀνοματοποίιας), é isso que põe a descoberto a origem primeira dos vocábulos. No entanto, a maior parte é arrastada pelo tempo; assim, as antigas e as primitivas (nativae) significações são modificadas ou obscurecidas pelas numerosas versões. De fato, as línguas nem surgiram ex instituto [nem], por assim dizer, foram estabelecidas por convenção; mas certo ímpeto natural nascido dos homens, dos sentimentos e paixões que se ajustam aos sons [as fez surgir]. Eu excluo [dessa caracterização] as línguas artificiais, sobre as quais Wilkins, o bastante engenhoso bispo de Chester, tinha uma excelente doutrina (que, todavia, como ele mesmo me disse, somente uma única pessoa – salvo ele próprio e Robert Boyle – tinha aprendido) a qual Golius, um juiz não sem valor, suspeitava ser a chinesa; [considerando] que possivelmente essa fora ensinada aos mortais por Deus”. Leibniz faz referência a John Wilkins (1614-1672), teólogo, filósofo e secretário inglês da Real Society de Londres; foi autor de um manual de criptografia intitulado Mercury, or the secret and Swift Messenger (1641), no qual ele aperfeiçoava o método de George Dalgarno (1626-1687); também ficou famoso por propor um sistema para uma língua artificial filosófica de uso universal, o que é mencionado aqui. Leibniz também se refere a Robert Boyle (1627-1691), célebre físico, químico e filósofo irlandês que escreveu, dentre outras obras, The Sceptical Chymist (1661); e a Jacob Golius (1596-1667), matemático e orientalista holandês, professor na Universidade de Leyde que colaborou na redação do Novus Atlas Sinensis (1655) de Martino Martini (1614-1661), cartógrafo, historiador e jesuíta italiano que foi missionário na China. 193 ou das matemáticas, por exemplo44. Assim, intelectos e instintos humanos comuns, pouca contribuição no sentido da ampla diferença das histórias distintas dos mais variados povos, eis os primeiros fundamentos da tradução fácil e tranquila da violência colonial, da língua histórica que se pretendia universal45 46. 44. Se quiséssemos levar a metafísica leibniziana do possível-real no efetivo-existente associada aos fundamentos de sua noção de Caracteristica universalis, que pode inclusive ser considerada o ponto de partida das ideias que fizeram o pano de fundo da empreitada fregeana ou russelliana, bastava nos atermos um pouco à seguinte afirmação feita já no livro IV dos N.E.: “Que um mais um faz dois não é propriamente uma verdade, mas a definição de dois. Embora haja isto de verdadeiro e de evidente que é a definição de uma coisa possível. (...) Definições: 1) Dois são um mais um. 2) Três são dois mais um. 3) Quatro são três mais um. Axioma: Colocando em lugar dos números coisas iguais, a igualdade permanece. Demonstração: 2 mais 2 são 2 mais 1 mais 1 (em virtude da definição 1)... 2+2. 2 mais 1 mais 1 são 3 mais (em virtude da definição 2)...2+1+1. 3 mais 1 são 4 (em virtude da definição 3)...3+1. Por conseguinte (em virtude do axioma) 2 mais 2 são 4. É o que se cumpria demonstrar”. (LEIBNIZ, 1984 [cap. VII, § 6-10], pp. 330-4, grifo nosso). De qualquer modo, para esse tipo de empreitada valeria a crítica daquele que já havia saído em busca dessas Chimären, ou seja, no §94 de suas Philosophische Untersuchungen, L. Wittgenstein explicitava a base da maioria das metafísicas da lógica e da matemática ao afirmar: “Die Tendenz, ein reines Mittelwesen anzunehmen zwischen dem Satzzeichen und den Tatsachen” (WITTGENSTEIN, 1958, p. 44, grifo nosso). Era essa a tendência da metafísica leibniziana do possível-real e das verdades eternas que seriam o fundamento das verdades e objetos da lógica e da matemática; mas não é nosso objetivo aqui tratar das linguagens artificiais, as não históricas ou convencionais. 45. DERRIDA, Jacques. Torres de Babel. Trad. Junia Barreto. Belo Horizonte: UFMG, 2006, p. 14-15. 46. Dado que os germanos têm origem nos celtas, era preciso afirmar a precedência destes, e é justamente o que Leibniz afirma no Brevis, do seguinte modo: “Dividiremos, não incorretamente, as línguas derivadas de uma [língua] antiga largamente difundida em duas espécies: as japéticas, como assim foi chamada, e as aramaicas. As japéticas se difundiram pela [região] setentrional, as aramaicas [pela] meridional; de fato, considero toda nossa Europa [como pertencente à região] setentrional. Daí que se as setentrionais se referem a Jafé, as meridionais, não sem razão, serão atribuídas aos descendentes de [seus] irmãos Sem e Cam. Jápeto também [foi considerado] aquele de quem Prometeu (o que fabricou os homens) [era] filho, além disso, e como já tinha conhecimento Homero, os mitólogos tinham-no colocado para Cáucaso, a aramaica (ou Arimi) para os sírios”. É, pois, das línguas jaféticas [ad Japhetumreferas] que derivam a língua dos citas e a dos celtas, consequentemente, delas derivam todas as línguas europeias, lembrando que os germanos poderiam ser considerados seus “parentes” mais próximos (cf. ET, II, §138). Cf. DERRIDA, 2006 [T.B.], p. 14. Também é preciso lembrar o seguinte, alguns intérpretes e escritores cristãos – dentre eles, o contemporâneo de Leibniz, John Milton (1608-1674) em seu O Paraíso Perdido – identificavam o titã Jápeto (Japetum) da mitologia grega com o mesmo Jafé (Japhetum), com base na similaridade do nome e na tradição bíblica que considerava todos os povos do mundo como descendentes dos três filhos de Noé. Na tradição bíblica, os descendentes de Jafé teriam se dispersado nas margens do Mediterrâneo da Europa e da Ásia Menor, ao norte de toda a Europa e em uma parte considerável da Ásia; por isso, Jafé é considerado o ancestral dos diferentes ramos da grande família indo-germânica. Jápeto, na mitologia grega, era um dos titãs filhos de Urano e Gaia; segundo a Teogonia de Hesíodo, uniu-se a Clímene (em Pausânias, ela se chama Ásia), filha de Oceano, e teve com ela quatro filhos: Atlas (“suportar”), Prometeu (“pensamento previdente”), Epimeteu (“pensamento tardio”) e Menécio (“poder condenado”, ligado à raiva e à imprudência). 194 Se voltarmos um pouco e agora pensarmos com Derrida e os filósofos da diferença, Leibniz não saberia reinventar a narrativa da torre de Babel sem tentar destruí-la; buscaria seu “sentido original único”, desejaria, e ele o confessa nos N.E., III, IX, §8, ultrapassar tal evento, ora buscando o parentesco entre as línguas, ora o alfabeto dos pensamentos humanos, ora as possibilidades reais no intelecto divino47. Leibniz gostaria, em certo sentido, de fazer cessar a história, de se mover no, agora sim, “a-histórico”48, no sem atrito; fazer expiar aquele pecado, anterior à Babel, que nos fez abandonar a ordem natural das ideias; gostaria de “negar o processo histórico” no sentido benjaminiano do termo, gostaria de encontrar aquela ordem natural perdida que era comum a nós e aos anjos, comum à toutes les intelligences en général, e que fundaria a transferência absoluta. Já o dissemos: Leibniz buscava encontrar ou inventar também o alfabeto dos pensamentos humanos! O filósofo das mônadas procurava o que há de essencial nas mais variadas mudanças e transformações das línguas em geral, justamente contra a “vida mais própria da língua e das obras”49. O modo como Leibniz via a linguagem fazia da seguinte conclusão algo apenas temporário: “Se o tom e a significação dos grandes textos se alteram totalmente no decorrer dos séculos, também a língua materna do tradutor muda”50. Era isso que ele gostaria de evitar. Língua materna que muda todo o tempo? Eis para Leibniz a aporia: tradução versus transmutação e língua materna versus língua viva. Não há passagem? Tours de Babel eternos, torre interminável, volteios sem fim. Portanto, duas visões bem diferentes de história e de tradução (transmutação). Agora, é o “santo crescimento das línguas” “até o termo messiânico da história”51. Obviamente que, apesar do solo de nascimento e vida, há mais de comum entre um Benjamin e um Derrida, que entre aquele e Leibniz. Como já havia advertido Heidegger (1889-1976), precisávamos renunciar ao que fundamentava as afirmações de um Humboldt (1767-1835) ou, como advertia Merleau-Ponty (1908-1961), precisávamos recolocar “a fala” na história. Assim, o que Benjamin não podia deixar de reafirmar era, então, o processo de crescimento e devir, a santa renovação interminável das línguas em geral, e nada melhor que fazê-lo criticando aquela tradição que havia nutrido seu solo, um solo a-histórico. De qualquer modo, parece só existirem duas 47. Cf. DERRIDA, 2006 [G], p. 93. Em termos da tradução que André Chouraqui fez do Gênesis I, 11, Leibniz não aceitaria que “palavras uniformes” estivessem se referindo ao fato de que “a unidade original feita de diversidades degradouse em uniformidades” e que essa seria a “causa da decadência e da queda”; ou seja, o contrário do que ele e boa parte dos filósofos pensaram até pelo menos o final do séc. XIX, total inversão do que de fato era santo. 48.DERRIDA, Jacques. Gramatologia. Trad. Miriam Chnaiderman e Renato Janine Ribeiro. São Paulo: Perspectiva, 2006, p. 94. 49. BENJAMIN, Walter. A tarefa do tradutor (quatro traduções para o português). Org. Lúcia Castello Branco. Belo Horizonte: UFMG, 2008, p. 87. 50. BENJAMIN, Walter. A tarefa do tradutor (quatro traduções para o português). Org. Lúcia Castello Branco. Belo Horizonte: UFMG, 2008, p.87. 51. DERRIDA, Jacques. Torres de Babel. Trad. Junia Barreto. Belo Horizonte: UFMG, 2006, p. 68. 195 opções extremas: ou tradução e original que tomam como ponto de partida o processo histórico inesgotável ou tradução de uma língua morta para outra língua morta, inclusive com contribuições de um modo equivocado de pensar a língua de chegada, original morto e tradução morta; eis na segunda parte da disjunção o sonho confesso da teoria tradicional da tradução, a metafísica das línguas de saída, que podiam vislumbrar seu principal fundamento na empreitada de um Leibniz, dentre muitos outros, e pouco importa agora se convencionalistas, naturalistas ou mistos. Por isso mesmo Benjamin tinha de ser preciso: “Quando, na tradução, se manifesta o parentesco entre as línguas, isso se dá de modo diferente do da vaga semelhança entre imitação (Nachbildung) e original (Original)52. É, aliás, óbvio que não tem necessariamente de existir semelhança (Ähnlichtkeit) no parentesco (Verwandtschaft)”.53 52. Se a pretensão de Benjamin é elevar a prática tradutória de um Lutero ou um Hölderlin, é claro que é preciso discutir em que termos se dá a imitação do original, e ela não deve ser pensada a partir da vaga semelhança entre a imitação e o original; será preciso esclarecer qual a relação entre o original e a obra traduzida, de que modo eles se relacionam a ponto de podermos falar em imitação e transposição poética (Umdichtung). Como veremos adiante, esse esclarecimento será feito a partir da noção de intencionalidade. 53. BENJAMIN, Walter. A tarefa do tradutor (quatro traduções para o português). Org. Lúcia Castello Branco. Belo Horizonte: UFMG, 2008, p.87. 54. Cf. DERRIDA, 2006 [T.B.], p. 65. Novamente “parentesco”? Mas, como advertia o próprio Benjamin, agora seu significado deveria ser associado ao seu uso mais restrito (engern Gebrauch), sendo necessário rever sua ligação com o conceito de descendência ou ascendência, de origem (Abstammungsbegriff)54. Justamente contra o que fazia a base da seguinte afirmação: A palavra (vox) Mar ou Mare [foi] conhecidíssima dos antigos teutões (para os quais Mareschalcus55 é quem está à frente dos cavalos), atualmente elas subsistem entre os germânicos. Além disso, a própria palavra Mar, e outras aparentadas (cognata), foi conhecida dos antiquíssimos tártaros (remotissimis Tartaris). O mesmo sentido foi conhecido (eodem sensu cognita est) a partir deles até os chineses (...).56 Ou seja, ainda em termos de sentido, Leibniz buscava o cognatus entre as palavras utilizadas por várias nações, indo cada vez para o mais antigo, no sentido do mais próximo da primeira língua, o que é apresentado em muitas de suas obras; parentescos que poderiam provar, inclusive, o fato de que o 55. Ainda hoje, quando se fala em “marechal”, entende-se por este nome a patente mais alta da hierarquia militar. No entanto, sua etimologia remonta a significados que incluem “cavalo”; exemplos: “artesão encarregado das ferraduras dos cavalos”, “oficial encarregado dos cavalos”, “oficial responsável pelo comando de um exército (supõe-se que a cavalo)”, “criado doméstico que cuida dos cavalos”. 56. LEIBNIZ, G. W. “Breve plano das reflexões sobre as origens dos povos traçado principalmente a partir das indicações [contidas] nas línguas”. Intr. Olga Pombo, trad. e notas de Juliana Cecci Silva e William de Siqueira Piauí. In: Kairos Revista de Filosofia & Ciência – Universidade de Lisboa, nº 4, 2012. Disponível em: http://kairos.fc.ul.pt/nr%204/ Kairos%204.pdf (último acesso: 02 fev. 2013), p.3. 196 império germânico era o parente mais antigo das nações celto-cíticas e que certamente corroborariam a hipótese imperialista da tradução fácil e tranquila entre línguas, ao menos das de um mesmo tronco. Mas, se os aparentados (cognata) são a prova da conexão entre as línguas e da possibilidade fácil e tranquila da tradução, os falsos aparentados não seriam a prova contrária? E a infinidade de dialetos? As diversas intencionalidades de cultura? Eis a própria fraqueza da hipótese geral. A imitação fundada no parentesco entre as palavras utilizadas por nações distintas, questão diretamente associada ao problema também político da ascendência das línguas europeias e dos termos nelas empregados, bem como à ideia de original ou primitivo, seriam as fontes daquele modo de pensar a tradução, e o empreendimento de Leibniz tinha, pois, tudo a ver com aquele. “Mas apenas traços (lineamenta) ou vestígios (vestigia) são mesmo suficientes para corroborar tal hipótese?”, perguntaria um Derrida, ao que ele mesmo responderia: “Eis parte importante das loucuras das línguas!”57. Mas agora, voltando a Benjamin, é necessário pensar a língua mãe e o processo histórico de outro modo. E na verdade é isto que muda principalmente: nossa visão da relação entre os parentescos e a história. A pergunta agora é a seguinte: “em que plano podemos então encontrar o parentesco entre duas línguas, para lá do parentesco histórico”58? Vejam que Benjamin parece de fato estar lendo Leibniz; é como se a superação daquele modo como a história e a conexão entre as línguas eram pensadas fizesse o tempo todo o pano de fundo de sua argumentação. É justamente a partir daquele pano de fundo que Benjamin dá o salto, a saber: O parentesco supra-histórico entre as línguas reside antes no fato de, em cada uma delas como um todo, querer-se dizer59 uma e a mesma coisa, qualquer coisa que, no entanto, não é acessível a nenhuma delas isoladamente, mas apenas à totalidade das suas intencionalidades que se complementam umas às outras: à língua pura.60. 57. Cf. DERRIDA, 1996, p. 1167 e o artigo Kafka et Derrida: l’origine de la loi de CRÉPON, Marc (In: o mutum ◊ revista de literatura e pensamento.Org. Piero Eyben. Trad. e notas Juliana Cecci Silva; William de Siqueira Piauí. Brasília, Escritura: Linguagem e Pensamento, v. 1, n. 01, fev. 2013, p.128 a 145. Dossiê: Literatura: escrever o pensar).. No Brevis designatio, Leibniz afirmava: “Assim, a partir da mistura e da corrupção das outras é que nascem as novas línguas (...) e as repetidas corrupções, por fim, confundem todos os traços da origem das corrupções. Assim, não me admiro se o parentesco das nossas [línguas] com as línguas [daqueles povos] dos interiores da África e de todos [aqueles] da América não possa ser conhecido (Nam novae facile linguae nascuntur mixtura & corruptione caeterarum, (...) & repetitae corruptiones corruptionum omnia tandem originis lineamenta confundunt. Itaque non miror sit interiorum Africae & omnium Americae linguarum cognatio cum nostris agnosci potest).” LEIBNIZ, 1710, pp. 3-4. Duas, pois, são as principais fontes da impossibilidade de remontar à origem da língua primeira, as inundações (dilúvios) e as corrupções a que são sujeitas as línguas na história. 58. BENJAMIN, Walter. A tarefa do tradutor (quatro traduções para o português). Org. Lúcia Castello Branco. Belo Horizonte: UFMG, 2008, p. 88. 59. BENJAMIN, Walter. A tarefa do tradutor (quatro traduções para o português). Org. Lúcia Castello Branco. Belo Horizonte: UFMG, 2008, p. 88, grifo nosso. 60. Cf. DERRIDA, 2006 [T.B.], p. 45 e 48. 197 Em termos benjaminianos, as “línguas complementam-se (ergänzenden) umas às outras em suas intencionalidades (Intentionen)”; é esse o parentesco (Verwandtschaft) supra-histórico (überhistorische) entre as línguas que devemos buscar ao traduzir, mas ele se movimenta no infinitesimal do sentido, da circunferência. É preciso, pois, tomar muito cuidado com o sentido de “língua pura” em Benjamin (die reine Sprache), pois esse termo tem de estar associado ao supra-histórico, nunca definitivamente alcançado, mas que, no que diz respeito às traduções, e não aos originais, deve, no sentido que é necessário, servir de orientação61. Ou como adverte Benjamin: A tradução, diferentemente da arte, apesar de não poder aspirar à durabilidade das suas criações, não renuncia a orientar-se no sentido de um último, definitivo e decisivo estádio do trabalho criativo da linguagem [: a língua pura]. Nela [, tradução], o original sobe até uma atmosfera linguística por assim dizer mais alta e mais pura (höheren und reineren), na qual, é certo, não poderá viver eternamente – como nem sequer a alcança em todos os momentos da obra –, mas para a qual aponta pelo menos, de forma milagrosamente acutilante, como para essa região prometida e inalcançada da reconciliação e da plenitude das línguas. Nunca alcançará de forma total essa região, mas nela está aquilo que, numa tradução, é mais do que informação.62 Vejam que o sentido aqui foi invertido, o Stadium mudou de lugar. Deixando de lado a busca da Characteristica universalis, se Leibniz problematizava a partir da história a busca da langue primitive dans sa pureté e não a podia encontrar por conta do tempo, dos dilúvios, das corrupções e “supunha” uma protolíngua63, aqui o final deve ser idealizado de fato: está no acima (hinauf), daí novamente supra, no suprassensível além da história, pois, de saída, supomos que ele não pode de fato ser encontrado; apenas aponta para a região prometida e inalcançada da reconciliação e da plenitude das línguas. Atualizamos, a cada vez, pois, a reine Sprache ideal na tradução, a partir do parentesco supra-histórico (überhistorische Verwandtschaft der Sprachen). A obra (das Original) vive daquela atmosfera dinâmica que inclusive depende da sobrevida oferecida pela tradução64, mas a tradução vive daquela ideia, das alturas, e nesse sentido se eleva criativamente (e não pode ser de outro modo, 61. Cf. DERRIDA, 2006 [T.B.], p. 51, 54 e 57. 62. BENJAMIN, Walter. A tarefa do tradutor (quatro traduções para o português). Org. Lúcia Castello Branco. Belo Horizonte: UFMG, 2008, p. 89. 63. Foi por isso que o brasileiro Joaquim Mattoso Câmara Jr., no seu livro História da linguística (1979, p. 26), viu no Brevis designatio de Leibniz a base da linguística histórico-comparativa. 64. Cf. DERRIDA, 2006 [T.B.], p. 33, 38, 46 e 47. 198 já que não há totalidade última nas línguas efetivas) a própria tradução (agora enquanto uma obra) àquelas alturas. Segundo Benjamin, isso foi o que os românticos bem compreenderam (op. cit., p. 90). Nesse sentido, diferenciado o fazer poético para o original, o tradutor, apesar de sua obra ter respirado uma atmosfera imóvel, muitas vezes pode ser considerado mais poeta que o poeta do original (op. cit., pp. 90-1): a tradução é transposição poética65 66. 65. DERRIDA, Jacques. Torres de Babel. Trad. Junia Barreto. Belo Horizonte: UFMG, 2006, p. 47. 66. Cf. também, CAMPOS, 1981, p. 180. A tarefa do tradutor e o perigo da metafísica das línguas de chegada Feitas as distinções entre a sua “teoria” e a teoria tradicional da tradução, afastados os pontos de partida que deram origem à linguística histórica do XIX, da empreitada de um Leibniz, dentre outros, Benjamin enuncia, então, qual é a tarefa do tradutor: Ela consiste em encontrar na língua em que se está traduzindo aquela intenção por onde o eco do original pode ser ressuscitado. Trata-se aqui de uma característica da tradução que a distingue claramente da obra poética, pois que a intenção desta não visa a língua por si mesma e na sua totalidade, pretendendo apenas obter diretamente determinadas relações linguísticas. Porém, ao contrário do que acontece com a poesia original, a tradução não se encontra situada no próprio centro da floresta da língua, mas sim fora desta, e sem entrar nela a tradução invoca-a para aquele mesmo e único sítio onde o eco, através da própria ressonância da obra, pode transmitir-se a uma língua estranha.67 68. Como já havíamos feito notar, o ponto de partida é a intencionalidade (Intention) e agora sabemos que ela deve estar orientada principalmente para a língua da tradução, na qual é necessário fazer ouvir o eco do original. De qualquer modo, o erro do tradutor não podia vir de outra má compreensão: fixar uma totalidade na língua em que está traduzindo. Parece-nos que, se Leibniz buscava a origem das línguas, suas conexões e a partir disso a reforma da língua alemã, era justamente para fixar uma totalidade, nesse sentido diria 67. BENJAMIN, Walter. A tarefa do tradutor (quatro traduções para o português). Org. Lúcia Castello Branco. Belo Horizonte: UFMG, 2008, p. 35. 68. Por conta da ambiguidade presente nessa parte do texto, preferimos adotar aqui a tradução de Fernando Camacho, que se encontra na mesma obra já várias vezes citada. 199 também o tradutor que erra: d’en convenir pour détruire cette tour de Babel69. É justamente porque exigia o contrário disso que Benjamin lembra a fala de Rudolf Pannwitz (1881-1969), a saber: O erro fundamental de quem traduz é o de fixar o estado da língua própria, que é obra do acaso70, em vez de a fazer entrar em movimento intenso por intervenção da língua estrangeira. Ele deve, mais ainda se traduzir de uma língua muito distante, recuar até aos elementos primordiais da própria língua, lá onde palavra, imagem e sonoridade se confundem. Tem de alargar e aprofundar a sua língua através da língua estrangeira71. Não se imagina até que ponto isso é possível, até que limite se pode transformar, como as línguas se distinguem quase só como os dialetos. Mas é claro que isto só é assim se encararmos as línguas verdadeiramente a sério, e não levianamente.72 Isso quer dizer que Leibniz encarava as línguas de modo leviano? Sua tentativa de colocar os germanos como parentes primeiros dos cito-celtas não seria a própria expressão disso? E sua língua dos sábios que faria cessar a torre de Babel das chicanas filosóficas? E a oposição da língua-idioma-universal contra os dialetos? E sua associação com a alucinação europeia com relação à língua chinesa?73 Uma língua como a teutônica ou como a chinesa só em alguma medida o auxiliaria, só por um momento elas significavam expansão da sua, uma expansão para uma morte logo ali na frente, para a concretização de uma língua-idioma- universal. Uma expansão que pretendia uma totalidade imóvel, morta, que superaria a torre de Babel: defesa da fábula construtiva da língua filosófica do dizer bem, calcular, e, de modo definitivo, alcançar o real, a natureza própria das coisas. Fazer para si um nome?74 Excessiva confiança no não concedido! Para o Benjamin de Sobre a linguagem em geral e sobre a linguagem do homem, faltava uma teoria da linguagem adequada. Ora, mas segundo o Benjamin de A.U., se aquele, o de Leibniz, não era o modo adequado de pensar o parentesco entre as línguas e o fazer poético do original, ele podia reaparecer de forma invertida no fazer do tradutor, ou seja, o fazer tradutório pode pensar estar às voltas com a língua última de chegada; o tradutor pode justificar o não alargamento da língua em que ele traduz. Eis explicitada também uma fonte importante do imperialismo e das metafísicas da linguagem, agora da imposição e da metafísica da língua de chegada. Certamente, na tentativa de uma justificativa última de suas opções ou correções, muitas vezes injustificáveis, o tradutor, muitas vezes revisor, 69. LEIBNIZ, G. W. “Breve plano das reflexões sobre as origens dos povos traçado principalmente a partir das indicações [contidas] nas línguas. In: Kairos Revista de Filosofia & Ciência – Universidade de Lisboa, nº 4, 2012. Disponível em: http://kairos.fc.ul.pt/nr%204/ Kairos%204.pdf (último acesso: 02 fev. 2013), p. 300. 70. Hipótese que Leibniz havia corroborado. 71. Não seria esse o lugar para arriscarmos dizer que um Guimarães Rosa tinha muitas vezes exatamente essa intenção sem, no entanto, estar fazendo traduções ou inventando mitologias (sagas, lendas ou fábulas)? Não ia muito mais no sentido da multiplicação dos dialetos, quase individualizados diríamos, que de alguma totalidade morta da língua “portuguesa”? 72. BENJAMIN, Walter. A tarefa do tradutor (quatro traduções para o português). Org. Lúcia Castello Branco. Belo Horizonte: UFMG, 2008, pp. 96-97. 73. Tudo isso fundado no “preconceito especulativo” e na “presunção ideológica”; cf. DERRIDA, 2006 [G], p. 93. 74. Além da ficção da pirâmide, enunciada ao final dos Ensaios de Teodiceia (a partir do § 405); muitas vezes já temos chamado atenção ao empréstimo que Leibniz faz da analogia da torre criada por Tomás de Aquino para sair do labirinto do livre e do necessário; a mesma metafísica que garante aquele empréstimo está, portanto, operando aqui. Cf. PIAUÍ, 2009 [Realidade do ideal e substancialidade do mundo em Leibniz (tese de doutoramentoFFLCH-USP)], p. 140. 200 ultrapassa aquele limite da atmosfera imóvel onde ele costuma habitar e faz soprar um ar frio sobre a língua em que ele opera a tradução, passa a vigiar e tenta infligir imobilidade à língua de chegada75. Também era esse o motivo porque Benjamin advertia quanto ao perigo “que os portões de uma língua assim alargada e dominada se fechem, encerrando o tradutor no silêncio”76. Dito isso, só resta a Benjamin redefinir a tarefa do tradutor: “A tarefa do tradutor é a de redimir na língua própria aquela língua pura que se exilou nas alheias, a de libertar da prisão da obra através da recriação poética. Por ela, o tradutor quebra as barreiras apodrecidas da sua língua”77. Eis o que, segundo Benjamin, perceberam muito bem, dentre outros, Lutero (1483-1546) e Hölderlin (1770-1843). Mas mesmo aqui é preciso compreender o que seria correr o risco máximo. Se o que Leibniz pretendia com seu alargamento do alemão podia ser considerado conduzir sua língua a uma totalidade morta, matar o original a partir da morte da língua original, o que Hölderlin se arriscava a fazer em suas traduções de Sófocles era perder-se no tão largo da tradução a ponto de perder-se no sem fundo das profundezas da língua; arriscava-se fazendo o sentido precipitar-se de abismo em abismo; dito de outro modo, a partir da língua estrangeira, o grego, de tal maneira Hölderlin fazia o necessário, isso é, alargava e aprofundava o alemão, a língua de chegada, que arriscava matar de tanta vida a tradução, ia até ao limite do desejável. 75. O ensino de línguas também é fonte de variadas formas de imposição; cf. DERRIDA, 2010 [Força de lei], p. 57. 76. BENJAMIN, Walter. A tarefa do tradutor (quatro traduções para o português). Org. Lúcia Castello Branco. Belo Horizonte: UFMG, 2008, p.97. 77. BENJAMIN, Walter. A tarefa do tradutor (quatro traduções para o português). Org. Lúcia Castello Branco. Belo Horizonte: UFMG, 2008, p. 95-96. Conclusão Isso quer dizer que, se Leibniz procurava uma língua da verdade, no sentido de língua verdadeira78, uma língua para filosofar adequadamente, alguma totalidade para bem dizer e fazer o cômputo geral das objeções79, isso é, algo que fizesse cessar autoritariamente de uma vez por todas as chicanas filosóficas80, ele poderia tê-la buscado na tradução, pois como dizia Benjamin: Mas se, de alguma outra forma, existe uma língua da verdade na qual se conservam, sem tensões e silenciosos, os últimos mistérios que constituem o objecto de todo o pensamento, então essa língua da verdade é – a verdadeira língua. E é precisamente essa língua, 78. DERRIDA, Jacques. Torres de Babel. Trad. Junia Barreto. Belo Horizonte: UFMG, 2006, p. 64. 79. DERRIDA, Jacques. Gramatologia. Trad. Miriam Chnaiderman e Renato Janine Ribeiro. São Paulo: Perspectiva, 2006, p. 97. 80.N.E., III, IX, §8, p. 267. 201 em cujo pressentimento e descrição reside a única perfeição a que o filósofo pode aspirar, que está oculta, de forma intensiva, nas traduções. (...) existe um ingenium filosófico cuja marca mais própria é a nostalgia daquela língua que se enuncia na tradução.81 Não era preciso tentar, e nem mesmo era possível, imitar a língua teutônica ou o que seria comum a Adão e aos homens em geral, para chegar a uma totalidade eterna e morta. Sem entrar nos detalhes do que significaria esse ingenium, e sabemos que essa é uma questão importante, mas da qual não poderíamos tratar no momento82, eis no que o fazer do tradutor e a busca do filósofo se confundem: a língua pura, nostalgia dos filósofos, enuncia-se na tradução que não viverá eternamente. Não é à toa, pois, que queiramos fazer filosofia fazendo tradução, estaríamos tentando enunciar aquela língua a partir da qual poderíamos de fato “filosofar”; isso porque a tradução, com os germens (sementes) da língua pura, situa-se entre a poesia e a doutrina; daí que a tarefa do tradutor também seja a de “levar à maturidade, na tradução, a semente (os germens) de uma língua pura”83, o que nos possibilitaria formular doutrinas. Mas é preciso que filósofo e tradutor não se deixem cair, ao menos não inconscientemente, no labirinto das metafísicas da língua de saída e da língua de chegada. Nem devem ou podem ser eternas as traduções nem as doutrinas; talvez por isso mesmo um Derrida, o eterno estrangeiro, evitava conceituar ou construir; não é exatamente o que fazem tradicionalmente o filósofo e o tradutor? Não devem ser eternas, especialmente quando a tradução ou doutrina se faz em uma língua que teima em deixar à margem de sua atmosfera viva os dizeres, dialetos e mesmo línguas de cerca de dois terços de sua ancestralidade, em uma língua, aqui sim, que insiste no estreitamento, 81. BENJAMIN, Walter. A tarefa do tradutor (quatro traduções para o português). Org. Lúcia Castello Branco. Belo Horizonte: UFMG, 2008, p. 92. 82. Cf. DERRIDA, 2006 [T.B.], p. 28. 83. BENJAMIN, Walter. A tarefa do tradutor (quatro traduções para o português). Org. Lúcia Castello Branco. Belo Horizonte: UFMG, 2008, p. 92. 202 uma língua da verdade que se recusa a pensar uma linguagem verdadeira; mas isso seria outra história, todavia, colocaria o problema dos limites da “nossa” teoria da tradução, a altura da “nossa” torre. Além disso, as fábulas da língua primitiva nunca levaram a sério compreender a África ou a América84. Por fim, se traduzimos algumas poucas páginas de um Leibniz, que certamente não podem ser consideradas obras de arte, e evidentemente isso importa pouco para nós, ao menos não foi inconscientemente que, criminosos que somos, deixamo-nos cair. 84. Cf. nota 30. Talvez tenha a mesma fonte o “grande interesse” dos filósofos brasileiros pelas línguas europeias e nenhum pelas línguas das nações africanas e indígenas; e temos de confessar que, não sem consciência, esse continuaria sendo nosso negócio não fosse a contribuição dos estudos de áreas como a sociolinguística, por exemplo, que têm investigado as variedades linguísticas brasileiras a partir das várias línguas indígenas, das várias línguas das nações africanas que aqui chegaram por conta da escravidão, bem como daquilo que poderíamos considerar minorias linguísticas europeias. De qualquer modo, é preciso abandonar a fábula do primeiro contrato, nosso primeiro império, o primeiro nivelamento-impedimento que fez “nossa” Torre de Babel; que obviamente deve ser bem mais alta e autoritária que a outra. Será que toda a filosofia brasileira pode ser considera de ultramar? Quanto da significação e da intencionalidade indígena e africana, quanto de alargamento nós perdemos ao nos impedirmos a verdadeira tradução, ao reafirmar sempre tal nivelamento, que agora explicitamos a fonte? Era preciso mesmo filosofar apenas na língua idioma universal europeia? 203 ficção moderna Virginia Woolf 205 ficção moderna Virginia Woolf* Em se fazendo qualquer análise, mesmo que ao largo ou por alto, de ficção moderna, é difícil que não se tome como pressuposto que a prática moderna de arte é, de algum modo, um melhoramento do antigo. Com ferramentas simples e materiais precários, é lícito dizer, Fielding fez bem e Jane Austen melhor ainda, mas compare com as nossas as oportunidades que tiveram! Suas obras primas têm, decerto, um inexplicável ar de simplicidade. E, mesmo assim, a analogia entre literatura e a produção, para escolher uma, de motores de carro mal se sustém por mais que um relance. É suspeito que no decorrer dos séculos, apesar de termos aprendido muito de como produzir máquinas, nada aprendemos de como produzir literatura. Não chegamos a escrever melhor; tudo que nos pode ser aconselhado é que continuemos em frente nesta ou naquela direção, mas numa perspectiva tendente ao circular deve todo o percurso ser visto do topo. Quase vai sem dizer que não fazemos qualquer asserção de estarmos, mesmo que por pouco, na magnitude desse cume. No plano, entre a turba, quase cegos com a poeira, olhamos para trás com inveja daqueles prósperos guerreiros, cujos cumprimentos da batalha vencida portam ares tão plenos de serenidade que mal podemos nos deter de comentar que a luta foi não foi tão árdua para eles quanto para nós. Cabe ao historiador de literatura decidir; cabe a ele dizer se estamos agora no começo ou no fim ou bem no meio de um excelente período de ficção em prosa, já que, aqui de baixo, pouco é visível. Sabemos apenas que certas graças e hostilidades nos inspiram; que certos caminhos parecem levar a terras férteis, outros à poeira e ao deserto; e disso talvez seja válido tentar algum relato. * O ensaio “Ficção moderna” foi escrito no inverno de 1919 e publicado em The Common Reader. 206 Nossa discórdia, portanto, não é com os clássicos, e se falamos em discordar de Sr. Wells, Sr. Bennett, e Sr. Galsworthy, é em parte pelo mero fato de que, por existirem na carne, suas obras têm uma viva, pulsante imperfeição ordinária que nos impele a tomar com elas quaisquer liberdades que quisermos. Mas é também verdade que, enquanto lhes agradecemos por uma centena de dádivas, reservamos nossa gratidão incondicional a Sr. Hardy, a Sr. Conrad, e em muitíssimo menor grau ao Sr. Hudson de The Purple Land, Green Mansions, e Far Away and Long Ago. Sr. Wells, Sr. Bennett, e Sr. Galsworthy incitaram tantas esperanças e tão persistentemente as frustraram que nossa gratidão escancaradamente toma a forma de um agradecimento por terem eles nos mostrado o que poderiam ter feito, mas não fizeram; o que certamente não poderíamos fazer, mas em igual medida, talvez, não desejássemos. Nenhuma frase resumiria por si só todo o encargo ou a exigência que temos de versar sobre um trabalho tão largo de corpo e incorporando tantas qualidades, tanto admiráveis quanto o reverso. Se tentássemos formular nosso entendimento em uma palavra, diríamos que esses três escritores são materialistas. É por estarem preocupados, não com o espírito, mas com o corpo que eles nos desapontaram, e nos deixaram o sentimento de que a ficção inglesa anterior volta as costas para eles, tão cortês quanto a permitem, e marcha, se antes para o deserto, melhor para sua a alma. Naturalmente, nenhuma palavra sozinha alcança o centro de três alvos distintos. Para o caso de Sr. Wells, cai notavelmente fora da mira. E, no entanto, mesmo assim nos indica ao pensamento a liga irrefutável de seu gênio, o grande nó de ferrugem que se fundiu com a pureza de sua inspiração. Mas Sr. Bennet é, talvez, dos três o pior culpado, por ser de longe o melhor feitor. Ele consegue elaborar um livro tão bem arquitetado e sólido em sua artesania que seria difícil para o mais exigente dos críticos ver através de que brecha ou rachadura pode permear a decadência. Não há nem mesmo uma fresta nas dobradiças, ou uma fenda entre as tábuas. E ainda assim – e se a vida se recusasse a viver lá? Esse é um risco que o criador de The Old Wives’ Tale, George Cannon, Edwin Clayhanger, e hordas de outras figuras, pode muito bem afirmar ter superado. Seus personagens vivem excessivamente, e até de forma inesperada, mas falta perguntar como eles vivem, e para o quê? Mais e mais eles nos parecem, abandonando até a bem construída vila em Five Towns, para passar seus 207 tempos numa carruagem fofa e almofadada qualquer, estar apertando botões e campainhas inumeráveis; e o destino a que tão luxuosamente viajam se torna mais e mais incontestavelmente uma eternidade de deleite gasto no melhor hotel possível em Brighton. Dificilmente pode ser dito de Sr. Wells que ele é um materialista no sentido de que deriva satisfação na solidez de sua trama. Sua mente é demasiado generosa em suas compaixões para que o permita gastar tempo demais fazendo as coisas substanciais e apresentáveis. Ele é um materialista por pura bondade de coração, levando sobre os ombros o trabalho que devia ter sido cumprido por oficiais do governo, e na superfluidade de suas ideias e fatos, mal tendo tempo para perceber, ou esquecendo-se de achar relevantes, a crueza e brutalidade de seus seres humanos. No entanto, que pior crítica pode haver de ambos o seu Céu e terra que a de serem inabitáveis no aqui e além por seus Pedros e Joanas? Acaso a inferioridade de suas naturezas não macula quaisquer instituições e ideais que sejam a eles fornecidos pela generosidade de seu criador? Tampouco acharemos, apesar de profundamente respeitarmos o íntegro e o humano em Sr. Galsworthy, o que procuramos em suas páginas. Se colássemos, portanto, uma etiqueta nesses livros todos, que em uma palavra seria materialistas, queremos com isso dizer que eles escrevem sobre coisas desimportantes; que eles consomem por demais técnica e diligência em fazer o trivial e transitório parecerem o verdadeiro e duradouro. Temos que admitir que estamos exigindo, e, além disso, que achamos difícil justificar nosso descontentamento em explicar o que exigimos. Colocamos nossa questão por vezes diferente em diferentes vezes. Mas ela persiste em reaparecer enquanto deixamos cair o romance terminado no auge de um suspiro – vale a pena? Qual é o propósito? Será possível que Sr. Bennet, devido a um daqueles pequenos desvios que o espírito humano parece fazer vez em quando, tenha pousado com seu magnífico aparato de capturar a vida só um tantinho a mais pro lado errado? A vida escapa; e talvez sem a vida nada mais valha o tempo. É uma confissão de obscuridade ter de usar tal figura como essa, mas dificilmente se dá assunção ao assunto em se falando, como tendem a fazer os críticos, de realidade. Admitindo a obscuridade que aflige toda crítica de romances, 208 arriscaremos a opinião de que para nós, nesse momento, a forma de ficção mais em voga mais perde que assegura aquilo que buscamos. Quer chamemos de vida ou espírito, verdade ou o real, esse, o essencial, não mais espera, ou já superou, e se recusa a ser contido em roupas tão pouco adequadas como as que lhe damos. De qualquer forma, seguimos perseverando conscientes, construindo nossos trinta e dois capítulos depois de um plano que mais e mais deixa de corresponder à visão em nossas mentes. Tanto do enorme esforço testando a solidez, a semelhança à vida da estória, não é apenas esforço jogado fora, mas esforço mal colocado ao ponto de obscurecer e embaçar a luz da nossa concepção. O escritor parece coagido, não por seu próprio arbítrio, mas por algum tirano sem escrúpulos e poderoso que o tem como escravo, a prover um enredo, prover comédia, tragédia, interesse amoroso, e um ar de probabilidade embalando o todo de tão impecável maneira que, se todas as suas figuras tomassem vida, elas estariam vestidas até o fim de seus botões com o último grito da moda. Ao tirano, obedecemos; o romance já está quase pronto. Mas às vezes, mais e mais frequente ao passar do tempo, suspeitamos uma dúvida momentânea, um espasmo de revolta, enquanto as páginas completam a si mesmas no modo de costume. A vida é assim? Devem ser assim os romances? Olhe de dentro e a vida, ao que parece, está bem longe de ser “assim”. Examine por um instante a mente comum num dia comum. Uma miríade de impressões ela recebe – triviais, fantásticas, evanescentes, ou inscritas com a argúcia do metal. De todos os lados vêm elas, uma saraivada incessante de inumeráveis átomos; e enquanto caem, enquanto formam-se como a vida de Segunda ou Terça, a tonalidade cai diferente do antigo; o instante de importância veio lá, não aqui; assim, se um escritor fosse homem livre e não escravo, se ele pudesse escrever o que quisesse, não o que devesse, se ele pudesse balizar seu trabalho ao seu próprio sentimento e não à convenção, não haveria nem enredo, nem comédia, nem tragédia, nem interesse amoroso ou catástrofe no estilo aceito, e talvez nenhum botão costurado como os alfaiates de Bond Street gostariam. A vida não é uma série de luzes de circo simetricamente arranjadas; a vida é um halo luminoso, um invólucro opalescente, nos envolvendo desde o 209 começo até o fim da consciência. Acaso não é tarefa do romancista perpassar esse espírito prismático, desconhecido, inscircunscrito, qual seja a aberração ou complexidade que se mostre, com menos mistura possível do alheio e do externo? Não estamos pedindo pela mera coragem e sinceridade; estamos sugerindo que o mais próprio à ficção é outro que não aquilo que nos faria acreditar o costume. É, como seja, em tal modo como este que procuramos definir a qualidade que distingue o trabalho de vários jovens escritores, entre os quais o Sr. James Joyce é o mais notável, dos de seus antecessores. Eles tentam chegar mais perto da vida, e preservar mais exata e sinceramente o que os interessa e os motiva, mesmo que para assim fazê-lo eles devam descartar a maioria das convenções que são comumente observadas pelo romancista. Relatemos os átomos enquanto caem sobre a mente, na ordem em que caem, tracemos o padrão de suas ocorrências, não importa o quanto desconexo e incoerente em aparência, que cada vista ou incidente marca à consciência. Deixemos de pressupor que a vida existe mais plena no que é comumente considerado grande, do que no comumente considerado pouco. Qualquer um que tenha lido Um retrato do artista quando jovem ou, o que promete ser um trabalho bem mais interessante, Ulysses, agora figurado na Little Review, terá arriscado alguma opinião tal como essa quanto à intenção de Sr. Joyce. De nossa parte, com tal fragmento diante de nós, é mais arriscado que afirmado; mas qualquer que seja a intenção do todo, não pode haver dúvida de que é da mais absoluta sinceridade e que o resultado, difícil ou desagradável que o julguemos, é inegavelmente importante. Em contraste com aqueles a que chamamos materialistas, Sr. Joyce é espiritual; ele está preocupado a qualquer custo em revelar as rutilâncias daquele lume entranhado que lampeja seus sinais através do cérebro, e para preservá-lo ele desconsidera com coragem extrema o que quer que pareça a ele acessório, seja a probabilidade, ou coerência, ou quaisquer outros desses luzeiros que serviram, por gerações, para apoiar a imaginação do leitor quando chamado a imaginar o que não pode nem ver ou tocar. O trecho da cena no cemitério, por exemplo, com seu brilhantismo, sua sordidez, sua incoerência, seus súbitos clarões de significância, de fato chegam tão perto do rápido da mente que, numa primeira leitura qualquer, é difícil não aclamá-la uma obra prima. Se quisermos a vida ela mesma, aqui 210 certamente a temos. Realmente, nos vemos balbuciando bastante incoerentes se tentamos dizer que mais queremos, e por que razão uma obra de tal originalidade ainda não se compara, por que temos de pegar bons exemplos, com Youth ou The Mayor of Casterbridge. Não compara por causa da relativa pobreza da mente do escritor, digamos logo e esteja dito. Mas é possível ir um pouco além e pensarmos se não podemos remeter a sensação de estarmos numa sala clara porém estreita, confinados e presos, ao invés de libertos e com espaço, à alguma limitação imposta pelo método como pela mente. Será o método que inibe o poder criativo? Será devido ao método o não nos sentirmos joviais nem magnânimos, mas centrados num si que, apesar de seu tremor de suscetibilidade, nunca cria ou abarca o que está fora de si e além? A ênfase sobreposta, por ventura didaticamente, na indecência, contribui para o efeito de algo angular e isolado? Ou será apenas que em qualquer esforço de tal originalidade é tão mais fácil, para contemporâneos principalmente, sentir o que falta do que dizer o que oferece? Em qualquer caso é um erro estar fora dos “métodos” examinativos. Qualquer método é o certo, todo método é o certo, que expresse o que queremos expressar, se somos escritores; isso nos traz mais perto da intenção do romancista se somos leitores. Este método tem o mérito de nos trazer mais perto do que estávamos preparados para chamar de vida em si; não mostrou a leitura de Ulysses o quanto da vida está ignorado ou excluído, e não veio como um choque abrir Tristram Shandy ou mesmo Pendennis e ser por eles convencido de que não há apenas outros aspectos da vida, como também outros mais importantes em jogo? Como quer que isto seja, o problema diante do romancista do presente, como supomos que tenha sido no passado, é maquinar meios de ser livre para estabelecer o que ele queira. Ele tem de ter a coragem de dizer que o essencial não é mais “aquilo” mas “isso”: e com “isso” apenas deve ele construir o seu trabalho. Para os modernos, “isso”, o ponto de interesse, muito provavelmente tem leito nos cantos escuros da psicologia. E portanto sem demora, a tonalidade cai um pouco diferente; a ênfase é sobre algo antes ignorado; um diferente contorno de forma se torna, sem demora, necessário, difícil para nós apreendermos, incompreensível para nossos antecessores. Nenhum além de um moderno, nenhum, a não ser talvez um russo, teria sentido a validade 211 da situação em que Tchekov fez o conto que ele chama de “Gusev”. Alguns soldados russos adoecem a bordo de um barco que os levava de volta à Rússia. É-nos dado apenas pedaços de suas conversas e alguns de seus pensamentos; então um deles morre e é carregado dali; a conversa continua entre os outros por um tempo, até que o próprio Gusev morre e, semelhante “a uma cenoura ou um rabanete”, é jogado barco afora. A ênfase cai sobre lugares tão inesperados que a princípio parece não haver ênfase alguma; e então, enquanto os olhos se acostumam com o crepúsculo e discernem as formas de um quarto, vemos quão completa é a história, quão profunda, e o quanto em verdadeira obediência à sua visão Tchekov escolheu isso, aquilo, e o outro, e os colocou juntos para compor algo novo. Mas é impossível dizer “isso é engraçado”, ou “isto é trágico”, nem estamos certos, já que contos, nos foi dito, devem ser breves e conclusivos, se este, que é vago e inconclusivo, deve de fato ser chamado de conto. As mais elementares críticas em ficção moderna Inglesa quase não podem evitar a menção da influência russa, e se os russos são mencionados, corre-se o risco de achar que escrever sobre qualquer ficção que não a deles é gasto de tempo. Se quisermos entendimento do coração e alma onde mais o encontraríamos em comparável profundidade? Se estamos enjoados do nosso próprio materialismo, o menos considerável de seus romancistas tem por direito de nascença uma reverência natural ao espírito humano. “Learn to make yourself akin to people.... But let this sympathy be not with the mind — for it is easy with the mind — but with the heart, with love towards them.”/ “Aprenda a ter afinidade com pessoas...Mas deixe essa empatia estar não com a mente – porque é fácil com a mente – mas com o coração, com amor a eles”. Em todo grande escritor russo parecemos conseguir discernir as feições de um santo, se empatia aos sofrimentos de outros, amor a eles e esforço para atingir algum objetivo digno das mais exigentes demandas do espírito constituem santidade. É o santo neles que nos confunde com um sentimento da nossa própria trivialidade irreligiosa e transforma tantos de nossos mais famosos romances em ouro de tolo e trapaça. As conclusões da mente russa, assim compreensivas e compassivas, são inevitavelmente, talvez, da mais completa tristeza. Mais precisamente de fato, podemos falar da inconclusividade da mente russa. É a sensação de que não há resposta, de que se honestamente 212 examinada, a vida apresenta pergunta após pergunta, que devem ser deixadas a soar ininterruptas, bem depois do fim da história em desesperada interrogação que nos permeia com uma profunda, e por fim pode se dizer ressentida, agonia. Eles estão certos, talvez; indubitavelmente eles veem mais distante que nós e sem os nossos rudes impedimentos de visão. Mas talvez vejamos algo que os escape, senão por que esta voz de protesto deveria mesclar-se ao nosso lamento? A voz de protesto é a voz de uma outra e antiga civilização que parece ter cultivado em nós o instinto de regozijar e lutar ao invés de sofrer e entender. A ficção Inglesa desde Sterne a Meredith presta testemunho ao nosso prazer natural em humor e comédia, na beleza da terra, nas atividades do intelecto, e no esplendor do corpo. Mas quaisquer entendimentos que tiremos da comparação entre duas ficções tão imensuravelmente distantes são supérfluos, salvo talvez quando nos inundarem com a visão dos infinitos possíveis da arte, e nos relembrarem que não há limite para o horizonte, e que nada — nenhum método, experimento, mesmo o mais insano — é proibido, apenas a falsidade e pretensão. “O mais próprio à ficção” não existe; tudo é próprio à ficção, todo sentimento, todo pensamento; toda qualidade de cérebro e espírito é chamada à prova; nenhuma percepção está falha. E se pudermos imaginar a arte da ficção ganhar vida entre nós, ela indubitavelmente rogaria que a quebrássemos, a atormentássemos, assim como que a honrássemos e a amássemos, pois assim que é sua jovialidade renovada e assegurada sua soberania. (tradução de Lucas Lyra) 213 214 Maria Alice de Vasconcelos olho por olho negrume do meio dia ensimesmado não detém o tempo pavimento incrustado de crânios sisudos olho por olho passante pensante e desatento pisoteia a paisagem que se renova verso e reverso de várias moedas estampadas no cosmo 215 Jônatas Onofre Astrolábio A linha concisa, a seta. A lâmina das vagas que rasgam a esfera. Perscrute e meça. Sobre o rastro do oriente. Deriva o vazio sem lume. Acenda-lhe um nome. No calor das anêmonas sulcando as artérias do atlântico. Desfralde da nave, a vela, inflame. E quando Os signos despencarem dos pomares abissais. Oferte o poema, lastro de vendavais. 216 Francisco Alves Gomes Consciência lenta Lembra das nossas primeiras aventuras? eu era um boneco de borracha, e tu o meu óleo não tínhamos freio apenas as mãos, um tanto duras demais para se inventar a palavra brocha, hoje não recordo de que seiva saí ou quando eu passei a usar sandálias artesãs fugi Pan. 217 João Foti Sonata barroca “= Gigantes, escravos Se os cravos Jorram luz, se finda-se a dor!..” (Sousândrade) — O cravo atesta-me o Ser! Testa do Sol, dor insinuante! = Vai-se à passeio: O espinho; Longa liberdade de soar... — Álacre, cada pontiaguda nota Entrecruza as mãos... — E o caminho verte e vaza Transversal melodia: vive! Ao baixo timbre, espreitam — Cada pulso soberano... = Revoantes asas Imperam No trecho dos trechos — reflexões? — Nua menta sonora, águas & cordas em prelúdio! = Meu rosto de cítaras; Nele ‘stagnam sonatas!... — À cadência, vibram feixes — = Raios que arpejam luzes à míngua: eclipses. — O desfecho: triste!.. triste!.. E quando o sono desatina, Espasmo & silêncio tinem (Sobe a fumaça!) — o universo, De ponta à ponta Percorrem — negro nada! — Outro cravo (com lanças crescentes) meu Ser ponteia! = Espanta-corvos... — Tem tímpanos vastos de filosofia! 218 Maria Fátima As guelras do mar Não cantam ao Sol Áridos fragmentos Rastros e farpas Harpa na areia Pássaros na torre Rangem na sombra Sombra na sombra. Não há calendário Nem rastro nem sombra Nem carpas nem farpas Harpa surda. 219 Fabrício Slavieiro É de um Par de Venezas o vaivém da Porta Bang-Bang à italiana; lenhoso abre-fecha de uma Boca horizontalizada que, com a bangue-banguela sua Arcada palhetal, volta-se voraz aos “maus modos” do engolir — não sem depois mastigá-los qual Naco de Fumo ensalivado por desdentada Bocarra — e cuspir — não sem antes ruminá-los qual Masca de Tabaco encatarrado por desdenhosa Bocaça — os Pistoleiros hispano-americanos, e seus xilóides Bandolins em Dó maior, — Maior, pois d’auto-piedoso Tom; os Bandoleiros américo-hispânicos, e seus metálicos Pistões em Sol menor, — Menor, pois já a se por no desértico Horizonte andaluz. 220 Francis Espíndola Carta à Distância A verdade nas coisas escorre sozinha por dedos verdes. Há uma conchinha que cabe dentro pra esconder da convivência dolorida, da existência pesada, e ser-estorvo enquanto cheiro de rua. A casa é por dentro de meus braços e por fora de olhos familiares ao erro. Não é de escolha que cuspi pedras, mas de coração desolado que as recolho do chão. De palavras tortas qual lágrimas secas. O longe urge, concreto ou de mãos esguias. E o peso da trouxa no ombro vê no espelho a figura disforme do desrespeito. Descabela-se em certezas transformadas para reais, vê-se cru em espaço chuvoso. (O peso sempre soube da matéria que lhe cabe segurar). A cabeça faz perder o resto do corpo quando descobre que o tempo não dá para o cuidado consigo, para o erguer-se em pó, no longe... Longe quando há descuido. Perdão, mas de ser forte pela existência dos olhares que hoje tortos em gelo. Vou-me embora para poupar o rosto da ruindade (e o amor das gentes dentro dele). 221 Luiz Ariston A vida é uma mulher negra Que sorri seus dentes brancos De leite Sobre as nossas cabeças Como espadas cadentes que são E são papões e são tutus Monstros dos olhos e orifícios Com muco nas mucosas Pelos sombra e vida crua Nos invadem vem de dentro Eviscerando eviscerando Até restar somente a pele E o cheiro ocre muda em grito E muda em grito interminável E muda em choro E muda em sonho E muda em nada muda Para quem corremos E que nos socorre Desta nossa vida a mulher negra A vida é uma mulher negra Que sorri seus dentes brancos Em nossos espelhos Cara a cara Enquanto nos havemos outros mais felizes Em quanto ela sorri De quem dançamos quem sorrimos Vai navalha nesta valsa De olhos cegos sem coleira Ela sorri ela sorri A nos deixar felicidades Nos lugares nas angústias Da ilusão da verdade da ilusão Da verdade da ilusão da verdade Que de tão simples Tão simplesmente simples De tão óbvia E de tão bêbados gozamos Afogados entre os seios Desta nossa vida a mulher negra A vida é uma mulher negra Que sorri seus dentes brancos Em nossa cola Nos nossos cangotes E já não podemos olhar pra trás Sem virar sal E nos viramos e vemos Na medusa a nós atrelada A estrela de brilho intenso Que não fomos Porque não pudemos ver Porque não podemos ver A estrela de brilho intenso Senão na medusa a nós atrelada Que insistimos em ver e virar A virar sal Sem desejar mais nada Além de deleitosamente Dissolver-se entre os dentes brancos Desta nossa vida a mulher negra 222 223 PAIROS Gregório soares 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 normas de publicação 239 normas de publicação A revista divulga estudos de caráter teórico e crítico na área de estudos literários, filosofia, artes e das ciências humanas, sob forma de artigos, ensaios, textos literários e ensaios visuais. Está dividida em quatro seções: (1) arquivos: dossiê sobre um assunto específico; (2) ensaios: textos clássicos traduzidos; (3) khôra: lugar da escritura; (4) lumescrita: ensaios visuais. A submissão dos trabalhos ao Conselho Editorial poderá ser realizada seguindo os seguintes critérios: 01. 02. 03. 04. Os textos devem ser inéditos; Devem ser enviados exclusivamente para o e-mail: [email protected]; O envio dos originais desde já implica autorização para publicação; As opiniões emitidas nos textos são de inteira responsabilidade dos autores; 05. Os artigos serão encaminhados a pareceristas, com manutenção do anonimato de ambas as partes; 06. Os textos devem seguir a seguinte padronização: a. Serão aceitos trabalhos escritos entre 10 e 20 páginas; b. Tamanho da página: A4, com margens superior e esquerda de 3,0 cm e inferior e direita medindo 2,0 cm; c. Fonte: Times New Roman, corpo 12 e espaçamento simples entre linhas e parágrafos; espaço duplo entre partes do texto; d. O título do artigo deve vir centralizado na primeira linha da página e em negrito, seguido no nome do autor, também em negrito com nota de rodapé com seus dados institucionais; e. O texto deve conter um resumo em português seguido de palavras-chave (no máximo 5) e sua tradução para o inglês ou francês; f. Tabelas, ilustrações e anexos devem ser entregues em arquivos separados; para anexos de textos já publicados, incluir referência bibliográfica completa; g. As referências bibliográficas (somente para trabalhos efetivamente citados no texto) devem ser dispostas seguindo as normas da ABNT ao final do texto; h. As indicações bibliográficas no corpo do texto deverão se restringir ao último sobrenome do autor, à data de publicação e 240 à página, quando necessário. Ex: (Derrida, 1996, p. 101); i. As notas devem ser colocadas no pé da página. As remissões para o rodapé devem ser feitas por números, na entrelinha superior. 07. Solicitam-se igualmente os dados do autor, o e-mail e vínculo institucional, que devem vir como nota de rodapé no nome do autor; 08. Os textos podem ser redigidos em português, espanhol, inglês e francês. Quando publicado em língua diferente do português, o resumo deve vir na língua nacional. normas de publicação para envio de textos literários A seção khôra de o mutum ◊ revista de literatura e pensamento receberá textos literários (narrativas breves, poemas) enviados na seguinte formatação: 01. 02. 03. 04. Os textos devem ser inéditos; Devem ser enviados exclusivamente para o e-mail: [email protected]; O envio dos originais desde já implica autorização para publicação; Os textos serão encaminhados ao editor da seção, ao organizador do volume e a dois pareceristas, com manutenção do anonimato de ambas as partes; 05. Os textos devem seguir a seguinte padronização: a. Serão aceitos até dois textos escritos pelo mesmo autor; b. Os textos devem ser encaminhados em formato Word e, quando não houver formatação específica quanto ao tipo e tamanho de fonte, devem seguir os padrões de formatação dos artigos da revista; c. Caso o colaborador utilize fontes específicas, fica a cargo dele o envio destas à comissão editorial; d. O título do texto deve vir centralizado na primeira linha da página e em negrito, seguido no nome do autor, também em negrito com nota de rodapé com seus dados e/ou experiências literárias; 06. Solicitam-se igualmente os dados do autor, o e-mail e vínculo institucional, que devem vir como nota de rodapé no nome do autor; 07. Os textos podem ser redigidos em português, espanhol, inglês e francês. 241
Download