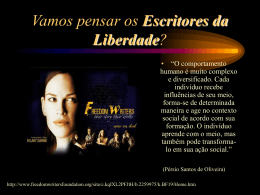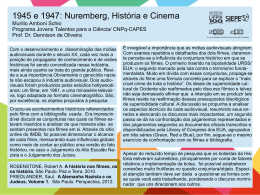Paulo Roberto de Carvalho Barbosa A PRIMEIRA COR NO CINEMA: TECNOLOGIA E ESTÉTICA DO FILME COLORIDO ATÉ 1935 Belo Horizonte 2007 1 Paulo Roberto de Carvalho Barbosa A PRIMEIRA COR NO CINEMA: TECNOLOGIA E ESTÉTICA DO FILME COLORIDO ATÉ 1935 Dissertação apresentada ao Curso de Mestrado da Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais, como requisito parcial à obtenção do título de Mestre em Artes Visuais. Área de concentração: Arte e Tecnologia da Imagem Orientador: Prof. Dr. Heitor Capuzzo Filho Belo Horizonte Escola de Belas Artes da UFMG 2007 2 3 Pra mãe 4 Agradecimentos Ao professor Dr. Heitor Capuzzo Filho, que acolheu esta pesquisa quando ainda em estado larvar, pela fina orientação e por ter proporcionado a este signatário livre trânsito pelo universo das imagens animadas. À professora Dra. Ana Lúcia Menezes de Andrade, pelos valiosos comentários e pelo olhar atento aos lapsos e deslizes do texto que aqui vai. Ao professor Dr. Marcelo Giovanni Tassara, pelas observações tão generosas quanto inspiradoras, como integrante da banca examinadora. Ao professor Dr. Francisco Marinho, pelas ricas sugestões, ao tempo da qualificação. Ao professor Dr. Evandro José Lemos da Cunha, pelo indispensável apoio nos momentos iniciais. À professora Dra. Lúcia Gouvêa Pimentel, pela leitura rigorosa das primeiras linhas. Ao professor Jean-Louis Comolli, pela indicação quanto ao melhor ponto de partida para a presente escritura, quando por aqui esteve em 2005. À professora Dra. Maria Margarida Marques, pelas excelentes dicas. À secretária da pós-graduação, Zina Pawlowski, pela paciência e pela solidariedade em todas as etapas do processo. Ao Wesley Massena, pelo adjutório com a normalização técnica. Aos meus amigos, pela força de sempre, à minha família, por tudo, e a Jorge Luis Borges e Roland Barthes, companheiros diletos nesta jornada. 5 Não sei de onde surgiu este sólido preconceito segundo o qual jamais se sonha em cores! Não pode ser que eu seja o único a desfrutar desse privilégio! André Bazin 6 Resumo Empreende-se aqui uma viagem analítica pelo desenvolvimento da cor nas quatro primeiras décadas do cinema. Num retrospecto histórico, o trabalho percorre os principais procedimentos para se realizar produções coloridas, de 1892 até 1935, com ênfase para o funcionamento de cada uma dessas tecnologias. A abordagem é acompanhada da apreciação crítica de uma vasta e suficiente filmografia, na qual se observa como o elemento plástico evoluiu e foi problematizado pelos mais diversos realizadores, ao longo do período demarcado. A partir do diálogo entre técnica e estética assim verificado, emergem os indícios para uma dúplice função da cor nas imagens em movimento: de um lado, dissociada da forma, comporta-se como um recurso de pura sensualidade visual. De outro, intrinsecamente ligada à imagem, apresenta-se como um poderoso e discutido fator de analogia com a realidade visível. Com base nessa dialética, é elaborada uma conclusão, na qual se propõe um paralelo entre as experiências cromáticas do passado e o que se faz hoje, em termos de tecnologia digital. 7 Abstract An analytical journey has been undertaken through the development of color in the first four decades of cinema. In a historical retrospect, the study deals with the main procedures used to make colorful productions, from 1892 to 1935, focusing on the functioning of each one of these technologies. This approach is joined by the critical appreciation of a vast and plentiful filmography, in which it is realized how the plastic element evolved and the way it was handled by various filmmakers throughout the cited period. From the dialogue between technique and esthetic verified in this study, it has emerged the evidence of a double function of color in moving images: on one hand, when it is dissociated from form it behaves as a means of pure visual sensuality; on the other hand, intrinsically connected to image, it presents itself as an powerful and arguable factor of analogy with a visible reality. In accordance with this dialetic, it has been reached a conclusion in which a parallel has been drawn between chromatic experiences of the past and what is done nowadays, as far as digital technology is concerned. 8 Índice de ilustrações Figura 1 - O Teatro Óptico 22 Figura 2 - Cena de Pobre Pierrô 23 Figura 3 - Em torno de uma cabine: voyeurismo 23 Figura 4 - Quinetoscópio Edison 26 Figura 5 - Marie Louise Fuller 27 Figura 6 - Danse serpentine, da Societé Lumière 28 Figura 7 - Dança serpentina em jaula de circo 28 Figura 8 - Butterflies: vórtice de cores 29 Figura 9 - O caldeirão infernal 33 Figura 10 - Viagem através do impossível 34 Figura 11 - Cenário extraterrestre em Viagem através do impossível 35 Figura 12 - O inquilino diabólico 36 Figura 13 - Explosão em The great train robbery 39 Figura 14 - Baile de policiais 40 Figura 15 - Cena final de The great train robbery 40 Figura 16 - Laboratório de estencilização da Pathé 42 Figura 17 - Aladim e a lâmpada maravilhosa 45 Figura 18 - O gênio da lâmpada 46 Figura 19 - Paixão de Cristo: cores simbólicas 48 Figura 20 - Reis Magos: Natividade 49 Figura 21 - Ascensão 49 Figura 22 - Metamorfoses de uma borboleta 51 Figura 23 - O baú do rajah 52 Figura 24 - A galinha dos ovos de ouro 53 Figura 25 - O escaravelho de ouro 55 Figura 26 - Chomón: pirotecnia visual 55 Figura 27 - En avant la musique 56 Figura 28 - O espectro vermelho 57 Figura 29 - Mulher desafia espectro 58 Figura 30 - Partie de cartes 60 Figura 31 - Elevage d’autruches et de crocodiles 61 Figura 32 - Chez le grand couturier 62 9 Figura 33 - No país dos gigantes e dos pigmeus 62 Figura 34 - Cartaz de Romeu e Julieta 64 Figura 35 - Duelo em Romeu e Julieta 65 Figura 36 - Julieta cai em sono profundo 66 Figura 37 - Lignière apresenta Cyrano 67 Figura 38 - Cyrano de Bergerac 68 Figura 39 - Tanque para os monotingimentos. 71 Figura 40 - Fotogramas de Fire! 72 Figura 41 - A vingança do cameraman 73 Figura 42 - Fotogramas de Nero, ou a queda de Roma 74 Figura 43 - Maudit soit la guerre: explosões para simular a guerra 75 Figura 44 - O fantasma da Ópera: perseguição pelas catacumbas 75 Figura 45 - The lonedale operator 77 Figura 46 - Órfãs da tempestade: verde para a noite 78 Figura 47 - Lírio partido: as cores da tragédia 78 Figura 48 - Canção da Primavera 83 Figura 49 - Joan, the woman: suplício em Handschiegl 87 Figura 50 - Zepelim em chamas: Anjos do inferno 89 Figura 51 - Diagrama da experiência de Newton 93 Figura 52 - Vermelho, verde e azul: cores aditivas 96 Figura 53 - Fotografia em três cores de Maxwell 98 Figura 54 - Projeção de fotografia em três cores 99 Figura 55 - O Cromoscópio 100 Figura 56 - Câmera Kinemacolor 104 Figura 57 - Projetor Kinemacolor 105 Figura 58 - Fotograma de Delhi Durbar 107 Figura 59 - Projetor Chronochrome 112 Figura 60 - Primeira fotografia em cores subtrativas 115 Figura 61 - As cores subtrativas 116 Figura 62 - Máquina para tingimento de cópias no sistema Colorgraph 118 Figura 63 - Fotograma de filme em Kodachrome 119 Figura 64 - Detalhe de The flute of Krishna 120 Figura 65 - Sistema óptico do Technicolor nº1 122 10 Figura 66 - Fotograma de The gulf between 123 Figura 67 - Sistema óptico do Technicolor nº 2 124 Figura 68 - Negativo do Technicolor nº 2 125 Figura 69 - Matriz vermelha e matriz verde 125 Figura 70 - The toll of the sea 126 Figura 71 - O fantasma da Ópera: morte vermelha 128 Figura 72 - Ben Hur 128 Figura 73 - Fotogramas de O pirata negro 130 Figura 74 - Jean Harlow em Anjos do inferno 134 Figura 75 - Flores e árvores: ganho estético 136 Figura 76 - La cucaracha: “Tabasco demais!” 138 Figura 77 - Vaidade e beleza 139 Figura 78 - Sistema óptico do Technicolor de três tiras 141 Figura 79 - Negativos bipack 144 Figura 80 - Filtros Keller-Dorian Berthon 147 Figura 81 - Filme lenticular: antes da projeção e projetado através de filtro 148 Figura 82 - Sistema Kodacolor 148 Figura 83 - Película Gasparcolor 149 Figura 84 - Fotogramas de Circles 150 Figura 85 - Composition in blue 151 Figura 86 - Funcionamento dos autocromos 153 Figura 87 - Placa de autocromo Lumière 154 Figura 88 - Filtro ampliado de Dufaycolor 156 Figura 89 - Fotogramas de A colour box 158 11 Sumário PRÓLOGO 14 1 INTRODUÇÃO 15 2 AS CORES NÃO FOTOGRÁFICAS 20 2.1 Pantomimas de luz e cor 20 2.2 Balés cromáticos 25 2.3 As cores do mágico 30 2.4 Explosões coloridas num assalto a trem 37 2.5 Estênceis mecânicos: a cor na era industrial 40 2.6 As mil e uma noites da Pathé Frères 43 2.7 A Paixão segundo Ferdinand Zecca 47 2.8 Borboletas, elfos e tijolos amarelos 50 2.9 O estranho mundo de Segundo de Chomón 54 2.10 A cor no filme de não ficção 59 2.11 Romeu e Julieta 63 2.12 Cyrano de Bergerac 67 2.13 Colorizações químicas: o tingimento e a viragem 69 2.13.1 Incêndios, amores e explosões 71 2.13.2 Noturnos de Griffith 76 2.13.3 O filme-monumento de Abel Gance 79 2.13.4 “Ave, Brasil” 81 2.13.5 Decadência e fim dos tingimentos 84 2.14 O processo Handschiegl 85 3 SISTEMAS FOTOGRÁFICOS 91 3.1 No princípio era a luz 92 3.2 Introdução à síntese tricrômica 94 3.3 Fisiologia da visão 96 3.4 A fotografia em três cores de Maxwell 97 3.5 O filme ortocromático 98 3.6 Do cromoscópio ao filme de três cores de Lee e Turner 100 3.7 Kinemacolor: “A oitava maravilha do mundo” 102 3.8 Biocolour versus Kinemacolor 109 3.9 O efêmero Kinekrom 110 12 3.10 O audacioso Gaumont-Chronochrome 111 3.11 Do Panchromotion ao Prizmacolor I 113 3.12 A síntese subtrativa 114 3.13 O Cinecolorgraph 117 3.14 O Kodachrome 118 3.15 Brewster Color 120 3.16 O Polychromide 121 3.17 O Technicolor n° 1 121 3.17.1 O Technicolor n° 2 124 3.17.2 Fairbanks, bucaneiro 129 3.17.3 Transição para o sonoro: o Technicolor n° 3 131 3.17.4 Cartoons, La Cucaracha e o Technicolor n° 4 134 3.17.5 Vaidade e beleza 139 3.17.6 Tecnologia do sistema n° 4 141 3.18 William Kelley ataca novamente 142 3.19 Processos bipack 143 3.20 De Multicolor a Cinecolor 144 3.21 Processos lenticulares 146 3.22 Gasparcolor: as cores no front da animação 149 3.23 Dos autocromos ao Dufaycolor 153 3.23.1 A caixa de cores de Len Lye 157 4 CONCLUSÃO 162 4.1 O banquete dos sentidos 166 Filmografia citada 169 Referências 172 Anexo I – Processos para cinematografia em cores naturais até 1935 176 13 Prólogo Tudo começou quando descobri que houve cinema colorido antes do Technicolor: reveladora, a informação constava de uma simples e imprevista nota de rodapé. Guiado pela curiosidade, saí imediatamente a consultar bibliotecas e a vasculhar sítios na internet, à procura de mais dados. Fiquei surpreso com o silêncio que pesava sobre o assunto. Até então, apenas meia dúzia de estudiosos havia se ocupado da primeira cor no cinema, um tema seminal, reclamando por ser pesquisado. A desinformação só não era maior que a falta de matéria-prima: onde estariam os primeiros filmes coloridos? Esse panorama nebuloso desanuviou-se quando o professor Heitor Capuzzo apresentou-me àquela filmografia pioneira, no laboratório da EBA. Ali, finalmente pude degustar centenas de obras desconhecidas do grande público, pérolas de dedicação e paciência, preciosidades que, em seu tempo, levaram espectadores a não economizar em adjetivos para louvá-las, reação comum ainda hoje. Cruzando fronteiras, achei pela frente também uma série de visionários, imbuídos de um ideal de difícil realização, praticamente impensável para um cidadão de fins do século XIX e início do XX. É quase impossível travar contato com as idéias desses indivíduos “possessos de sua imaginação”, “capazes, como Bernard Palissy 1, de queimar seus móveis para obter alguns segundos de imagens vacilantes” 2, sem se contagiar pela paixão que os dominava. Entrego estas páginas ao leitor, senão para contaminá-lo com a loucura daqueles maníacos e fanáticos, ao menos para mostrar-lhe algo de seu trabalho. Trabalho inútil, talvez, para consertar os muitos erros do mundo, mas bastante para torná-lo mais belo e menos aborrecido. O que não me parece pouco. P. B. 1 2 Cientista e artista da Renascença. BAZIN, 1991, p.31. 14 1 – Introdução Ao cair da tarde do dia 28 de dezembro de 1895, 32 pessoas ocuparam as cadeiras do Salão Indiano do Grand Café em Paris para assistir à apresentação de um engenho capaz de reproduzir “brilhantes e interessantes cenas absolutamente fiéis à vida, em precisão, proporção e movimento” 3. Gestado nos laboratórios dos cientistas Louis e Auguste Lumière, o aparelho permitiu que fragmentos do dia-a-dia fossem projetados em grandes dimensões e se pusessem a mover sobre uma tela branca, materializando um sonho há muito perseguido pelo homem. Com seis meses de estréia, o cinematógrafo visitou países da Europa e excursionou por outros continentes, levando milhares de pessoas a conhecer o inédito espetáculo chamado pelos Lumière de vistas animadas. Pródigas em despertar a admiração de platéias por onde passavam, as projeções dos irmãos franceses encontraram em terras russas um espectador particularmente inquieto: após uma das sessões do aparelho na cidade de São Petersburgo, em julho de 1896, o então jornalista Máximo Gorki publicou um artigo nas folhas locais afirmando que, nos filmes do cinematógrafo, o mundo sofrera uma cruel punição, “ao ser privado de todas as cores da vida”. Noite passada, estive no Reino das Sombras. Se vocês pudessem imaginar o quão estranho é estar lá... É um mundo desprovido de som e cor. Tudo nele – a terra, as árvores, as pessoas, a água e o ar – encontrase mergulhado em um cinza monótono... Não se trata de vida, mas de sua sombra... [...] (apud STAM, 2000, pp. 39-40) O comentário aponta para um dado observável por quem se dispusesse a conferir uma sessão de cronofotografias de fins do século XIX: as imagens em movimento, além de não possuir som e relevo, não podiam reproduzir cores. Costuma-se pensar que, face às limitações tecnológicas evidenciadas pela crônica de Gorki, o cinema esteve confinado ao universo das representações em preto-e-branco em suas primeiras décadas de existência. A cor, entretanto, remonta às origens da sétima arte, tendo aparecido em numerosas produções dos primórdios, à custa de variadas técnicas. Tão cedo quanto em 1892, o poeta, artista e inventor Charles-Émile Reynaud já pintava sonhos coloridos em longas tiras perfuradas, três anos antes das projeções animadas dos Lumière. Em 1894, 3 Extraído de publicidade inglesa do cinematógrafo, em 1896 (apud SADOUL, 1964, p.122). 15 filmetes do inventor norte-americano Thomas Alva Edison circularam por metrópoles da nascente era moderna, pintados em tons vistosos e múltiplos. Boa parte da obra do francês Georges Méliès foi colorida em laboratórios contratados pelo mágico e cineasta especialmente para essa laboriosa tarefa. Filmes da Pathé Frères, de todos os gêneros, tiveram cores em suas imagens, deitadas nas películas mediante um exclusivo sistema criado por engenheiros da companhia francesa, denominado Pathécolor. Cerca de 80% das produções dos anos 1910 e 1920 receberam banhos de colorantes químicos como tratamento cromático. Dezenas de longas-metragens norte-americanos da década de 1920 abrigaram seqüências no processo Handschiegl, uma técnica de colorização de fotogramas derivada da litografia. Paralelamente a essa miríade de colorizações a pincel ou através de banhos químicos, muitos outros procedimentos despontaram ao longo das quatro primeiras décadas do cinema, em busca de apreender as cores por métodos fotográficos. Tais procedimentos visavam a registrar o incontável número de matizes existentes na natureza, ganhando nomes exóticos como Kinemacolor, Kinekrom, GaumontChronochrome, Cinecolorgraph, Kodachrome, Prizmacolor, Lumicolor, Dufaycolor, Gasparcolor e Technicolor, para citar apenas alguns dentre os cerca de 50 então surgidos. O coroamento do vasto e acidentado percurso rumo ao que então se chamou de cores naturais foi a estréia, em 1935, de Vaidade e Beleza (Becky Sharp, EUA, Rouben Mamoulian), primeiro longa-metragem realizado a partir de um bem-sucedido sistema para imagens móveis em policromia, o Technicolor 4. Por meio da fotografia ou de recursos pictóricos, em suma, os pioneiros não descansaram enquanto não viram restituídas à grande tela as cores que lhe haviam sido subtraídas, por melindres caprichosos da técnica, nos anos de seu nascimento O resultado desses esforços aí está: a cor se faz presente às inumeráveis imagens em movimento em circulação pelo cenário contemporâneo. Com efeito, o que se vê hoje nas salas Multiplex, nas TVs, nos microcomputadores e nos prosaicos telefones celulares apenas remotamente faria lembrar o aspecto original das primeiras explorações cromáticas no cinema. Do ponto de vista técnico, no entanto, é sobre as bases lançadas por processos como o Kinemacolor e o Technicolor que se estruturam os sistemas aptos, no século XXI, a mostrar as imagens coloridas veiculadas pelas novas mídias, digitais ou analógicas. Mas a modernidade dos primeiros filmes coloridos não se esgota em sua tecnologia visionária: atualmente, assiste-se à cor tornar-se uma marcante qualidade visual do cinema contemporâneo, com realizadores de diversas extrações reconhecendo 16 a importância de pensar o plano cromático de seus filmes, seja na fase de pré ou de pósprodução. Isso é patente sobretudo no caso do filme em live-action 4, afetado em diversos níveis pelas transformações advindas das tecnologias digitais. Nesse claro movimento rumo a um crescente refinamento da informação visual, vem-se descobrindo nas engenhosas estratégias de emprego da cor durante as primeiras quatro décadas do cinema também uma surpreendentemente rica fonte de inspiração. Exemplos não faltam: no filme A lista de Schindler (Schindler’s list, EUA), o norte-americano Steven Spielberg recorre à tradição perdida da pintura de fotogramas para colorir quadro a quadro o vestido de uma criança vitimada pela guerra, garantindo forte apelo dramático a uma das seqüências nevrálgicas desta narrativa de 1993. Em 1987, o cineasta alemão Wim Wenders adota a prática, também comum no período mudo, de se aplicar tingimentos monocromáticos aos filmes, a fim de emprestar um tom melancólico à primeira parte da trama neo-expressionista de Asas do desejo (Der Himmel ünder Berlin, Alemanha), por meio da coloração azulada. Nessa mesma direção, o recente O ilusionista (The illusionist, Neil Burguer, EUA, 2006), ambientado em Viena, inícios do século XX, recupera digitalmente em sua fotografia a luz pálida das autocromias para render explícita homenagem às cores imperfeitas deste processo a meio caminho entre a pintura e a fotografia, inventado pelos irmãos Lumière em 1907. A redescoberta das tecnologias pioneiras se processa ainda no plano teórico: nos últimos anos, a restauração de produções das primeiras décadas do cinema, efetivada por diversos arquivos e cinematecas ao redor do mundo, trouxe de volta às telas as feições originais de muitos daqueles filmes, encantando especialistas e audiências seletas, que se lançaram imediatamente ao estudo histórico das técnicas primevas de colorização. Buscando preencher uma lacuna sobre um tema ainda inexplorado em língua portuguesa, a presente pesquisa examina a evolução da cor nas quatro primeiras décadas do cinema, nos âmbitos técnico e estético. Para tanto, o trabalho identifica as principais tecnologias das cores, de fins do século XIX até 1935, procedendo à análise de algumas de suas mais significativas produções. A escolha dessa filmografia pauta-se pela relevância histórica, bem como pela acessibilidade aos filmes, já que muitos deles ou se perderam na noite do tempo ou encontram-se ao abrigo de museus e arquivos de países estrangeiros. 4 Live-action: filmes com atores e “ação real”. Ainda mais dependentes de recursos pictóricos, também as animações são largamente beneficiadas pelas infinitas possibilidades cromáticas passíveis de se obter com as novas ferramentas digitais. Nesse caso, a lista de exemplos é, obviamente, infinita, razão pela qual não vem mencionada aqui. 17 A pesquisa bifurca-se em duas partes principais, subdivididas em seções e subseções. Na primeira parte, discorre-se sobre as origens da técnica de colorização pictórica, das lanternas mágicas ao Teatro Óptico, passando pelas fotografias movimentadas de Edison. Verifica-se então o movimento de afirmação do cinema na emergente modernidade, com destaque para a ascensão da Pathé Frères como principal produtora de filmes coloridos do período. Em seguida, resgata-se a produção de realizadores fundamentais à época, tais como Ferdinand Zecca, Gaston Velle e Segundo de Chomón, dentre outros usuários da pintura manual e dos estênceis mecânicos. Logo depois, abordam-se as colorizações por tingimentos e viragens, sucedidas pelo processo Handschiegl, não sem uma necessária incursão por filmes elaborados a partir de tais técnicas. A segunda parte do trabalho pontua os primeiros processos fotográficos para a cinematografia em cores naturais, com seus sistemas mais apreciáveis até 1935. Procura-se desvendar a mecânica segundo a qual funcionavam (ou não) esses sistemas, observando os problemas envolvidos na captação e na projeção das imagens coloridas. Nessa perspectiva, toda uma linhagem de aparelhos é desconstruída, a fim de descobrir seu método de apreensão e exibição da cor. Exemplos de filmes resultantes dessas experiências são tomados em consideração para se evidenciar tanto a lógica de seu funcionamento quanto a sua eficiência visual. Finalmente, com base na literatura, apontam-se os dois diferentes papéis desempenhados pelas cores em seu itinerário inicial pelo cinema, formulando-se as conclusões possíveis a partir daí. Em geral, o texto privilegia uma leitura facilitada das informações, obedecendo ao eixo cronológico: evitam-se explicações exaustivas, como poderiam ser aquelas propostas pela química dos pigmentos, matéria sobejamente tratada por outros autores 5. Os filmes são analisados sob o ângulo formal, realçando também alguns de seus aspectos semânticos. À aura de mistério que sempre cercou o entendimento sobre o elemento cromático, preferem-se elucidações objetivas, sem, contudo, resvalar na simplificação. Torna-se, nesse sentido, menos obscura uma questão que já passa da hora de chegar ao grande público sem os sofismas e mistificações de praxe. Aos leitores que desejarem, enfim, se aprofundar no objeto desta dissertação, a bibliografia e a filmografia listadas ao final fornecem abundante material para futuras prospecções. 5 Conferir Ryan, 1977. 18 A memória é um copista fiel. A imaginação é um colorista. Diderot 19 2 – As colorizações não fotográficas No clássico moderno “Do espiritual na arte”, o pintor Wassily Kandinsky fala do prazer obtido ao se passar os olhos sobre uma paleta coberta de cores: “(...) o olho sente a cor. Experimenta suas propriedades, é fascinado por sua beleza. A alegria penetra na alma do espectador, que a saboreia como um gourmet, uma iguaria” (1996, p.65). O cinema passou as suas quatro primeiras décadas de existência arquitetando meios de oferecer ao seu público, ao lado da miraculosa reprodução do movimento, também o deleite visual descrito na analogia gastronômica de Kandinsky. Basicamente, essas tentativas ramificaram-se em duas frentes distintas: a primeira buscava inscrever cores nos filmes por meio de tintas ou de corantes aplicados diretamente sobre os fotogramas; a segunda, mais complexa, constituía-se de técnicas visando ao registro, pela lente da câmera, das cores do mundo natural. O capítulo em curso trata das técnicas não fotográficas de colorização, como a pintura manual e por estênceis, os tingimentos, as viragens e o processo Handschiegl. A um só tempo rústicos e sofisticados, esses processos despertaram técnicos e realizadores dos primórdios e do período mudo para a hipótese de se olhar o retângulo de uma tela de cinema e ver ali, afinal, algo mais que pequenos extratos do cotidiano traduzidos em contrastes de luz e sombra: tinha início a grande aventura da cor em movimento. 2.1 – Pantomimas de luz e cor As formas ancestrais do cinema conheciam bem o poder das cores para arrebatar olhos e espírito humanos. Em meados do século XIX, lanternistas mágicos 6 sabiam como cativar platéias a partir de seus slides de vidro, pintados em fulgurantes tonalidades e projetados nos gabinetes consagrados à arte da luz e da sombra espalhados pela França, Alemanha e Inglaterra, em pleno vigor ainda nos anos de estréia do cinematógrafo. Eram ilustrações, pinturas, desenhos caricaturais e fotografias pintadas, com paisagens, números cômicos, idílios românticos, cenas eróticas, episódios burlescos, motivos os mais díspares em tons vívidos e variados, convidando ao olhar extático do espectador. Quase sempre confiada a artistas de grande maestria, a pintura de placas para lanternas mágicas deitou raízes também pelo cinema fotográfico, aparecendo em filmes de Thomas Edison, dos Lumière, de Méliès e do engenheiro 6 Inventada pelo monge Athanasius Kircher por volta de 1646, a lanterna mágica é a origem de todos os aparelhos de projeção. Sua voga durou até fins do século XIX, tendo sido intensamente explorada em feiras, cabarés e salões. 20 elétrico inglês Robert William Paul, que não hesitavam em contratar lanternistas famosos para colorir suas produções. Antes de as primeiras cronofotografias entrarem em cena, no entanto, figuras animadas e perfeitamente coloridas puderam ser vistas nos filmes do francês CharlesÉmile Reynaud, inventor, poeta e artista nascido em 1844. Surgidas num contexto em que manifestações das artes plásticas, como o desenho e a pintura, não eram estranhas ao campo das projeções, as experiências ópticas de Reynaud tiveram nas cores um componente fundamental à sua busca incessante pela ilusão de movimento. Filho de um relojoeiro e de uma aquarelista, foi ainda jovem que Reynaud aprendeu o ofício de preparar placas de vidro para palestras científicas. Iniciado na arte das lanternas mágicas pelas mãos do abade Moigno 7, também na juventude este francês travou contato com desenho industrial e fotografia, versando-se em seguida na construção de instrumentos ópticos e científicos. Essas diferentes formações ajudaram-no a enfrentar os mais difíceis problemas de óptica e de mecânica, sendo úteis inclusive para o seu exercício profissional, numa fábrica de aparelhos ópticos. Em 1877, com a intenção de construir um brinquedo para distrair o filho, Reynaud inventou um caprichoso instrumento capaz de dar vida a figuras desenhadas e dispostas em seqüência num tambor giratório, ao centro do qual instalava-se um sistema de espelhos prismáticos. Nascia o praxinoscópio, primeiro de uma série de outros quatro dispositivos 8, em que o inventor buscou obsessivamente o nec plus ultra das projeções luminosas, associando cor, forma, luz e movimento num único engenho. Tomado pela idéia de transformar seu praxinoscópio 9 em um apetrecho ainda mais requintado, Reynaud empreendeu diversos aperfeiçoamentos neste aparelho. Tais aprimoramentos culminaram na invenção do Teatro Óptico (Fig. 1), máquina apta a gerar ilusão de movimento a partir de uma série de desenhos pintados em quadrados transparentes de gelatina, dispostos em longas tiras articuladas e perfuradas. Um sistema de carretéis encarregava-se de fazer girar essas tiras, passando-as por um complexo mecanismo de iluminação associado a espelhos, que devolvia as imagens, em tamanho grande e animadas, às costas de uma tela de tecido branco. Outra lanterna conjugada ao aparato incumbia-se de lançar, sobre a mesma tela, a imagem pintada de um cenário, por onde os bonecos desenhados nas tiras podiam mover-se livremente, desempenhando 7 Famoso lanternista do século XIX, conhecido como o “apóstolo das projeções”. Incluem-se aqui o praxinoscópio de projeção, o praxinoscópio-teatro, o pião-fantoche e o Teatro Óptico. 9 O praxinoscópio foi premiado com menção honrosa na Exposição Universal de 1878 e comercializado. 8 21 papéis dramáticos em encenações de curta duração 10 . Surgiam aqui pequenos e coloridos espetáculos de puro prazer escópico, estrelados por personagens dotados de vida própria a repetir gestos e expressões humanas, batizados por Reynaud de Pantomimas Luminosas. Fig. 1 – O Teatro Óptico Pobre Pierrô (Pauvre Pierrot!, França, 1892), uma das duas Pantomimas Luminosas sobreviventes 11 , conta, em 15 minutos – 500 frames, 36m –, a popular história do palhaço Pierrô, em busca do amor de uma nada suscetível Colombina. No jardim italiano, flores, um bandolim e serenatas ao luar são as armas do personagem para tentar conquistar sua bem-amada, que, todavia, enamora-se pelo mascarado Arlequim. Bêbado e às lágrimas, Pierrô é descoberto a cortejar Colombina, levando uma surra de pauladas do rival (Fig. 2). Pierrô se salva, e Arlequim, eleito na preferência da moça, termina feliz e aos pulos nos braços de Colombina. As imagens de Pobre Pierrô! confirmam o domínio de Reynaud sobre técnicas que já prefiguram os desenhos animados modernos, tais como a separação entre os bonecos em primeiro plano e os backgrounds. Nos cenários do filme, Reynaud usa as cores como um elemento expressivo, destinado a suscitar a emoção do espectador: aliado à música triste, o azul da noite cria a atmosfera ideal para que os personagens da Commedia dell’Arte transitem, apresentando seus arrufos amorosos em mímica agridoce de luz e cor (Fig. 2). 10 Para uma descrição pormenorizada do funcionamento do Teatro Óptico, conferir Auzel (1998), pp. 60, 61, 62, 63. O livro traz a íntegra da patente do aparelho, publicada em Paris, em 1° de dezembro de 1888. 11 A maioria dos filmes de Reynaud foi destruída pelo inventor, num surto psicótico, por volta de 1913. As duas únicas Pantomimas Luminosas remanescentes, comentadas nesta seção, foram restauradas pelo Centre National de la Cinematographie, em 1984. 22 Fig. 2 – Cena de Pobre Pierrô Outro dos filmes de Reynaud que ainda restam, Em torno de uma cabine (Autour d’une cabine França, 1893-94) 12 põe à vista as peripécias voyeurísticas de um jovem galanteador, num ambiente praiano. A “cena cômica”, com cerca de 15 minutos – 45m, 636 quadros –, traz bonecos a nadar e a se divertir na orla marítima. Um casal aparece com um cachorrinho. Ao afastamento temporário do marido, a mulher recebe galanteios de um bem vestido rapaz. A moça retira-se para trocar-se, e o galante se posta à fechadura da cabine a fim de observá-la; surpreendido pelo marido, sai de quadro (Fig. 3). O casal vai se banhar, enquanto o bisbilhoteiro aproveita para se esconder numa das cabines. Ao voltar, a mulher descobre o jovem, oculto na barraca. Repreendido mais uma vez, o galante leva um tremendo puxão de orelhas, aplicado pelo nervoso marido. Ideal para o cenário deste filme proto-erótico, o cenário da praia, pintado em cores luminosas, já revela a tendência do cinema em enveredar pelos corredores da libido. Nada ingênuo, Em torno de uma cabine seduz as freguesias adultas, pela sua abordagem de temas picantes. Ao desejo, porém, ainda não se permite livre curso: sua presença é sutil, insinuada pelo que poderia ter sucedido no interior daquela cabine, antecipadora das futuras salas de cinema. Fig. 3 – Em torno de uma cabine: voyeurismo 12 Vale lembrar o nome completo do filme: Autour d’une cabine ou Mésaventures d’un copurchic aux bains de mer (Em torno de uma cabine, ou as desventuras de um galante nos banhos de mar). 23 A partir de 1892, as Pantomimas Luminosas ganharam apresentações regulares no Museu Grévin, em Paris. Nos oito anos em que ali estiveram em cartaz, os filmes do Teatro Óptico atraíram ao local cerca de 500 mil pessoas 13 , resistindo inclusive à chegada da “nova arte”, o cinema fotográfico. Se, até a estréia do cinematógrafo Lumière, Reynaud ignorou solenemente as experiências para gerar ilusão de movimento através da fotografia estática, em 1896, a pedido de Gabriel Thomas, administrador do Museu Grévin, o inventor finalmente ensaiou uma aproximação das cronofotografias. Para tanto, Reynaud concebeu uma misteriosa câmera, a que chamou fotocenógrafo, destinada exclusivamente à tomada de vistas. Das 16 poses captadas por segundo por essa câmera, Reynaud escolhia apenas três ou quatro fotogramas para, depois de retocados e pintados, projetá-los por meio de um sistema análogo ao do Teatro Óptico (MANNONI, op. cit., p.376). Cerca de três filmes foram realizados com o fotocenógrafo, mas a idéia não prosseguiu além desse ponto: ao término do século XIX, as projeções luminosas de Reynaud não resistiram à concorrência com o cinema, vendose forçadas a dividir espaço no Museu Grévin com exibições rasteiras da companhia Gaumont, até serem definitivamente retiradas de cartaz naquela casa, em 1900. De modo algum, entretanto, se poderá dizer que as Pantomimas Luminosas de Émile Reynaud foram vencidas pelos “pedaços de vida” dos Lumière. Mais afeito a tintas e pincéis, este inventor preferiu caminhar na contracorrente das cenas cinzentas do cinematógrafo e de seus parentes próximos, mantendo-se fiel à tradição pictórica das projeções de lanternas mágicas, herdada do abade Moigno. Reynaud entendia o seu “cinema” como uma arte autônoma, na linha evolutiva das belas-artes, regida por leis próprias e não escravizada pela fria imagem técnica. Antes de tudo um artista, este pintor de filmes não se via “de modo algum seduzido pelos ‘modernos’, pelos cientistas que haviam conseguido cronofotografar a vida, embora em preto-e-branco”, escreve Mannoni (op. cit., p.359). Foi sobretudo em cores, pintadas em placas de vidro, folhas de gelatina ou em películas fotográficas retocadas a pincel e tinta que Reynaud enxergou as suas imagens movimentadas: a “sétima arte”, pensava, não poderia prescindir da companhia da cor e dos ingredientes plásticos se quisesse seguir a sua jornada rumo ao maravilhoso, traçada desde as mais vetustas projeções de lanternas. O tempo e a evolução subseqüente do cinema cuidaram de justificá-lo. 13 Dados de Auzel (op.cit., p.5). 24 2.2 – Balés cromáticos Tributário das muitas experiências que nortearam o desenvolvimento da cronofotografia, Thomas Edison foi quem primeiro operou o milagre de dar o sopro vital a uma série de fotografias estáticas, em meados da década de 1890. Em 1894, o cientista mobilizou sua equipe de assistentes e, após sucessivas tentativas, infundiu movimento a imagens capturadas em seqüência 14 numa fita de celulóide, obtendo como resultado filmes de curta duração, exibidos em curiosos aparelhos ópticos denominados de quinetoscópios (Fig. 4) 15. Rápido para perceber o potencial econômico da invenção, em pouco tempo Edison espalhou suas “caixas misteriosas” por dezenas de salões – os kinetoscopic parlour –, em cidades como Nova York, Chicago, Washington, Londres e Paris, fixando como preço de acesso a cada uma das máquinas a quantia de 25 centavos de dólar. Foi assim que cidadãos comuns daquelas efervescentes metrópoles puderam conhecer a nova forma de entretenimento trazida por aquelas grandes e pesadas caixas de madeira, hábeis em mostrar “fatos tão perfeitamente executados, que se acreditaria desempenhados por seres vivos” (DILLAYE, apud MANNONI, op. cit. p. 393). Vistos, em escala individual, por meio de uma abertura existente na parte superior da máquina, os filmes do quinetoscópio apresentavam assuntos variados e, em geral, concernentes ao universo masculino. Seus temas iam desde um hercúleo senhor de bastos bigodes – Sandow, o magnífico – a expor suas qualidades viris (Sandow, EUA, 1894), até ferreiros a malhar espetos de aço numa bigorna (Blacksmith scene, EUA, 1893). De 1894 a 1895, também diversas dançarinas dos music halls de Nova York se apresentaram, a convite, no estúdio de Edison – o Black Maria – para, filmadas, virarem atrações disputadas nos salões de quinetoscópios. A nova tecnologia do cinema, nascida para registrar formas em movimento, ensaiava suas primeiras aproximações desta arte milenar, a dança, encarregada de “reunir plástica e música pelo milagre do ritmo a um só tempo visível e audível, e de fazê-las entrar, vivas, pelas três dimensões do espaço.” (FAURE, 1953, p.15, tradução do autor). 14 Operação conseguida à custa do quinetógrafo, aparelho de tomada de vistas desenvolvido com a colaboração decisiva do cientista William Dickson. 15 Aparelhos de projeção estereoscópica inventados por Thomas Edison em 1894 e comercializados no mesmo ano. No interior da máquina, um sistema de polias e roldanas girava filmes de 35 mm perfurados, com duração de 20 segundos e a uma velocidade de 40 quadros por segundo. Não exibidos para vastas platéias, como o cinematógrafo, os filmes do quinetoscópio só podiam ser observados individualmente, através de um visor. 25 Fig. 4 – Quinetoscópio Edison Egressa da casa de espetáculos Koster & Bial’s, nas cercanias do laboratório de Thomas Edison, a bailarina Annabelle Moore Whitford pisou o palco do Black Maria pela primeira vez em agosto de 1894, tornando-se, um ano depois, a artista de variedades a ter a sua imagem registrada em maior número de vezes pelas lentes dos assistentes de Edison, William K. Dickson e William Heise, operadores e construtores da “mais prodigiosa e apaixonante invenção deste século científico” 16 . A maioria dos filmes de Annabelle Moore desvelava-se aos olhos do público em variados matizes, pacientemente pintados à mão pelas esposas dos assistentes de Edison, diretamente nas películas. Mutáveis, as cores desses filmes procuravam replicar as apresentações multicoloridas dos “balés fantásticos” de Marie Louise Fuller (dita Loïe Fuller), bailarina do Folies Bergères e norte-americana de origem, de quem Annabelle, assim como várias outras dançarinas da época, retirara inspiração para seus números dançantes. Artista de presença marcante na belle époque (período que antecede a eclosão da I Guerra Mundial), Fuller fizera-se conhecida na Europa e nos Estados Unidos desde 1892, devido à sua exibição-fetiche no Folies Bergères, “A dança serpentina”, na qual executava uma eletrizante coreografia evocativa de metamorfoses da fauna e da flora (Fig. 5). Modernas, as atuações de Loïe Fuller envolviam um intrincado jogo de luzes, contando inclusive com projeções de pinturas em placas de vidro sobre seu vestido ondulante, além do uso de espelhos laterais. Paroxismos de movimento e cor, esses “balés elétricos” eram principalmente uma experiência sinestésica, buscando fundir 16 De texto no jornal Washington Evening Star, em 8/10/1894 (apud MANNONI, op. cit., p. 391). 26 dança, música e artes plásticas num único espetáculo, para mesmerizar platéias pelos palcos dos teatros de vaudeville 17: Fuller dizia-se capaz de esculpir a luz. Fig. 5 – Marie Louise Fuller O mesmo colorido irreal dos “balés fantásticos” de Loïe Fuller 18 pôde ser visto, na primeira década do cinema, em uma série de filmes de imitadoras da artista, realizados não apenas pela companhia de Edison, mas também pela Societé Lumière, pela Star Films de Méliès, pela Gaumont (empresa que se especializou em filmes do “gênero Loïe Fuller”), pela Éclair, pela Pathé Frères e, na Alemanha, pelos irmãos Skladanowsky. Em Annabelle does her Serpentine Dance (EUA, 1897, T. Edison), por exemplo, Annabelle Moore é vista a bailar sob o fundo negro do palco do Black Maria, enquadrada em plano geral 19 , agitando estacas presas às pontas de um longo tecido, enquanto gira em torno de si mesma, em movimentos de turbilhão, acompanhados por cores que se metamorfoseiam em sua roupa. Quase abstrato, o frenesi da dançarina vai do amarelo-laranja ao rosa e resulta num pulsante espetáculo cromático. Danse Serpentine (França, 1897), filme número 765 do catálogo dos irmãos Lumière, segue essa mesma tendência, ao promover a união feliz entre os movimentos registrados pelo cinematógrafo e as cores, sem outra função ali que não o êxtase do olhar. A dança da serpentina é realizada pela bailarina (de nome não informado) sobre um palco de 17 Vaudeville: teatro de variedades típico dos Estados Unidos, freqüentado pela classe média, que apresentava atrações diversificadas, inclusive com projeções de filmes curtos. 18 Não há registros conhecidos, em filme, de Loïe Fuller. 19 A essa época, o cinema ainda não se consolidara em uma linguagem. Muitas das posições de câmera hoje difundidas nem sequer eram pensadas e, por isso, segundo COSTA (passim, 2005), pode-se afirmar que, em sua maioria, fotografavam-se os primeiros filmes em plano geral. 27 madeira; no fluxo e refluxo das ondas de seu vestido, desfilam rosas, laranjas, verdes e azuis, em hipnótico jogo de sedução através da cor (Fig. 6). Fig. 6 – Danse serpentine, da Societé Lumière Danse serpentine dans la cage aux fauves (França, 1900) – do francês, inventor e mais tarde um dos fundadores da companhia Éclair, Ambroise François Parnaland – é também um filme de dança, pintado à mão, misturando o “gênero Loïe Fuller” a uma atração de circo. Interessados em fixar o movimento físico, filmes dos primórdios, como Danse serpentine dans la cage aux fauves, não raro exibiam em suas imagens atletas, acrobatas, contorcionistas, animais amestrados e outras atrações de espetáculos populares. É comum ver-se nesses registros, portanto, atrações grotescas ou mesmo chocantes, especialmente eficazes em atrair público. Em Danse serpentine dans la cage aux fauves, a câmera em ângulo oblíquo apresenta as evoluções de um domador e de seus animais ferozes por uma estreita jaula de circo. Como convidada do perigoso espetáculo, ninguém menos do que uma conhecida dançarina do Moulin Rouge, a intrépida Mademoiselle de Ondine (Fig. 7) 20. Fig. 7 – Dança serpentina em jaula de circo 20 Ao final do século XIX, apresentações com leões, tigres, ursos e outros animais tornavam-se mais e mais freqüentes em circos e feiras populares. Algumas dessas atrações foram levadas a níveis radicais por seus apresentadores, que até mesmo introduziam voluntários em suas jaulas, além de receberem ali frágeis convidados, tais como dançarinas e poetas. 28 Dentro da jaula, o domador do Laurent Zôo esgrime seu chicote contra dois grandes leões. O homem segura uma vaca pelos chifres, enfurecendo mais ainda os animais selvagens. Novo quadro e dois tigres de Bengala alaranjados pulam de um lado a outro, ao estalar do chicote do treinador, que afasta outro leão até o fundo, para fazer entrar Mademoiselle de Ondine na minúscula cela. Tem início uma rápida dança serpentina: o vestido da moça serpenteia, passando do amarelo ao azul até chegar ao verde. Concluído o número, o domador intimida o leão com mais um estalo de chicote, terminando este filme bizarro, plenamente adequado ao contexto das feiras populares e dos espetáculos de variedades daquele período. Não menos espantoso que Dança serpentina na jaula das feras é Butterflies (Le farfalle, Itália, 1908), filme que leva a associação entre cores e bailado a limites extremos. Pertencente à fase italiana do cineasta espanhol Segundo de Chomón e rodado pela companhia italiana Cinès, Butterflies começa com um grupo de japonesas dançando uma coreografia exótica, com pára-sóis amarelos, rosas, verdes e azuis. Enquanto as japonesas dançam, moça caracterizada de borboleta e colorida em tons variados é mantida presa numa cabine. As orientais saem de quadro, e vê-se um homem de asas e vestido em malha preta aproximar-se da cabine para libertar a moça-borboleta de seu claustro. De volta à cena, as japonesas surpreendem o homem-inseto ensaiando um cortejo à sua equivalente em espécie. É o suficiente para se organizarem num estranho ritual sádico, em que arrancam as asas do personagem masculino. Um corte súbito e tem-se novo grupo de bailarinas, vestidas em longos véus e contra um fundo negro, a efetuar a dança da serpentina em movimentos síncronos, sob fabulosa profusão cromática (Fig. 8). No vórtice desse turbilhão multicor, o áptero e desconsolado homem-inseto perambula a esmo: destituído das asas, parece miseravelmente privado de sua sexualidade. Fig. 8 – Butterflies: vórtice de cores 29 Em geral, os coloridos filmes de dança serviram à perfeição às primeiras experiências cromáticas dos pioneiros das imagens móveis, liberando a cor para um movimento fluido e metamórfico na tela, distante de qualquer compromisso com a representação realista. Era o encantamento puro, quase enamorado, de uma nascente tecnologia pelos primeiros contornos de sua forma plástica. Mais do que manifestar um interesse na mulher como objeto do desejo e contemplação masculinos, filmes ao “gênero Loïe Fuller” revelam, antes, uma grata satisfação em mostrar cores a ganhar brilho e movimento nas vestes daquelas bailarinas. A experiência sensorial da cor projetada pode, assim, ser entendida como mais um entre os muitos prazeres visuais que ao novo meio caberia oferecer para o homem do século XX, personagem de um cenário social, econômico e cultural em acelerada mutação. Ao capturar e multiplicar este esfuziante balé cromático, o cinema traduzia plasticamente, e talvez como nenhum outro espetáculo popular da época, o desejo de se constituir uma outra era na história da humanidade, guiada agora pela crença inconteste na racionalidade tecnológica e por legítimos anseios de renovação estética. Era o auspicioso – e ingênuo, se verá depois – início do que veio chamar-se de modernidade. 2.3 – As cores do mágico A estréia do cinematógrafo no Grand Café teve como convidados empresários e figuras proeminentes do entretenimento parisiense, entre os quais, aquele que viria a ser talvez o maior inovador do cinema em sua origem, o então celebrado mágico, pintor e caricaturista Georges Méliès. Ao término da sessão, Méliès procurou o pai dos irmãos Lumière, Antoine, a fim de adquirir do patriarca uma daquelas fantásticas caixas de truques 21 ; ouviu como resposta, entretanto, que o cinematógrafo, um experimento científico, não se destinava à venda. Descontente com a negativa, Méliès viajou à Inglaterra em inícios de 1896 para lá comprar, de Robert William Paul, um aparelho de projeção recém-inventado pelo engenheiro inglês, denominado teatrógrafo. De posse desse instrumento, Méliès pôde então promover, ao lado de números regulares de mágica no seu teatro Robert-Houdin, sessões públicas e pagas de fotografias animadas, apresentando ali filmes curtos de Thomas Edison e de R. W. Paul. Foi também com esse aparelho, tornado por seus engenheiros numa câmera para tomada de vistas, que Méliès 21 A oferta de Méliès a Antoine Lumière chegou à casa dos 10.000 francos. 30 realizou seus primeiros filmes, em sua maioria registros de avenidas, praças e chegadas de trem, não muito diferentes de numerosas outras vistas animadas produzidas na época. De simples exercícios lumierianos, Méliès passou a imaginosos filmes curtos, nos quais aparecia como atração principal, numa série de apresentações. Manipulando com inventividade todas as etapas da criação cinematográfica, o diretor não se limitou, porém, a fazer do aparelho apenas uma via auxiliar para os números que o haviam tornado famoso no teatro Robert-Houdin. Em vez disso, partiu para uma exploração incessante das propriedades “mágicas” do aparato, valendo-se das mais diversas técnicas de edição e de efeitos especiais 22, criados pelo próprio Méliès ou derivados da tradição das lanternas mágicas, a fim de turbinar suas performances com diferentes truques e efeitos cinemáticos, a cada filme realizado. A todas essas inovações, Méliès acrescentou ainda cenários exuberantes e encenações cheias de movimento, logrando espetáculos diferentes de tudo o que até então se experimentara na grande tela. Seus filmes entraram, assim, pelo território da fantasia, erigindo mundos particulares, submetidos à lógica de uma visualidade “sobrenatural”, em tudo divergente do “movimento real da vida” comum às projeções dos Lumière. Nas mãos do mágico, a tecnologia das imagens móveis subvertia-se para dar origem a universos paralelos, só possíveis no reino da imaginação. Sob a direção de Méliès, as “máquinas de refazer a vida” transformavam-se em máquinas de sonhar. Num texto de 1932, em que analisa aspectos da própria obra, Méliès afirma entender seus filmes como artefatos endereçados unicamente aos “olhos do espectador, para lhe fazer charme ou lhe intrigar” (apud SADOUL, 1961, p.118). O elemento cromático não poderia deixar de estar presente a essa busca permanente por seduzir e maravilhar platéias: muitas das mais elaboradas produções do “mestre de Montreuil” foram vendidas em cores (en couleurs), normalmente pintadas à mão. Reconhecidos pelo estilo único de seu colorido, os filmes de Méliès seguiam padrões cromáticos originais, pintados por equipes de habilidosas moças coloristas, organizadas em linhas de montagem para um trabalho realizado ao longo de semanas. Assim como ocorria na pintura das placas de lanternas mágicas, tintas transparentes e à base de anilina eram utilizadas para pintar essas películas, tarefa executada com pincéis de pêlo de marta e os 22 Para suas trucagens mais freqüentes, Méliès utilizava a técnica de múltipla exposição (ou sobreimpressão), sobrepondo duas tomadas de cena num único quadro. Também a montagem por substituição permitia as transformações de um objeto em outro, recorrentes nos filmes de Méliès. A combinação de diversos quadros diferentes num só filme para torná-lo uma história contínua, por sua vez, era uma técnica narrativa já utilizada entre os lanternistas mágicos. O mesmo é válido para a aplicação de fades entre dois planos. 31 chamados pochoir, ou estênceis, para cada um dos fotogramas dos filmes 23 . Esse trabalho era normalmente encomendado a laboratórios existentes na Paris da belle époque, muitos dos quais tornados famosos por suas mestras coloristas. Reconhecida como um grande talento e responsável por chefiar um grupo de 220 moças, a francesa Madame Thuiller, uma dessas mestras, confirma, em declaração a Sadoul, que acompanhou a aplicação de cores a grande parte dos filmes de Méliès: Eu colori todo o Méliès, de 1897 a 1912, e todos à mão. Passava as noites escolhendo e selecionando as amostras de corantes. Durante o dia, operárias aplicavam os corantes de acordo com as minhas instruções. Cada uma delas era especializada em apenas uma cor e usualmente havia mais de vinte. Nós usávamos corantes muito finos à base de anilina, que eram diluídos com água e álcool. Os tons ficavam, assim, transparentes e muito brilhantes (apud FOSSATI, 1997, tradução do autor) 24. Prolífico, Mélies realizou em torno de 500 filmes, muitos dos quais definitivamente perdidos. De sua obra remanescente, este trabalho selecionou para análise três produções coloridas, ilustrativas de momentos distintos da filmografia do cineasta. O caldeirão infernal (Le chaudron infernal, França, 1903) integra os seus chamados filmes de truques, produções normalmente curtas e beirando o nonsense, em que Méliès buscava ostentar as “propriedades ‘mágicas’ do dispositivo cinemático, tanto quanto o próprio corpo como espetáculo – seja transformado ou desmembrado” (ABEL, 1994, p. 62). No filme, Méliès surge caracterizado como diabo, atirando para dentro de caldeirão fervente uma fileira de moças cativas. Aqui, o cineasta apresenta a cor como mais uma das pirotecnias de seu viril personagem satânico: a cada moça lançada no caldeirão, as profundezas respondem com uma grande labareda vermelha. Um fascinante híbrido entre pintura e imagem fotográfica é o que se vê, característica comum a grande parte dos filmes coloridos dos primórdios. Satã invoca seus poderes e, após novas explosões, traz as almas das moças de volta do além, apenas para se divertir. O feitiço, contudo, vira-se contra o feiticeiro, e os espíritos, transformados em tochas aladas (Fig. 9), infernizam a agora espavorida encarnação do demo. Perseguido pelas 23 O uso dos estênceis – uma cópia extra da película à qual se recortavam as áreas do filme destinadas a receber cor – visava à economia de trabalho, uma vez que, com esse expediente, podiam-se colorir até 20 frames por vez. 24 Disponível em: http://evora.omega.it/~demos/faol/Colour/GiovannaFOSSATI.pdf 32 chamas vermelhas, resta a satã também pular dentro do seu caldeirão, para enfim encerrar o filme. Fig. 9 – O caldeirão infernal Ao lado dos trick films, Méliès filmou dezenas de feéries 25 – gênero tipicamente francês de ópera-balé, baseada em contos de fadas e freqüentemente com acontecimentos mágicos em suas histórias. Em sua manifestação no cinema, as feéries não aparecem tão curtas quanto os filmes de truques, e se constituem a partir de espetáculos de palco, carreados sempre por algum número de dança. Diferentemente de O caldeirão infernal, narrado em plano único, a feérie Viagem através do impossível (Le voyage à travers d’impossible, França, 1904) organiza-se em planos compostos, denotando a preocupação de Méliès em contar uma história a partir de 40 quadros (ou tableaux), montados em sucessão. Rodado após o sucesso de Viagem à Lua, Viagem através do impossível incorpora alguns dos elementos desse filme, a exemplo do plano inicial, que traz as acaloradas discussões de um grupo de cientistas e professores, os sábios do “Instituto da Geografia Incoerente”. O grupo de doutos reúne-se em concílio, disposto a percorrer um tortuoso roteiro por céu, terra e mar, nos mais delirantes meios de locomoção: com traços de caricaturista, Méliès desenha um retrato extravagante de tecnologias futuras, parodiando o imaginário de ciência fantástica de uma peça homônima do francês Jules Verne. Professor Crazyloff (Méliès) detalha os planos para a expedição, na qual o grupo de viajantes irá desafiar fronteiras terrestres, aéreas e subaquáticas, retornando, ao fim e 25 Essas montagens muitas vezes ficavam em cartaz durante meses num único local, a exemplo de Viagem à Lua, que permaneceu por dois meses no Olympia Music Hall. Onde era possível – como nas casas de espetáculos –, as feéries se faziam acompanhar da execução de peças musicais; outras vezes, projetadas por feirantes ou exibidores itinerantes, eram conduzidas por um narrador (ABEL, op. cit., p. 70). 33 ao cabo, ao ponto de onde partiu. O professor empenha-se na construção dos veículos, fazendo cálculos numa grande oficina, com meia dúzia de funcionários e nuvens vermelhas escapando de motores e caldeiras resfolegantes: a cena pode ser vista como um auto-retrato de Méliès, em pleno trabalho: seus filmes tinham todas as etapas de produção realizadas ou supervisionadas pessoalmente pelo mágico. Novo quadro e temse uma estação, onde os passageiros apresentam-se ao embarque. O grupo segue num trem movido por dirigíveis, rumo aos Alpes. Os viajantes desembarcam e sobem em ônibus, que os transporta até as montanhas suíças. Eis que o ônibus precipita-se nas geleiras, destruindo-se por completo. Medicados, os passageiros reassumem suas posições agora num trem-dirigível, seguindo por um céu coalhado de estrelas, cometas e asteróides faiscantes: a oposição entre quente/frio perpassa toda a trama, imprimindolhe um ritmo dinâmico. Fig. 10 – Viagem através do impossível Parte da eficácia do filme deve-se à sua peculiar coloração, com um recorrente uso do vermelho, auxiliando a narração. Em vôo pelo céu, o trem entra pela boca aberta de um radiante sol antropomórfico, amarelo e com raios giratórios. O astro-rei experimenta uma indigestão e, rubro (Fig.10), vomita o comboio, que se esboroa no chão de um planeta desconhecido. A temperatura escaldante é enfatizada pela pintura vermelha, usada para colorir o solo do planeta, as rajadas de fogo e as explosões de fumaça em sua superfície. Mal suportando o calor, os viajantes entram num tanque refrigerador trazido pelo trem e ali terminam congelados. Crazyloff providencia uma fogueira em torno da câmara, a fim de derreter o gelo: nuvem de fumaça desprende-se das chamas, ocultando os personagens e cobrindo toda a extensão do plano (Fig. 11). É o momento ideal para um corte e a passagem ao quadro seguinte. 34 Fig. 11 – Cenário extraterrestre em Viagem através do impossível Após a excursão interplanetária, os viajantes embarcam num submarino. Derrubado do alto de uma montanha, o veículo cai em vôo livre até a Terra. Amparado por um pára-quedas, mergulha no mar. O batiscafo movimenta-se em águas profundas, entre peixes e polvos observados por uma escotilha. Um incêndio toma a casa das máquinas e nova cortina de fumaça vermelha encobre a imagem. Permeada por uma sucessão de desastres, Viagem através do Impossível tematiza a chegada dos novos tempos – que modificam o cenário urbano através da nova tecnologia dos transportes – e a ruptura com um estado de coisas até então marcado pelo estático. Vindo das alturas, o submarino arrebenta-se nas areias de um porto: de dentro da máquina, saem os passageiros, vitoriosos e recepcionados por uma pequena multidão, em aclamação festiva, repleta de cores, música e dança. Fim da viagem extraordinária e, apesar dos incidentes, há a promessa de explorações futuras. Um dos últimos trabalhos de Méliès, O inquilino diabólico (Le locataire diabolique, 1909), com seis minutos e meio e montado em apenas seis quadros, coloca em cena as insólitas atitudes de um inquilino de apartamento. Numa altura em que o cinema, com década e meia de existência, passava por uma transição para o regime de narração que hoje o caracteriza 26 , o diretor ainda faz de seus filmes um pretexto para apresentações de truques prodigiosos: à procura de lugar para morar, Méliès vai a um senhorio, que o introduz a um apartamento. A primeira providência do mágico-inquilino consiste em empurrar janela abaixo um homem que pintava o recinto. O mágico saca de sua valise um grande baú (Fig. 12), do qual passa a retirar objetos a fim de mobiliar a nova casa: piano, mesa, cadeiras, louça, lareira, espelho, poltrona, quadros, um menino, a mulher, a sogra, o cunhado, a família completa. Passado algum tempo, descansa lendo 26 Segundo Charles Musser (opus cit., p. 6), o cinema atravessava, àquela altura, justamente por uma fase de transição entre o modelo inicial do “cinema de atrações”, verificado entre o seu surgimento, em 1894, até meados da década do século XX, e a opção pelo regime narrativo, consolidado em torno de 1910. 35 jornal, quando batem à sua porta para cobrar o aluguel. Sem dinheiro, Méliès põe o senhorio porta afora e enfia todos os seus objetos de volta na valise, tirando dali enfim uma escada, com a qual escapa pela janela. Acompanhado de guardas, o senhorio volta ao local e encontra ali apenas uma cômoda, na qual julga esconder-se o inquilino. Bate no móvel com uma vassoura, causando grande explosão vermelha: o teto vem abaixo e o filme termina, numa antevisão do melancólico fim para as aventuras cinematográficas do mágico de Montreuil. Fig. 12 – O inquilino diabólico O inquilino diabólico não repete a riqueza cenográfica dos grandes sucessos de Méliès: assolada por dívidas e pelo crescimento arrasador de suas concorrentes, a produtora Star Films vivia então uma situação caótica, premida pela necessidade de fazer frente à produção de outras companhias. O personagem de Méliès no filme – um velho peralta – trai, pois, certo enfado, como se fosse ele próprio o inquilino incômodo da grande indústria, sempre a lhe cobrar mais e mais pela sua permanência no negócio dos filmes. Os anos gloriosos do ilusionista que encantara o mundo, entre 1902 e 1903, aos poucos ficavam para trás: a partir do Congresso Internacional dos Fabricantes de Filmes (fevereiro de 1909), presidido por Méliès e dominado pelos 12 grandes do cinema à época, o diretor teve seus interesses seriamente comprometidos. Buscava-se atender à crescente demanda por filmes, e a situação que se configurou após o Congresso terminou por favorecer apenas as companhias de produção abundante, rápida e barata, como a Pathé 27. Para a fina artesania da Star Films, dependente das múltiplas habilidades de um único homem, as novas regras foram fatais. A bancarrota financeira 27 Elizabeth Ezra (2000, p. 16) observa que, entre 1905/06, a produção de Méliès atingia a dois títulos por mês, enquanto a produção mensal da Pathé chegava a 18 filmes. 36 não tardou a chegar, acelerada pelas sucessivas manobras contra a Star Films e pelo fracasso de seu irmão, Gaston Méliès, em conduzir o escritório norte-americano da companhia. Para piorar, ao final dos anos 1910, o gosto do público mudara e os filmes de Méliès soavam fora de moda. Tendo seus dois últimos filmes, de reduzida bilheteria, produzidos pela Pathé em 1913, um combalido Méliès renunciou afinal à condição de produtor independente, deixando-se atropelar pelo veloz reordenamento do mercado cinematográfico. No quadro que se formou, não havia mais lugar para seu artesanato, feito de pura paixão pela arte que ajudou a engendrar. Ao final do século XIX, quando a constelação de filmes de atualidades em circulação dera mostras de cansar o público – crise que chegou a ameaçar a existência do cinema –, o mágico renovou o interesse pela arte das fotografias animadas com suas “cenas fantásticas”, calcadas num inesgotável repertório de truques, associados a montagens teatrais barrocas. Tornou-se, assim, o criador de imagens tão libertas quanto possível da servidão ao realismo documental, tendência então dominante, capitaneada pelos Lumière. Nessa obra, em que não se distingue o falso do verdadeiro, nem o verdadeiro do falso – conforme a feliz percepção de Georges Sadoul (1961, p. 84) –, Méliès promoveu uma festa para os olhos: as cores foram convidadas de honra em seu show de magia cinemática, uma das maiores celebrações do artifício jamais feitas por um diretor. 2.4 – Explosões coloridas num assalto a trem Embora na década de 1900 uma parte substancial dos filmes coloridos vistos nos Estados Unidos viesse principalmente da produção liberada pela Pathé, o primeiro cinema norte-americano fez também suas incursões pelas cores não fotográficas. É o caso, por exemplo, de The great train robbery (EUA, Edwin Porter), um dos maiores sucessos comerciais da chamada era pré-Griffith, exibido em diversas cidades dos Estados Unidos, no ano de 1903. Em seu périplo pela América, o filme circulou também em cópias contendo inesperadas cores pintadas à mão, reservadas apenas para algumas de suas cenas. Um exame desses planos coloridos explicita algo do papel exercido pelos efeitos cromáticos nos primeiros anos do cinema. Em artigo 28 de 1997, no qual discorre sobre a função metafórica da cor na primeira década das imagens móveis, Gunning nota que o filme colorido desse período, 28 Colorful metaphors: the attraction of color in early silent cinema. Disponível em: www.muspe.unibo.it/period/fotogen/. 37 longe de atender a demandas por realismo, funcionava como um espetáculo à parte, mais caro do que os demais, dentre as várias atrações previstas no programa de um teatro de vaudeville ou de uma apresentação de feira. Embora figurem como uma tentativa progressiva de se levar às telas as cores da “vida real”, propõe Gunning, os filmes coloridos dos primórdios não correspondiam às expectativas mais afoitas por naturalismo cromático. Em vez disso, as películas pintadas eram espetáculos que suscitavam o desfrute de emoções rápidas e intensas, consistindo em mais uma das inauditas surpresas oferecidas pelas imagens móveis. Em debate promovido pelo Nederlands Filmmuseum em 1995, o historiador detalha essas observações, tomando em consideração The great train robbery: Muito freqüentemente, o que leva cor, por exemplo, em The great train robbery, é não o que é mais natural, mas o que é mais extremo. Em The great train robbery, não há cor até subitamente o cofre explodir, e a fumaça, uma coisa das mais evanescentes, aparece colorida, os tiros também. É importante perceber que a cor é quase sempre precisamente um efeito, mais do que uma qualidade de um objeto: um meio de afetar a audiência (HERTOGS [org], 1996, pp.29-30, tradução do autor). De fato, os planos que apresentam cor em The great train robbery mostram explosões, tiroteios, movimentos de dança ou execução de música. Associada a esses pontos da história, a cor resulta num recurso visual sugestivo o bastante para evocar a presença da dimensão sonora. Desempenha, nesse sentido, também uma função narrativa, servindo como um catalisador da ação dramática, localizando-se em pontos nevrálgicos da trama. Já na imagem de abertura, 29 um bandido enquadrado à altura do peito, vestido em gibão de couro verde e chapéu marrom, descarrega seu revólver diretamente contra a objetiva da câmera. O que seria o estampido dos disparos é manifesto pelas nuvens de cor, que sublinham o impacto dos tiros: combinada à imagem do pistoleiro, a fumaça colorida prende a atenção da platéia desde o início, pega de surpresa pelo homem de bigodes que atira em sua direção. O filme conta um fato ocorrido nos Estados Unidos em agosto de 1900, quando membros de uma gangue abordaram o trem n° 3 da Union Pacific Railroad e forçaram seu maquinista a desengatar os carros de passageiros do resto da composição, para em 29 A cena também podia ser posicionada ao final do filme, a critério do exibidor. 38 seguida estourar o cofre-forte do vagão de correios e fugir dali com U$ 5 mil. Buscando retratar o incidente, The great train robbery empresta a esse episódio um enredo ficcional, articulando diversos planos fragmentados de ação, “de modo a induzir a uma história narrada” (ANDRADE, 2004, p.17). Bandidos entram em posto telegráfico de estação ferroviária, forçando o telegrafista a enviar falsa mensagem autorizando a parada de um trem naquele posto. Dispostos a assaltar o trem, penetram no vagão dos correios e liquidam o responsável pela seção: um dos bandidos encarrega-se de explodir o cofre de pagamentos. Nesta cena, a cor surge em fumos multicoloridos, como um elemento-surpresa, para metaforizar o estrondo causado pela explosão (Fig. 13). Esse “barulho em cores” sinaliza o quanto o som é, desde sempre, uma componente desejada pelo cinema, já então um espetáculo múltiplo, sedento por mobilizar todos os sentidos humanos. Fig. 13 – Explosão em The great train robbery O bando saqueia o trem e foge. Em linha de ação paralela, uma menina, cuja roupa vem pintada em tom púrpura, entra na sala do telégrafo. A cor indica o papel fundamental que esta menina tem para a trama, pois é ela quem desamarra e reaviva o telegrafista, primeira vítima da ação dos ladrões. Corte para um baile na cidade, em que policiais dançam animadamente. Bandeirolas amarelas pendem do teto e mulheres dançam em vestidos amarelos e violetas, simulando a música (Fig 14). Um dos homens sapateia, em vista dos disparos dirigidos ao piso do saloon: a fumaça dos tiros desfaz-se em novos rolos coloridos. O funcionário dos correios então reaparece, alarmado, contando que o trem fora assaltado e seus passageiros, aliviados de seus pertences. A infomação leva os circunstantes a pararem a dança para sair ao encalço dos bandidos. 39 Fig. 14 – Baile de policiais Tem início uma perseguição; os homens da lei disparam tiros, cuja pólvora se desmancha em nuvens amarelas e cor-de-rosa. Os bandidos respondem com mais tiros multicromáticos (Fig. 15). Após algumas baixas, o bando se rende e tem as armas confiscadas pela polícia. Durante 10 minutos, The great train robbery mantém seu público cativo por meio da narrativa ágil, turbinada pela sensualidade cromática. Num tempo em que os filmes ainda não podiam falar, The great train robbery luta contra essa limitação técnica, valendo-se do recurso de que dispõe e que melhor domina – a imagem –, a fim de palmilhar o caminho da fábula. Potencializado pelo acréscimo da cor, o cinema vai aprendendo a narrar, ensaiando os primeiros passos para tornar-se o “espetáculo total” que sempre almejou ser. Fig. 15 – Cena final de The great train robbery 2.5 – Estênceis mecânicos: a cor na era industrial Com o vertiginoso crescimento da companhia francesa Pathé Frères no transcurso da primeira década do século XX, estabeleceram-se as condições necessárias para que o cenário moderno paulatinamente se deixasse habitar pelas cada vez mais 40 onipresentes imagens em movimento. Fundada por dois irmãos franceses – Charles e Émile Pathé – esta empresa evoluiu de pouco mais que uma oficina de artesãos, em 1900, para tomar as dimensões de uma corporação industrial com escritórios espalhados pelos quatro cantos do mundo, já em meados daquela década. Entre 1904 e 1906, a Pathé fundou e estruturou seu sistema de produção em série, dinamizou a distribuição de seus filmes, instalou escritórios em vários países, além de garantir a exibição regular de suas películas em feiras, cafés-concerto, teatros de vaudevilles e casas de espetáculos, expandindo a atividade cinematográfica a um nível sem precedentes no contexto da belle époque. A cor não fotográfica atingiu seu ápice, em qualidade e quantidade, precisamente nas produções da Pathé Frères. Desde 1903, a companhia adotou a aplicação de cores para seus filmes, pintando-os em laboratórios especializados, à semelhança do que fazia, nessa altura, também a Star Films de Méliès. Admiradas por numerosas platéias ao redor do mundo, as imagens coloridas da Pathé tornaram-se, em curto intervalo de tempo, a marca registrada e o principal fator de promoção da empresa no estrangeiro. Como traziam sempre, nos cantos inferiores direito e esquerdo de seus quadros de abertura, o logotipo de um galo (copyright da empresa), além de intertítulos tingidos em vermelho sob fundo preto, essas produções ficaram conhecidas mundo afora como os “filmes do galo vermelho”. Em sua maior parte, os filmes da Pathé Fréres eram colorizados por meio de estênceis, o que permitia um maior número de cópias e a padronização das cores. Conhecida entre os lanternistas mágicos e aplicada em produções de Robert William Paul, a técnica do estêncil consistia em se recortar com estiletes, em cada fotograma de uma película, as áreas da imagem destinadas a receber cor, deixando-se o restante do fotograma devidamente mascarado. Havia uma cópia de estêncil para cada cor usada, sendo que, em geral, usavam-se em média três cores diferentes por filme. Títulos mais importantes recebiam maior número de tons, limitados a um total de sete 30. O recorte dos estênceis geralmente levava muito tempo para se concluir, mas uma vez prontos, as impressões coloridas eram feitas em alta velocidade. Um mínimo de 200 cópias por filme era necessário para que o processo se tornasse econômico. Buscando ainda mais agilidade, em 1906 a empresa patenteou um exclusivo sistema de colorização por estênceis mecânicos, derivado de máquinas de colorir cartões-postais, 30 Filmes coloridos circulavam em menor número do que as cópias em preto-e-branco. Por esse motivo, preços mais altos eram cobrados aos espectadores desse tipo de produções. 41 chamado Pathécolor. O sistema permitia maior rapidez e agilidade no recorte e pintura dos filmes, com um conseqüente aumento na produção. Entre 1907 e 1910, a Pathé procedeu à mecanização de seu sistema de colorização, destinando uma inteira unidade do seu núcleo de produções nos arredores de Paris somente à copiagem e pintura de centenas de películas. Numa era em que a indústria filmográfica não se submetia ainda à fiscalização dos sindicatos, a Pathé possuía, apenas em sua unidade de cinema 31, em torno de 1.200 empregados, a maior parte dos quais mulheres, organizadas em linhas de montagem semelhantes às da indústria têxtil (Fig. 16), para trabalhos assim chamados de “fino acabamento” (ABEL, 1994, p.20). Na oficina de colorizações da companhia, de 300 a 400 mulheres ocupavam-se na manipulação de máquinas de nostálgica ficção científica, com a finalidade de dar cores, em partes ou integralmente, aos mais variados filmes, de feéries a extravaganzas, de filmes históricos a atualidades. Posicionada à mesa de trabalho, cada colorista tinha à sua frente uma ampliação, em vidro transparente, do fotograma do filme a ser pintado. Já do lado esquerdo da colorista, situava-se um mecanismo pelo qual passava a película destinada a ser o estêncil. Munida de instrumento metálico de ponta fina, a operadora delineava, na ampliação do fotograma, a área escolhida, na imagem, para receber a cor. Simultaneamente, uma agulha elétrica vibratória associada a um pantógrafo de redução recortava no estêncil, à proporção de 10 para 1, o mesmo espaço delineado pela colorista na ampliação. Fig. 16 – Laboratório de estencilização da Pathé Passava-se o quadro adiante ao giro de uma manivela, operação repetida para cada um dos milhares de fotogramas de um único filme. Um máximo de até sete seções de cores era usado em cada fotograma, com uma profissional trabalhando no azul, outra 31 A empresa comercializava também projetores cinematográficos e fonógrafos. 42 no verde, outra no amarelo e assim por diante. Após um banho para a retirada de sua gelatina, os estênceis eram alinhados em sincronia às cópias de exibição. Esse “sanduíche” passava por um aparato especial dotado de uma tira de veludo rotatória, permanentemente molhada na substância corante, por sua vez aplicada ao filme. Na etapa final, retoques à mão eram dados à pintura, pelas coloristas. Os filmes em Pathécolor primavam não só pela beleza e variedade de tons, mas também pela precisão do registro entre imagem fotográfica e cor, algo quase impossível de se obter nas colorizações à mão livre. Das muitas produções realizadas com o sistema, há vários títulos notáveis, tanto por suas belas harmonias cromáticas, quanto pela precisão na aplicação das cores. Apenas uma pequena parcela dessa filmografia será aqui mencionada, por dever de síntese e tendo em vista o ainda difícil acesso às cópias. 2.6 – As mil e uma noites da Pathé Frères O historiador Richard Abel refere que, em 1905, a Pathé dispunha de três estúdios em plena atividade nos arredores de Paris – dois dos quais possuindo palcos duplos –, trabalhando simultaneamente para produzir 12 mil metros de filme positivo por dia, algo em torno de 18 filmes por mês (1999, p. 29). Voltada em sua maior parte à produção de histórias narradas, a companhia dividia esses estúdios entre cinco diretores, cada um dos quais responsável por um determinado tipo de filme. A Ferdinand Zecca, por exemplo, além da supervisão geral, cabiam os “dramas realistas”. Lucien Nonguet era o especialista em atualidades e em reconstituições históricas. Gaston Velle dirigia os filmes de truques e as feéries. Já Albert Capellani fazia os dramas sentimentais e Georges Hatot, os filmes de perseguição (idem, 1994, p. 21). Foi a partir desta usina de imagens funcionando a todo vapor, portanto, que a companhia constituiu um vasto repertório de maravilhas, do qual o grosso dos exibidores da primeira década do século, franceses ou estrangeiros, não se via facilmente inclinada a abrir mão. Popular na Europa a partir de fins do século XIX, o fabulário reunido no livro das “Mil e uma noites” exerce grande fascinação sobre o homem ocidental desde a sua primeira tradução para o francês, no século XVIII. Notadamente para a criação cinematográfica, esta coletânea de mitos e lendas persas, árabes e indianas consiste numa inesgotável fonte de inspiração. Um casamento especialmente feliz deu-se, por exemplo, entre os primeiros filmes da Pathé e os mundos fantasiosos encontrados nas páginas deste livro. Interessava às imagens em movimento a hipótese de usar a riqueza 43 imagética das “Mil e uma noites” para expor os prodígios tecnológicos de que a nova mídia era capaz. Isso levou à realização de filmes passados em cenários exóticos e luxuosos, povoados de gênios, feiticeiros, sultões, califas, sílfides e tesouros vultosos. Não por menos, adaptações de contos das “Mil e uma noites” foram algumas das mais bem-sucedidas produções da companhia, nos anos de sua fundação. Entre as mais antigas produções da Pathé a ter resistido ao tempo, Ali Babá e os quarenta ladrões (Ali Baba et les quarante voleurs) enreda conhecido relato das “Mil e uma noites”, segundo o qual homem simples torna-se rico após descobrir a senha para abrir as portas de um esconderijo de ladrões. Fotografado em 1902 por Ferdinand Zecca, o filme inseriu-se numa estratégia de expansão adotada pela empresa, entre 1906 e 1907, na qual sucessos de seus primeiros anos foram relançados, pintados pelo sistema de colorização por estênceis. A providência resulta eficaz: coloridas, as imagens de Ali Babá e os quarenta ladrões evocam o clima misterioso e mágico do oriente, explorando os cromatismos dourados das terras do sol nascente. Para ser encenado, o filme contou com atores da Ópera de Paris, sob a direção artística de Albert Collas, partindo da transposição do conto das “Mil e uma noites” para o formato de pantomimas populares (ABEL, op. cit., p.81). Na cópia colorida de 1907, o filme desdobra-se em 12 quadros, começando pelo protagonista escondido por entre rochas cenográficas a observar bando de ladrões que transporta um portentoso butim. Atento à cena, Ali Babá grava as palavras mágicas – “Abre-te Sésamo!” –, ditas por um dos bandidos, a fim de abrir as portas de uma caverna. Com o código secreto, Ali Babá entra no esconderijo, saindo de lá com tanto ouro quanto pode carregar o seu burrico. Novo quadro e Ali Babá surge em cenário doméstico, contando a aventura à mulher. “Enfim rico”, diz o letreiro 32 . Assim são os contos das Mil e uma noites, segundo o escritor argentino Jorge Luis Borges, contumaz admirador do livro: “um mundo de extremos, no qual as pessoas são ou muito desafortunadas ou muito felizes, muito ricas ou muito pobres” (1999, p. 263). Ali Babá segreda as palavras mágicas a seu irmão, Cassim. O rapaz vai até o esconderijo em busca do tesouro, mas é descoberto pelo bando de ladrões, em retorno à caverna. Num truque ao gosto das decapitações de Méliès, Cassim tem a cabeça decepada pelo chefe do bando. Os ladrões tramam, então, um plano para eliminar Ali Babá, entrando em seu palácio escondidos dentro de jarros de óleo. A servente 32 Em Ali Babá, os letreiros foram colocados a posteriori, pois, em 1902, a prática ainda não havia sido inventada. 44 Morgiane descobre o embuste e derrama óleo fervente na boca dos jarros para sufocar os larápios. Na cena seguinte, dançarinas se apresentam, lascivas, a Ali Babá, tendo ao fundo um cenário de colunas orientais e paisagem com dunas e palmeiras. O cenário final é kitsch, ricamente cromatizado: vê-se um céu estilizado, pintado de azul e coalhado de estrelas rodopiantes e odaliscas em poses estáticas. O novo e derradeiro letreiro informa: “Triunfo de Ali Babá e apoteose”. Sucesso dos anos de ascensão da Pathé, a feérie Aladim e a lâmpada maravilhosa (Aladdin ou la lampe merveilleuse, França, 1906) também se baseia nas fabulações das Mil e uma noites. Sob a condução de Albert Capellani 33 – diretor egresso dos meios teatrais parisienses e dono, mais tarde, de uma copiosa filmografia –, o filme traz o mais famoso dos contos do livro pintado em cores generosas, auxiliando o seu ritmo narrativo e causando, ao mesmo tempo, várias surpresas ao espectador. Aladim e a lâmpada maravilhosa introduz o personagem-título no primeiro de seus 16 quadros: de calças vermelhas e camisa azul – figurino que o tornará facilmente reconhecível em todas as ações de que participa –, Aladim é visto num quarto miserável a sonhar com uma linda princesa. Desperto, encontra a moça de seus sonhos a cruzar as ruas, montada a cavalo e acompanhada de serviçais. A moça parece inatingível para os padrões econômicos de Aladim, que se apaixona. Abordado por um bruxo, o rapaz é levado a entrar numa câmara de cujo teto caem moedas douradas e onde vasos cor-derosa transformam-se em máscaras caricatas vermelhas. Na câmara, Aladim encontra velha lâmpada de óleo, cujo polimento liberta gênio semelhante a gnomo, saltitante e de asas amarelas, surgido de dentro de uma nuvem de fumaça cor-de-rosa (Fig. 17). Fig. 17 – Aladim e a lâmpada maravilhosa 33 A direção de fotografia esteve a cargo do indefectível Segundo de Chomón. 45 Para Borges, “A magia é uma causalidade diferente. É supor que, além das relações causais que conhecemos, há outra relação causal. Essa relação pode dever-se a acidentes, a um anel, a uma lâmpada” (op. cit., p. 263). De fato, Aladim e a lâmpada maravilhosa está repleto desses acontecimentos, criadores de mudanças súbitas na vida de seus personagens. Sonhos, tesouros repentinos, reis e sultões que são como deuses e não têm que explicar aquilo que fazem: uma série de eventos fantásticos imbrica-se na narrativa de Aladim para dar ao filme o encantamento próprio do conto oriental, potencializado pela adição da cor. De volta para casa, Aladim esfrega novamente a lâmpada e o gênio reaparece, assumindo agora a forma de um homem de cabelos amarelos e corpo pintado de verde, levemente corcunda, de barba pontuda, olhos puxados, gestos eloqüentes, possuidor de chifres e de desconcertante barriga (Fig. 18). Onipotente, o gênio cumprirá todos os desejos de seu amo. A maljeitosa aparição – um gigante, segundo a lenda – serve ao rapaz um lauto banquete, fornecendo-lhe vestimentas. Guiado pelo gênio, Aladim apresenta-se ao sultão, pai da moça pela qual se apaixonou, agraciando-o com presentes a fim de que conceda a mão da filha em casamento. Outra nuvem de fumaça e surge um grupo de escravos negros a servir o rico rapaz, o sultão e seus convivas, num grande e colorido festejo. Fig. 18 – O gênio da lâmpada Mas o feiticeiro árabe do início reaparece para roubar a lâmpada e devolver Aladim ao cenário de pobreza. O jovem consegue recuperar o objeto, matando o feiticeiro em seguida. Com o letreiro “Triunfo de Aladim”, o filme conclui-se, apoteótico. Dançarinas executam coreografias, gênios dão cambalhotas e desaparecem em nuvens de fumaça amarela. Tudo isso tem como pano de fundo um cenário luxuoso e exageradamente decorado, coberto por vermelhos, dourados, verdes e azuis. Ali Babá 46 e os quarenta ladrões e Aladim e a lâmpada maravilhosa recontam histórias já infinitas vezes contadas pelos sucessivos autores, tradutores e leitores que delas se ocuparam, nos séculos que antecedem o surgimento do cinema. Narradas mais uma vez pelas imagens versicores de Zecca e Capellani, essas histórias parecem plenamente sintonizadas ao espírito original das “Mil e uma noites”, cujo traço fundamental está na capacidade mesma que o livro possui de se recriar, interminavelmente. Como diria Borges, “Segue a leitura enquanto morre o dia / E Sherazade te contará tua história” (idem, p.187). 2.7 – A Paixão segundo Ferdinand Zecca Entre 1902 e 1905, a Pathé realiza Vida, paixão e morte de Jesus (Zecca e Nonguet, Vie, passion et meurt de Jésus Christ, França, 1902/1905), sucesso absoluto de vendas e maior produção da companhia francesa até então. Produzido na esteira de várias outras paixões dos primórdios, este filme – inteiramente colorido em Pathécolor – faz uma síntese do mito cristão, da manjedoura à cruz, no decorrer de seus 44 minutos. Dividido em 36 episódios com intertítulos, Vida, paixão e morte de Jesus costuma ser visto, hoje 34, como um pronto e acabado longa-metragem. Na época de seu lançamento, porém, raramente este filme foi exibido na íntegra, tendo em vista que, nos primeiros anos, as atrações de cinema eram curtas e, via de regra, esgotavam toda a sua ação numa única tomada de cena. Em suas exibições originais, portanto, o mais comum era se projetar Vida, paixão e morte de Jesus em partes independentes de um rolo ou mais, com os exibidores encarregando-se de acrescentar suas próprias cores às cópias compradas em preto-e-branco, evitando, dessa forma, também os custos adicionais cobrados pela pintura de estênceis mecânicos oferecida pela Pathé (ABEL, op. cit, p. 95). Dada a óbvia impossibilidade de se repetir as condições nas quais se davam a exibição e a recepção originais do filme, Vida, paixão e morte de Jesus será aqui considerado em sua versão integral, conforme chega, em formato DVD, às mãos e aos olhos do espectador contemporâneo. Esta cuidadosa reconstituição do drama de Cristo obedece à tradição, proveniente do teatro, de contar a saga do personagem bíblico a partir de tableauxvivants – forma popular e muito usual de entretenimento na virada para o século XX, usada para compor, nos palcos, esquetes baseados em gravuras ou quadros de pintores 34 Exibições ainda promovidas pela Igreja às Sextas-Feiras Santas, comuns sobretudo em cidades do interior, conforme Arlindo Machado (2005, p.88). 47 famosos. O filme tem cores aplicadas a todos os seus episódios, numa boa amostra do nível de excelência atingido pelo processo da Pathé. Detalhes escolhidos das imagens hospedam as cores do Pathécolor, pautadas em geral por um rigoroso respeito às convenções de significação simbólica cristalizadas pela Igreja Católica (Fig. 19). Os dois primeiros episódios de Vida, paixão e morte de Jesus descrevem a trajetória do casal Maria e José para o nascimento de Jesus, a partir do anúncio, feito à Virgem pelo anjo Gabriel, da iminente chegada do messias. A mãe de Jesus tem seu manto pintado de azul, conforme a convenção cristã de vestir este personagem com a cor do céu. Os anjos, em outras aparições ao longo do filme, recebem amarelo no halo que levam sobre a cabeça, remetendo ao dourado usado, na pintura sacra, para indicar a presença do sagrado. Já o manto de José ganha tons sóbrios de ocre ou marrom, como convém representar a figura do santo, marido e guia de Maria na viagem a Belém, em atendimento às determinações angelicais. Fig. 19 – Paixão de Cristo: cores simbólicas No quadro “Seguindo a estrela”, camponeses e reis Magos formam longa procissão para testemunhar o nascimento de Jesus: como é noite, a imagem vem coberta pelo tingimento azul. Montada em um único plano, a seqüência seguinte, intitulada “Natividade”, tem Maria e José no cenário de um estábulo, ajoelhados, velando o recém-nascido. A câmera se desloca 35 para a direita a fim de dar passagem aos Reis Magos, que chegam a Belém para a visita de boas-vindas ao menino: os reis e seus seguidores saem de uma paisagem pintada no pano do cenário para deslocar-se, numa diagonal, em direção ao primeiro plano. (Esta parte da cena é tomada pela coloração azul, articulando-se com o episódio “Seguindo a estrela”, para emprestar continuidade à 35 Considerado o primeiro travelling da história, da lavra de Segundo de Chomón, responsável pelos efeitos especiais do filme. 48 narrativa.) A câmera move-se de volta à cena do presépio, em preto-e-branco, e tem-se a impressão de um súbito amanhecer. No mesmo plano, os reis Magos entram em campo pela direita, acompanhados por um festivo coro de crianças e pastores, pintados em tons vibrantes de azuis, verdes e amarelos. Tudo se ilumina e é como se anjos, animais e homens esbanjassem cores e alegria pelo nascimento do assim chamado filho de Deus (Fig. 20). Fig. 20 – Reis Magos: Natividade Guardando poucas variações, o restante do filme segue a mesma planificação cromática respeitosa, reverente, sem grandes arroubos estilísticos: mantém-se a eficiente associação entre as técnicas de tingimento e viragem de película à pintura por estênceis mecânicos. Um providencial tingimento é aplicado ao quadro da deposição da cruz e também para “Jesus posto na tumba”: tudo é coberto de azul, como a significar a tristeza que se abate sobre os homens, face à morte do messias. No último quadro, intitulado “Ascensão”, observa-se Jesus Cristo num cenário sobrelevado, em companhia de um velho de barbas – Deus –, no zênite, ladeado por santos e anjos a tocar alaúdes e harpas, em dourados, amarelos, rosas e azuis, enquanto um coro de pastores contempla, do plano terrestre, a cena celestial (Fig. 21). Fig. 21 – Ascensão 49 Composto de episódios intimamente ligados, embora diferentes entre si, Vida, paixão e morte de Jesus tem seus quadros “amarrados” uns aos outros sobretudo em virtude do conhecimento prévio requerido para se entender o que se processa nas imagens. A escolha de um tema notório como a história de Cristo é um fator que auxilia enormemente a urdidura deste filme bastante longo e fragmentado para a compreensão do público de meados dos anos 1900. Orientado pelo respeito às tradições iconográficas cristãs, o plano cromático de Vida, paixão e morte de Jesus reforça o conteúdo simbólico de cada um dos quadros, para conduzir a uma melhor compreensão das seqüências: a carga semântica das cores dá às imagens, nesse sentido, a continuidade necessária para seguir narrando os sucessos e insucessos de Cristo, sem deixar dúvida quanto à mensagem carregada por cada um dos episódios. O cinema deve uma oração de graças a Ferdinand Zecca, Lucien Nonguet e todos aqueles que reconstituíram a saga cristã, nos difíceis primeiros anos de existência da tela prateada. 2.8 – Borboletas, elfos e tijolos mágicos A cor está presente de maneira marcante também na filmografia do húngaro Gaston Balthazar Velle, realizador de diversas feéries e fantasias para a Pathé Frères, na primeira década do século XX. Dentre os filmes do diretor que ainda resistem, alguns apresentam as cores não apenas como mais uma das novidades oferecidas pelo cinema; consistem, às vezes, na sua própria razão de ser. É o caso de Métamorphoses d’un papillon (França, 1904), apontado por Abel (op. cit., p.80) como peça de propaganda dos filmes coloridos da Pathé. Pintado por Segundo de Chomón em seu ateliê de Barcelona, o filme simula a transformação, contra um fundo preto, de uma lagarta numa crisálida, numa mariposa e, enfim, numa pujante mulher-borboleta, à custa de truques de edição. Nas asas de pano do inseto, o desfile de uma impressionante variedade cromática (Fig. 22). Embora simples, o tema de Métamorphoses d’un papillon serve às mil maravilhas para Velle metaforizar a ascensão da firma dos irmãos Pathé, transformada, de oficina de modestas dimensões na produtora dos filmes mais copiados do planeta, na primeira década do século XX. 50 Fig. 22 – Metamorfoses de uma borboleta Insetos coloridos povoam novamente a fábula didática La peine du tailon (França, 1905, Velle), filme no qual um professor de cartola e terno xadrez – personagem típico das peças de vaudeville – caça borboletas no cenário de uma floresta de cores múltiplas, ajustadas ao tom fantasioso da trama. Cada um dos espécimes coletados pelo professor é examinado em sua lupa. Numa tomada vertical, borboleta capturada aparece espetada e a bater asas em desespero. Cercado por dançarinas com asas de inseto, o professor é levado a uma caverna, onde se submete a julgamento. A justiça das moças-inseto traduz-se na severidade da pena imposta ao professor, que é visto em tomada vertical, imolado por um alfinete dourado e a se debater, exatamente como um de seus espécimes. Novo quadro e o personagem, perdoado, promete nunca mais maltratar as criaturas da natureza, em recado moral à audiência presumidamente composta de crianças. O filme termina num caleidoscópico desfile de cores nos corpos e asas das moças, adequado ao irrealismo kitsch da fábula. Na produção L’écrin du Rajah (França), realizada por Velle em 1906, há cores aplicadas de maneira bem pouco usual, com soluções que também procuram causar admiração e espanto. Os momentos iniciais do filme transcorrem com viragens de sépia combinadas a tingimentos amarelos. Velho rajá recepciona convidados em suntuoso palácio oriental. Um baú encantado desaparece misteriosamente do cenário, e o rajá ordena subordinados a procurar pelo objeto. O autor do furto é uma bizarra criatura, que aparece, de súbito, intensamente colorida sob um fundo negro. Meio homem, meio inseto, o ser foge montado sobre um elfo (Fig. 23). Mulher e homem saem à procura do monstro, surpreendido à entrada de uma gruta. A criatura tenta, em vão, assustar 51 caçadores e espectador, abrindo suas grandes e coloridas asas de bruxo. Não intimidada, a mulher espeta-o com a espada, e o monstro desaparece numa nuvem de fumaça. O baú mágico é finalmente encontrado. De dentro da caixa surge uma dançarina que faz entrar em cena um coro de seis moças, com vestidos verdes: sobrevém o tradicional e apoteótico desfile de encerramento do filme, com coreografias das dançarinas da Pathé36. Fig. 23 – O baú do rajah Dirigido por Velle em 1904, Japonaiseries (França) põe em cena um oriental que manipula caixa encantada, a fim de iludir o público com diversas mágicas de palco, consumadas por truques cinemáticos. O colorido emprestado ao filme associa-se aos seus ardis espetaculares, criando-lhe uma atmosfera ainda mais fantástica. De início, o mágico oriental retira um servil assistente chinês de dentro de sua caixa. Novos passes e também uma donzela surge, muito sorridente, para desaparecer logo em seguida. O palco em que se desenrolam as ações tem decorações em relevo, em forma de répteis, com adornos barrocos e japonesismos. O cenário é coberto de tons laranjas, enquanto os atores seguem trajados em robes azuis. O mágico e seu assistente colocam, dos lados direito e esquerdo do palco, apoios com máscaras pintadas de vermelho, para, numa tábua horizontal, empilhar tijolos retirados de dentro da caixa fabulosa. Com a varinha, o oriental derruba os tijolos, que se realinham em seguida, à custa de um movimento reverso no filme. Recomposta, a 36 Dois diferentes desfechos foram originalmente concebidos para este filme. O primeiro, censurado, traz a protagonista espadachim a reverenciar a bailarina que dança ao centro da apoteose, numa clara alusão homossexual. O segundo desfecho, mais ajustado à moral e aos “bons costumes”, mostra tão-só a celebração festiva que se desenvolve dentro da gruta e o pano final. 52 pilha de tijolos exibe o rosto em preto-e-branco de uma criança, num evidente truque de sobreposição. Novamente desmontada pelo mágico, a pilha ostenta, enfim, um grande galo vermelho pintado sobre fundo amarelo: é o logotipo triunfal da Pathé Frères: empresa responsável pela “mágica” de fazer surgir imagens como a da criança estampada na pilha de tijolos. A galinha dos ovos de ouro (Le poule aux oeufs d’or, França) consistiu, segundo Abel (op. cit, p. 171), na mais popular das feéries da Pathé em meados da década de 1910. Adaptado de fábula de La Fontaine, o filme, dirigido por Velle e fotografado por Chomón em 1905, traz em seu primeiro quadro uma galinha branca a chocar grandes ovos amarelos. Legenda com o título “A loteria do feiticeiro” introduz o espectador na trama: em cenário de praça medieval, simplório camponês é sorteado com uma galinha encantada. Ao chegar em casa, o homem mostra a ave à mulher, que a leva para o galinheiro. Nesse ponto, o filme assume o formato de um magnificente espetáculo de dança: cada um dos ninhos dispostos na parede do galinheiro transforma-se em uma bailarina da Pathé, vestida de maiô coberto de penas e pintado de amarelo. O conjunto das moças evolui então por um cenário onde há duas grandes cabeças de galinha desenhadas no pano de fundo, numa clara menção ao reputado logotipo da empresa. Fig. 24 – A galinha dos ovos de ouro De volta à “realidade” do camponês, tem-se o homem a celebrar a ave encantada, cujos ovos derramam moedas de ouro quando quebrados. O filme ilustra a confortável situação da Pathé à época, sem grandes rivais para suas produções no mercado cinematográfico internacional: o camponês agora vive numa casa luxuosa e mantém sua galinha-logotipo devidamente guardada num armário ricamente adornado. 53 Mas uns larápios entram pela janela da casa e querem raptar a ave do camponês. Em plano-detalhe, vê-se um grande ovo dourado, segurado pelos finos dedos (pintados) de um dos ladrões (Fig. 24). No meio desse ovo, a cabeça amarela de um demônio, cuspindo moedas de ouro sem parar. O diabo impede que a ave seja surrupiada pelos ladrões, os quais se escondem para observar o camponês. Por um alçapão, o campônio desce até uma câmara onde estoca seu tesouro: é a chance para os larápios, mais tarde, também penetrarem na câmara e levarem consigo todos os ovos de ouro. Ao descobrir o furto, o camponês se desespera e acaba por matar a galinha, cortando-lhe o pescoço. Uma sinistra megera surge do além para assombrar o homem e puni-lo pela sua avareza: o que parecia encaminhar-se para um final trágico termina, mais uma vez, numa apoteose, em que moças de maiôs coloridos de amarelo dançam, tendo ao fundo dezenas de galinhas enfileiradas em perspectiva, suntuosamente pintadas no pano de fundo. A Pathé, àquela altura soberana na atividade cinematográfica, começava a preocupar-se com a concorrência, cada vez mais acirrada no plano internacional, notadamente com mercados emergentes como o norte-americano: num campo disputado como o do cinema, fundamental era não matar a galinha – mais exatamente o galo –, para que a companhia seguisse colhendo seus preciosos ovos de nitrato de prata. 2.9 – O estranho mundo de Segundo de Chomón Com a ida de Gaston Velle para a Itália, em 1906, o espanhol Segundo de Chomón 37 assumiu o controle das produções de fantasias e feéries da Pathé, levando o gênero fantástico a seu ponto culminante na companhia. A extensa lista de filmes coloridos desse ainda pouco estudado diretor não deixa dúvida sobre o grau de importância dado por ele ao recurso cromático. Siderado pela invenção dos Lumière, Chomón chegou a Paris em 1899, começando sua carreira francesa na Star Films, para quem pintou películas, criou efeitos especiais e distribuiu filmes. Em 1901, Chomón integrou os estúdios Pathé, tornando-se ali técnico de iluminação e de fotografia, bem como especialista em trucagens ópticas e revelações, realizando filmes pautados pela influência do trabalho de Méliès. À diferença do mágico, porém, Chomón enxertou em seus cerca de 500 filmes uma inédita – e muito pertinente naquele início de século – discussão de gênero, dando às mulheres um protagonismo incomum na ação filmada. 37 O nome completo é: Segundo Victor Aurélio Chomón e Ruiz. 54 Fig. 25 – O escaravelho de ouro Uma de suas mais intrigantes criações, O escaravelho de ouro (Le scarabée d’or, França, 1907), consiste num exemplo de como a cor era utilizada por Chomón com prazer e inventividade dificilmente rivalizados. No filme, o diretor põe de lado o enredo para dar lugar à pura fruição de um esfuziante espetáculo cromático: no interior de um palácio, um feiticeiro egípcio executa estranha dança ritual, tendo ao fundo escada de pedra com decoração em estilo eclético. Ao avistar um besouro na parede, o bruxo agarra o inseto com as mãos e, num passe de mágica, faz surgir um caldeirão cenográfico, para atirar o inseto ali dentro. O caldeirão cospe uma fumaça amarela, da qual nasce curiosa mulher (Fig. 25) com grandes asas de libélula, aparição que deixa o velho desnorteado. Fig. 26 – Chomón: pirotecnia visual Abel (1994, p.283) sugere existir em O escaravelho de ouro uma inversão da postura de dominação masculina em relação à mulher, com as mulheres-inseto de Chomón ocupando o lugar tradicionalmente reservado ao homem. De fato, o aparecimento da dançarina-libélula é suficiente para perturbar a estável situação inicial: o cenário ao fundo torna-se colorido, passando a espirrar jatos de água e a lançar faíscas 55 em todas as direções. O velho dança em desvario, reagindo à aparição da mulher-inseto no alto da escada, tendo atrás de si círculo que gira numa orgástica explosão de cores e faíscas: a cena é tomada por cores espetaculares, em tudo desviantes de qualquer expectativa por realismo cromático (Fig. 26). A libélula pousa de volta no palco onde está o velho, rodeando o transtornado feiticeiro. Duas outras fêmeas aladas vêm das laterais para, juntas, agarrar o oriental e o atirar no caldeirão, que explode, desaparecendo numa erupção multicolorida. Em tríade, as mulheres – mais novos atores das sociedades modernas – dançam onde antes ficava o caldeirão, como a celebrar o sumiço do bruxo, metáfora do homem antigo e arcaico, fadado a desaparecer. Fig. 27 – En avant la musique Não tão delirante quanto O escaravelho de ouro, porém não menos imaginativo, En avant la musique (França, 1909) consiste num filme de truques em que Chomón põe notas de música coloridas a andar pelo desenho gráfico de uma pauta. O filme abre com maestrina de quepe amarelo – Julienne Mathieu, mulher de Chomón, ex-atriz de vaudeville – regendo diminutos músicos dentro de notas musicais dispostas num grande quadro retangular branco. A mulher olha diretamente para o espectador, enquanto comanda os instrumentistas com a batuta. É a execução de uma peça musical o que estáse vendo, e o olhar da moça quer informar o público disso. No plano seguinte, a regente aparece por inteiro, de casaco rosa, calças azuis e botas amarelas, para colher do chão uma partitura. Novo plano e a mulher, sempre rindo, comanda os instrumentistas, também coloridos, a andar sobre grande pauta de música (Fig. 27). Chomón instaura em En avant la musique uma divertida experiência sinestésica, valendo-se das propriedades da cor e das trucagens para produzir um filme com alto poder de sugestão musical. 56 Fig. 28 – O espectro vermelho Em O espectro vermelho (Le espectre rouge, França, 1907), Chomón lança mão dos efeitos especiais e de profusas cores para mostrar uma série de eventos sensacionais, passados no cenário de uma caverna governada por satã. Num primeiro quadro tingido de vermelho, criatura saída de um esquife entra em cena vestida como esqueleto. Com uma tocha, o esqueleto espalha fumaça multicolorida pela caverna. Alguns passes de mágica e o espectro faz aparecer meia dúzia de dançarinas, para sumir com elas em seguida, em meio às chamas coloridas. Mais duas moças são colocadas por satã deitadas sobre pedestais amarelos, envolvidas num papel preto e suspensas no ar: o espectro brinca com os habituais truques de corte e montagem, promovendo sucessivas aparições e desaparições, para êxtase do sentido visual do espectador. O espectro agora faz surgir um pedestal, sobre o qual repousam três frascos. O plano é aproximado até um close-up, a fim de enquadrar moças em miniatura, presas dentro dos frascos por uma sobreposição de imagens. Satã põe-se a encher os recipientes com o líquido escuro que derrama de uma jarra (Fig. 28). Uma fada de asas intervém e, desafiadora, faz sumir os frascos numa nuvem de fumaça (Fig. 29). Satã parece irritado e passa a manipular um grande espelho com o logotipo da Pathé, posto em primeiro plano. À medida que gira esse espelho, cada um de seus lados mostra rostos de mulheres e homens, em preto-e-branco. O cinema da Pathé Fréres é, sugere o filme, como esse espelho, um dispositivo capaz de revelar rostos e personagens em sua base de nitrato. Novamente em cena, a fada atormenta o diabo, até fazer com que se evapore numa nuvem de fumaça. Assumindo o controle do espetáculo, a fada exibe o que restou da figura diabólica – um simples esqueleto – e também desaparece, enrolada 57 no manto preto da criatura pérfida, afinal vencida pela sua magia. Ao cabo dos sortilégios de Chomón-satã, as mulheres sempre acabam levando a melhor. Fig. 29 – Mulher desafia espectro Em Roses magiques (França, 1906), um Chomón de fraque azul faz surgir rosas e mais rosas de suas mãos, contra o fundo negro de um palco (o filme é uma emulação explícita da fita de Méliès, La guirlande merveilleuse, de 1902). Algumas sacudidelas num buquê e têm-se três biombos, no alto dos quais aparecem cabeças de moças, as quais Chomón desloca para a esquerda ou para a direita a seu bel-prazer, para deleite também do espectador. As moças começam, então, a se levantar por trás dos biombos, sendo transformadas pelo apresentador em milhares de flores. Num movimento reverso do filme, Chomón emenda as flores umas às outras até formar uma grande cortina florida. São rosas amarelas, fúcsias, verdes e violetas, em homenagem explícita à mulher: a Pathé lança galanteios ao seu crescente público feminino. Ao fim das reverências, Chomón descansa, estirado numa concha cenográfica. Em 1914, Chomón envereda pela pantomima cômica. Embora ainda um filme de truques, Le quadruple crime de John (França) não tem sua ação passada num palco: externas são utilizadas aqui, a fim de encenar uma estapafúrdia briga de casal. Rapaz de gravata azul inquieta-se num apartamento, quando é visitado pela mulher: o casal discute e a moça é atirada pela janela. Ele, uma caricatura do marido atormentado; ela, a esposa insatisfeita. Ao descer as escadas do prédio, o rapaz encontra a garota, viva e a rir-se, sentada no meio-fio; amarra-a e a atira num rio. Sobrevivendo à fúria homicida, a mulher ressurge, incólume, andando pelas ruas. Em vão, o homem tenta enfiá-la no forno de uma padaria, cujo calor é ilustrado pelas cores berrantes que se vêem ali. Para seu desespero, a mulher retorna ao quadro, num banco de praça, sendo vítima, mais uma 58 vez, da explosão de uma dinamite posta embaixo do banco. Corte para o interior do quarto: o rapaz encontra a moça, intacta, a lembrá-lo do aniversário do casal. Tudo não passou de um pesadelo, e um Bonsoir estampado em letras garrafais termina o filme, com homem e mulher aos beijos e abraços: se não há hipótese de entendimento entre os sexos, é melhor que haja, ao menos, coexistência pacífica. 2.10 – A cor no filme de não ficção Num tempo em que os gêneros cinematográficos distanciavam-se das categorias hoje sedimentadas, as colorizações eram empregadas a todo tipo de produções. Embora mais facilmente acomodáveis à estética dos filmes fantasiosos, as cores disseminaramse também nos hoje denominados filmes de não ficção. Desde sempre uma área fecunda na produção cinematográfica, os filmes históricos, de paisagens naturais, de atualidades e de viagens – cuja origem pode ser localizada nos Lumière, pelo menos 38 – receberam cor por meio das mesmas técnicas aplicadas às feéries, filmes de truques, publicidades e extravaganzas. Ao contrário de tentar fazer dessas produções uma visão mais realista dos fatos e da história, porém, as colorizações dos gêneros documentais, segundo aponta Salmi (1997) 39, buscavam torná-los uma atração em si mesma, chamando a atenção do público para o ineditismo do espetáculo cinemático. Seqüências em cores, afirma Salmi, conferiam aos filmes históricos e de atualidades uma distinta ênfase dramática: “A cor era uma nova atração que podia ampliar a atmosfera dos espetáculos mais-largos-que-a-vida” (ibidem). Assim, a pintura manual figurou já em vistas lumierianas de fins do século XIX, tais como Partie de cartes (França, 1897, atribuído a Leopoldo Fregoli), filme no qual grupo de quatro homens joga cartas à volta de uma mesa, enquanto mulher trajando vestido lilás observa a cena. De pé, um dos homens traz a boina colorida em verde; dois outros homens, assentados, têm coletes e chapéus azuis. Do lado esquerdo do plano, um personagem de chapéu panamá, único não colorido, fuma, concentrado no jogo (Fig. 27). Sem o acréscimo cromático, o lazer vulgar da burguesia parisiense pareceria apenas mais uma entre tantas vistas com cenas domésticas, comuns em exibições nos estertores do século XIX. Colorido, Partie de cartes ganha uma extraordinária distinção, aproximando-se dos domínios do espetáculo. 38 É preciso não esquecer os travelogues, “gênero” muito difundido de exibição do século XIX, com palestras sobre viagens a países exóticos, ilustradas por projeções de lanternas mágicas. 39 Disponível em: www.muspe.unibo.it/period/fotogen/. 59 Fig. 30 – Partie de cartes Filme de viagem da Pathé, The abyiss of Bonau (França,1905), consiste num roteiro de paisagens turísticas, com planos panorâmicos de belezas naturais do campo europeu. Na cidade de Bonau, interior alemão, homem bebe água de rio. As rochas são pintadas em ocres e a vegetação rasteira, em verde. No Vale D’oueil (região dos Pirineus), um plano geral apresenta a “manhã na montanha”, com cavalos pastando e mata verdejante. Na torrente de Sorrouilhe, carneiros atravessam colinas, conduzidos por um pastor. Rochedos vêm pintados em amarelo ocre, enquanto a vegetação recebe tons de verde, e a água, de azul. Rapazes assentados na grama, junto a filhotes de ovelhas e um cão São Bernardo, encerram o filme, sob as paisagens do lago D’Oo. Com apenas três cores, o colorido de The abyiss of Bonau é contido, se comparado ao dos filmes fantasiosos, mas é cativante o bastante para evocar as delícias da vida campestre. Produzido pela Lubin Films, o filme de atualidades Elevage d’autruches et de crocodiles (1910) registra, na Austrália, a visita de uma família ao zoológico. Pai e mãe levam filha a conhecer animais exóticos, tais como jacarés, hipopótamos e avestruzes. A colorização é sumária, realçando a vegetação, coberta em tons verdes e ocres. Filhotes de jacaré são apresentados à menina, que sorri com a descoberta do animal. Demonstrando controle da situação, um zelador, de mãos nuas, atiça um grande crocodilo adulto. Uma avestruz é escalada para servir de montaria à menina e a seu pai: a típica família classe média desfruta prosaicas diversões dominicais (Fig. 30). Há outra versão em preto-e-branco, diga-se, para este filme, não tão eficaz, entretanto, em surpreender o público com o curioso tema do zoológico, esta atração incrivelmente popular e, à época, em plena fase de ascensão. 60 Fig. 31 – Elevage d’autruches et de crocodiles Nas primeiras décadas do século XX, a cor continuou a ser usada em filmes de não ficção como um adereço exótico. Nos anos 1920, a moda passava por mudanças radicais, com a introdução de novos modelos, mais leves e mais curtos, influenciada pela liberação feminina então em curso. Permeáveis à evolução social, alguns filmes de atualidades passaram a apresentar desfiles de moda e produtos da alta costura, constituindo-se como um gênero autônomo. Colorida por estênceis mecânicos, Paris Fashion (França, 1926) abre com cartela informando que serão vistas as “novas criações da moda parisiense” (Fig. 32): nas passarelas, o acessório com penas da ave do paraíso, considerado chique. Em amplo salão emoldurado por arco, moças fumam piteiras e envergam modelitos lisos, leves e ajustados às formas do corpo. Destaque para o sofá vermelho com almofadas em verde berrante. Uma das moças veste modelo dourado, com penas em espiral; outra exibe-se sorridente num vestido verde água – seus cabelos estão cobertos por tinta amarela, em Pathécolor de bom registro. Coquete ostenta corte de cabelo no qual se vêem as penas da ave do paraíso, motivo principal da coleção da Maison Tolman. As cores são saturadas, consoante o tom de novidade exigido pelo filme: buscava-se consolidar a moda como um traço característico da modernidade, e as cores consistiam um importante elemento para reforçar essa impressão. Realizadas por companhias como a Pathé e a Gaumont, as últimas criações do estilismo eram em geral projetadas nos cinemas antes do filme principal, ficando em cartaz por longos períodos e disponíveis também para a exportação. Chez le grand couturier (França, P. L. Giaffar, 1927) é outro filme de moda daquela fase, trazendo uma coleção completa para o outono europeu, com o desfile de moças trajando vestidos amarelos, pretos, dourados e azuis, enfeitados por penas de pássaros e outros acessórios. 61 Fig. 32 – Chez le grand couturier Uma das garotas veste casaco dourado; do lado de dentro, um bem cortado modelo em amarelo pastel. A legenda anuncia: “premiers modes d’automne” (primeira moda do outono). Outra garota desfila um casaco de peles azul marinho, e mais outra veste discreto modelo cinza, com chapéu e corte de cabelo à la Garçonne. Do interior da Maison, passa-se a uma externa da Cote d’Azur, com palmeiras de folhas verdes e céu azulado: as cores são mais comedidas, em conformidade com a chegada da estação fria. Um panorama do mundo para além das fronteiras européias é o que se verifica no “diário de aventuras” No país dos gigantes e dos pigmeus (Au pays des colosses et des pigmées, França, atribuído a Aurélio Rossi), de 1925. São oito minutos e trinta e um segundos de imagens do Congo nos anos 1920, a descortinar povos africanos em outro estágio de evolução histórica. Em No país dos gigantes e dos pigmeus vêem-se grupos de congoleses, com tangas vermelhas ou inteiramente nus, executando danças tribais, caçando e se alimentando por entre suas malocas amarelas: a vida nativa usual daquelas paragens (Fig. 33). Fig. 33 – No país dos gigantes e dos pigmeus 62 O detalhe curioso consiste no registro da caça a um elefante selvagem de longas presas: abatido, o animal é eviscerado pelos africanos para se integrar ao seu cardápio, tudo isso, pintado em vermelho, cinza e azul. A seguir, os congoleses posam, orgulhosos, a carregar as enormes presas do paquiderme. No país dos gigantes e dos pigmeus é mais um relatório de expedição científica, à maneira de muitos filmes de viagem da época, mostrando a chegada dos europeus aos mais distantes rincões do planeta. A visualidade moderna que se pretende impor ao filme pelos estênceis mecânicos, contudo, parece enfaticamente recusada pelas cenas primitivas que lhe servem de base, dando lugar à triste sensação de que se está diante de um escárnio. 2.11 – Romeu e Julieta A partir de 1907, o cinema experimentou um desenvolvimento sem precedentes. Se em anos anteriores o mundo conhecera a ascensão meteórica da Pathé, naquele ano ocorreu uma verdadeira explosão da atividade empreendedora, com a fundação de diversas novas companhias, na Europa e nos Estados Unidos. Apenas na França, ao lado das já veteranas Pathé, Gaumont e Star Films, surgiram empresas como a Éclair, a Eclipse e a Société Lux. Nesse movimento de expansão da indústria, outros países alcançaram sua produção autóctone: a Itália, por exemplo, passou a contar com empresas como a Cinès, a Ambrosio, e a Itala Film, focalizadas em filmes com temas e personagens do universo histórico italiano. Impunha-se, a essa altura, a manutenção do arduamente conquistado império da Pathé Frères. Desde 1906, uma série de estratégias fora posta em andamento preventivamente pela companhia a fim de criar novos mercados, melhorando também a reputação da atividade cinematográfica na conjuntura social da época. Um circuito de salas de exibição permanentes, mais confortáveis e aptas a receber espectadores de todos os níveis econômicos, foi estruturado pela Pathé, através da França. Os resultados começavam a aparecer: a clientela dos cinemas, antes em sua maior parte composta por populares, passou, aos poucos, a incluir espectadores das classes urbanas médias e abastadas. Outras companhias criaram também suas salas e, pelo verão de 1907, houve, no mínimo, cinqüenta novos cinemas somente na França, entre prédios construídos e adaptados. O público aumentava a olhos vistos: entrar numa sala escura para se assistir a um filme tornava-se aos poucos uma das atividades cotidianas da vida moderna, tal 63 como viajar de trem, fumar, ouvir o fonógrafo ou falar ao telefone. Mas a “sétima arte” precisava ainda alcançar o status de uma prática cultural legítima, aceita amplamente e estimulada por autoridades estatais. Para tanto, a Pathé procurou incrementar a produção de filmes realizados a partir de obras pertencentes à chamada alta cultura. Adaptar clássicos literários ou obras consagradas do teatro, prática já na pauta das outras companhias, era o meio de fazer frente a uma crise temática dos filmes, que haviam se tornado repetitivos e monótonos, supostamente porque ainda ligados ao formato tradicional para exibição em feiras e music halls (ABEL, op. cit., p. 42). Fig. 34 – Cartaz de Romeu e Julieta O foco em obras de caráter universal também visava a tornar as produções da Pathé atrativas no âmbito internacional. Não foi senão esta a razão pela qual filmes transculturais passaram a ser feitos e distribuídos por empresas afiliadas da companhia, em circuitos locais. Lançada na França com a Film D’Art 40 e a SCAGL (Société Cinématographique des Auteurs et Gens de Lettres), a estratégia foi testada pela Pathé na Rússia, Itália, Bélgica e Estados Unidos 41 . Na primavera de 1909, a Pathé criou a Film D’Arte Italiana (FAI) em Roma, seguindo o modelo da Film D’Art francesa e da 40 A Film D’Art estreou suas atividades em 1908, sob financiamento da Pathé, especializando-se em filmes dramáticos de um rolo. Seu maior sucesso foi O assassinato do duque de Guise (França, André Calmette). Face ao custo exorbitante de suas produções, a companhia faliu em 1911. A essa altura, a Pathé passou a dedicar mais atenção a outra de suas afiliadas, a SCAGL, estabelecendo-a como prioritária na produção de filmes adaptados de obras clássicas da literatura e do teatro (ABEL, op. cit. p.43). 41 Essa posição “imperialista” da Pathé era, de qualquer modo, mais complicada de se implementar em países que haviam desenvolvido uma indústria própria, como Estados Unidos e Itália. A despeito disso, entre 1905 e 1906, a companhia francesa orquestrou, não sem protestos locais, suas agências de exibição e distribuição para conquistar um lucrativo e eficiente sistema de distribuição na península itálica e nos Estados Unidos (ibidem). 64 SCAGL. Sob a direção de produção de Gerolamo Lo Savio, a FAI trabalhava somente com atores e equipe técnica locais, especializando-se na adaptação de obras-primas do teatro e da literatura, tais como Othello (Itália, 1909), Salomé (Itália, 1910), Francesca de Rimini (Itália, 1910) e Romeu e Julieta (Romeo e Giulietta, Itália, 1912). Dirigido por Gerolamo Lo Savio e Ugo Falena, Romeu e Julieta foi um dos grandes sucessos da Film D’Arte Italiana, tendo circulado mundialmente, inclusive no Brasil. Embora ainda preso a estruturas teatrais, notadamente no que se refere ao desempenho dos atores, o filme é inovador, ao articular sua mise-en-scène em cenários realistas, deixando de lado as cenas de estúdio para apresentar diversas tomadas externas, com fachadas de casas e palácios italianos. Estão ausentes aqui transformações, metamorfoses, explosões coloridas e desaparecimentos. O interesse do Romeu e Julieta pode, assim, localizar-se na evolução dramática da mais popular das tragédias de Shakespeare, autor ciente dos poderes da cor para ativar a carga emocional de suas peças. O filme abre com Romeu, a cavalo, aproximando-se da escadaria de um castelo. Não é gratuito o uso do vermelho para a sua roupa: a cor já anuncia que terá início uma história sangrenta. Julieta (Francesca Bertini, primeira diva do cinema italiano) assoma à varanda para ouvir as declarações românticas do rapaz. Escondidos sob os arcos da ala central, os namorados observam o pai de Julieta atravessar o pátio, em conversações com Teobaldo, escolhido pelos Montéquio para desposar a moça. Usam-se cores apenas nos cenários e no figurino dos personagens, a pele dos atores mantém-se invariavelmente em preto-e-branco. Lírica, a tragédia funciona bem transposta para o cinema, mesmo com o sacrifício do texto shakeaspeareano. Fig. 35 – Duelo em Romeu e Julieta 65 Os Montéquio organizam um baile de máscaras e, decidido a pedir a mão de Julieta, Romeu disfarça-se para comparecer à festa. No baile, o rapaz é descoberto. Considerando-se afrontado, o pai de Julieta radicaliza e desafia os Capuleto para um duelo. Corte para plano geral das famílias rivais se digladiando (Fig. 35). Com a morte de um dos homens, interrompe-se a batalha. Um arauto anuncia a proibição oficial, pelo rei, de duelos em todo o reino. Fig. 36 – Julieta cai em sono profundo Enquanto o antagonismo familiar é talvez o grande assunto da peça, o filme parece mais interessado no affair romântico entre os protagonistas: Romeu encontra-se com Julieta e propõe à moça casarem secretamente. Em cena ambientada nos jardins do castelo, frei Lourenço celebra a união dos jovens amantes, devidamente ocultada das famílias adversárias. Romeu, porém, tem uma recaída e desafia o concorrente Teobaldo para um duelo. Descoberta a infração à lei real, o rapaz é condenado pelas autoridades ao exílio perpétuo. O pai da moça, não tendo consciência do casamento à sua revelia, constrange Julieta a aceitar Teobaldo como marido. Ela recusa-se a cumprir essas ordens, recorrendo a frei Lourenço, que lhe oferece um meio de escapar ao casamento forçado: “Este narcótico provoca um sono profundo de tal forma a simular a morte, durando apenas até o dia seguinte” (Fig. 36). Na companhia da criada, Julieta sorve o líquido de um frasco. Romeu é informado da “morte” da moça e retorna do exílio em Verona para o último adeus à mulher. Plano geral exibe a fachada de imponentes arquiteturas italianas: oculto por um capuz vermelho, Romeu segue o cortejo fúnebre de Julieta, que dorme num esquife. Sozinho diante do caixão, o rapaz suicida-se com uma adaga. Julieta desperta do sono produzido pelo narcótico, a tempo de ver Romeu, exangue, aos pés de seu leito. Enfim, 66 pega da adaga e também dá cabo da vida, para concluir um filme recheado de amor, morte e as cores fortes de Shakeaspeare. 2.12 – Cyrano de Bergerac Ainda que menos utilizada, a estencilização mecânica resistiu, no período mudo, como método de obtenção de filmes coloridos na Pathé francesa até cerca de 1930, tendo apenas seu nome mudado para Pathéchrome. Mesmo após a introdução dos longas-metragens, a companhia reservou os estênceis para colorir algumas de suas grandes produções das décadas de 1910 e de 1920, como Cyrano de Bergerac (França). Datada de 1925, esta pérola do picturalismo cinemático tem a direção de Augusto Genina, cenógrafo de Romeu e Julieta, e a duração de 113 minutos. Concluído em 1922, o filme esperou ainda três anos para ser lançado, tendo em vista seu esmerado trabalho de colorização, sob a supervisão direta da infatigável Madame Thullier. Fig. 37 – Lignière apresenta Cyrano Cyrano de Bergerac tem o roteiro elaborado a partir de uma adaptação da famosa peça de Edmond Rostand, cuja trama se passa na França do século XVIII. Pelas ruas de Paris, forasteiro pergunta quem é Cirano, do qual muito ouve falar desde que chegou à cidade. “O melhor amigo do mundo e o mais bizarro. Poeta, maestro de armas, filósofo...” e possuidor de um imenso nariz, ensina Lignière (Fig. 37), compositor de baladas, encarregado de apresentar o protagonista ao espectador. Cirano nutre secreta paixão pela prima Roxana. Tímido, o gascão reluta em externar seus sentimentos à moça, tendo em vista o grotesco nariz. Roxana, por seu 67 turno, flerta com o barão de Neuvillete, no que é correspondida. Noite de estréia em Paris, todos aguardam para ver Montfleury, ídolo do teatro parisiense. O ator fora proibido por Cirano de se exibir em público, apenas porque olhou com “olhos de cordeiro agonizante” para a prima, durante uma apresentação. Montfleury enfrenta a proibição e aparece no palco do teatro, para ser ridicularizado por Cirano (Fig. 38), surgido em meio a uma platéia perplexa. Embora a maior parte das cenas de Cyrano de Bergerac seja constituída de tomadas fixas, aqui, o tempo do cinema de atrações é parte do passado. Predomina, no filme, uma nítida consciência da gramática cinematográfica: há closes, planos gerais, planos médios e movimentos de câmera, tudo isso organizado em continuidade lógica. Em uma palavra: há domínio da sintaxe clássica. O cinema está maduro e anda com as próprias pernas: interessa agora a ilusão de realidade e, nesse quesito, verossimilhança é fundamental. Somente as cores, ainda pintadas, parecem insistir em remeter o filme de volta ao formato, já velho, do cinema de atrações. Fig. 38 – Cyrano de Bergerac Incapaz de falar ou de escrever algo digno de nota, o barão de Neuvillete recorre ao auxílio de Cirano para cortejar Roxana. Por vias tortas, Cirano tornara-se amigo e protetor do barão, cumprindo promessa feita à prima. Introduz-se o mais célebre episódio da novela: escondido sob o balcão onde está a moça, Cirano diz versos de amor a Roxana, os quais a moça cuida ser de Neuvillete. Caída pelas palavras dubladas pelo barão, Roxana recebe também cartas de amor do ghost writer Cirano, enviadas diariamente pelo falso escriba Neuvillete. Mas o barão morre durante uma batalha, e seu protetor, sentindo-se culpado, não é capaz de dizer à prima quem fora o missivista por trás das cartas. Velho e ferido de morte, Cirano visita a prima num convento, onde a moça se recolhe em auto-exílio, confessando-lhe a paixão platônica. Numa interpretação 68 ímpar de Pierre Magnier, o desditoso e casto personagem morre pateticamente, após declarar à amada não ter se deitado com nenhuma outra mulher em vida. O esforço para a colorização de Cyrano de Bergerac foi compensador: por vezes, o filme ganha o aspecto de uma grande pintura em movimento, encantadora pela qualidade de suas imagens. Isso não poupou o filme de algumas críticas. Quando de sua estréia nos Estados Unidos, um crítico de Nova York pontificou que Cyrano de Bergerac teria “a eficácia de uma sucessão de cartões postais de um vintém” (apud BASTEN, 2005, p.12). O comentário esconde uma verdade incômoda: por mais que já soubesse como articular tempo e espaço, a ilusão especular almejada desde sempre pelo cinema exigia mais, em matéria de cor. Vizinhos à pintura, filmes como Cyrano de Bergerac achavam-se distantes da terra prometida das cores naturais, já então demandada pela indústria. A idéia da imagem como um duplo perfeito analógico, somente realizável através da cor fotográfica, levaria ainda, entretanto, um bom tempo clamando no deserto, até que, somente no final dos anos 1920, algum pálido norte viesse a se vislumbrar. 2.13 – Colorizações químicas: o tingimento e a viragem Espetáculos de grande beleza plástica, as películas pintadas provaram, de qualquer modo, que as imagens em movimento não estavam necessariamente condenadas ao “mundo das sombras” descrito por Máximo Gorki em sua assustada resenha. Se as cores do mundo natural não podiam ser capturadas pelas câmeras ainda limitadas dos primeiros anos, coube aos pioneiros descobrir a melhor forma de representá-las. Nesse sentido, trilhar a jornada de volta à velha e boa terra da pintura configurou-se, antes, como uma necessidade: enquanto não se fotografavam as cores, a tinta, o pincel e o estêncil foram aliados confiáveis daqueles que não se conformavam ao claro-escuro dos primeiros filmes. Diante do difícil manejo dessa técnica, entretanto, novos e diferentes meios, mais simples e mais baratos, logo vieram em auxílio dos aficionados da cor em movimento. Descobriu-se que seqüências inteiras de cores planas e uniformes podiam ser aplicadas aos filmes através de processos químicos, utilizandose banhos em substâncias apropriadas. Introduzidas entre 1902 e 1905 – ao que tudo indica, sem possuir antecedentes nas lanternas mágicas – o tingimento 42 e a viragem de 42 Por volta de 1905, a companhia do pequeno produtor e contumaz praticante da pirataria, Alfred Lubin, já promovia os mono-tingimentos, anunciando a venda de filmes em “vários tons, sem custos extras” (MUSSER, opus cit., p. 398). 69 películas tornaram-se, em pouco tempo, o meio mais comum e factível de se obter cores nas imagens móveis nas primeiras três décadas do século XX. De larga utilização especialmente nos Estados Unidos, calcula-se que os tingimentos e viragens tenham alcançado uma média entre 80 e 90% da produção do período mudo (dados de FOSSATI, op. cit.). Populares, essas técnicas conheceram seu auge na década de 1920, quando todo filme de alguma importância, notadamente em Hollywood, teve cópias tingidas, viradas em sépia ou em ambas as técnicas combinadas. Evidentemente, essas técnicas não tinham entre suas pretensões atender a expectativas de reprodução técnica das cores do mundo visível. Diferentemente disso, elas visavam a causar no espectador uma disposição psíquica semelhante à que a música é capaz de criar, quando associada à imagem cinemática. Despontavam, assim, como uma nova e diversa forma de expressão, fortemente ligada ao trabalho dos montadores, em fina sintonia com as especificações do diretor. A técnica dos mono-tingimentos consistia em imergir positivos em soluções com diferentes substâncias corantes (geralmente à base de anilina), aptas a colorizar apenas a gelatina da película. Como resultado, um tom uniforme recobria toda a extensão das imagens, dando cor apenas às suas partes brancas, deixando intactas, porém, as suas partes pretas. Em 1912, a fábrica belga Gevaert introduziu as películas preto-e-branco com base pré-tingida, em várias tonalidades: vermelho, rosa, laranja, âmbar, amarelo, verde, azul e violeta. O mais comum, no entanto, era que se tingisse o filme na fase da pós-produção. Em qualquer dos casos, a técnica exigia o uso de tanques, nos quais os filmes eram mergulhados. Abastecidos de água misturada à substância corante, esses tanques possuíam um sistema de tubos que permitia o influxo da solução corante por entre as películas ali submersas (Fig. 39). O tempo de imersão variava de um a três minutos a 65 graus, dependendo da tonalidade desejada. Em geral, 20 mil pés (6.096m) de filme podiam ser tingidos por 190 litros de solução corante (dados de RYAN, 1977, p.18). Depois de lavados e secos, os filmes estavam prontos para a montagem ou para fotografar, conforme o caso 43. As viragens, usadas em toda sorte de produções, têm origem na prática de se acrescentar pigmentos feitos a partir da tinta de polvo na revelação de positivos fotográficos. Fotografias reveladas segundo esse processo tornavam-se mais resistentes 43 A veladura colorida dos tingimentos normalmente reduzia o contraste da imagem, razão pela qual as cópias positivas do filme eram muitas vezes superexpostas, ainda na fase de revelação (Fossati, op. cit.), a fim de evitar imagens com definição baixa. 70 à ação do tempo – quanto mais se cobertas por uma camada protetora –, fato que explica porque fotos antigas eram muitas vezes viradas em sépia. Mais cara e mais complexa, a técnica da viragem consistia em submeter o filme positivo a banhos especiais, de modo que apenas as partes pretas da imagem fossem colorizadas. Esse efeito era obtido não tingindo a película, mas causando-se uma mudança química nos sais metálicos de seu preto fotográfico, convertendo a prata ali depositada em ferrocianido de prata, por exemplo, para criar uma imagem azul e branca (KOSZARSKI, 1990, p.127). Menos comum do que os tingimentos, a técnica da viragem era inerente ao meio cinema, e não tomada de empréstimo à pintura, razão pela qual a ela se atribuía maior qualidade artística (FOSSATI, op. cit.). Fig. 39 – Tanque para os monotingimentos 2.13.1 – Incêndios, amores e explosões Embora autores como Stephenson e Debrix (1969, p.152) reportem-se à existência de um repertório semântico para o emprego das cores dos tingimentos (azul para cenas noturnas, dias de verão e idílios amorosos; verde para locações em campos e mares; vermelho para cenas de incêndios e assassinatos; lilás para ambientações noturnas e de agonia romântica etc.), é muito difícil estabelecer-se um critério rígido no uso dessas colorizações. Em geral, os tingimentos monocromáticos surgem nas imagens em movimento como uma presença sensual, um elemento capaz de intensificar a apreciação da narrativa, variando sensivelmente de significado, de um filme a outro. Havia, sim, manuais explicativos sugerindo significados específicos para o uso de determinadas cores. Mas a opção por este ou aquele matiz no curso de um filme obedecia, sobretudo, a critérios subjetivos, levando-se em conta principalmente o que se processava na narrativa fílmica. Há, portanto, nos tingimentos monocromáticos, um 71 diálogo entre as cores utilizadas e as imagens que o filme apresenta. Como aponta Depeult, “a chave é perceber que não havia um código fixo. Havia intertextualidade, sem dúvida, uma memória de cores em outros filmes, e esta é talvez uma direção melhor para pesquisa do que tentar achar códigos fixos” (in: HERTOGS, org., op. cit., p.66). Contam-se às centenas os filmes coloridos quimicamente. Para o presente estudo, escolheram-se exemplos tópicos, suficientes em ilustrar a interação entre a cor dos planos e o seu andamento narrativo. Fire! (Inglaterra, 1901), filme de 5 minutos do pioneiro inglês James Williamson, mostra cenas em preto-e-branco, energizadas por um único plano tingido em vermelho, aplicado ao seu clímax dramático. O corpo de bombeiros é avisado de um incêndio. Num carro puxado por cavalos, soldados seguem para debelar o fogo. Estirado na cama do quarto de um apartamento, homem corre o risco de morrer queimado. Muda-se o ponto de vista para dentro do quarto, onde bombeiro combate as chamas vindas da janela (Fig. 40). Coberta pelo tingimento vermelho, a cena tem o poder de galvanizar a ação representada no filme, enfatizando seu ápice narrativo. Tudo termina com a salvação redentora das vítimas: os bombeiros conduzem uma criança, incólume, para fora da casa incendiada, num final providencialmente devolvido ao preto-e-branco (Fig. 40). Fig. 40 – Fotogramas de Fire! Também A vingança do cameraman (Mest kinematograficheskogo operatora Rússia, 1912) – notável exemplo dos primórdios do cinema de animação, realizado pelo entomologista russo Vladislav Starewicz –, faz um uso da colorização química em perfeita concordância com o seu desenvolvimento interno. Produzido pela companhia moscovita Khanzhonkov, A vingança do cameraman emprega tingimentos em tons diversos para planos filmados segundo a técnica do stop-motion (filmagem quadro a 72 quadro). Fábula de relações extraconjugais protagonizada por insetos, A vingança do cameraman começa em ambiente doméstico – a cena é virada em sépia –, onde uma diligente esposa prepara as malas do marido besouro para sua visita regular à cidade (Fig. 41). Após o trabalho, o besouro freqüenta o clube noturno “Libélula feliz”: ali, “há quem o compreenda”, diz a legenda. No clube, à apresentação de um sapo, seguem-se as evoluções de uma sensual cantora libélula, alvo de interesse do besouro e de um gafanhoto. Descartado, o gafanhoto passa a espreitar o recém-formado casal besouro/ libélula, que desce as escadas do clube rumo a um hotel. Fig. 41 – A vingança do cameraman Incógnito, o gafanhoto registra com sua câmera todos os movimentos dos amantes, no Hôtel d’Amour (Fig. 41). Corte para a mulher do besouro, que, também infiel, escreve carta para seu “amigo secreto”. Recebido o convite, o amante artista vai encontrar-se com a “amiga”. Minutos depois, artista e senhora besouro entendem-se à luz de uma lareira. Chega a hora de o marido voltar do trabalho: em tingimento azul, o besouro bota a porta abaixo, entrando furioso em casa, enquanto o artista foge pela lareira. Passado algum tempo, o casal besouro volta às boas, saindo para ir ao cinema: na tela, as aventuras extraconjugais do marido besouro com a libélula do cabaré. Possessa, a mulher agride o marido, que identifica no projecionista do cinema o vingativo gafanhoto do “Libélula feliz”: num plano tingido em vermelho laranja, labaredas consomem a cabine de projeção onde ficava o pobre inseto. Cena final em azul coloca o besouro e sua mulher atrás das grades; o letreiro adverte: “A vida no lar do casal será menos excitante no futuro, esperamos”. A vingança do cameraman metaforiza o cinema como uma atividade vista e praticada por voyeurs, na qual vale tudo para seduzir o olhar. O efeito atmosférico obtido pelo ritmo dinâmico das cores auxilia enormemente a produzir essa ordem de significações, culminando no uso do 73 vermelho para o catártico e punitivo incêndio do gafanhoto cineasta: a cor é o tempero que faz do filme um prato raro, levemente apimentado. Também na produção da companhia italiana Film Ambrosio, de 1909, Nero, ou a queda de Roma (Nerone, Itália, Luigi Maggi), colorizações em vermelho foram utilizadas para dinamizar a trama, sublinhando cenas de incêndio que se contrapõem ao restante do filme, dominado pela tonalidade verde. Planos verdes abrem a narrativa, destacando a loucura do imperador romano, Nero, acostumado a não sofrer oposição às suas vontades. O imperador toma-se de paixão por Poppea e, pragmático, ordena a morte da mulher, Octavia. Nero então desfila pelas ruas com a nova consorte, acompanhado por soldados e sequazes. Ultrajada com o assassinato da imperatriz, a população romana rebela-se. Informado da reação do povo, Nero é instilado a tocar fogo na cidade. Tem-se um plano geral – banhado em vermelho sanguíneo – do imperador, ladeado pela nova mulher, a tocar harpa no alto de um monte cenográfico. Aos seus pés, a capital romana arde em chamas. Na cena seguinte, ainda tingida de vermelho, Nero recosta-se num divã, e rói-se de remorso. Uma janela na imagem põe à mostra corpos sendo queimados pelo fogo (Fig. 42). O último plano recebe o tingimento verde, com Nero já tomado pela loucura: “Os poderosos também caem”, sentencia a legenda final deste filme publicizado, à época, como “o mais maravilhoso filme do mundo”. Fig. 42 – Fotogramas de Nero, ou a queda de Roma Ainda se utilizaram tingimentos em vermelho para enfatizar ações bélicas, como as do libelo pacifista franco-belga Maldita seja a guerra (Maudit soit la guerre, Bélgica, Alfred Machin), produção da Pathé belga de 1914, colorizada por estênceis mecânicos e monotingimentos. O filme, realizado dois meses antes da eclosão da I Guerra Mundial, gira em torno do antagonismo entre dois aviadores, contextualizado no conflito entre duas grandes potências militares. Planos tingidos em vermelho revelam as 74 hostilidades e a destruição de todas as guerras: dirigíveis, moinhos e balões são arrasados por bombas e consumidos pelas chamas. Homogênea, a tonalidade vermelha parece amplificar a experiência visual dessas cenas, tornando-as chocantes (Fig. 43). Às portas do primeiro grande conflito do século XX, o filme tem um efeito pedagógico, antecipando o desarranjo que viverá o mundo moderno, num dos períodos mais sangrentos de sua história. Fig. 43 – Maudit soit la guerre: explosões para simular a guerra Na década de 1920, o vermelho aparece de novo associado ao fogo e ao terror, como nas seqüências finais do clássico O fantasma da Ópera (The phantom of the Opera, Rupert Julian, EUA, 1925). Este filme adotou pelo menos três tipos de tratamento cromático, exibindo inclusive seqüências em Technicolor bicolor e no processo Handschiegl, a serem abordados mais adiante. Oculto nos porões da Ópera (cuja arquitetura foi cuidadosamente reconstituída nos estúdios da Universal, em Hollywood), maestro de rosto seriamente deformado (Lon Chaney, em sua melhor forma) interfere na rotina do famoso teatro parisiense. Dono de um passado trágico, o monstro causa pavor nas jovens cantoras que ali se apresentam, lançando-lhes ameaças e galanteios mórbidos. Fig. 44 – O fantasma da Ópera: perseguição pelas catacumbas 75 Após o seqüestro de uma garota e o assassinato de um homem, o fantasma horrendo é finalmente descoberto. Inicia-se uma caçada à criatura pelos labirínticos porões da Ópera. Corredores, arcos e escadarias aparecem recortados por sombras angulosas, em nítida influência expressionista. Os tingimentos em vermelho, utilizados neste momento vital da narrativa, tornam a trama ainda mais absorvente, imprimindo força ao epílogo do filme (Fig. 44). As cenas passam do vermelho ao azul, ilustrando a noite: armada de tochas, a multidão enfurecida não relaxa na perseguição ao fantasma, que ganha as ruas e foge numa carruagem. O sinistro maestro chega enfim à beira de um rio: caçada e filme encerram-se com o personagem grotesco sendo linchado e atirado nas águas lutulentas por seus inclementes persecutores. 2.13.2 – Noturnos de Griffith Em seu uso mais recorrente, os tingimentos químicos eram empregados para cobrir de azul cenas de filmes nos quais ocorria ambientação noturna. Essa medida prendia-se a uma comodidade técnica: os tingimentos azuis (muitas vezes também os verdes) podiam “escurecer” as cenas que se desenrolavam ao anoitecer, somente passíveis de fotografar à luz do dia, devido ao ainda incipiente sistema de iluminação artificial e à baixa sensibilidade das películas, que não permitiam filmagens noturnas 44. The Lonedale operator (EUA, 1911) – dirigido pelo patriarca da linguagem cinematográfica, D. W. Griffith – manipula tingimentos azuis e vermelhos em suas principais seqüências, de maneira especialmente criativa. No filme, Griffith põe em cena Blanche Sweet, filha de maquinista e funcionária de um posto de telégrafos do interior, por onde passa linha de trem. A moça organiza a correspondência, quando chega o comboio e dois tipos suspeitos descem da composição. Isolado, o posto telegráfico é um convite para a ação dos larápios, que se preparam para assaltar o local: sorrateiramente, esquivam-se para trás da casa, onde não são vistos, esperando o momento de agir. As cenas são tingidas de azul, sugerindo o escuro da noite. Percebendo haver alguém lá fora, a jovem tenta desesperadamente enviar mensagem. Na outra ponta da linha, telegrafista recebe o aviso e o leva a um maquinista, por sinal, namorado da moça. Para reforçar a tensão, o maquinista surge na cabine da locomotiva, em alta velocidade, rumo ao local onde está Blanche: este plano é 44 As únicas películas preto-e-branco fornecidas pela Kodak até 1915 eram ortocromáticas, de baixa sensibilidade ao verde e ao vermelho. Este assunto é abordado com mais detalhes na seção 3.4. 76 completamente tingido de vermelho. Em suspense típico de Griffith, as imagens do trem costuram-se à dos ladrões arrombando a porta do posto telegráfico. No interior do posto, a moça apaga a luz, e a cena é coberta pelo azul turquesa. Já dentro da casa, os bandidos surpreendem-se com a garota, que tem nas mãos algo parecido com uma arma. Blanche afirma poder atirar com aquilo e os homens se intimidam, recuando em direção à porta. O uso do tingimento azul nesse momento é sobretudo funcional, dado que sem o recurso, a seqüência não pareceria plausível: o azul serve para “esconder” o objeto nas mãos da moça. Com a chegada do namorado, que rende os bandidos e acende a luz, tem-se o truque finalmente descoberto. A cena é devolvida ao preto-e-branco e pode-se ver, em plano-detalhe, a peça usada pela garota para enganar os bandidos: uma simples chave de boca (Fig. 45). Os ladrões rendem-se à esperteza de Blanche, tirando-lhe os chapéus em reverência. A maior esperteza, porém, é do diretor, que enganou bandidos e espectador graças ao velho e bom truque do tingimento azul. Fig. 45 – The lonedale operator Também em Órfãs da tempestade (EUA, Orphans of the storm, 1921, Griffith), há seqüências transcorridas à noite, tingidas em azul e verde, com filmagens realizadas sob um sol a pino. Melodramática, a trama de Órfãs da tempestade resume-se às desventuras de duas irmãs humildes – uma das quais, cega – durante os eventos da Revolução Francesa. A certa altura do filme, as irmãs são separadas em pleno centro de Paris. Raptada, uma delas – Lillian Gish – vai parar em festa orgíaca de escroque da aristocracia francesa. Ali, a cena se passa sob luminosidade diurna, mal-disfarçada por um tingimento uniforme de verde. Assediada, a moça tenta se desvencilhar das garras do escroque, no que é defendida por rapaz. O jovem quer levar a garota dali, já suficientemente humilhada pelos convivas. O escroque o impede, enfático: “ninguém sai desta festa após a meia-noite”. Vê-se, apesar disso, que a cena foi realizada sob luz do sol, dissimulada pelo corante verde (Fig. 46). 77 Fig. 46 – Órfãs da tempestade: verde para a noite O tingimento azul não se associava apenas a cenas noturnas. No longa-metragem Lírio partido (EUA, Broken Blossoms, 1919), Griffith maneja com habilidade os tons azulados para emprestar a esta história de amor entre miseráveis uma atmosfera de abandono e melancolia. Tudo começa com planos virados em sépia e tingidos de amarelo, retratando cidade da China onde rapaz sonha viajar à Inglaterra, a fim de “pregar a sabedoria de Buda”. O contraste entre a China, amarela e solar, e o clima azul e opressivo de um porto inglês, palco onde se dará a tragédia, pontua a trajetória do rapaz no corrompido mundo ocidental. Imigrado para Londres, o chinês tem seus sonhos desfeitos, passando a integrar a classe dos comedores de ópio. No porto, mantém uma loja de bibelôs. Apresenta-se Battling Burrows, lutador de boxe, dado à vida dissoluta e pai de Lucy, garota franzina e maltrapilha (Lillian Gish) cujo costume é passear pelas docas. Chicoteada pelo pai, Lucy foge em desespero até cair, exangue, na loja do rapaz chinês, que passa a cuidar da moça. Informado disso, Burrows promete “lavar a sua honra”: vai até a loja do chinês e arrasta a filha de volta para casa: “Você, com um chinês sujo!” (Fig. 47). Fig. 47 – Lírio partido: as cores da tragédia Em Lírio partido, a paleta de Griffith desenha um panorama denso, por onde circulam personagens castigados pela sorte. A psicologia desses tipos é modelada por uma sucessão de tingimentos verdes, sépias e azuis, aptos a colorir um drama saturnino, 78 crepuscular. Nos planos finais – magistralmente iluminados pelo fotógrafo de Griffith, Billy Bitzer –, o chinês segue por ruas em azul marinho, sob o fog londrino, em busca de Lucy: chega tarde à casa da moça, que já fora espancada até a morte. Dá-se o confronto entre rapaz e vilão, com Burrows sendo baleado pelo chinês. Num gesto derradeiro, o oriental carrega o corpo de Lucy pelas ruas de volta à sua loja, onde finalmente se mata com um punhal. A imagem púrpura do porto que presenciou a tragédia encerra o filme, em nota lúgubre. Na Londres fria e nevoenta, não há lugar para a luz do sol: aqui, todos dividem o mesmo cenário hostil, habitantes que são de um mundo inclemente, onde não se difere a noite do dia. Ainda assim, é possível distinguirse os bons dos maus, como em todo filme de Griffith: aqueles terão a vida ceifada mais cedo, por via das dúvidas. 2.13.3 – O filme-monumento de Abel Gance À frente de uma recente restauração 45 de Napoleão (Napoleón, França, 1925), o pesquisador Kevin Brownlon definiu-o como “um display pirotécnico daquilo que o filme silencioso seria capaz nas mãos de um gênio” (1968, p.46). A frase não poderia ser mais adequada: há uma fina sintonia entre a criatividade desenfreada do diretor francês Abel Gance e os recursos tecnológicos 46 usados na realização deste épico. Dentre os meios utilizados na produção do paroxismo visual do filme, às colorizações – aplicadas, durante o restauro, a partir de instruções deixadas no roteiro original – foi reservada uma posição de destaque. Focalizam-se, a seguir, algumas das seqüências em que o uso do recurso cromático prova-se mais assertivo. Napoleão traça a evolução desta figura histórica desde sua infância em colégio militar até a campanha francesa contra a Itália. Ao longo de todo o filme – com cerca de quatro horas de duração, na versão restaurada –, há tingimentos e viragens alternando-se sucessivamente, imprimindo um colorido emocional à narrativa. De início, tem-se Napoleão, menino, em batalhas com bolas de neve no pátio do colégio. O garoto já se envolve em disputas morais com os colegas de internato: um diálogo entre a viragem sépia e o tingimento azul tempera essas seqüências, de modo a apreender a personalidade forte do garoto. Corte temporal para Bonaparte (Albert Dieudonné), 45 Realizada pela equipe do pesquisador e cineasta Kevin Brownlon, iniciada em 1980 e terminada em 2000. 46 Muitos dos quais desenvolvidos pelo próprio Gance. 79 adulto, como adepto da Revolução: a face crispada do militar, tingida de vermelho, repete a mesma energia visceral revelada na infância do personagem. Eventos vários e o Terror instala-se na França. Marat (Antonin Artaud, soberbo) é assassinado por uma admiradora dos girondinos. Viragens sanguíneas cobrem seqüência em que Robespierre e Saint-Just, a figura mais temida da Revolução (encarnado pelo próprio Gance), são vistos, tramando a morte de Danton, que afinal é decapitado. Antes de morrer, Danton pede a exposição de sua cabeça ao povo: “Valerá de algo”. Robespierre decide chamar Napoleão para integrar o “Comitê pela Saúde Pública”, cuja função é, antes, decepar cabeças. Firme em suas convicções, Bonaparte declina, dizendo não aceitar o comando de alguém como Robespierre. É então colocado na lista de suspeitos do Comitê. A tela continua tingida de sangue para apresentar “o termômetro da guilhotina”: quatro fileiras de escaninhos, que guardam os processos de todos os passíveis de decapitação. A primeira coluna, pífia, mantém os autos em julgamento; na segunda, atulhada, estão os próximos a ter a cabeça cortada; a terceira pilha de papéis, ainda maior, traz os já decapitados; um escaninho vazio, finalmente, destina-se aos casos julgados inocentes. Dois homens da burocracia comem, às escondidas, processos dos condenados à guilhotina. O processo de Bonaparte é comido por um dos burocratas, personagem que conheceu o líder francês durante a infância, no colégio militar. Liberto da cadeia, Napoleão é o nome de consenso para botar fim ao terror e pacificar a França, ameaçada por uma coalizão monarquista. Bonaparte aceita o convite e “entra para a história novamente”. Inaugura-se uma nova era, o povo respira em paz, livre da sombra da guilhotina. Napoleão é aclamado nas ruas como herói, a população está em festa. Nomeado general, aceita liderar exércitos franceses na campanha contra a Itália. Antes de partir para a região do conflito, tem visões com os fantasmas da Revolução: Marat surge do além para instar Bonaparte a fundar uma república universal: “A Europa será uma única nação”, diz. A ação desloca-se para a viagem de Napoleão à Itália. Chegando ao campo de batalha, o general encontra um exército mal equipado e desiludido. Aos poucos, entretanto, os homens são dominados pelo seu magnetismo: “Preparem suas divisões! Vamos começar a campanha em quatro horas!”. “A beleza será convulsiva ou não será”, disse certa vez o escritor surrealista André Breton, em frase que Abel Gance gostava de repetir. Os planos construídos pelo cineasta para descortinar a mobilização do exército francês na Itália, alguns dos mais belos do período mudo, justificam plenamente o juízo 80 de Breton. Aqui, Gance lança mão de um recurso inédito, inventado por ele mesmo – o Polyvision –, a fim de criar um poderoso clímax dramático e encerrar seu épico de forma tonitruante. Com o horizonte visual da tela triplicado em largura, Gance alinha três planos simultâneos lado a lado, fornecendo uma visão panorâmica do campo de batalha. Nesse tríptico (considerado o primeiro split-screen 47 da história do cinema), uma colagem de imagens sobrepostas dá a ver as tropas francesas em marcha pelas montanhas, amalgamadas a mapas, sombras e outras alegorias, como num videoclipe avant-la-lettre. Montado em seu cavalo, o céreo general francês lidera a turba de soldados andrajosos, prestes a ser tomada pelo espírito do “Grande Exército”. Este gran finale vem coberto por cores que enfatizam o caráter patriótico da cena, com os planos do tríptico recebendo as cores da bandeira francesa: vermelho para o plano da esquerda, azul para o plano da direita; ao centro, uma águia em preto-e-branco. Napoleão é saudado como herói da França, terminando a “música de luz” do visionário Gance. 2.13.4 – “Ave, Brasil” Pouco resta dos primórdios e do período mudo brasileiro. Sabe-se que, de 1898 (data da primeira filmagem brasileira, na baía da Guanabara 48 ) a 1935, intervalo abarcado por este trabalho, houve uma produção nativa tão farta quanto hoje desconhecida, tendo em vista o desaparecimento de boa parte dos filmes, em face de problemas de conservação e razões adversas. Sabe-se também que essa produção divide-se em períodos de maior ou menor atividade, entrecortados por ciclos espasmódicos fora do eixo Rio-São Paulo, notadamente na década de 1920. É impossível precisar quantos ou quais desses filmes receberam tingimentos e viragens – não há referência a outros métodos além desses – como técnica para colorir imagens. Alguma escavação e localizam-se pepitas. Dos surtos regionais, escolheram-se, para tratar aqui, Aitaré da praia (1926, Gentil Roiz) e Canção da primavera (Igino Bonfioli e Cyprien Ségur, 1923), representantes do ciclo do Recife e do ciclo belo-horizontino, respectivamente. Aitaré da praia, dirigido por Gentil Roiz e “cinematographado pelo conhecido e hábil technico Edson Chagas”, oferece cenas nas quais se vê o Brasil como palco de 47 Split-screen: divisão da tela, tradicionalmente em duas, mas também em várias imagens simultâneas, rompendo a ilusão de que o retângulo da tela é uma visão contínua da realidade (Wikipédia, acesso em 23/02/07). 48 “Vistas da Baía de Guanabara”, tomadas feitas a partir do navio francês Brésil, por Afonso Paschoal Segreto, sem registro de exibição. 81 uma ação filmada: personagens, locações e enredo são talhados “nos costumes dos nossos heróis jangadeiros, dos verdadeiros filhos do esquecido Nordeste. (...) Ave, Brasil!”, lê-se na cartela de abertura. Os planos iniciais trazem imagens de uma típica e iluminada praia do litoral norte brasileiro (86 anos atrás, bem entendido), coberta por viragem sépia, ao que parece, misturada a um tingimento azul: a mistura entre essas cores confere um matiz exótico ao roteiro que lentamente se descortina. Apresenta-se Aitaré, pescador, namorado de Cora e desafeto de Zeno: ágil, a ação desenvolve-se em cenas singelas, produto de uma sã artesania, nas quais ressalta a busca do diretor por uma identidade própria para o cinema então feito no país. Em tomadas verdes, tendo como cenário o mar e barcos de pesca, Aitaré corteja Cora, convidando-a para uma festa na casa do capitão Afonso, onde formarão “o mais belo par”. Zeno parece desaprovar o romance e não esconde a raiva gratuita pelo pescador rival. Daqui em diante, porém, Aitaré da praia retorna imperdoavelmente ao preto-e-branco, e o que prometia ser uma experiência cromática das mais interessantes não é levado adiante, seja por limitação de custos, seja por que as viragens do filme não resisitiram à passagem dos anos. Já Canção da primavera teve suas cores originais devolvidas, na íntegra, a partir de uma recuperação feita recentemente pelo projeto Cinemateca Mineira do Departamento de Fotografia e Cinema da Escola de Belas Artes da UFMG 49 . Recomposto digitalmente em suas viragens e tingimentos, o filme é mais generoso no trato cromático do que Aitaré da praia e, de fato, há registros de que a première de Canção da primavera em Belo Horizonte impressionou audiências pela sua profusão de azuis, verdes e sépias. Conforme indicações de Bonfioli, encontradas no acervo do diretor doado à Escola de Belas Artes, foram previstas cores para toda a extensão do filme: sépia seria usado para as cenas internas da fazenda, azul para os letreiros e as cenas noturnas, amarelo para as cenas externas e verde para representar os campos nas proximidades da fazenda. Somente a cena de flashback permaneceria em preto-e-branco (REIS, in: NAZÁRIO [org.], 2004, p. 114). Canção da primavera desvela a Minas Gerais de inícios da década de 20, valorizando planos em que Bonfioli fotografa ícones do sertão mineiro, como a fazenda, os coronéis ferrabrazes, as sinhazinhas, os padres, as moças pudicas, tudo aquilo que consta, desde sempre, da geografia psicofísica deste estado brasileiro (Fig.48). O filme 49 Para uma descrição pormenorizada da recuperação (não restauração) de Canção da Primavera, conferir artigo “Do filme ao DVD”, constante do livro Filmoteca Mineira, organizado pelo professor Luiz Nazário, em 2004. No artigo, André Reis Martins conta o passo-a-passo para a operação de salvamento do filme, bem como se refere à (re)descoberta das cores usadas por Bonfioli nas cópias originais. 82 se passa no contexto de uma sociedade patriarcal, afeita a padrões rigorosos de comportamento: conforme vontade expressa de seu pai no leito de morte, coronel Luiz Roldão quer que seu filho Jorge despose Rosita, moça da família Bento. Jorge, contudo, está apaixonado por Lina, que mora na fazenda com os Roldão. Diante da desaprovação do rígido coronel, Lina acredita ser impossível casar-se com o rapaz e foge, indo morar com o avô, longe da fazenda. Após sofrer com as privações impostas por uma vida distante do conforto da célula “paterna”, a moça é procurada por Jorge, retornando à fazenda. Aconselhado pelo padre Belisário, coronel Roldão termina por aceitar a união entre Lina e Jorge, para que tudo volte à tradicional placidez mineira. Fig. 48 – Canção da Primavera Bonfioli conduz Canção da Primavera não sem alguma ironia: já nos momentos iniciais, a boiada de Roldão, saída dos currais, desce uma colina, em plano banhado por tintura amarela. No itinerário obrigatório de muitos dos personagens do elenco, está sempre o gado no curral em frente à fazenda, ruminando infinitamente, parecendo zombar à boca miúda de todos aqueles que cruzam seu caminho: é como se Bonfioli, europeu de origem, quisesse caçoar também do atraso interiorano. A um estado de coisas engessado pelo poder dos oligarcas, o diretor opõe o amor de Jorge e Lina – capaz de transgredir a empedernida moral da época – e a modernidade de seu cinema espantosamente colorido. A nota dissonante fica para os comentários racistas, desfechados pela matrona Birtes, em referência aos empregados da fazenda. Nesse quesito, o olhar de Bonfioli parece tristemente ambientado à cena local, marcada pelo atávico atraso sócio-político das Gerais 50. 50 Os tipos periféricos de Canção da primavera reforçam o tom cômico do filme: destaque para o padre Belisário, para as traquinagens de um garoto com maquiagem preta (!) e ainda para as investidas amorosas de um barbeiro e (mau) poeta sobre a solteirona Salustiana. Aqui e ali, também um cantador aparece em cena, desfiando canções de amor na viola caipira: sua toada triste funciona como leitmotiv para que o enredo siga em frente, narrando a desdita de Lina, proibida de se casar com o desesperado Jorge. 83 2.13.5 – Decadência e fim dos tingimentos O tingimento de películas teve um rápido declínio nos anos 1930, até praticamente desaparecer do cenário, após a conversão definitiva para o cinema sonoro. As viragens encontraram sobrevida ainda em westerns daquela década, por imitarem à perfeição o ambiente poeirento do velho oeste. Desconhecem-se as exatas razões para tão drástica redução dos tingimentos, mas há quem atribua o fato à toxicidade das substâncias usadas como corantes (algumas utilizavam pigmentos extraídos do urânio). Avaliações técnicas culpam também a chegada dos filmes falados pelo sumiço das cenas tingidas, dado que as colorizações químicas interferiam diretamente na qualidade de reprodução do som sincronizado, considerado prioritário, na época, pelos estúdios cinematográficos. Apenas a questão técnica, contudo, não justificaria a diminuição no uso dos tingimentos, visto já se encontrarem no mercado, após o advento do som, películas prétingidas, aptas à inscrição da banda sonora 51 . Especula-se que a crescente valorização da fotografia em preto-e-branco no cinema, sua conseqüente evolução técnica bem como o aperfeiçoamento da narrativa cinematográfica teriam contribuído mais decisivamente para o desaparecimento dos filmes tingidos, no começo dos anos trinta. É provável que uma conjunção entre esses fatores explique melhor tão rápido decréscimo no uso dos tingimentos químicos. De qualquer modo, a questão demanda averiguações. Os planos tingidos do silencioso agregaram-se em definitivo ao arsenal de recursos de que se compõe o cinema. Ainda usados por cineastas contemporâneos – basta lembrar títulos como Zabriskie Point (EUA, Michelângelo Antonioni, 1970), O livro de cabeceira (The pillow book, França/Inglaterra/Finlândia, Peter Greenaway, 1996) ou Traffic, daqui ninguém sai vivo (Traffic, EUA/Alemanha, 2000, Steven Soderbergh) –, consistem, como se viu, num meio eficaz de influenciar o andamento psicológico de uma trama, conferindo-lhe potentes efeitos atmosféricos, à maneira de um tempero exótico, que se agrega ao prato principal. Além do envolvimento sensorial que são capazes de criar, as colorizações monocrômicas carregam consigo uma imensa carga de significações, emprestada a elas pelos seus mais diversos empregos no decorrer da história. Obtido digitalmente, através de jogos de luz colorida, nos sets de filmagem, 51 Em 1929, a Eastman Kodak introduziu uma gama de 16 películas Sonochrome, pré-tingidas e perfeitamente aptas à inscrição da banda sonora. Para detalhes sobre a composição química dessas películas, conferir Ryan, op. cit., p. 17. 84 ou por meio de filtros coloridos, o plano monocromático permanece um recurso de grande valia para os criadores do cinema, em qualquer de suas formas. 2.14 – O processo Handschiegl O cerco avassalador à difusão dos filmes da Pathé nos Estados Unidos – desfechado como reação à presença maciça da firma francesa no mercado norteamericano – levou a empresa a desativar sua unidade de produção naquele país, em 1914. Se na primeira década do século XX os filmes colorizados norte-americanos sequer chegaram aos pés da produção colorida da Pathé, após o fechamento das portas da filial da empresa nos EUA, o filme colorido manualmente caiu drasticamente naquele país. Sobretudo com o advento dos longas-metragens, filmes pintados tornaram-se raros nos Estados Unidos. Não obstante, restaram ali ainda uns poucos coloristas de películas, que se limitavam, contudo, a pintar seqüências curtas, especialmente selecionadas e em apenas algumas cópias 52, apresentadas em cinemas de mais alto nível. Patenteado em 1916, um outro processo conservou algo da tradição das colorizações não fotográficas, acrescentando-lhes a sofisticação das impressões de litografias, sendo bastante utilizado nos EUA em grandes produções das décadas de 1910 e 1920. Inaugurado no longa-metragem Joan, the woman (EUA), o processo Handschiegl foi, neste filme de 1917, usado em acréscimo aos usuais tingimentos e viragens, marcando a estréia do diretor norte-americano Cecil Blount DeMille nos domínios da cinematografia em cores. Em sua autobiografia, DeMille relata a experiência: Joan the Woman foi o primeiro filme em que eu usei fotografia colorida. E apenas para algumas cenas, não o filme todo. [...] Naquele tempo, a cor estava ainda num estágio muito experimental. A maior parte da cor usada então nas produções americanas era aplicada com o laborioso método de pintar com a mão ou por um processo cujos resultados dependiam de conectar lentes especiais com vidros giratórios coloridos à máquina de projeção. Eu não era um expert nesses mistérios mecânicos, [...] mas já vira muitas litografias multicoloridas em Nova York e imaginei se algum 52 O serviço normalmente era oferecido por meio de publicidades em jornais especializados. 85 método mecânico poderia ser utilizado para imprimir cores a um filme, de modo mais rápido, barato e duradouro do que os processos então em uso (1960, pp. 159-60, apud HOPKINS, 2003) 53. DeMille sustenta que, da colaboração entre Alvin Wyckoff, seu diretor de fotografia, e mais dois técnicos do laboratório da Famous Players Lasky, em Hollywood, Loren Taylor e o gravador Max Handschiegl, teria surgido o processo, inicialmente denominado DeMille-Wyckoff e, mais tarde, Handschiegl. Utilizado em diversas produções dos anos 1920, o processo Handschiegl tratava-se de uma técnica fundada na transferência de corantes, a partir de uma cópia matriz, para cópias positivas preto-e-branco. Em princípio, eram feitas tantas cópias preto-e-branco quanto o número de cores a serem aplicadas ao positivo principal, cores essas na maior parte das vezes limitadas a um máximo de três. Na imagem positiva em preto-e-branco, as porções de espaço que deveriam levar cor (por exemplo, a roupa de determinado personagem) eram cobertas por meio de uma tinta opaca, com o auxílio de um pincel. Novo negativo dessa cópia era feito, ao qual se aplicava um revelador capaz de endurecer a camada de gelatina que fora exposta. As áreas correspondentes às porções bloqueadas da imagem eram então lavadas, ficando, assim, devidamente preparadas – levemente amolecidas – para receber os corantes. A seguir, o negativo era posto a girar numa máquina especial para transferência de corantes, passando por um tanque de solução saturada de corante e água, ali se carregando de tinta nas partes pré-amolecidas. Uma nova cópia positiva era então passada por uma solução, que preparava a sua emulsão para dissolver e absorver o corante do filme negativo (RYAN, op. cit., p. 23). Correndo na máquina, negativo e positivo eram postos em contato e as cores eram transferidas, por pressão, para a cópia positiva, como num carimbo. Repetindo-se essa operação para cada cor utilizada no filme, o Handschiegl limitava-se a tomadas curtas e que exibissem poucos movimentos na tela. Com mãos de quem domina a fina carpintaria do espetáculo, DeMille dirigiu Joan, the woman de maneira a acrescentar cores apenas ao clímax dramático deste épico. O filme narra a história da heroína francesa Joana d’Arc, contada sob a moldura do drama pessoal de um soldado no front da I Guerra Mundial. Durante confrontos entre 53 Disponível em: http://palimpsest.stanford.edu/byform/mailing-lists/amia-l/2003/09/msg00200.html 86 ingleses e alemães, um comando militar britânico necessita de voluntários para missão em campo adversário. Jovem soldado e seu colega se oferecem para a ação suicida. Mais tarde, na trincheira, os dois encontram velha espada, que pertencera a Joana d’Arc. À noite, o rapaz tem sonhos com a própria heroína a dizer ter morrido pela França a fim de denunciar ao mundo os pecados cometidos contra ela, uma enviada de Deus. Em longo flashback, o filme passa a contar a história da personagem, recapitulada desde suas atividades como simples camponesa até se tornar líder em batalha da França contra a Inglaterra. Traída pelo inglês Eric Trent, d’Arc termina capturada, jogada no calabouço e julgada por um sinistro tribunal religioso – a cena, virada em sépia, é filmada com uma iluminação dramática, fazendo lembrar “a luz de Rembrandt”, como queria DeMille. Condenada, Joana d’Arc deverá queimar numa pira sacrificial. Surgem três soldados grotescos, munidos de archotes ameaçadores: o fogo que crepita nas tochas desses homens aparece em impressionantes tons alaranjados, obtidos pelo processo Handschiegl. Os soldados ateiam fogo à lenha e amarram d’Arc para arder nas chamas. Línguas de fogo coloridas de amarelo-laranja se agitam na pira, contrastando com o restante da imagem, conservada em preto-e-branco. A aplicação do Handschiegl ao momento nevrálgico do filme é de grande eficácia dramática, produzindo comoção no espectador, sem comprometer o realismo da cena (Fig. 49). Num dado instante, toda a extensão da tela é dominada por fumaça preta e pelas labaredas alaranjadas e amarelas, que se mexem furiosamente. Ao fundo, obscurecida pela fumaça e pelas chamas, se vê Joana d’Arc, beatífica, de braços abertos e ladeada por anjos. DeMille montou a seqüência em doze planos coloridos – rápidos, em razão do trabalho necessário à colorização –, intercalados por planos em preto-e-branco, cuja função é mostrar a reação da Igreja e dos populares. Fig. 49 – Joan, the woman: suplício em Handschiegl 87 Em 1923, DeMille valeu-se novamente do Handschiegl para a sua megaprodução Os dez mandamentos (EUA, The ten commandments). Feito a partir de locações nas praias da baía de Guadalupe, Califórnia, esse filme tem a sua trama estruturada em dois diferentes núcleos dramáticos, o primeiro ambientado na Antiguidade, e o segundo, na era moderna. No prólogo de 25 minutos, passado no antigo Egito, DeMille descreve a saga do profeta Moisés para libertar seu povo do jugo do faraó Ramsés. À seqüência em que Moisés lidera os hebreus em fuga pelo deserto, DeMille reserva um especial tratamento cromático, com o uso não somente do Handschiegl, mas também do Technicolor nº 2 54. Durante o Êxodo, o exército do faraó Ramsés é detido à beira do Mar Vermelho por uma imensa cortina de fogo alaranjado, colorizada pelo Handschiegl. O efeito é poderoso e não peca por falta de realismo, sendo convincente em mostrar um sem-número de figurantes retidos pela coluna de fogo para que Moisés, seguido de seu povo, atravesse o caminho aberto nas águas. Também o manto do profeta hebreu e de alguns dos figurantes recebe um vermelho escuro, aplicado por meio do Handschiegl, destacando-se no preto-e-branco de fundo. Particularmente bem-sucedido nas cenas de incêndio, o Handschiegl volta a aparecer em Anjos do inferno (Hell’s Angels, EUA, 1930), filme de orçamento milionário do excêntrico Howard Huges, girando em torno da trajetória errática de três irmãos durante as hostilidades da I Guerra Mundial. Utilizando-se do Handschiegl para uma seqüência montada em 16 planos, em que se apresenta um ataque aéreo inglês a dirigível alemão, Anjos do inferno mantém uma eficaz associação entre os recursos sonoros, recém-introduzidos ao cinema, e a cor. Em planos tingidos de azul, tem-se a esquadrilha inglesa em ação, buscando derrubar um dirigível invasor de suas fronteiras. Ocorre uma batalha aérea e aviões ingleses são abatidos pelo zepelim, que resiste ao confronto graças à estratégia de ganhar altura aliviando-se de seu peso extra: a estóica tripulação da nave é sumariamente desovada por uma escotilha no fundo da nave, em nome da pátria. Em maior altitude, avião inglês decide cair em vôo kamikaze sobre o zepelim. Atingido, o dirigível explode numa formidável massa de fogo amarelo. O som ruidoso da explosão articula-se com as imagens do zepelim em chamas, potencializando a ação dramática. Intercaladas aos planos do dirigível, visto sob diversos ângulos, as exclamações dos irmãos protagonistas (“Olhe isso, Roy!” “Grande, não é?”) ecoam as do espectador, também boquiaberto com a batalha a que acaba de assistir (Fig. 50). Não 54 Segundo processo desenvolvido pela corporação norte-americana, após o fracasso inicial de seu primeiro sistema. Mais informações sobre a seqüência em Technicolor nº 2 do filme na seção 3.16.1. 88 casualmente, o filme foi um sucesso de público, arrecadando oito milhões de dólares nas bilheterias. Fig. 50 – Zepelim em chamas: Anjos do inferno 89 Necvariat lux colorem (a luz não muda de cor). Isaac Newton 90 3 – Sistemas fotográficos: o cinema rumo às cores naturais Mal havia nascido e jornais da época apontaram o cinematógrafo como um aparato investido da missão de criar um duplo da realidade física tão perfeito quanto possível. Em tom quase religioso, as primeiras exibições de vistas animadas foram descritas por alguns periodistas como uma “ilusão da vida real”, com toda a “sua grandiosidade natural, as cores, a perspectiva, os céus longínquos, as casas, as ruas [...]” (O Radical, em setembro de 1895, apud SADOUL, 1964, p.117). Compreende-se o teor hiperbólico do cronista: as fotografias animadas dos Lumière – e também as de Edison – vinham ao mundo mostrando um nível de imitação da realidade nunca antes alcançado. Objetivamente, contudo, filmes de aparelhos como o cinematógrafo e o quinestoscópio padeciam de sérias imperfeições, a maior das quais sendo talvez a sua notória incapacidade de apresentar as cores do mundo natural. O fato não passou despercebido aos pioneiros, que desde bem cedo procuraram inscrever o elemento cromático nas telas. Se as cores não estavam ali, urgente era inventá-las, adicioná-las por qualquer meio, agregá-las ao poder de onividência das “máquinas de refazer a vida”, tal como Thomas Edison procurou fazer, à gênese de seu quinetoscópio: A motivação original para a adição de cores às imagens móveis parece ter sido o realismo. Espectadores de algumas das primeiras exibições experimentaram a falta de cores como falta de realismo, e a primeira exibição de filmes no Vitascópio incluía vários filmes coloridos à mão, indicando a preocupação de Edison sobre o elemento que faltava (GUNNING, 1997, op. cit, tradução do autor). A primeira resposta de Edison e dos Lumière – mas também de Méliès e da empresa de Charles Pathé – à questão da invisibilidade da cor no cinema, leu-se no capítulo anterior, foram práticas tomadas de empréstimo à pintura. Romper as fronteiras do preto-e-branco, porém, não se revelou tarefa assim tão simples. A despeito de suas belas e inventivas soluções plásticas, o aspecto francamente pictórico conferido aos filmes pelas técnicas não fotográficas resultava distante a léguas de qualquer pretensão naturalista. Aplicadas à imagem fílmica, as colorizações manuais, por exemplo, derivavam em formas híbridas, comportando-se, na tela, como animações livres e 91 independentes a “contaminar” as projeções móveis 55 . Para a opinião técnica, enfim, a pintura de positivos estava com seus dias contados: seria usada apenas até que não se descobrisse maneira mais eficiente de reproduzir as ambicionadas cores naturais. Com efeito, mais do que adicionar cores a fotogramas por meios mecânicos ou pictóricos, tratava-se de aumentar o grau de analogia das imagens móveis por meio da técnica fotográfica. Só havia um caminho para isso: era preciso fazer com que se enxergassem as cores do mundo natural diretamente pelo olho da câmera, hipótese perseguida pelos pioneiros da fotografia desde os daguerreótipos. Um percurso como esse passava necessariamente, sabia-se, pela física óptica e pelo mecanismo de funcionamento do aparelho ocular humano. Essa ordem de discussões aflorou com mais vigor na segunda metade do século XIX, quando cientistas interrogaram-se sobre os métodos para capturar o espectro visível fotograficamente, a partir de investigações acerca do modo pelo qual o olho humano é capaz de distinguir as cores. Tais investigações tiveram como suporte as teorias da cor e dos fenômenos luminosos, surgidas no século XVII, com os estudos de óptica do físico e matemático Isaac Newton, desdobrados ainda por outros cientistas, filósofos e escritores nos séculos seguintes. Foi, portanto, com base nas idéias desse conjunto de pensadores, empenhados no desvendamento de uma tão difícil quanto fascinante questão, que se estruturaram as principais noções em torno da luz e da cor hoje universalmente difundidas. 3.1 – No princípio era a luz Desde a antiguidade, filósofos perguntaram-se acerca da natureza das cores. O assunto esteve envolto em mistério até meados do século XVII, quando o físico inglês Isaac Newton elaborou uma complexa teoria sobre luz e cor, formulada a partir de uma série de experiências com prismas. Na primeira dessas experiências, Newton deixou um feixe luminoso penetrar num quarto escuro por um pequeno orifício feito na veneziana de sua janela. Em seguida, atravessou esse feixe luminoso pela superfície de um prisma triangular de vidro, obtendo assim um espectro multicolorido. Desde muito tempo já se sabia que múltiplas cores são produzidas quando a luz solar passa através de um cristal de vidro. Newton, porém, desconfiava da explicação dada para o fenômeno, segundo a qual os prismas alteravam as propriedades da luz branca para produzir o espectro cromático. Após observar a forma que o espectro assumia quando projetado numa 55 Mordaz, Kevin Brownlow observa que as pinturas à mão ou por estênceis mecânicos terminavam muitas vezes parecidas com “gelatina colorida” (op. cit., p.291). 92 parede, Newton percebeu algo surpreendente: a luz não sofria modificação alguma em sua trajetória pelo interior do prisma, sendo tão-somente desviada em diferentes ângulos ao atravessar o cristal. Feita essa constatação, o cientista verificou, por cálculos matemáticos, que a cada faixa de cor espectral correspondia um grau específico de refringência da luz incidente sobre o prisma. Em outras palavras: para cada raio de luz desviado neste ou naquele ângulo à superfície do prisma, associava-se uma cor específica do espectro cromático. Como explicação para isso, Newton propôs que os raios responsáveis pela produção das cores seriam uma parte integrante da luz, mesmo antes de penetrar o cristal. Ao final de uma longa argumentação desfechada com muito estilo, o cientista afirmou, entre outras coisas, que a luz branca não consistiria numa substância tão pura e homogênea quanto em sua época se usava pensar (por influência da religião). Para rechear essas ousadas idéias com dados objetivos e críveis, o físico pôs em prática seu método de observação e análise, procedendo a uma série de novas experiências, capazes de desafiar e botar à prova todas as suas considerações precedentes. Fig. 51 – Diagrama da experiência de Newton Fonte: NEWTON, Óptica, 2002, p. 150 Num de seus últimos e mais importantes experimentos com prismas, Newton dirigiu o feixe de luz criado a partir do orifício feito em sua janela a um primeiro prisma e, por meio de uma lente, convergiu o espectro assim formado a um segundo cristal, por sua vez, invertido. Como resultado, o segundo cristal não dividiu novamente as cores do espectro: ao contrário, reagrupou-as num feixe único de luz branca (Fig. 51). Se o espectro cromático emergia do segundo cristal recomposto num feixe único de luz, coube ao físico concluir que a chamada “pura luz branca” realmente nada tinha de pura, sendo, pelo contrário, o produto da mistura entre as diversas cores que a formam. Em resumo, essas experiências mostraram a Newton que a luz constitui uma mistura 93 heterogênea de raios diferentemente refratáveis, disparados em todas as direções. De acordo com a teoria do cientista, portanto, as cores estariam na própria constituição luminosa e não ocorriam a partir de uma mistura entre luz e sombras, conforme a crença dominante desde Aristóteles. Nos termos de Newton, a luz seria, antes, “(...) um agregado confuso de raios carregados com todos os tipos de cores, como se fossem promiscuamente disparados de várias partes dos corpos luminosos” (apud CREASE, 2006, p.69). Outra noção originária das considerações newtonianas sobre o fenômeno da cor – e fundamental para as seções subseqüentes desta dissertação – postulava que as cores não consistem numa característica dos corpos naturais, mas sim no modo como a luz solar é absorvida ou refletida por esta ou aquela superfície 56. Segundo essa proposição, a cor não se encontra verdadeiramente nas coisas, mas na própria luz, que, ao incidir sobre os objetos, é refletida ou absorvida conforme as propriedades específicas desses corpos. O fator determinante para a cor de uma dada superfície reside, portanto, na capacidade que esta superfície tem de absorver ou de refletir, em diferentes proporções, o estímulo luminoso. Uma maçã, por exemplo, só é vermelha por que pode absorver todas as outras cores, refletindo em sua superfície apenas a porção vermelha do espectro cromático. Da mesma forma, a pintura de um carro só é amarela (por exemplo) porque sua superfície é incapaz de absorver a porção amarela do espectro, a qual reflete. Já uma superfície inteiramente branca será sempre o reflexo da mistura de todas as cores, enquanto um objeto preto, ao não refletir nenhuma luz, é ausente de dimensão cromática. 3.2 – Introdução à síntese tricrômica As experiências de Newton trabalharam ainda a hipótese de se fazer mesclas entre determinadas faixas coloridas do espectro para promover o aparecimento de outras cores distintas. Para tanto, o cientista amparava-se no princípio, bastante conhecido entre os pintores, de que há cores básicas, por meio das quais é possível obter todas as demais: essas cores denominam-se primárias – ou elementares –, dado que não provêm da mistura de nenhuma outra cor. Procedendo à separação entre as diversas faixas do seu espectro prismático, Newton elegeu como suas cores elementares as cinco bandas 56 As diversas fases do experimentum crucis56 bem como as proposições daí resultantes foram reunidas por Newton num espesso tratado de óptica, no qual o físico detalha minuciosamente o seu pensamento sobre a luz e a cor. 94 coloridas do arco-íris, defendendo serem vermelho, amarelo, verde, azul e violeta os valores primários e indivisíveis a partir dos quais se poderia obter toda e qualquer cor vista na natureza: (...) ainda não fui capaz de produzir um branco perfeito misturando apenas duas cores primárias. Se ele pode ser composto de uma mistura de três [cores] tomadas a distâncias iguais na circunferência, não sei; mas de quatro ou cinco não duvido que pode (NEWTON, op. cit., p.133). Essa tese levará algum tempo – cerca de dois séculos – até ser devidamente reavaliada e retificada, com uma definição mais exata dos valores primários, contados efetivamente em número de três, além de redefinidos para as cores vermelho, verde e azul. As experiências com mesclas cromáticas de Newton serviram, de qualquer modo, como fonte de inspiração para que outros cientistas chegassem, no século XIX, a novas descobertas sobre o fenômeno da luz e das cores, cruciais para o desenvolvimento das primeiras prospecções em torno da fotografia e do cinema em cores naturais. Publicada em 1801, a “Teoria da visão tricromática” lançou as bases para as modernas pesquisas em torno da luz e da cor, no âmbito científico. De autoria do físico, médico e egiptólogo inglês Thomas Young e retomada pelo físico escocês James Clerk Maxwell e pelo físico alemão Herman Von Helmholtz, a “Teoria da visão tricromática” propõe, nos termos que interessam a este trabalho, que a luz pode ser dividida em três comprimentos de onda 57 básicos, capazes de conter todos os matizes do espectro visível. Partindo das idéias de Newton, portanto, Young experimentou misturar entre si diversos feixes de luzes coloridas. Após essas misturas, concluiu que os três comprimentos de onda elementares – geratrizes a partir das quais se obtêm todas as outras faixas do espectro – deveriam ser o vermelho, o verde e o azul. Somente essas três cores-luz, mescladas em proporções variáveis, seriam suficientes, segundo Young, para gerar quaisquer tonalidades vistas na natureza. O fato de que vermelho, verde e azul são as cores ditas fundamentais pode ser confirmado, como nas experiências de Young, mediante a mistura entre feixes de luzes básicas provenientes de três lanternas de projeção. Um filtro vermelho é colocado à 57 Comprimento de onda: é de Thomas Young a teoria segundo a qual a luz se propaga em forma de ondas. Opõe-se à teoria de Newton, para quem a luz é formada por corpúsculos. Mais tarde, a teoria corpuscular vai juntar-se à teoria ondulatória para uma explicação mais completa do fenômeno luminoso. 95 lente do primeiro feixe de luz projetada, um filtro verde é colocado para o segundo feixe de luz e um filtro azul, colocado para o terceiro feixe de luz. Sobrepostos em iguais proporções num anteparo, esses três feixes de luzes coloridas primárias resultam num único ponto de luz branca. Isso ocorre porque o vermelho, o verde e o azul compõem cada qual um terço do espectro luminoso. Juntos e em iguais proporções, perfazem 100% da luz (Fig. 52). Se, por sua vez, somam-se apenas os feixes de luz verde e de luz vermelha, obtém-se como resultado um ponto de luz amarela, correspondente a dois terços da luz branca. Da mesma forma, a luz azul adicionada à luz vermelha resultará num ponto de luz magenta, também correspondendo a dois terços da luz. Finalmente, a luz verde somada à luz azul produzirá um ponto de luz ciano, compondo outros dois terços da luz. Como se nota, a mistura em iguais proporções entre pares de cores-luz primárias resulta sempre em uma cor mais clara, cada vez mais próxima do branco (Fig. 52). Do mesmo modo, misturadas em partes iguais as três cores-luz primárias, obtém-se como resultado um ponto de luz inteiramente branca. Não é por outra razão que a mistura cromática entre as luzes vermelho, verde e azul foi denominada, a partir de então, de síntese aditiva. Fig. 52 – Vermelho, verde e azul: cores aditivas 3.3 – Fisiologia da visão A “Teoria da visão tricromática” constituiu a pedra angular para uma brilhante dedução, também feita por Thomas Young, sobre o modo pelo qual o olho humano é capaz de enxergar as cores do mundo natural. Young propôs que o olho possuiria três tipos de receptores, cada um dos quais preferencialmente sensível a uma determinada 96 cor primária. Esses receptores oculares 58 seriam os responsáveis por sintetizar todas as cores do espectro visível, transmitindo ao cérebro a informação correspondente ao que se vê no mundo lá fora. Isso ocorre, pensava Young, porque é impossível admitir que a retina contenha células receptoras em quantidade tão grande quanto o número incalculável de cores existentes na natureza. Nesse sentido, toda imagem vista pelo olho humano seria criada, fundamentalmente, através da mistura, em diferentes proporções, entre as luzes vermelho, verde e azul, produzida pelas células fotorreceptoras da visão. De fato, sabe-se hoje que o olho trata-se de um mecanismo complexo, desenvolvido para a percepção da luz e da cor. Compõe-se, basicamente, de uma lente externa – o cristalino – e de uma superfície fotossensível, em seu interior – a retina –, onde se forma a imagem. A retina possui dois tipos de células fotorreceptoras, os cones e os bastonetes. Existentes em maior número no olho, os bastonetes são os responsáveis pela visão periférica e pela visão noturna. Já os cones são os responsáveis por transmitir ao cérebro a visão das cores. Há somente três tipos de cones, contudo: aqueles sensíveis à cor vermelha, os sensíveis à cor verde e os sensíveis à cor azul. Para ir mais além, cada um desses cones contém um pigmento visual diferente, que responde à luz de um comprimento de onda diferente. Um cone responde às ondas longas (cores vermelhas), outro às ondas médias (cores verdes) e um terceiro às ondas curtas (cores azuis). Tomese, por exemplo, a luz emitida por uma lâmpada amarela. Quando essa luz atinge o olho, sensibiliza, igualmente, os cones sensíveis ao vermelho e os sensíveis ao verde, porque a luz amarela é obtida como fruto da combinação, em iguais proporções, entre essas duas cores. Ainda, se duas lâmpadas, uma vermelha e outra verde, são colocadas juntas e observadas a certa distância, o olho perceberá a luz emitida por essas lâmpadas como uma só luz amarela 59. 3.4 – A fotografia em três cores de Maxwell Trilhando no caminho aberto pelo trabalho de Young, outro importante físico, o escocês James Clerk Maxwell, proferiu, em 1855, uma leitura na Royal Society de Londres sugerindo que a “Teoria da visão tricromática” poderia ser usada para se construir uma imagem fotográfica em cores naturais. A fim de comprovar essa hipótese, 58 Nos anos 1960, cientistas descobriram as células do olho humano responsáveis por sintetizar as cores – os cones –, o que comprovou a teoria de Young. 59 Este é o princípio que regula, por exemplo, a escala de cores RGB (red, green, blue), utilizada para os monitores de TV e telas de microcomputadores. 97 Maxwell fotografou três vezes um mesmo tema, separadamente e através de filtros transparentes nas cores vermelho, verde e azul, colocados diante da lente de sua câmera. Na seqüência do experimento, Maxwell usou três projetores para ampliar os positivos dessas fotografias, também através dos filtros vermelho, verde e azul, de tal modo que as imagens se sobrepusessem umas às outras numa tela branca. Projetados, esses positivos recombinaram-se para formar uma única imagem, suficiente para exibir as cores do tema originalmente fotografado (Fig. 53). Fig. 53 – Fotografia em três cores de Maxwell Com esta experiência, Maxwell definiu as bases para as futuras investigações em torno da síntese aditiva. Nas décadas de 1900 e 1910, a adição de cores tornou-se o mais perseguido método para a obtenção de imagens em cores naturais, na fotografia e principalmente no cinema, dando origem a uma série de sistemas a serem analisados nas seções que se seguem 60. 3.5 – O filme ortocromático A hipótese de reprodução da cor por métodos puramente fotográficos apresentou ainda uma séria dificuldade para os cientistas e inventores envolvidos nessas experiências, em fins do século XIX e inícios do século XX. Até o surgimento do filme 60 Se a maior parte das buscas pela cor fotográfica através da síntese aditiva no cinema redundou em fiasco – conforme se verá –, esta forma de geração de imagens em movimento coloridas encontrará um êxito inquestionável mais à frente, na tecnologia dos aparelhos de televisão, criada em torno dos anos 1950 e popularizada a partir dos anos 1970. Diferentemente da tela de cinema – um anteparo que apenas reflete a luz –, televisores são fontes emissoras de luz. Nesse sentido, utilizam em suas telas um mosaico de diminutos pontos vermelhos, verdes e azuis. Bombardeados por três canhões emissores de elétrons, esses minúsculos cristais passam a emitir luzes primárias em diferentes intensidades que, vistas à distância, misturam-se, tornando-se indistinguíveis isoladamente pelo olho humano. É graças à mistura óptica das três básicas – vermelho, verde e azul –, portanto, que o olho pode comunicar ao cérebro o enorme conjunto de colorações verificado na imagem televisiva. 98 pancromático, em 1915, os materiais fotoquímicos utilizados nos processos fotográficos eram sensíveis somente a uma reduzida gama cromática do espectro luminoso – mais exatamente ao azul e aos raios ultravioletas. Assim, ficavam de fora dos registros da fotografia em preto-e-branco as porções do espectro relativas ao vermelho e ao verde, cores para as quais o material fotográfico então utilizado era simplesmente cego. Isso explica porque fotografias e filmes do século XIX possuem imagens altamente contrastadas, incapazes de um registro completo de todas as nuances de cinza. Em 1873, o químico alemão Herman W. Vogel constatou que a adição de pequenas quantidades de substâncias corantes à emulsão das placas fotográficas poderia fazê-las mais sensíveis a uma amplitude maior de faixas espectrais. Surge aqui a idéia do filme ortocromático, capaz de tornar possível às placas fotográficas com emulsão preto-e-branco o registro das porções azul e verde do espectro. Ainda não era o registro completo de todas as cores, cujas bases vieram a ser conhecidas somente em 1906, com a invenção do filme pancromático 61. Mas a maior sensibilidade da emulsão fotográfica obtida por Vogel logrou um importante avanço para a fotografia da época, produzindo como efeito imediato que a experiência com a síntese aditiva de Maxwell caísse no uso comum (THOMAS, 1969, p.1). Fig. 54 – Projeção de fotografia em três cores Assim, projeções de três positivos justapostos para apresentar imagens em cores naturais tornaram-se freqüentes a partir de 1890, à semelhança do experimento de Maxwell (Fig. 54). É dessa época também um pequeno e caprichoso aparelho, considerado então como “a mais nova maravilha da ciência”, denominado Cromoscópio. Desenvolvido pelo inventor norte-americano Frederic Eugene Ives e 61 O filme pancromático só foi comercialmente difundido no início dos anos vinte. 99 comercializado na Inglaterra em 1898, o Cromoscópio consistia de uma pequena caixa de madeira (Fig. 55) pela qual se viam fotografias estereoscópicas intensamente coloridas. Funcionando segundo a síntese aditiva, o Cromoscópio alinhava em seu interior três positivos transparentes, acompanhados de filtros respectivamente em vermelho, verde e azul, facultando a visão de lindas fotografias em cores naturais, chamadas por Ives de fotocromogramas. Os fotocromogramas em geral traziam motivos simples, tais como naturezas-mortas com frutas amarelas, verdes, violetas e vermelhas, além de belas borboletas brasileiras, com asas de azul iridescente. Ives, contudo, reconheceu que aquele ainda não era “o tipo de fotografia que o mundo esteve esperando (...) porque não produz imagens coloridas fixas que podem ser emolduradas e penduradas na parede” (apud MCKERNAN, in: TOLMI e POPPLE, 2005, p. 206). Fig. 55 - O Cromoscópio Fonte: THOMAS, op. cit., p.2 3.6 – Do Cromoscópio ao processo de três cores de Lee e Turner Do Cromoscópio de Ives veio o exemplo para o cinema apostar na síntese aditiva em suas primeiras investidas no território das cores naturais. Os resultados mais efetivos nessa direção frutificaram na Inglaterra, mormente na região de Brighton 62 . Credita-se ao controverso e exasperado inventor William Friese Greene a primeira patente inglesa de um sistema para cinematografia em cores naturais, datada de 1898 (MCKERNAN, op. cit., p.209). Sobre esse sistema, sabe-se que se resumia a um disco com vidros coloridos em vermelho, verde e azul a girar em frente à lente do aparelho de projeção e que resultava absolutamente ineficaz. Em 1898, outro pioneiro de Brighton, 62 O termo “escola de Brighton” foi cunhado pelo jornalista francês Georges Sadoul para nomear um grupo de cientistas, inventores e entusiastas da imagem móvel, moradores da mesma cidade inglesa litorânea de Brighton, responsáveis por pesquisas pioneiras na cinematografia em cores naturais. 100 o capitão do 4° Batalhão de Liverpool William Norman Lascelles Davidson, patenteou um sistema de lente tripla, composto de uma câmera dotada de filtros nas cores primárias, postos diante de suas três lentes. Também sem obter êxito com esse aparato, Davidson promoveu – por puro hobby – uma série de outras prospecções no campo da cor em movimento, chegando a investir três mil libras em suas experiências, todas elas malogradas, entre 1898 e 1906. As investigações do capitão inglês não se provaram de todo inúteis, dado que anteciparam uma descoberta capaz de simplificar enormemente o desenvolvimento de um sistema aditivo de cores para o cinema. Em parceria com Friese Greene, Davidson demonstrou, à Royal Institution e à Convenção Fotográfica da Grã-bretanha de 1906, um processo para filmes em cores naturais com o uso de apenas duas primárias – vermelho e verde. Em princípio, esse processo apresentaria uma imagem colorida aceitável através somente das cores vermelho e verde, capturadas através de filtros e registradas sucessivamente no negativo preto-e-branco. Embora não tenha alcançado resultados práticos, o sistema de Friese Greene e Davidson, patenteado em 1905, apoiou-se na mesma idéia que, pouco mais tarde, servirá de base para o surgimento do mais bem-sucedido dos sistemas aditivos dos primeiros tempos do cinema, o Kinemacolor. Para se entender as origens do Kinemacolor, é preciso recuar a 1899. Naquele ano, o britânico Edward Raymond Turner – inventor e manufatureiro que trabalhou com Ives na construção de Cromoscópios – desenvolveu, com o suporte do financista Frederick Marshall Lee, um processo também fundado no princípio da síntese aditiva de cores, denominado sistema Lee e Turner. Embrião do Kinemacolor e de todos os sistemas aditivos, o sistema Lee e Turner escorou-se na idéia de se projetar simultaneamente três quadros de um filme através de filtros nas cores primárias, tal como na experiência de Maxwell. Uma descrição passo a passo da descoberta do sistema Lee e Turner pode ser encontrada em The first colour motion pictures (op. cit.), do físico David B. Thomas, obra imprescindível para qualquer referência à história e à tecnologia do Kinemacolor. Segundo Thomas, a patente do sistema Lee e Turner mencionava, em síntese, uma câmera cujo obturador circular seria composto de três setores opacos alternando-se com três filtros nas cores vermelho, verde e azul. O obturador dessa câmera girava sincronizado ao negativo, de tal modo que três frames da película eram expostos sucessivamente, através dos filtros vermelho, verde e azul, enquanto o filme se 101 movimentava: “O filme exposto consiste, portanto, de uma recorrente série de gravações em vermelho, verde e azul, que são as gravações necessárias para qualquer processo de três cores” (op. cit., p. 4). Na etapa seguinte, os três consecutivos quadros do filme eram projetados na tela, simultaneamente, através de três lentes de projeção dispostas verticalmente na máquina, bem próximas uma da outra. Cada frame era projetado três vezes, com o jato de luz também passando através de um obturador giratório dotado de filtros nas três primárias, restituindo assim as cores do tema original. O fenômeno da permanência retiniana se encarregaria de fundir as três informações de cor na tela e, logo, devolver aos olhos do espectador uma imagem em cores naturais (idem, p. 4, 5 e 6). Embora engenhoso, o sistema apresentava falhas insanáveis, tais como o péssimo registro das três projeções de cores e desagradáveis contornos coloridos em torno da imagem (algo semelhante aos “fantasmas” de televisão). No decorrer de 1901, Lee retirou o seu apoio financeiro a Turner, que então se aproximou do norte-americano de origem, Charles Urban – empresário então responsável pela Warwick Trading Company (WTC), uma das primeiras companhias de cinema britânicas –, propondo-lhe a idéia de um exclusivo sistema para a cinematografia em cores naturais. Charles Urban abraçou a causa de Turner com entusiasmo, financiando o inventor durante seis meses. O patrocínio de Urban rendeu frutos: uma câmera de alumínio para o processo foi construída pelo engenheiro da WTC, Alfred Darling, em outubro de 1901. Darling providenciou também um projetor de três cores, que não ficou pronto antes de abril de 1902. Infelizmente, Turner não viveu o suficiente para conhecer esse projetor, tendo morrido pouco depois de sua construção. O aparelho, a despeito de suas virtudes, conservou os erros de origem do sistema anterior: falhas de registro e contornos em volta das imagens (idem, p. 5). 3.7 – Kinemacolor: “A oitava maravilha do mundo” Com a morte de Turner, Charles Urban adquiriu os direitos sobre a patente do processo Lee e Turner, disposto a dar continuidade às pesquisas rumo às cores naturais. Para tanto, recorreu aos serviços de um dos associados da WTC, George Albert Smith – cineasta, mesmerista nas horas vagas e interessado em ciência –, que se pôs imediatamente ao trabalho. Como primeira providência, Smith adotou para o sistema de 102 Turner filmes em formato standard, de 35 mm. A manipulação do projetor de três cores de Turner, entretanto, revelou-se complicada: Assim que a manivela da máquina de projeção era acionada, as três imagens recusavam-se a permanecer em registro e nenhum conhecimento que algum de nós pudesse lançar mão era capaz de sequer começar a resolver o problema (SMITH, apud THOMAS, op. cit., p. 8, tradução do autor). Smith também experimentou tingir individualmente cada frame da película preto-e-branco com sua cor apropriada: o frame correspondente à cor vermelha era tingido de vermelho, o frame da cor verde, tingido de verde e o frame equivalente ao azul, tingido de azul. Adaptado a um projetor convencional, esse filme carregando seus próprios filtros de cores foi posto a girar a uma velocidade três vezes maior do que a normal, resultando, desse modo, numa imagem capaz de passar a impressão das cores naturais, graças ao fenômeno da permanência retiniana. Problemas envolvendo o tingimento individual dos fotogramas, bem como a dificuldade de se projetar um filme em alta velocidade sem que se partisse, levaram, todavia, Smith e Urban a abandonar as tentativas de introduzir a cor na película em si mesma, voltando assim à idéia original de Turner de utilizar um filtro giratório durante a projeção. Após todas essas últimas tentativas redundarem em fiasco, em 1902 Smith começou enfim a vislumbrar um horizonte para suas explorações com a síntese aditiva. Embora sejam necessárias três cores primárias para se reproduzir uma cena em cores naturais, Smith constatou (da mesma forma, Friese Grenne e o capitão Davidson, alguns anos antes) que um processo utilizando apenas o vermelho e o verde poderia, quem sabe, resultar mais eficaz. Essa alternativa simplificaria sobremaneira o processo de Lee e Turner, fazendo com que a velocidade necessária à tomada de vistas bem como à projeção das imagens caísse de 48 para 32 frames por segundo, o que acarretava menor desgaste das películas e menor risco de que se rompessem. Smith ainda melhorou o sistema Lee e Turner, tornando os seus negativos mais sensíveis ao registro de uma gama maior de cores do espectro, mergulhando-os num banho de solução corante. Com esse avanço, as películas preto-e-branco adquiriram maior sensitividade, especialmente à porção vermelha do espectro. Nascia ali um eficaz sistema de cores naturais, fundado 103 na síntese aditiva, e denominado, três anos depois, de Kinemacolor, “a oitava maravilha do mundo”. Fig. 56 – Câmera Kinemacolor Em seu diário, Charles Urban comenta como testemunhou, emocionado, a descoberta do novo processo: Mesmo hoje, dezessete anos depois, eu posso sentir a emoção daquele momento, quando vi o resultado do processo de duas cores – eu gritei como um caubói bêbado – “Nós conseguimos! Nós conseguimos! (apud THOMAS, op. cit., p. 11, tradução do autor)” Patenteado em novembro de 1906, o Kinemacolor consistiu, segundo descrição do próprio Smith, de uma câmera bioscópio tradicional, encarregada de fazer as tomadas de vista da maneira usual, com a diferença de que um disco obturador, dotado de filtros nas cores vermelho e verde, era posto a girar à frente das suas lentes. Dessa forma, o negativo trazia a informação de vermelho num fotograma e de verde no fotograma seguinte, por toda a extensão da película (Fig. 56). A seguir, os positivos desse filme eram adaptados a um projetor comum, equipado também de um obturador com filtros coloridos em vermelho e verde (Fig. 57). Projetadas a uma velocidade de 30 quadros por segundo, as duas gravações de vermelho e verde tendiam a se misturar na tela – novamente devido à permanência retiniana – para resultar numa imagem em cores naturais, considerada bastante razoável (idem, pp. 11-12). 104 Fig. 57 – Projetor Kinemacolor Como estratégia para a exploração comercial do novo sistema, Urban e Smith combinaram dividir os ganhos auferidos com o Kinemacolor, cabendo a Urban a distribuição e exibição dos filmes coloridos para o grande público. A esse tempo, Urban já se tornara o principal nome do cinema inglês, tendo rompido com a companhia que fundara, a WTC, para criar a Charles Urban Trading Company (CUTC), focada no comércio de filmes e aparatos. A estréia do Kinemacolor deu-se, pois, em maio de 1908 numa recém-inaugurada sala de cinema da empresa de Urban em Londres, a luxuosa Urbanora House, com uma audiência composta basicamente de jornalistas. Em fevereiro de 1909, Urban obteve o primeiro retorno financeiro para seu sistema de cores naturais com a assinatura de um contrato entre a CUTC e a direção do Palace Theatre, permitindo exibições abertas e regulares de produções com seu espetacular processo. Para o público presente às sessões, estava ali afinal um meio de se apresentar imagens coloridas que não dependiam mais de colorizações manuais, químicas ou mecânicas. Encontrando boa receptividade, Urban fundou a Natural Color Kinematograph Company a fim de gerir a produção e a distribuição de seus filmes em cores naturais. Novos projetores, introduzidos em março de 1910, foram construídos para o sistema, buscando minimizar defeitos como o rápido desgaste das películas, devido à dupla velocidade requerida para as projeções. Arrojados, os projetores Kinemacolor eram mais pesados e mais rigidamente construídos do que as máquinas convencionais, de modo a evitar a vibração que normalmente ocorria, resultante da dupla velocidade do sistema. Já as câmeras Kinemacolor eram bioscópios comuns, dotados de um filtro obturador sincronizado ao movimento do filme: “como o filme girava na câmera apenas uma vez, não era necessário modificar o mecanismo de intermitência para reduzir o seu desgaste”, assinala Thomas (idem, p. 17). 105 Após o sucesso em Londres, exibições em Kinemacolor começaram a se espalhar por províncias britânicas, tendo na linha de frente de suas atrações um filme sobre as pompas fúnebres do rei Eduardo VII, realizado em 1910. Confiante no empreendimento, Urban renunciou à sua posição na CUTC para dedicar-se somente à companhia que recém-fundara, centrada na produção e comércio de filmes com a nova tecnologia da cor. A partir da construção de instalações para a Natural Color Kinematograph Company na capital inglesa em junho daquele ano, Urban buscou incrementar a produção em Kinemacolor, dando ênfase aos documentários. Com um número suficiente de filmes em catálogo, o empresário pôde então alugar um teatro em Londres – o Scala Theatre –, provido de 902 lugares, para exibições coroadas de êxito, atraindo multidões a programas que ficavam em cartaz por duas semanas ou mais. Contratado um grupo de doze atores, a Natural Color Kinematograph Company chegou a realizar uns poucos dramas e comédias em seus estúdios da Inglaterra e da França. Mas o grosso dos títulos voltava-se ainda a cenas da realeza britânica, noticiários e filmes educativos, conforme a preferência declarada de Charles Urban. O maior sucesso da companhia veio no ano de 1912, com Delhi Durbar (1911), documentário de duas horas e meia de duração (um dos primeiros longas-metragens da história do cinema) com as cerimônias de reconhecimento de Charles V como imperador da Índia – colônia que viveu sob domínio britânico por cerca de 200 anos. Considerado perdido, Delhi Durbar teve um de seus rolos recentemente encontrado nos arquivos de Krasnagorsk, Rússia. No pequeno e surpreendente fragmento do que resta deste filme, assiste-se à demonstração do extraordinário poderio militar do império colonial inglês à época. Planos gerais, organizados segundo uma eficiente montagem, compõem o fausto de um evento que, segundo se diz, contou com a participação de 20 mil homens armados. O imponente desfile das tropas imperiais tem em suas hostes não apenas os soldados do exército inglês, mas também notáveis soldados hindus de barbas, longos bigodes e turbantes vermelhos, montados em camelos igualmente paramentados. Troços de soldados a cavalo avançam para a direita, tropas montadas em cáfilas movimentam-se para a esquerda, disparam-se dezenas de canhões em saudação ao rei 63 . Infelizmente, as partes do filme que traziam a corte britânica, elefantes e outros detalhes singulares permanecem desaparecidos. 63 Para uma descrição pormenorizada de todo o Delhi Durbar, colhida a partir dos arquivos do próprio Charles Urban e deixadas ao Science Museum britânico, conferir o sítio: www.charlesurban.com. 106 Fig. 58 – Fotograma de Delhi Durbar Para as filmagens de Delhi Durbar (Fig. 58), Urban manteve cinco cinegrafistas da Kinematograph Company trabalhando em meio a dezenas de outros câmeras, que operavam ainda com película monocromática. A esse respeito, o empresário escreve em suas notas ter sido informado pelos oficiais da realeza de que espiões de companhias concorrentes buscavam sabotar as máquinas de Kinemacolor. Como o rei manifestara a vontade de assistir à versão colorida do filme em Londres, a Urban foram dadas as melhores posições para instalar suas câmeras, bem como a proteção necessária para resguardar os negativos, revelados durante a noite e enterrados na areia em caixas de metal, próximo à sua tenda. Por via das dúvidas, Urban ainda dormia com um revólver escondido debaixo do travesseiro (op. cit., p. 22). Em continuidade aos projetos de expansão da companhia, Urban estreou o processo na França em julho de 1908, com as filmagens do Grande Prêmio de Dieppe, no dia seguinte a essa corrida, para que não se confundissem os filmes em cores naturais com os filmes pintados à mão dos estúdios franceses. Mais à frente, porém, diversas razões minaram o sucesso do Kinemacolor em território francês. Já nos EUA, o processo teve sua primeira demonstração em 1909, no Madison Square Garden, perante uma platéia de 1.200 pessoas. Após causar espécie com as sessões inaugurais do sistema, Urban vendeu os direitos da patente do Kinemacolor a uma empresa norteamericana por 40 mil libras. Mas na América, o sistema de Urban e Smith enfrentou a resistência de monopólios impedindo a exibição local de filmes em cores, e o empreendimento ruiu ao cabo de três anos. Direitos sobre a patente do processo de Urban e Smith foram também vendidos à Itália, Rússia, Japão, Finlândia, Canadá, Holanda, Bélgica, Brasil e Suíça. Em nenhum desses países o sistema prosperou. 107 Embora uma novidade para a indústria, o sistema Kinemacolor possuía suas limitações. Com a dupla velocidade das tomadas, a máxima exposição necessária ao registro de cada frame do sistema correspondia à metade da habitual na cinematografia em preto-e-branco. Também a luz que chegava ao filme era filtrada pelo obturador, o que reduzia sensivelmente a exposição. Decorre daí que os filmes em Kinemacolor só podiam ser fotografados sob condições muito favoráveis de luminosidade, precisamente debaixo de boa luz solar. As companhias de cinema da época, entrementes, já começavam a trabalhar com luz artificial: a partir de 1912, a iluminação suplementar utilizada para os filmes de estúdio passou a ser fornecida por lâmpadas de vapor de mercúrio provenientes dos EUA. Tais lâmpadas, embora funcionais para os filmes em preto-e-branco, eram aptas à emissão de luz azul-violeta, sendo fraca a sua emissão das luzes verde e vermelha. Resultavam, nesse sentido, inúteis para o uso com o sistema Kinemacolor. Se, para Charles Urban, isso não constituía problema – tendo em vista seu interesse localizado nos filmes de não-ficção, fotografados a plein air –, para estúdios com produção voltada a dramas e comédias, uma eventual adoção do sistema bicolor em seus filmes ficava automaticamente inviabilizada. O defeito mais sério do Kinemacolor, porém, resultava da falta de registro de suas imagens: havia um lapso temporal de cerca de 1/30 de segundo, decorrido entre a exposição do vermelho e a exposição do verde. Como conseqüência, qualquer movimento da cena filmada nesse intervalo de tempo produzia, no filme, dois quadros que eram tudo, menos perfeitos em registro. Assim, o exato alinhamento desses frames durante a projeção ficava seriamente prejudicado: contornos de vermelho e verde podiam ser observados na imagem, em volta de objetos móveis. Outro complicador do Kinemacolor era que o sistema requeria o aluguel de seu projetor especial, mais caro que os convencionais. Ainda que alguns exibidores pudessem arcar com a despesa extra, a maioria nem mesmo dispunha de um local, em suas instalações, onde acomodar a nova máquina. Ainda, a velocidade para câmera e projetor duas vezes maior que a normal requeria maior gasto de energia elétrica, de modo que o custo de toda a operação envolvida na exibição do filme em Kinemacolor terminava no mínimo duplicado. O desgaste adicional dos filmes também reduzia consideravelmente a vida útil das cópias e isso acarretava freqüentes rompimentos da película. A todos esses revezes, acrescentese por último o fato de que a produção da Kinemacolor não garantia filmes em número suficiente para abastecer os cinemas com uma mudança de programa de pelo menos 108 duas vezes por semana, além de ser deficiente em comédias e dramas, gêneros que constituem o forte da programação dos cinemas, de 1896 até os dias atuais (idem, p. 27). 3.8 – Biocolour versus Kinemacolor A despeito de todas as suas falhas, o Kinemacolor rendeu a Charles Urban cifras substantivas. A bem-sucedida trajetória comercial do sistema, determinada pela excelente acolhida junto ao público, levou os competidores a examinarem outros métodos para a consecução de filmes em cores, a fim de entrar nesse recente e promissor ramo de negócios. William Friese Greene, por exemplo, estava ávido por explorar a cinematografia em cores, arvorando-se como o verdadeiro criador do filme colorido por conta de seu fracassado sistema de 1905, um ano mais novo que o de Smith. Com o financiamento de Walter Harold Speer, dono de um cinema – o Montpellier Electric Theatre – em Brighton, foi fundada em 1911 a companhia Biocolour, para exibições regulares dos filmes do sistema bicolor de Greene. O empreendimento, todavia, caracterizou uma infração à patente do Kinemacolor, razão pela qual a Biocolour terminou acionada judicialmente pela empresa de Urban em agosto de 1912. O processo judicial arrastou-se por três anos, com muitas idas e vindas, até que, em 1913, Friese Greene tentou invalidar a ação de Urban sob o argumento de que a patente de Smith não estava detalhada o bastante e que processos para cinema em duas cores já teriam sido usados antes do Kinemacolor. Friese Greene argumentava também que a patente de Smith não dizia quais os filtros vermelho e verde deveriam ser usados na câmera e no projetor do Kinemacolor e que tampouco definia o método para se sensibilizar a sua emulsão. Sobretudo, alegava ainda a ação de Friese Greene, a empresa de Urban incorria em erro ao afirmar que o processo oferecia uma perfeita visão das cores naturais, quando a cor azul estava ausente de seus resultados. O pronunciamento do juiz foi desfavorável a Friese Greene, que fez uma última apelação à Suprema Corte, conseguindo finalmente solapar o Kinemacolor. O veredicto final – proferido somente em março de 1914, após uma série de debates em que cada uma das partes envolvidas valeu-se de um físico especialista para dar as explicações necessárias aos leigos – sentenciava: 109 [Urban] diz que seu processo reproduz as cores naturais ou aproxima-se delas. Ele diz: tire a cor azul, não empregue a porção azul do espectro – azul ou aproximadamente azul – e o azul continuará sendo reproduzido. Não vai. A patente é conseqüentemente inválida (apud THOMAS, op. cit., p. 29, tradução do autor). A paixão dos criadores do Kinemacolor pelo seu sistema, em suma, era tanta que os levava a enxergar azul onde não havia. Derrotada nos tribunais, a empresa de Urban não deteve mais, a partir daquela data, a exclusividade sobre o cinema em cores naturais. O ramo da cinematografia em cores estava aberto, portanto, à livre exploração na Inglaterra e no exterior. Ainda assim, outras companhias inglesas não se atreveram a entrar no negócio do filme colorido, e a Kinemacolor continuou sozinha na atividade até a eclosão da I Grande Guerra, em agosto de 1914, conflito que jogou por terra grande parte das companhias européias de cinema. Friese Greene ganhou a causa, mas não pôde beneficiar-se disso, tendo em vista seu Biocolour não estar ainda tecnologicamente maduro para um efetivo aproveitamento comercial 64. 3.9 – O efêmero Kinekrom Com a mudança de Charles Urban para os Estados Unidos a fim de colaborar na propaganda de guerra através do cinema, a companhia Kinemacolor decaiu rápido até fechar as portas em 1916, encerrando definitivamente suas atividades. Impedido de promover o seu sistema nos EUA, dado que vendera os direitos sobre a patente do Kinemacolor no país, Urban ainda procurou explorar o filão do cinema em cores naturais entre os norte-americanos, por meio de um outro processo. Em substituição a Smith, o engenheiro mecânico Henry William Joy tornou-se o novo braço direito de Urban e, a pedido do empresário, procedeu a diversas alterações na câmera do Kinemacolor, buscando corrigir as falhas do sistema antecessor. Como principal novidade de seu sistema, conhecido como Urban-Joy, ou ainda Kinekrom, Joy apresentou uma diminuição no tempo de captura do vermelho e do 64 Nos anos vinte, Claude Friese Greene irá retomar as investigações do pai, conseguindo afinal corrigir as falhas do Biocolour, relançando o sistema sob o nome de Biocolor. Com o Biocolor, Claude realizou, entre outros filmes, um documentário de duas horas chamado The open road (1926), em que atravessa a Inglaterra de norte a sul, num Ford, registrando as especificidades geográficas e antropológicas do país. Embora eficaz, este sistema não interessou à indústria, o que levou Claude a abandonar a hipótese da exploração comercial do Biocolor. 110 verde. Assim, o intervalo de tempo necessário à exposição de cada fotograma passou à metade do tempo anterior, ficando mantido, contudo, o registro sucessivo das imagens em vermelho e em verde na película, maior deficiência do Kinemacolor. Como observa Thomas, “isso reduzia, mas não removia o defeito dos contornos coloridos e muito menos aliviava as outras limitações do Kinemacolor” (op. cit., p. 31). Em vez de optar pela gravação sucessiva das informações de cor, sabidamente ineficaz, Joy poderia ter utilizado, como solução para o problema dos contornos, uma câmera dotada de um prisma a fim de permitir a exposição simultânea do filme. A fotografia estática e processos como o Colcin Color 65 já haviam adotado o sistema de dupla captura com sucesso, interpondo um prisma à lente das máquinas, capaz de duplicar a imagem a ser registrada no filme. Joy, entretanto, ignorou esse avanço, acreditando que os defeitos do Kinemacolor só poderiam ser equacionados através de soluções mecânicas. Como resultado, o Kinekrom foi promovido nos Estados Unidos em 1923, mas não chegou a ultrapassar o estágio das demonstrações experimentais. Quanto a Charles Urban, foi a essa altura também que o pioneiro de fundamental importância nos primeiros momentos do cinema, especialmente no desenvolvimento das cores naturais, assistiu ao naufrágio de seu império, colapso esse que o enviou de volta à Inglaterra, mergulhando-o em certa obscuridade. 3.10 – O audacioso Gaumont Chronochrome A França também incursionou pelo território das cores naturais, nas primeiras décadas do século XX. Por volta de 1911, a Pathé via a sua supremacia no mercado cinematográfico mundial pouco a pouco se desvanecer. O declínio da companhia como líder na distribuição e produção de filmes foi ainda mais significativo no mercado norteamericano, ante o crescimento sem precedentes dos chamados produtores locais “independentes”. Ao fim daquele ano, o total da produção da Pathé nos EUA caiu a 10% da metragem total realizada anualmente no país (ABEL, op. cit., p.46). A decadência verificou-se mais tarde na própria França: durante os últimos três meses de 1913, a difusão dos filmes americanos ultrapassou a produção da Pathé em seu próprio território. A descentralização da indústria de cinema francesa, configurada a partir de 65 O Colcin Color foi o primeiro processo aditivo a instalar um prisma na lente da câmera, inaugurando a técnica da exposição simultânea. Pouco se ouviu falar desse processo, entretanto, após a sua primeira exibição numa exposição internacional em Londres, em março de 1913. 111 então, abriu campo para que empresas menores, como a Gaumont, viessem a aspirar a um naco maior no negócio do filme, notadamente no que se referia ao material tecnológico. Nem tão bem-sucedida na pesquisa da sincronização sonora, a Gaumont obteve melhores resultados na área do filme colorido. O seu processo Gaumont-Chronochrome – patenteado em 1913 pelos engenheiros Decaux e Lemoine – contou com umas poucas dezenas de filmes realizados e exibidos por salas menores de cinema de Paris e, ocasionalmente, também no Gaumont-Palace, “o maior cinema do mundo”. Não obstante, especialistas situam os filmes em Chronochrome entre os mais efetivos na reprodução da cor, na segunda década do século. A câmera do Chronochrome (também chamado Gaumontcolor) possuía três lentes dispostas verticalmente, à semelhança do sistema Lee & Turner, cada uma das quais dotada de um filtro na cor primária, capturando o vermelho, o verde e o azul simultaneamente no negativo preto-e-branco. As três imagens positivas, com a gravação do vermelho, a gravação do verde e a gravação do azul, eram projetadas também através de um obturador com filtros nas primárias, cuidando-se para que se recombinassem na tela, num registro tão acurado quanto possível. Isso era conseguido movendo-se a lente de projeção do topo e a da base para a mesma direção, por meio de um mecanismo de alinhamento, ao passo que a lente do meio permanecia fixa. Fig. 59 - Projetor Chronochrome 112 A fim de permitir o registro das três gravações de cores numa película que não fosse maior em extensão, a altura de cada frame da película do Chronochrome era reduzida para o correspondente a ¼ da altura de três frames regulares no filme de 35 mm. Isso significa que a extensão do filme Chronochrome se reduzia a duas vezes e meia à de um filme preto-e-branco comum, além de diminuir a pressão à qual a película era submetida devido à velocidade maior utilizada (48 quadros por segundo). Tanto a câmera quanto o projetor Chronochrome (Fig. 59) moviam três frames por vez, fato que criava a necessidade de se desenvolver um mecanismo de intermitência modificado, capaz de não submeter a película a pressões que pudessem parti-la. A despeito de seus defeitos, os filmes realizados com o Gaumont-Chronochrome apresentavam um colorido bastante satisfatório, “bem mais brilhante, (...) mas admirável em todos os outros respeitos” (British Journal of Photography, apud COE, 1981, p.121). Tendo demonstrações promovidas na França, na Inglaterra e nos Estados Unidos em 1913, o processo revelou-se inviável comercialmente. A difícil manipulação de seus caros e enormes projetores, além do rápido desgaste das películas, não facultou ao Gaumont-Chronochrome alcançar a fase das exibições em larga escala, e o sistema foi condenado a uma aposentadoria precoce. 3.11 – Do Panchromotion ao Prizmacolor I Nos vinte anos que se seguiram à quebra do monopólio da companhia de Urban sobre as cores naturais, vários outros processos bicolores aditivos 66 tentaram repetir o sucesso tecnológico da Kinemacolor, utilizando o princípio da projeção sucessiva de dois frames. A maior parte desses sistemas malogrou, não chegando a superar o estágio das experimentações. Em geral, empregavam câmeras especiais dotadas de filtros rotatórios, ou ainda negativos mais largos, para a captura de dois ou três frames por exposição. Ex-funcionário da produtora norte-americana de filmes Biograph, William Van Doren Kelley começou suas pesquisas com a síntese aditiva em bases muito semelhantes às do Kinemacolor. Responsável por importantes aperfeiçoamentos na área da cinematografia em cores, Kelley foi autor ou co-autor de pelo menos cinco patentes para filmes coloridos nas décadas de 1910 e 1920. Em 1913, em sociedade com Charles 66 Gilmore Color, Vocolor, Colcin Color, Kesdacolor e Cinechrome foram alguns desses processos. Guardando pouca variação em relação aos processos aditivos bicolores mais conhecidos, entretanto, tiveram pouca relevância no contexto da indústria. Para mais detalhes sobre esses processos, conferir RYAN, 1977. 113 Raleigh, engenheiro da Kinemacolor, e Thomas Crespinel, Kelley fundou a companhia Panchromotion, cujo nome batiza também o primeiro sistema desenvolvido por essa empresa. Aditivo de quatro cores, o Panchromotion empregava um disco rotativo segmentado na câmera e no projetor. A exposição era feita em frames sucessivos, cada um dos quais contendo uma exposição de cor e uma área de luz branca. As cores usadas para o disco rotativo eram vermelho, ciano, azul e amarelo. Não é preciso insistir que se tratava de um processo inviável, pois exigia uma velocidade alta demais para a exposição dos frames. Após o fracasso de seu primeiro processo e a dissolução da Panchromotion, Kelley perseverou no ramo das cores fotográficas lançando ainda o Kesdacolor (aditivo, malogrado), o Prizmacolor I e II, e o Kelleycolor. Processo que sucedeu o Panchromotion, o Prizmacolor I era muito semelhante ao Kinemacolor, utilizando um filtro de três cores para a fase de captura da imagem, bem como para a fase de projeção. A única diferença em relação ao sistema antecessor consistia em que o filtro giratório do Prizmacolor I podia ser adaptado à lente dos projetores então em uso. Após gastar meio milhão de dólares em pesquisas, o primeiro filme realizado pelo Prizmacolor foi o documentário Our Navy (EUA, 1917), de Kelley, exibido em Nova York. Após essa exibição, o Prizmacolor evoluiu para um processo de duas cores, no qual o disco rotativo foi eliminado da fase de projeção em favor da introdução de corantes no próprio filme para a impressão das cópias positivas. O positivo final resultava em sucessivos frames de imagens alternadas entre o corante vermelho e o corante verde. A projeção se fazia a duas vezes a velocidade normal para que os dois frames se fundissem na tela através do efeito da persistência retiniana. Mas o Prizmacolor I não foi além do primeiro filme. Com a chegada ao mercado, no início da década de 1920, dos positivos de emulsão dupla (uma camada na frente, outra no verso), o processo foi novamente mudado, adotando então o método subtrativo para a síntese das cores. Neste importante ponto da aventura do cinema colorido, impõe-se uma rápida passagem pela síntese subtrativa e pelos processos dela derivados, a fim de que se percebam as vantagens desse método em relação à síntese aditiva. 3.12 – A síntese subtrativa Consulte-se um manual prático de fotografia colorida, e o livro dirá que praticamente todos os processos fotográficos em cores naturais já concebidos tiveram 114 como meta duplicar a função analítica das cores, presente no olho humano. A premissa pode ser estendida também para as fotografias em movimento, e há somente dois modos de se chegar a isso: por meio da síntese aditiva, aqui já vista, ou mediante a síntese subtrativa, cujas bases foram publicadas na França em 1868/69, num trabalho intitulado “Cores em fotografia: a solução do problema”, de autoria do físico francês Louis Ducos du Hauron. As considerações de Hauron sobre a síntese subtrativa são o ponto de partida para que alguns processos desenvolvidos nas décadas de 1910 e 1920, como o Cinecolorgraph, o Prizmacolor II e o Technicolor II, finalmente apresentassem resultados viáveis na reprodução das cores naturais. Na mesma direção do experimento de Maxwell, Hauron fotografou uma mesma cena em três negativos preto-e-branco, mediados por filtros nas primárias vermelho, verde e azul postos na lente da câmera. Diferentemente de Maxwell, todavia, Hauron usou um suporte de papel a fim de gravar os seus positivos. Para tanto, empregou pigmentos misturados a substâncias fotossensíveis, aplicados em três camadas de cores. Para o negativo correspondente ao vermelho, Hauron usou o corante ciano. Para o negativo correspondente ao verde, usou o corante magenta, e para o negativo azul, usou o corante amarelo. Sobrepostas essas três camadas, obteve uma reprodução positiva em tons bastante próximos aos da cena originalmente fotografada (Fig. 60). A eficácia da experiência reside no fato de que, à diferença de Maxwell, Hauron produzia a sua fotografia lançando mão de pigmentos corantes e de uma única fonte de luz (o próprio sol). Assim, no lugar de misturar feixes de luzes primárias, à maneira de Maxwell, Hauron misturou pigmentos corantes para obter a sua imagem colorida (Fig. 60). Essa providência eliminava a necessidade de se projetar os três positivos através das luzes primárias e recombiná-los na tela, como era usual na síntese aditiva. Fig. 60 – Primeira fotografia em cores subtrativas 115 Ora, na natureza, as cores ocorrem exatamente por subtração: os objetos absorvem – ou subtraem – determinadas partes da luz, refletindo outras, que o olho vê como cor. Da mesma maneira, as cores vistas numa imagem fotográfica colorida impressa em papel são aquelas refletidas pela superfície branca. Assim, ao se forjar uma imagem colorida no método subtrativo, o que se faz é remover, subtrair da luz as cores não requeridas para formar a imagem final. Isso só torna-se possível, como mostrou Hauron, através da mistura entre ciano, magenta e amarelo (Fig. 61). Essas cores têm a propriedade de filtrar as primárias vermelho, verde e azul, razão pela qual se denominam complementares 67 . Nesse sentido, à quantidade de ciano, magenta e amarelo aplicada a um suporte fotográfico – por exemplo, o papel – corresponderá a quantidade de vermelho, verde ou azul mostrada no resultado final. O que os usuários do método subtrativo para a cinematografia em cores naturais buscaram fazer – inspirados na experiência de Hauron –, em suma, foi transpor esse raciocínio para o cinema, utilizando como suporte – em lugar do papel – a película transparente. Fig. 61 – As cores subtrativas A “solução do problema” proposta por Ducos du Hauron, contudo, teve de esperar ainda algum tempo para se viabilizar técnica e comercialmente, mesmo na fotografia: datam de meados dos anos 1930 os primeiros filmes Kodachrome para slides, baseados no princípio subtrativo. O processo negativo-positivo para filme fotográfico colorido – viabilizado pelo filme de três camadas –, por sua vez, somente foi 67 Ciano, magenta, amarelo e ciano são cores complementares porque resultam da mistura entre duas primárias (ciano advém da mistura entre verde e azul, magenta é produzido pela mistura entre vermelho e azul, e amarelo surge da mistura de vermelho e verde. Ao se juntar uma primária à sua complementar, uma cor é anulada pela outra e obtém-se com isso um ponto negro. Não é por outra razão que, em física, adota-se, para estas cores, uma outra nomenclatura: entre os físicos, ciano significa luz branca menos vermelho; magenta é luz branca menos verde; e amarelo é luz branca menos azul. 116 introduzido em 1941, com o lançamento do Kodacolor, com a sua popularização definitiva ocorrendo somente a partir dos anos 1960. Já no cinema, após o fracasso da boa maioria dos sistemas aditivos experimentada nas duas primeiras décadas do século, passou-se, na década de 1920, a uma busca insana das cores naturais pela via da síntese subtrativa. Como na experiência de Hauron, grande parte desses sistemas conservava o método aditivo para a fase de captura da imagem, reservando o método subtrativo apenas para a impressão das cópias finais de exibição, conforme se lerá adiante. 3.13 – O Cinecolorgraph Para os pioneiros das cores naturais, a pergunta a ser imperiosamente respondida era: como gravar três imagens de cores simultaneamente através de uma única lente de câmera e, em seguida, projetar essas três imagens também por meio de uma única lente? Foram necessárias cerca de duas décadas para se responder a essa pergunta. A série de mal-sucedidas experiências com a síntese aditiva serviu para indicar, entretanto, que a melhor maneira de se chegar às cores naturais seria mesmo pelo método subtrativo, já testado com sucesso na fotografia, pelo francês Hauron. Em sua aplicação no cinema, a síntese subtrativa reunia entre suas principais vantagens o fato de que a cor tornava-se parte da cópia após deixar o laboratório, o que eliminava os problemas homéricos das projeções pelo método aditivo. A subtração de cores dispensava inclusive o uso da panóplia normalmente acoplada aos aparelhos de projeção, requerida para as exibições. Outra vantagem, considerável do ponto de vista da distribuição e exibição, era que os mesmíssimos projetores usados para filmes em preto-e-branco poderiam ser usados a fim de se projetar as cópias subtrativas. E como benefício adicional, havia ainda o fato de que menos luz era necessária para se fazer a projeção dos filmes. O primeiro sistema a adotar a síntese subtrativa no cinema foi o Cinecolorgraph, patenteado em 1912 pelo norte-americano Arturo Hernandez-Mejia. Para a sua fotografia original, o sistema utilizava uma câmera dotada de espelho semitransparente, capaz de dividir a luz em dois. Esse espelho divisor de luz duplicava a imagem, fazendo-a passar através dos filtros vermelho e verde, para, em seguida, inscrevê-la no filme. No filme, os fotogramas eram registrados invertidos, de ponta-cabeça, um em relação ao outro. Após as filmagens, uma impressora óptica especial encarregava-se de fazer a separação dos frames, cuidando para que fossem impressos em cada um dos lados de um filme especial, coberto por emulsão fotográfica de ambos os lados. Os 117 frames expostos ao verde eram impressos de um dos lados do filme, e os frames expostos ao vermelho eram impressos do outro lado do filme, buscando-se um exato registro entre as duas imagens. Após processado, esse filme passava por uma viragem de azul no lado em que havia a gravação do vermelho, e de viragem vermelha no lado em que havia a gravação do verde (Fig. 62). Embora não haja filmes remanescentes realizados com este processo, as cópias finais de exibição eram bastante razoáveis, razão pela qual o método Colorgraph, como também se tornou conhecido, foi ainda adotado, com ligeiras modificações, por outras companhias, nos anos que se seguiram. Fig. 62 – Máquina para tingimento de cópias no sistema Colorgraph. 1 – Rolo giratório; 2 – banho de mordente; 3 – lavagem; 4 – 1ª aplicação de corante; 5 – 2ª aplicação de corante. Fonte: RYAN, op. cit., p. 67. 3.14 – O Kodachrome Patenteado em 1913 por John G. Capstaff, o Kodachrome foi um processo subtrativo de duas cores, originalmente criado para a fotografia. O princípio que tornou o Kodachrome possível veio à luz em 1910, tendo sido descoberto acidentalmente por Capstaff. Esse inventor percebeu que, quando um filme negativo é banhado por uma solução descolorante, ele tem a sua imagem removida: a área na qual ficava essa imagem passa a ter um aspecto diferenciado. Um tratamento subseqüente do filme é responsável por colorir novamente a sua gelatina e produzir, naquele local, uma imagem positiva colorida, utilizando-se soluções corantes em proporções adequadas. Com o sucesso deste processo bicolor para a fotografia estática, as experiências com vistas a adaptar o princípio às fotografias em movimento começaram já no ano seguinte. Foi construída uma câmera dotada de duas lentes, que expunha dois frames ao mesmo tempo, um através do filtro vermelho, outro através do filtro verde. A partir desse negativo, uma cópia positiva era feita em um mesmo filme de dupla camada. A 118 impressão era obtida de tal modo que cada um dos frames era colocado – por meio de uma impressora óptica – de lados opostos da película, em acurado registro. Após processado por um revelador especial, que endurecia a sua emulsão, o filme era submetido a um banho de corante vermelho para o lado correspondente à gravação do verde e de verde para o lado correspondente à gravação do vermelho (Fig. 63). Essa cópia final podia, conseqüentemente, ser exibida mediante projetores standard. Fig. 63 – Fotograma de filme em Kodachrome Fonte: COE, op. cit., p. 127 Tendo em vista a captura da imagem se dar por meio de duas lentes, o processo apresentou ainda o problema do erro de paralaxe, típico dos sistemas que faziam a captura das imagens por lentes duplas. Um prisma corretor do fluxo de luz foi então adaptado para a câmera, mas um segundo erro ocorreu: havia uma diferença de magnificação entre as duas imagens. Tal erro deve-se ao fato de “o itinerário óptico do objeto até a lente que recebe a luz refletida pelo prisma ser maior do que o itinerário do objeto até a lente que recebe a luz transmitida pelo prisma” (RYAN, op. cit., p. 68). Experimental, o primeiro filme realizado com o processo Kodachrome, From concerning one thousand (EUA, 1916), consistiu numa propaganda realizada para comercializar a nova fotografia em duas cores da Eastman Kodak. From concerning one thousand, que sobrevive de forma incompleta, traz, em sua abertura, um inventor em crise, sendo consolado pela irmã. No plano seguinte, a moça retira cuidadosamente um filme de sua máquina Kodak, inventada pelo irmão. O restante da publicidade, hoje em estado precário, conteria, segundo se sabe, a mesma garota recebendo uma premiação de mil dólares (daí o título do filme) pela foto tirada com a máquina. O Kodachrome somente foi levado à exploração comercial após 1922, tendo em vista a participação dos EUA na I Guerra Mundial, o que temporariamente inviabilizou os investimentos da companhia Eastman Kodak. Muitos filmes curtos foram feitos com 119 o processo a partir daquela data, incluindo o experimental The flute of Krishna (EUA, 1926, atribuído a Rouben Mamoulian), produção de sete minutos preservada pela Casa George Eastman. Recentemente restaurado e copiado a 19 quadros/segundo, a partir de um positivo de 35 mm guardado naquele museu, The flute of Krishna é estrelado por cinco estudantes da escola Eastman e registra a encenação de um balé coreografado por Marta Graham, inspirado na mitologia hindu. O deus Krishna (“escuro como a noite”, na tradução literal) tem a pele verde (Fig. 64) e toca flauta para atrair dançarinas ao seu convívio nas florestas. O amor entre Krishna e sua mais devotada mulher, Radha, tematiza a união entre o humano e o divino, expressa nos belos matizes vermelhos e verdes oferecidos pelo processo bicolor. Fig. 64 – Detalhe de The flute of Krishna 3.15 – Brewster Color O Brewster Color consistiu num processo subtrativo bicolor para cinematografia em cores naturais introduzido em 1915, pelo inventor norte-americano Percy D. Brewster. Em sua câmera, o Brewster trabalhava com dois frames, expostos através dos filtros vermelho e verde e gravados no negativo preto-e-branco. Um sistema óptico, dotado de um espelho e dois filtros, era utilizado para capturar, simultaneamente, a imagem duplicada. Após a exposição, impressos e separados os negativos, uma película dotada de dois lados sensíveis era usada para se fazer as impressões positivas finais. Esse filme preto-e-branco era revelado à maneira tradicional, de tal modo que se obtivesse uma imagem de baixo contraste e baixa densidade. Lavado e fixado, o filme era endurecido com uma solução de formaline. O filme passava então por um preparo, com lavagens químicas especiais, de sorte que o lado impresso com a informação do vermelho recebia um banho de corante verde e o lado impresso com a informação do verde recebia um banho de corante com o pigmento vermelho rodamina. 120 O Brewster, porém, apresentava problemas, quando posto em prática: sua qualidade de fixação não era das melhores, além de haver a tendência de o iodido de prata do filme se dissolver, o que ocasionava a perda de detalhes da imagem e manchas. Um novo preparo químico foi proposto e aplicado ao processo, na busca de minimizar esses problemas. Embora haja evidências de que o Brewster Color tenha sido usado comercialmente, não há referência de filmes sobreviventes realizados com este sistema. 3.16 – O Polychromide A fotografia estática teve no inglês Polychromide um exitoso processo bicolor, em operação desde 1911. Por volta de 1918, seu inventor, Aron Hamburguer, decidiu adaptar esta invenção para o cinema, tendo feito a primeira demonstração do processo em 1924, sob o nome de Veracolor. O funcionamento do Polychromide, como o método ficou conhecido, em tudo se assemelhava ao do Brewster e ao da maior parte dos sistemas subtrativos então em voga. A exposição, portanto, era feita através de um prisma, capaz de duplicar a imagem, não sem antes fazê-la passar pelos filtros verde e vermelho. O Polychromide também repetia a estratégia de se imprimir os negativos em lados opostos de um filme de camada dupla. Cada um dos lados do filme era, a seguir, tingido com uma mistura de corantes – magenta e vermelho para um lado e verde e azul para o outro lado. Um banho de mordente fixava os corantes no filme apenas onde havia a imagem em sais de prata. O Polychromide teve mais tarde outra versão, desta vez adaptada ao uso de películas bipack, assunto analisado mais detidamente na seção 3.18. Cheio de confiança em seu processo, Aron Hamburguer afirmava que, com o Polychromide, seria possível reproduzir “o verde das folhagens e o azul-púrpura dos céus”. Infelizmente, não restam filmes com os quais se possa comprovar a alegação de Hamburguer. Ainda entre os sistemas subtrativos surgidos na década de 1920, incluam-se o Zoechrome (1920) e o Colorcraft (1921), procedimentos cujo funcionamento era muito similar ao do Brewster, bem como ao dos demais usuários do filmes de duas camadas. 3.17 – Technicolor nº 1 Considerada a mais bem-sucedida empresa no ramo da cinematografia em cores naturais na primeira metade do século XX, a Technicolor promoveu importantes avanços no ramo do filme colorido desde a sua criação, em 1915. Fundada pelos 121 engenheiros Herbert Kalmus e Daniel Comstock, egressos do Massachusetts Institute of Technology (MIT), a Technicolor entrou na corrida pela cor fotográfica com um primeiro sistema bicolor aditivo, desenvolvido por Comstock, denominado Technicolor nº 1 e patenteado em 1916, passando em seguida a três outros sistemas subtrativos. O Technicolor nº 1 trazia como diferencial em relação aos processos aditivos anteriores um sistema óptico localizado na lente de sua câmera, capaz de dividir a luz em dois feixes, permitindo a exposição simultânea de dois fotogramas em um negativo preto-ebranco de 35 mm, o primeiro dos quais através do filtro vermelho, o seguinte através do filtro verde (Fig. 65). As cópias finais eram feitas também em filme preto-e-branco convencional. No aparelho de projeção do Technicolor nº 1 havia duas lentes alinhadas verticalmente, uma com o filtro vermelho, outra com o filtro verde. Na máquina, o filme avançava a dois frames por vez, expondo dezesseis pares de frames por segundo. A combinação entre as duas imagens tornava-se possível graças a espelhos de ajuste montados entre as duas aberturas de lentes, que faziam convergir as imagens. Fig. 65 – Sistema óptico do Technicolor n°1. Fonte: HAINES, 2003, p.2. Este sistema constituiu uma evolução frente a processos como o Kinemacolor, dado que, em vez de fazer a captura da imagem por exposição sucessiva, utilizava a exposição simultânea, fotografando dois quadros de cores ao mesmo tempo. A câmera do Technicolor nº 1 eliminava, portanto, os terríveis problemas de registro do Kinemacolor, responsáveis, entre outras coisas, por fazer com que cavalos fossem exibidos como animais dotados de “dois rabos, um vermelho, outro verde”, para usar as palavras de Herbert Kalmus, homem-forte da Technicolor (apud BASTEN, op. cit. p. 12). O sistema nº 1 foi testado com The gulf between, de que restam apenas alguns 122 fotogramas (Fig. 66), filme cuja première no Aeolian Hall de Nova York, em 1917, contou com uma audiência seleta. Se o resultado de The gulf between não desencorajava – tinha-se afinal uma câmera eficaz no quesito registro das cores –, a primeira demonstração do Technicolor nº 1 não foi exatamente perfeita: uma falha incorrigível verificou-se no seu sistema de projeção. A máquina devia combinar as duas imagens de cor na tela, projetando-as através de duas lentes, uma vermelha e outra verde. O complicado sistema de espelhos do projetor, porém, levou a que as imagens não tivessem um ajuste preciso, fugindo sistematicamente à sobreposição. Fig. 66 – Fotograma de The gulf between A Technicolor ainda tentou adaptar um novo sistema de projeção para o aparelho, inutilmente: a necessária coincidência entre as duas imagens de cor escapava completamente ao controle de um operador de projetores regular daquele tempo. Na isenta definição de Kalmus, para exercer essa tarefa a contento, o operador do Technicolor nº 1 precisaria ser “um misto de acrobata com professor de universidade” (ibidem). A frase de Kalmus sintetiza um problema comum a outros sistemas aditivos da época: filmes coloridos por este método claudicavam sobretudo na fase da projeção, não se prestando aos projetores standard então existentes. A companhia que desejasse estabelecer condições mínimas para a criação de mercado em torno do filme colorido precisaria, portanto, superar esse problema, a fim de inserir-se no circuito produção/exibição/distribuição, tripé fundamental da atividade cinematográfica. Após as coisas irem de mal a pior em novas exibições de The gulf between por uma cadeia de cinemas, chegou-se à conclusão, afinal, de que o processo nº 1 da Technicolor era inviável. De acordo com a estratégia inicial da empresa, de uma busca 123 passo a passo pela tecnologia da cor em movimento, novos esforços foram empenhados a fim de se desenvolver um segundo processo, desta vez adaptável aos meios convencionais, podendo ser manejado por qualquer projecionista, em qualquer sala de cinema. Com razoável antecipação, a Technicolor percebeu que, para atingir esse objetivo, urgia abandonar os antigos e fracassados processos baseados na síntese aditiva e abraçar enfaticamente as pesquisas em torno da síntese subtrativa. 3.17.1 – O Technicolor n°° 2 As pesquisas para o segundo processo da Technicolor começaram em 1918, sob a direção técnica de Leonard Troland, mais tarde diretor do departamento de pesquisas da companhia. Subtrativo, o Technicolor n°2 utilizava na lente de sua câmera um sistema divisor de luz algo mais eficiente do que o sistema óptico do Technicolor n°1. Um prisma instalado à frente de sua lente duplicava a imagem, gravando-a em dois frames standard, expostos simultaneamente; um frame fotografava a imagem através do filtro vermelho e o outro frame, através do filtro verde (Fig. 67). Adjacentes entre si, esses frames dispunham-se, no filme, invertidos um em relação ao outro. Duas impressões eram feitas, em cópias separadas denominadas matrizes, que possuíam a metade da espessura de um filme comum. A matriz vermelha e a matriz azul eram impressas de maneira espelhada, porque iriam ser coladas, uma às costas da outra, após a aplicação dos corantes. Fig. 67 – Sistema óptico do Technicolor n°2 Fonte: HAINES, op. cit., p.4. As matrizes eram quase iguais a uma película preto-e-branco convencional (Fig. 68). A diferença estava em que, além dos sais de prata, sensíveis à luz, o filme possuía 124 uma camada de gelatina. Quando o filme era revelado e a prata removida, a gelatina permanecia como um mapa de contorno da imagem, sendo endurecida por uma substância denominada pyrogallol. Essas duas matrizes eram então submetidas a banhos de corante, em cores complementares: a matriz vermelha recebia o corante ciano, e a matriz azul recebia o corante magenta. Em seguida, colavam-se as matrizes uma à outra, para formar a cópia final, destinada à exibição (Fig.69). Fig. 68 – À esquerda, o negativo do Technicolor n°2, com os fotogramas invertidos. Ao centro, a matriz vermelha e, à direita, a matriz verde, já separadas, por meio de uma impressora óptica. Fonte: www.thewidescreenmuseum.com. + = Fig. 69 – À esquerda, a matriz vermelha, já com o corante ciano. Ao centro, a matriz verde, com o corante magenta. À direita, a cópia final de exibição, com as duas matrizes coladas. Fonte: www.thewidescreenmuseum.com. A Technicolor estreou seu segundo processo em 1922, com The toll of the sea (EUA, Chester Franklin), cuja cópia remanescente foi restaurada em 1985, a partir de negativos originais. Escrito pela roteirista Frances Marion, o filme tem sua narrativa inspirada em Madame Butterfly, ópera de Giacomo Puccini. Tudo começa com o militar 125 norte-americano, Allen Carver, salvo de um afogamento pela chinesa Flor de Lótus. Contrariando costumes locais, Flor de Lótus envolve-se com o rapaz, que, por sua vez, promete levar a gueixa consigo para os Estados Unidos. Carver é convencido por um colega de exército a não embarcar a garota, entretanto. Abandonada e grávida, Flor de Lótus passa os dias a contemplar o horizonte, esperando, em vão, pelo retorno do soldado. Com o tempo, Carver esquece a oriental e se casa com outra mulher. Certo dia, decide visitar a ex-namorada e apresentá-la à atual esposa, Bárbara. Fig. 70 – The toll of the sea Embora ressentida, Flor de Lótus recebe o casal amigavelmente. A chinesa afinal confessa ser Carver o pai de seu filho e pede a Bárbara que assuma a guarda da criança (Fig. 70). Espera “garantir o futuro” do menino, entregando-o ao pai norteamericano. A trama de The toll of the sea é favorecida pelo uso da nova tecnologia: o mundo ocidental de Carver exprime-se no modo anódino e incolor com que se veste, frontalmente oposto ao quimono cheio de arabescos e coloridos exóticos da moça oriental. São mundos inconciliáveis, parece dizer o filme, de um realismo antecipador. Realizado com recursos da própria companhia, The toll of the sea rendeu à Technicolor ótima bilheteria, consistindo numa demonstração do quanto a empresa podia fazer em matéria de cor. Tratava-se agora de interessar os grandes estúdios a fim de que a Technicolor se tornasse uma fornecedora regular de tecnologia em cores para Hollywood, conforme a meta acalentada por seus executivos. Conservadora por definição, a indústria resistia, entretanto, à adoção de sistemas cuja eficiência não estivesse ainda suficientemente testada. Levaria tempo até que o novo processo da companhia de Kalmus pudesse quebrar essa resistência. Naquele mesmo ano, foram feitas externas em cores para The prisioner of Zenda (EUA, Rex 126 Ingram). Após se conferir o resultado, as cenas foram sumariamente removidas, dado que, no filme, segundo seu montador, Grant Whytock, “as pessoas pareciam laranjas escuras coloridas” (apud KOSZARSKI, op. cit., p.130). Em 1923, a Technicolor convida Cecil B. DeMille para rodar as seqüências do Êxodo de Os dez mandamentos 68 com o processo bicolor. Inicialmente apreensivo quanto à reação que as cores poderiam despertar no público, DeMille concordou em posicionar uma câmera da Technicolor no local das filmagens, a fim de registrar as cenas do prólogo de seu épico bíblico. A parceria resultou frutífera: as imagens coloridas de Os dez mandamentos, realizadas em praias da Califórnia, são uma das grandes sensações do filme, embora não tenham contribuído decisivamente para o seu estrondoso sucesso. À popularidade de Os dez mandamentos, cuja arrecadação beirou os US$13,5 milhões, credita-se a escolha da temática bíblica, desde sempre um estratagema particularmente útil para a engorda de bilheterias. O próximo filme rodado com o processo n° 2 foi Wanderer of the wasteland (EUA, Irvin Willat, 1924), um western de que não há vestígios. Composto, segundo consta, apenas de externas, Wanderer of the wasteland reafirmou a eficiência do Technicolor para a fotografia colorida sob luz natural, tendo sido feitas 175 cópias do filme para distribuição pelos Estados Unidos. Um outro passo importante para o progresso da companhia no meio cinematográfico foi dado também em 1924, com o lançamento de Cytherea (EUA, George Fitzmaurice). O filme – indisponível – demonstrou o bom desempenho do sistema n° 2 para filmagens em estúdio. A hipótese foi testada com iluminação artificial, usada para fotografar as suas seqüências de sonhos. Como a película preto-e-branco usada àquela altura era ainda pouco sensível, requereu-se uma forte iluminação para os trabalhos de filmagem, com os atores cozinhando debaixo das luzes quentes. Em 1925, seis produções de estúdio adotaram seqüências curtas em Technicolor n°2, entre as quais, o clássico do terror O fantasma da Ópera 69. No filme, o processo é utilizado em imagens que insinuam música e mostram intensa movimentação. Há um baile à fantasia, e, sem ter sido convidado, o fantasma sinistro apresenta-se à festa trajando uma fantasia de morte, oculto por máscara, chapéu e capa vermelhos: “(...) A morte vermelha repreende suas alegrias!”, diz o personagem aos aturdidos convivas (Fig. 71). Embora curto, o trecho em cores de O fantasma da Ópera provou mais uma 68 69 Filme comentado também na seção 2.14. Filme comentado também na seção 2.13.1. 127 vez a boa performance do processo bicolor da companhia para cenas de grande agitação física, revelando-se especialmente útil no registro dos tons vermelhos. Fig. 71 – O fantasma da Ópera: morte vermelha Outro exemplo dessa mesma leva de filmes com inserções em Technicolor n°2 é a mega-produção da Metro, Ben Hur (EUA, Fred Niblo, 1925). O filme possui diversos trechos coloridos, com ênfase para cenas em que episódios da vida de Cristo surgem em linha de ação paralela às peripécias do personagem-título. Numa das seqüências em cores da epopéia, Ben Hur e outros atletas desfilam pelas ruas de Roma, aclamados pela população. Há um grande festejo, com direito a mulheres de seios à mostra jogando pétalas de flores à passagem dos heróis condutores de bigas (Fig. 72). O desfile pagão resulta intensificado pelo uso da imagem bicolor. Para decepção da companhia de Kalmus, porém, a grande atração de Ben Hur consistiu na clássica seqüência da corrida de bigas, de frenética montagem e em invariável preto-e-branco. Fig. 72 – Ben Hur Não obstante as várias etapas vencidas pela companhia de Kalmus, os estúdios de Hollywood continuavam reticentes em relação à cor. Se a Technicolor quisesse atingir a liderança no negócio da cor em movimento, era preciso dar um passo ainda mais avançado. No entender de Kalmus e dos executivos da empresa, somente a 128 chancela de um dos grandes nomes do star system hollywoodiano poderia emprestar ao Technicolor n°2 o prestígio necessário para o seu definitivo deslanche na indústria. Isso começou a configurar-se em 1926, a partir de um telefonema de Douglas Fairbanks, uma das maiores estrelas do cinema mudo, dizendo-se muito interessado em realizar um inteiro longa-metragem com o sistema da companhia. 3.17.2 – Fairbanks, bucaneiro O pirata negro (The black pirate, EUA, 1926, Albert Parker) originou-se de uma idéia do próprio Fairbanks. O ator pretendia fazer um filme que refletisse “o real espírito da pirataria, como verificado nos livros de Robert Louis Stevenson, ou nas pinturas de Howard Pyle” (FAIRBANKS, apud KALMUS, apud BASTEN, op. cit., p.22). Segundo Fairbanks, a atmosfera ideal para seus filmes de piratas só poderia ser plenamente alcançada no cinema através da cor: “Não consigo imaginar a pirataria de outra forma que não em cores...” (ibidem). Restava, pois, ao ator assumir o risco de adotar o ainda incipiente sistema bicolor da Technicolor, explorar suas potencialidades e realizar o filme. Pessoalmente engajado na empreitada, Fairbanks gastou U$125,00 num espaço de apenas quatro semanas, utilizando cerca de 15.240m (50 mil pés) de filme em Technicolor 2, a fim de encontrar a mais adequada chave cromática para O pirata negro. Após os testes, Fairbanks decidiu emprestar às imagens do filme um tom de bronze, com matizes pouco saturados, enfatizando verdes, azuis e sépias, à maneira de um almanaque de aventuras para cujos cromos não se permitisse exagerar nas tintas. No filme, bando de corsários tem como rotina saquear navios, amarrando a tripulação da nave ao mastro principal, para em seguida circundar os reféns com um rastilho de pólvora e explodi-los. Dois homens – pai e filho – conseguem escapar a um desses saques, indo parar numa ilha deserta. O pai do rapaz não resiste e morre, sob jura de vingança do filho. O rapaz (Fairbanks), consegue ser admitido entre os corsários e captura, sozinho, uma outra nave, a fim de demonstrar sua habilidade como bucaneiro. Há uma princesa a bordo do navio cativo, personagem que acaba se tornando o pivô da rivalidade entre Fairbanks (agora Pirata Negro) e o lugar-tenente do navio corsário, seu inimigo declarado. Descoberto tentando salvar a moça do assédio generalizado, o Pirata Negro é forçado a caminhar na prancha. Consegue se salvar e volta num barco cheio de homens armados para combater os piratas e terminar tudo num happy ending. O pirata negro adota um colorido estilizado para suas imagens, evitando cores em clave berrante 129 como as verificadas, por exemplo, em Ben Hur. Resulta daí que, em todo o filme, a cor aparece subjugada, controlada, buscando não se sobressair à história narrada. Nem mesmo os tons róseos das peles foram poupados, apresentando-se, no filme, mais pálidos do que de costume (Fig. 73). Fig. 73 – Fotogramas de O pirata negro. Herbert Kalmus depositou muitas esperanças na estréia de O pirata negro: “nada do que eu possa dizer é capaz de expressar o quão notáveis são as imagens” (KALMUS, apud BASTEN, op. cit., p. 23). Para o engenheiro, O pirata negro reunia todos os ingredientes necessários a um grande sucesso de bilheteria, podendo finalmente provar a viabilidade de seu sistema. De fato, o filme consistiu num imediato triunfo: o público compareceu em peso à sua estréia em Nova York. A crítica também reagiu favoravelmente, aplaudindo a “gloriosa produção cromática” do sr. Fairbanks, fundada na pintura dos velhos mestres” (apud BASTEN, op. cit., p.25). Embora o processo da Technicolor também tenha merecido elogios, em pouco tempo, o sistema n° 2 tornou-se uma fonte de dores de cabeça para a companhia, como o próprio Kalmus foi rápido em admitir: nas exibições seguintes à sua première, O pirata negro teve de lidar com o fato de que as duas partes do filme descolavam-se durante as projeções. Isso ocorria devido à temperatura das lâmpadas com filamento de carbono usadas nos projetores, que fazia sumir a cola entre as duas metades da película. Outras falhas do processo, como a baixa estabilidade dos corantes, levaram o departamento de pesquisa da Technicolor a ter de providenciar a reposição de parte das cópias em circulação. Após O pirata negro, trechos escolhidos de outros cinco filmes 70 70 O livro Technicolor movies (HAINES, op. cit.), utilizado nesta pesquisa, contém a filmografia completa da Technicolor, com todos os títulos produzidos a partir de cada um dos principais processos da companhia, de 1915 até 1989. 130 foram ainda realizados com os positivos colados, conforme o sistema n° 2 da companhia. Mesmo temendo o uso da cor, todas as fichas de Hollywood para sistemas coloridos continuavam, por segurança, depositadas na Technicolor, empresa que, entretanto, só podia usar seu sistema em doses homeopáticas, devido às suas falhas evidentes. Para os filmes que se seguiram a O pirata negro, o sistema n° 2 recebeu diversas melhorias, incapazes, porém, de mitigar os problemas originários da malfadada colagem entre duas metades de película. Por isso, já se estudava nos laboratórios da companhia a substituição do sistema n° 2 por outro processo mais sofisticado, o Technicolor n° 3. 3.17.3 – Transição para o sonoro: o Technicolor n°° 3 Um verdadeiro balde de água fria nas intenções da Technicolor foi, após a boa temporada de O pirata negro, Douglas Fairbanks não ter se interessado em voltar a filmar em cores. Insatisfeito com o aspecto escurecido das cenas noturnas do filme, Fairbanks mandou um recado a Kalmus pelo produtor Jesse L. Lasky: “decidimos, por hora, não fazer mais filmes em Technicolor” (apud BASTEN, op. cit., p.25). Comercialmente falando, isso não significou a estaca zero, mas algo bastante próximo: a empresa possuía um investimento de alguns milhões de dólares na cinematografia em cores e enormes dificuldades em conquistar clientes para seu produto. Para Kalmus, impôs-se, de qualquer maneira, continuar as sucessivas gestões junto aos estúdios de Hollywood a fim de oferecer os serviços da companhia. Algum investimento a mais e, em breve, seria possível lançar um novo processo já em desenvolvimento pela empresa, o qual prometia resolver as principais falhas do sistema antecessor. Herdeiro de grande parte da tecnologia do Technicolor n° 2, este novo processo consistiu basicamente numa forma mais produtiva de copiar os filmes bicolores. Trabalhando com duas camadas de cores em um mesmo lado do filme, em vez de duas películas coladas como anteriormente, o Technicolor n° 3 inovou ao introduzir, em 1928, a impressão por transferência de corantes (dye transfer printing), utilizada também para os seus sistemas posteriores. Nesta técnica, a etapa da captura das cores permaneceu inalterada: a gravação do vermelho era feita normalmente pelo negativo preto-e-branco, e a gravação do verde aparecia de cabeça para baixo, no mesmo negativo, exatamente como antes. A mudança crucial consistiu no método de impressão 131 das cópias de exibição, feito a partir de duas matrizes 71 responsáveis por transferir cada uma das cores a uma película branca especial. Essas matrizes passavam por um preparo a fim de receber e transferir as camadas de corantes – ciano para a gravação do vermelho e magenta para a gravação do verde. Uma por vez, e em acurado registro, as matrizes eram postas em contato direto com a película branca, girando por uma máquina dotada de rolamentos pressurizados. Respectivamente o corante magenta e, a seguir, o corante ciano eram transferidos à película branca, como num carimbo. Sobrepostas as duas camadas, tinha-se afinal a cópia para a projeção bicolor, de 35 mm, perfeitamente adaptável aos projetores-padrão das salas de cinema da época. Uma vantagem adicional do Technicolor 3 consistiu no fato de que, com o novo sistema, tornou-se possível gravar a banda sonora para acompanhar as imagens 72 .A primeira produção em dye transfer printing a usar um sistema de sonorização com banda de som óptica – o Movietone – foi The viking (EUA, 1928, Roy William Neil). Produzido pela companhia de Kalmus e adquirido pela MGM, The viking consumiu US$325 mil e de suas cópias restam pouco mais que fragmentos. Embora tenha sido o primeiro filme em Technicolor com música sincronizada e efeitos sonoros, The viking consistiu também numa das últimas produções cinematográficas dos anos 1920 sem diálogo audível. A despeito disso, pôde ser vista por olhos influentes em Hollywood, abrindo as portas à Technicolor para contatos promissores com os grandes estúdios. Num momento em que a indústria vivia o advento dos talkies, criou-se uma expectativa também em torno da cor. Se, na época, filme em cores era sinônimo de Technicolor, foi para esta empresa que os contratos afluíram, o que representou um aumento expressivo na produção da companhia, entre 1928 e 1930. A Warner Bros, por exemplo, notória por seu pioneirismo do cinema sonoro, via-se particularmente receptiva a novas idéias no campo tecnológico. O estúdio – cujos experimentos com som o haviam levado de modestos US$30 mil em caixa, em 1917, à casa dos US$17 milhões de receita, em 1929 (dados de BASTEN, op. cit., p.28) – encomendou cerca de 20 filmes coloridos à Technicolor, entre curtas e longas-metragens. Também a MGM rodou diversos filmes com o sistema nº 3, requisitando-o para seqüências no primeiro musical do cinema norte-americano, The Broadway melody (1929, Harry Beaumont), do qual salvou-se apenas a cópia em preto-e-branco. 71 A confecção das matrizes para o Technicolor 3 era a mesma do Technicolor 2. De 1926, quando usada em filmes como Don Juan (Alan Crosland), a 1928, a tecnologia sonora dera um salto considerável, passando dos discos de cera do sistema de sincronização Vitaphone à gravação da banda sonora na própria película, por meio de um sistema de gravação óptica do som. 72 132 Depois do som, o filme bicolor da Technicolor ia se tornando a mais nova coqueluche em Hollywood. Aos poucos, o sistema nº 3 conquistava adeptos, respondendo bem às transformações advindas com o cinema sonoro. A Warner acreditava que uma aliança – ainda que a um alto custo – com a empresa de Kalmus lhe daria um novo patamar de competitividade no mercado, assim como o som já havia feito. Destacam-se, nessa fase, musicais como On with the show (1929, Alan Crosland), primeira produção com som sincronizado inteiramente rodada em Technicolor bicolor 73 – filme do qual sobrevive uma pequena fração, indisponível à consulta – e Gold diggers of Broadway (1929, Roy Del Ruth). De Gold diggers of Broadway, um único rolo colorido, de 9 minutos, subsiste: neste fragmento, é possível ver-se uma utilização ostensiva das cores, buscando fazer jus à superabundância típica do gênero musical. A coreografia encena, quiçá pela primeira vez e multiplicado em série, o estereótipo do cavalheiro de fraque, cartola e cravo na lapela, girando sua bengala e contracenando com moças vestidas em longos brancos, símbolo maior do musical hollywoodiano. Ações de palco parecem comandar a narrativa; no cenário ao fundo, desenhos estilizados da Torre Eiffel, da Catedral de Notre Dame e do Arco do Triunfo, emoldurados por grossas cortinas vermelhas, dão o tom cosmopolita do filme. Outro importante musical da fase de transição para o sonoro é Hollywood revue of 1929 (Charles Reisner). O filme reúne as maiores estrelas da MGM nos anos 1920, que se apresentam numa série de esquetes musicais, temperados por uma nota cômica – a fórmula básica dos revues: música, dança e humor. Três desses esquetes são mostrados em Technicolor. O primeiro traz uma paródia de Romeu e Julieta, em cenário teatral, com dois atores encenando a peça de Shakespeare “atualizada” por gírias de rua. No segundo quadro bicolor, há uma coreografia com fileira de garotas de saias verdes, duplicadas por um espelho d’água. O efeito é paroxístico, enfatizando a cor como um atributo de artificialidade tão envolvente quanto o som. No terceiro e último dos quadros coloridos, todo o elenco do filme – o star system da MGM – aparece diante de uma sugestiva arca de Noé. Lá estão Buster Keaton, Marion Davies e Joan Crawford, dentre outros, entoando a clássica “Singin’ in the rain”, com música de Nacio Herb Brown e letra de Arthur Freed, futuro diretor da unidade de musicais da MGM. Após 1931, com a Grande Depressão americana em curso, o interesse pelo filme colorido subitamente caiu. A crise gerada pela forte recessão econômica teve um 73 Ambos da Warner Bros., no sistema Vitaphone, que inaugurou a revolução do som. Mais detalhes, conferir: The talkies: american transition to sound, 1926 – 1931 (CRAFTON, 1997). 133 impacto profundo nas bilheterias e, nessa ambiência, a indústria percebia que o Technicolor não era a cura para todos os males. Contratos foram cancelados, verbas foram devolvidas, e a produção voltou aos níveis de 1927, atendo-se aos curtasmetragens e a seqüências escolhidas em poucos filmes por ano: somente 10 filmes foram rodados com o sistema nº 3, de 1931 a 1933. É desse período, por exemplo, Anjos do inferno (comentado também na seção 2.14), cujas cenas com o processo bicolor carregam nas tintas do erotismo. No filme, a atriz Jean Harlow encarna o papel de uma provocante garçonete, aparecendo não raro em decotes sumários (Fig.74). Fig. 74 – Jean Harlow em Anjos do inferno Também de 1930 é The king of jazz (John Murray), primeiro filme live-action a exibir uma seqüência com animação colorida, realizada com o sistema n°2, sob a condução do animador Walter Lantz. Em 1932, destaca-se o longa de terror Doctor X (Michael Curtiz), que trabalha um Technicolor de tons mais escuros, com fortes contrastes de luz e sombra, em nítida influência expressionista, para acentuar o clima de mistério filme. Também completamente colorido e seguindo o receituário do terror científico, The mistery of the wax museum (1933, Howard Comstock e Allen Miller), da Warner, adota tons sombrios e uma iluminação contrastada para narrar a obsessão de um artista por seu museu de cera composto de cadáveres, no lugar de bonecos. 3.17.4 – Cartoons, La cucaracha e o Technicolor n°° 4 O frisson em torno do sistema n° 3 rapidamente se esgotou: o público dava-se por satisfeito em ver, nas telas, suas principais estrelas cantar e dançar em preto-ebranco, naquele que foi o início da época de ouro dos musicais. E novamente Kalmus soou o alarme: para o engenheiro, o Technicolor 3 não tinha aprovação universal porque se limitava à exibição de tons passíveis de obter através da mistura de apenas duas cores. Era imperativo à companhia, assim, converter seus processos a uma base 134 tricrômica e inaugurar um novo sistema tão rápido quanto possível. A câmera de três componentes do Technicolor n° 4 ficou pronta em maio de 1932, mas não se conheciam ainda os seus possíveis pontos fracos. O custo de U$30 mil por unidade também não autorizava a empresa a estrear o sistema, sem que se construíssem câmeras suficientes para atender à demanda industrial e sem que a companhia de Kalmus tivesse melhores condições técnicas de levar adiante uma reprodução em larga escala dos filmes. Foi necessário à Technicolor ganhar algum tempo até que pudesse inaugurar seu mais novo processo e terminar as instalações de sua planta em Hollywood. Antes de mais nada, era necessário descobrir se, na indústria, haveria alguém ousado o bastante para correr o risco de experimentar este novo, caro e ainda misterioso processo. Kalmus escolheu a indústria dos cartoons a fim de testar o desempenho do seu sistema de três cores. Essa opção prendia-se sobretudo a razões técnicas: nas filmagens em live action, o nível de ruído da câmera do sistema n° 4 prejudicava a gravação do som. Como nas animações não há som direto e as filmagens são feitas a partir de cenas estáticas, esta técnica oferecia maior flexibilidade para o uso do sistema. Entre os animadores, contudo, a resistência também era grande, quase intransponível. Filmes animados eram bons o suficiente em preto-e-branco, pensava-se, e o ramo dos cartoons não parecia o mais indicado para arcar com as despesas extras associadas ao uso do sistema tricolor. Foi então que Kalmus aproximou-se do empresário Walt Disney, convidando-o a rodar um desenho animado em três cores com a tecnologia da companhia. O estúdio Disney já havia conquistado notoriedade em 1928, ao inaugurar o uso do som sincronizado em banda óptica nas animações, com Steamboat Willie, protagonizado pelo camundongo Mickey. Impressionado com o potencial do Technicolor n° 4, e provando mais uma vez o seu gênio comercial, Disney percebeu que as cores fariam todo sentido em suas Silly Simphonies 74 , uma série de filmes curtos, compostos por luminosas e divertidas fantasias animadas, especialmente turbinadas por músicas repletas de sugestões cromáticas. É o próprio Disney quem lembra: “comecei ali uma das maiores campanhas de persuasão da minha vida” (apud BASTEN, op. cit., p.36). De fato, a empreitada encontrou pela frente o veemente protesto de Roy Disney, guardião financeiro da empresa e irmão de Walt. A resistência de Roy, porém, serviu 74 Uma análise das Silly Simphonies (Sinfonias Ingênuas) de Disney pode ser conferida no capítulo 4 da dissertação de Mestrado O aprendiz de feiticeiro: Walt Disney e a experiência norte-americana no desenvolvimento da expressão cinematográfica do cinema de animação, de Wander Quintão, apresentada em 2007 ao programa de pós-graduação em cinema da Escola de Belas Artes da UFMG. 135 como um ótimo instrumento de barganha nas negociações com Kalmus, que concedeu exclusividade de uso do Technicolor n° 4 ao estúdio Disney, pelo período de três anos. Assumindo os custos adicionais envolvidos na operação – e correndo o risco de ir à bancarrota –, o estúdio procedeu então à raspagem dos acetatos da sinfonia ingênua Flores e árvores, cuja maior parte dos desenhos já havia sido executada em preto-ebranco. Lançado em 1932, o primeiro desenho animado em três cores da história, Flores e árvores, traz em seu plot um triângulo amoroso, envolvendo árvores e animais antropomórficos (Fig. 75). Um velho e sinistro tronco podre – pintado em tons de cinza, para remeter ao passado em preto-e-branco – quer seqüestrar uma garota-árvore, cujo namorado sai em sua defesa. Derrotado numa luta de espadas em forma de galhos, o velho tronco tem uma atitude vingativa, ateando fogo na mata. O incêndio é debelado por passarinhos que perfuram as nuvens, fazendo chover na floresta. O tronco sinistro morre carbonizado, e a calmaria inicial é restituída, para que o casal de árvores possa terminar o filme num beijo romântico. O sucesso de Flores e árvores, ganhador do Oscar de melhor animação de 1932, justificou o empenho e o entusiasmo de Disney, que, a partir daqui, decidiu rodar todos os futuros filmes da série Silly Simphonies em três cores. Fig 75 – Flores e árvores: ganho estético Na filmagem de Flores e árvores, a Technicolor usou uma técnica alternativa, útil somente para animações. A fotografia por exposição sucessiva, como se denominou a técnica, obedecia à mesma lógica do sistema n° 4, porém, com a seguinte diferença: fotografava-se, em negativo preto-e-branco, cada acetato da animação, através de uma roda giratória com os filtros vermelho, azul e verde. Expunha-se cada frame três vezes, resultando nas três informações de cor gravadas seqüencialmente nos negativos. Em seguida, eram feitas três matrizes positivas para cada uma dessas cores, através de uma impressora óptica que separava os quadros. Essas matrizes recebiam um tratamento 136 químico adequado. Os corantes, em cores complementares às matrizes, eram então aplicados a elas: a matriz vermelha recebia o corante ciano, a matriz azul recebia o corante amarelo, e a matriz verde recebia o corante magenta. Por último, os corantes eram absorvidos pela emulsão das matrizes e finalmente transferidos para películas especiais, destinadas à exibição. Dado o sucesso obtido com Flores e árvores, o contrato de exclusividade de Disney com a Technicolor passou, dos três anos de vigência iniciais, para apenas um ano: crescia o interesse pelo processo e a empresa de Kalmus não podia se dar ao luxo de negar à Metro, por exemplo, a possibilidade de também realizar filmes em policromia, cartoons ou live action. Segundo o novo contrato, a Technicolor esteve autorizada, no período, a fornecer a sua tecnologia de duas cores para outros estúdios e companhias de cinema, o que rendeu sobrevida às trinta câmeras do seu sistema nº 3, recém-aposentadas. Nesse meio tempo, a empresa buscou também, sem resultados práticos, convencer diversas companhias de Hollywood das vantagens de se rodar um filme com o seu sistema em policromia, ainda que a um custo cinco vezes mais alto do que o velho, bom e quatro vezes mais barato preto-e-branco. A hipótese de um filme em live action inteiramente em três cores começou a se desenhar, porém, somente a partir do interesse manifestado no processo por Merian C. Cooper e John Hay (Jock) Whitney. Produtor, diretor e um dos financiadores da Technicolor, Cooper foi um dos responsáveis pelo arrasa-quarteirão King Kong (Cooper e Ernest Schoedsack, 1933). Já Whitney era um entusiasta de cavalos, piloto e empresário. Cooper e Whitney montaram, em 1933, uma empresa de cinema, a Pioneer Pictures Inc., que, por sua parte, estabeleceu um contrato com a Technicolor para a produção de oito filmes coloridos. Seguramente, havia ainda muitas dúvidas sobre como o sistema n° 4 funcionaria para o live action. Segundo Basten: “o processo capturaria todos os tons de azul? Uma protagonista de cabelos pretos seria fotografada contra um fundo luminoso? Uma loira fotografaria contra um fundo escuro?” (op. cit., p. 39). Após exaustivos testes, sob as mais variadas condições, o sistema provou-se satisfatório. Começou então a procura por um argumento para a realização do filme: mais de duzentas idéias foram levadas em consideração. Enquanto a busca pela história continuava, a Pioneer Pictures decidiu “molhar o pé na água” e rodar, em 1934, um filme live action de dois rolos, realizando a comédia musical La cucaracha (Lloyd Corrigan). 137 O filme tem como motor a história de Chatita, dona do Café Cantante “El Oso”, onde se apresenta o dançarino Pancho. Lá está o empresário Señor Martinez para, além de provar a famosa comida do lugar, assistir à performance do dançarino. Sabendo que Martinez quer contratar Pancho para seu teatro, Chatita manobra de modo a não deixar o bailarino partir. À mesa, Martinez experimenta a comida e exagera no tempero: “Tabasco demais!”, diz, vermelho como um pimentão: Chatita ri-se do velho, e encomenda-lhe um novo prato (Fig.76). Pancho prepara-se para executar seu número, mas a dona do café interfere na apresentação, para forçar uma dança com o moço. Em coro, os funcionários da cantina põem-se a cantar: “La cucaracha, la cucaracha, já no puede caminar / por que no tiene / por que le falta / marijuana que fumar.” Deliciado com a comida, devidamente substituída, e com o espetáculo, Señor Martinez entra em acordo com a moça, convidando-a, a Pancho e aos funcionários do bar para se apresentarem em seu teatro. Fig. 76 – La cucaracha: “Tabasco demais!” La cucaracha recebeu um Oscar de melhor comédia curta daquele ano, alcançando ótima receptividade junto ao público. Ambientada numa Espanha estilizada, a trama revela-se perfeitamente adequada ao uso do Technicolor n° 4. Se o novo sistema destacava-se justamente por seus vermelhos esfuziantes, especialmente esta cor teve boa acolhida num filme salpicado de latinidad (à americana, é verdade) como é La cucaracha. O tom cômico algo displicente favoreceu também o uso da imagem em policromia: eventuais excessos seriam facilmente perdoados. Já a ardida culinária do Café Cantante (uma auto-ironia?), parecia advertir para o fato de que só a Technicolor, àquela altura, teria o segredo para temperar adquadamente os filmes com o recurso da cor. Que outros não tentassem fazê-lo, portanto: poderiam queimar a língua. 138 3.17.5 – Vaidade e beleza O desafio agora era a realização do longa-metragem tricolor. Escolhido um roteiro baseado no romance Feira das vaidades, do escritor britânico William Thackeray, Vaidade e beleza entrou em fase de produção em 1934, sob a direção de Rouben Mamoulian. O filme enreda a história de uma jovem arrivista inglesa e seus métodos nada ortodoxos para ascender socialmente, em fins do século XVIII; como pano de fundo, a batalha de Waterloo. Alpinista social, Becky é dotada de um talento todo especial para seduzir: à busca de estabelecer-se, troca sucessivamente de par romântico até finalmente casar-se com um rico oficial inglês (Fig. 77). Arruinado, porém, no jogo, o marido confessa a Becky uma dívida de 500 libras. A moça recorre a um amigo influente, que impõe um jantar íntimo com Becky em troca do empréstimo. Aceita a proposta, Becky está em pleno idílio com o sedutor, quando é surpreendida pelo marido enfurecido, que rompe definitivamente com a garota, devolvendo-a aos dias de pobreza. Fig. 77 – Vaidade e beleza Vestidos azuis, véus amarelos, coletes vermelhos, mantos e chapéus lilases: a grande atração de Vaidade e beleza são, de fato, os pretextos que cria para promover um desfile de cores em seu cenário e seu figurino – especialmente aquelas antes impossíveis de se ver no cinema, como o azul e o amarelo (Fig.77). O mostruário das virtudes cromáticas do Technicolor em que o filme se tornou poderia, entretanto, ter sido uma completa catástrofe. Cauteloso, Mamoulian advertiu para o uso incontido da nova tecnologia: “Precisamos ser mais seletivos e usar a cor inteligentemente, em seus valores dramáticos e emocionais, tanto quanto para uma proposta pictórica” (apud BASTEN, op. cit., p. 44). Sintonizado com os cânones de Hollywood, o diretor não recomendava um entusiasmo excessivo com a nova tecnologia, pois isso poderia causar um desequilíbrio em relação a tudo o que o cinema havia aprendido até ali. Assim, 139 Vaidade e beleza tornou-se, para a companhia, uma verdadeira oficina onde se procuravam obter os melhores efeitos dramáticos do filme colorido, sem que se mexesse nas conquistas inalienáveis da linguagem clássica. Na trama, era inevitável que os tons vermelhos aparecessem no uniforme dos soldados ingleses, por exemplo. Como foi utilizado, de forma saturada e em doses maciças, o vermelho da indumentária militar rouba a cena diversas vezes, ofuscando a presença dos atores. Já então se percebia o cuidado necessário ao se introduzir esta cor na realização de um filme; e não só o vermelho, mas também qualquer outro matiz que se ache mais vivo que os demais. Principalmente, não se deviam usar muitos tons primários no mesmo quadro, pois isso desviaria a atenção dos personagens, criando algo como um nauseante bricabraque cromático 75. Após a sua estréia, na primavera de 1935, o filme mereceu críticas variadas na imprensa, que se dividiram basicamente entre aquelas que o aplaudiam como “o evento mais significativo de 1935” 76 e as que o execravam pelo artificialismo: “não há sex appeal numa garota que parece estar nos últimos estágios da escarlatina” (apud BASTEN op. cit., p. 47). Bem aceito pelo público, atraído aos cinemas mais pela novidade da cor do que pelo filme em si mesmo, Vaidade e beleza não teve um sucesso tão ostensivo quanto o obtido pelos cartoons de Disney, entretanto. De qualquer modo, o sistema n° 4 deu um passo inegavelmente à frente do Technicolor bicolor, além de mostrar a que ponto um sistema de cores naturais poderia finalmente chegar – mesmo a um custo tão alto quanto um milhão de dólares, felizmente pagos pela Pioneer Pictures. Vaidade e beleza talvez tivesse se saído melhor com uma atriz de primeiro escalão em seu elenco. A escolha da desconhecida Miriam Hopkins para o papel-título reflete o quanto a indústria estava ainda receosa de deixar seus maiores ícones aparecerem em cores: grandes atrizes dos anos 1930 – Carole Lombard, Bette Davis, Greta Garbo, Joan Crawford, Claudette Colbert – temiam ser fotografadas pelo sistema de três tiras (Bette Davis, por exemplo, chamou Vaidade e beleza de “lixo vulgar”). A cruzada pela aprovação da indústria, portanto, continuava, e os estúdios adotavam a política do “esperar para ver”, principalmente face aos altos custos cobrados pelo 75 Foi por questões como essas que entrou em ação, já nos anos do Technicolor bicolor, uma longeva consultoria cromática na empresa, liderada pela ex-mulher de Herbert Kalmus. Restritiva em excesso, a consultoria de Natalie Kalmus era parte do pacote na contratação dos serviços da Technicolor e foi vista, até os anos 1950, como uma pedra no sapato para os realizadores de filmes coloridos. 76 New York Times, edição de 14 de junho de 1935, citado por BASTEN, op. cit., p. 46. 140 fornecimento do Technicolor 4. O “glorioso Technicolor” amargou, assim, ainda algum tempo na geladeira até atingir uma produção mais robusta, o que só ocorreu a partir do final da década de 1930, com seu o auge insofismável – em que monopoliza o mercado – ocorrendo somente nos anos 1950. 3.17.6 – Tecnologia do sistema n°° 4 La cucaracha e Vaidade e beleza foram filmados com a câmera de três cores do Technicolor n° 4, que expunha três negativos separados simultaneamente através de uma única lente. Por trás dessa lente, havia um sistema óptico composto de dois prismas, responsáveis por dividir em dois feixes a luz proveniente do tema filmado. O primeiro feixe atravessava um filtro verde até atingir o negativo preto-e-branco, gravando ali a informação de cor relativa ao verde. O segundo feixe de luz atravessava um filtro magenta (capaz de filtrar os raios de luz azul e vermelha e de bloquear a luz verde), para atingir um negativo bipack, isto é, um filme preto-e-branco duplicado 77 . Ortocromático e dotado de um filtro vermelho, o filme da frente era sensível apenas ao azul, gravando, portanto, a informação de cor relativa ao azul e deixando passar através de si os raios luminosos vermelhos. Pancromático, o filme de trás era sensível à cor vermelha, encarregando-se de registrar a informação relativa a esta cor (Fig.78). Fig. 78 – Sistema óptico do Technicolor de três tiras Após as filmagens, os negativos eram processados e lavados para se retirar o corante vermelho, deixando-se ali apenas a imagem preto-e-branco. Como no processo anterior, transferiam-se esses negativos (com as gravações de vermelho, verde e azul) para três películas brancas virgens – já com a trilha sonora gravada –, destinadas a 77 Para mais detalhes sobre o filme bipack, conferir a seção 3.18. 141 serem as matrizes. O passo seguinte era passar essas matrizes por um banho especial que lavava a prata da imagem, deixando um “mapa topográfico” do conteúdo de cor em cada matriz. Cada uma das matrizes era então coberta com a sua complementar correspondente (a matriz vermelha usando ciano, a matriz verde usando magenta e a matriz azul usando amarelo). Uma por vez, as três matrizes eram postas em contato com a película branca receptora, dando origem à cópia final. A Technicolor utilizou esse processo até os anos 1950, quando finalmente adotou em suas câmeras os filmes de três camadas, que traziam, já na própria película, as três lâminas de cores primárias, dispensando assim o uso de filtros para capturar a imagem. 3.18 – William Kelley ataca novamente A Technicolor não esteve sozinha na corrida pelas cores naturais, nos anos 1910 e 1920. Após o fracasso de suas primeiras investidas em sistemas aditivos (Panchromotion, Kesdacolor e Prizmacolor I), William Dorian Kelley ainda insistiu na pesquisa do filme colorido, patenteando, em 1917, um novo sistema denominado Prizmacolor II. Em dezembro de 1918, Kelley anunciou que uma produção curta seria lançada segundo este novo processo, cuja base desta vez era o método subtrativo. De forma parecida ao Kinemacolor, o Prizmacolor II utilizava, para a fase de captura da imagem, um negativo preto-e-branco que registrava duas informações de cor – o vermelho e o verde – por meio de um obturador com filtros nessas cores, girando a 32 frames por segundo. Diante das dificuldades apresentadas na etapa de projeção – as mesmas do Kinemacolor e de boa parte dos sistemas aditivos –, Kelley cuidou para que as duas informações de cor fossem impressas em um único filme. Essa providência (mais tarde imitada pela Technicolor) facultaria a exibição das cópias em Prizmacolor por projetores standard, à velocidade normal (16 quadros por segundo). Assim, após a captura, o negativo exposto ao vermelho era impresso na parte da frente do filme, que passava por um preparo químico a fim de receber um banho de corante verde. Novos banhos químicos, e a película era re-sensibilizada para que, em sua parte de trás, se imprimisse o negativo exposto ao verde. Um banho de corante vermelho era finalmente aplicado a esta parte do filme através de uma técnica chamada flotation (flutuação). Fixada, lavada e seca, a cópia estava pronta para a projeção. Um filme de um rolo, intitulado Everywhere with Prizma, foi realizado com o Prizmacolor II e exibido em Nova York, em 1919. Impressionado com as imagens, um 142 dos presentes à demonstração, o produtor J. Stuart Blackton, decidiu utilizar o sistema de William Kelley para fazer um longa-metragem inteiramente em cores naturais. Drama de costumes, The glorious adventure (Inglaterra, Blackton) estreou em 1922, tendo ótima acolhida junto ao público da Grã-Bretanha, o que não se repetiu nos Estados Unidos. Foi possível a este pesquisador assistir, pela Internet, a um pequeno trecho do filme, recentemente restaurado pelo British Film Institut mas indisponível à consulta em sua integridade. Embora curto, o fragmento de The glorious adventure mostra imagens compostas da mistura entre azul e vermelho-laranja – com ênfase para o azul –, eficientes em criar uma impactante cena de incêndio no centro de Londres. A distribuição dos corantes na película variava de excelente a péssima: nesse quesito, a Technicolor superava a concorrência, pois seus pigmentos eram distribuídos de maneira mais homogênea. Foram realizados pouco mais ou pouco menos de 70 filmes com o Prizmacolor II, na maior parte curtas-metragens, também inacessíveis à pesquisa. Em sua forma final, o Prizmacolor II achou por bem adotar o negativo bipack para suas câmeras, medida empregada, até 1935, também por uma série de outros processos, parte dos quais será abordada nas linhas que se seguem. 3.19 – Processos bipack Com a comercialização das películas bipack – ou filme preto-e-branco de duas tiras – uma série de outros processos bicolores surgiu, perto do final da década de 1920. O negativo bipack consistia numa película dupla, capaz de gravar duas informações de cores, uma em cada negativo. A vantagem no uso desse tipo de negativo consistia em que se podia dispensar o recurso aos complicados sistemas ópticos para a fase de captura: diferentemente do Technicolor bicolor e congêneres – usuários de prismas para a duplicação da imagem num único filme –, os negativos bipack permitiam o registro de duas imagens em dois filmes separados, de uma só vez. Os dois filmes eram colocados juntos na câmera – podiam ser utilizadas câmeras padrão, com pequenas modificações – , emulsão contra emulsão. Ortocromático, o filme da frente era responsável por capturar apenas a luz azul. Entre os dois filmes, uma camada de corante vermelho possibilitava ao filme de trás, pancromático, o registro apenas da luz vermelha (Fig.79). Um dos primeiros processos subtrativos a trabalhar com o filme bipack foi o Color Film Process, lançado em 1927 por A.G. Waddingham. A tomada de vistas era feita por uma câmera padrão. Revelado, fixado e seco também à maneira tradicional, 143 cada um dos negativos do filme bipack era impresso, em perfeito registro, nos lados opostos de um filme positivo dotado de duas emulsões. Feitas as impressões, o Color Film Process empregava, no lado do filme correspondente ao azul, uma viragem de corante vermelho (com urânio em sua composição química). Já o lado do filme correspondente ao vermelho era tratado por uma viragem azul (de sulfato ferroso), após o que, estava pronto para ser exibido. Não há exemplos remanescentes de filmes realizados a partir deste sistema, que, provavelmente, não terá superado o estágio experimental. Fig. 79 – Negativo bipack. Filme da frente: 1 – base do filme; 2 – emulsão ortocromática; 3 – camada de corante vermelha; 4 – emulsão pancromática; 5 – base do filme de trás; 6 – camada anti-dispersão da luz. Fonte: RYAN, op. cit., p. 90. De fins da década de 1920 a 1935, houve uma grande proliferação, na Europa e nos Estados Unidos, de processos usuários dos negativos bipack, trabalhando em bases muito semelhantes às do Color Film Process. Somente no ano de 1930, listam-se os seguintes processos bipack, nos Estados Unidos: Photocolor, Pilney Color, Hirlicolor, Dascolor e Vitacolor. Em 1931, surgem o Sennett Color, lançado pelos laboratórios do ator Mack Sennett, o Coloratura, operado pela Pathé Exchange norte-americana e o Magnacolor, anunciado pela Consolidated Film Industries, derivado do Prizmacolor II. Na Europa também há, à mesma altura, alguns processos bipack, tais como o holandês Sirius Color, de 1929, e o alemão Ufacolor (chamado de Chemicolor na Inglaterra), demonstrado em 1930 pelos estúdios UFA. De todos esses sistemas, indubitavelmente o mais bem-sucedido foi o Cinecolor, originário da falência da Multicolor, empresa fundada em 1928, como se verá. 3.20 – De Multicolor a Cinecolor A partir de 1928, a Dupont passou a comercializar um filme duplo – o Rainbow negative –, voltado ao uso em câmeras convencionais. Esse filme bipack tornou-se a 144 base para o lançamento do processo Multicolor, também naquele ano, desenvolvido pela empresa de mesmo nome. Atos e transatos, a Multicolor veio a ser adquirida, em 1930, pelo milionário Howard Hughes ao preço de US$1,000,00. Após uma reformulação completa em suas instalações, esta companhia pôde inaugurar, em 1931, um novo laboratório, anunciado como o mais moderno e bem equipado de Hollywood, com capacidade para processar 304m de filme por semana. Versátil, o processo Multicolor podia ser utilizado a partir de qualquer câmera, sendo a captura das imagens feita pelo método bipack. A impressão final ficava a cargo de uma impressora óptica especial, operando à velocidade de 6,40m por minuto, de tal modo que as componentes de cores ficavam juntas em lados opostos da cópia positiva. Na impressão, os negativos originais passavam, juntos, pela impressora óptica, com o positivo final entre eles. A emulsão do filme positivo sensível ao azul (ortocromática) recebia o negativo correspondente à gravação do vermelho, e a do filme positivo, com emulsão sensível ao vermelho (pancromática), recebia o negativo azul. Depois de processado, o positivo era levado a um banho de viragem com o corante ciano para a parte vermelha do filme e a um banho de viragem com urânio e corante vermelho para o lado correspondente ao azul 78. Embora manifestando interesse no processo, a indústria contratou-o apenas para seqüências curtas em filmes como o musical de terror The great Gabbo (1929, Eric Von Stroheim), Good news (1930, Nick Grinde) e The Fox Movietone Follies of 1929 (David Butler), cujos trechos originais em cores não foram preservados. Não chegaram a ser rodados longas-metragens com o processo e, em 1932, a companhia Multicolor acabou falida. Leiloada, levou consigo também, segundo se conta, um pouco mais da sanidade mental do miliardário Howard Hughes. Uma nova empresa foi então criada – denominada Cinecolor –, a qual conservou parte da base tecnológica da Multicolor. Alternativa mais barata ao Technicolor, o Cinecolor foi inicialmente usado por pequenas companhias tais como Monogram, Producers Releasing Corporation, Screen Guild Productions, Eagle-Lion, etc. Nos anos 1930 e 1940, sua principal linha de atuação voltou-se para a área dos cartoons. O processo Cinecolor tinha como fundamento a síntese bicolor subtrativa, através do negativo bipack. Por este sistema, a captura da imagem podia ser feita a partir de câmeras convencionais, sendo idêntica ao Multicolor também a revelação, fixação e secagem dos negativos. O negativo com a separação do azul era impresso num 78 Para mais detalhes sobre a composição química do processo Multicolor, conferir RYAN, op. cit., p. 100-101. 145 dos lados do filme positivo, ao mesmo tempo em que a separação do vermelho era impressa no lado oposto, ao estilo “sanduíche”. Nessa etapa, a trilha sonora também era impressa no lado azul da película. Como avanço em relação ao Multicolor, o Cinecolor apresentou um registro mais acurado entre as duas informações de cores, alinhadas por meio de alfinetes de pressão. Feitas as impressões, o filme positivo era revelado, lavado e escorrido. Em seguida, o lado correspondente à gravação do vermelho flutuava numa solução de corante ciano, sendo virada para essa cor. Lavado, o filme era imerso numa solução de mordente, que convertia a imagem em prata da gravação correspondente ao vermelho em iodido de prata, composto que tem a propriedade de absorver corantes básicos (o lado contendo a imagem já virada para o ciano não era afetado por esse tratamento). O filme todo era então imerso em uma solução de corante vermelho. Lavado e seco, estava pronto para a exibição. Embora as cópias do processo Cinecolor de duas cores fossem satisfatórias para seus propósitos, a indústria insistia na demanda por um processo de três cores. Para atingir essa meta, uma terceira cor foi acrescentada às cópias de exibição em 1948, com o processo sendo então renomeado Super Cinecolor. 3.21 – Processos lenticulares Dentre as tentativas de se obter filmes coloridos pela síntese aditiva no início do século XX, houve ainda os chamados processos lenticulares, derivados de um princípio formulado pelo francês Gabriel Lippman. Em 1908, o físico teorizou que a aplicação de uma camada transparente de finas e minúsculas lentes a uma placa fotográfica produziria uma imagem em sua emulsão. Assim, quando a placa era exposta à luz, cada uma de suas lentículas funcionava como uma microcâmera, capturando a parte da imagem diretamente à sua frente, para gravá-la na emulsão. A imagem final consistiria de uma série de pontos, cada um dos quais sendo formado pela lente imediatamente em frente ao ponto. Como os pontos fugiam do poder de resolução do olho humano, não podiam ser vistos individualmente, mas como uma única figura. Em parceria com o gravador Albert Keller Dorian, o astrônomo Rodolphe Berthon importou a idéia de Lippman para o cinema, em busca de gerar imagens em cores naturais. Primeiramente, criou uma máquina a fim de dotar o suporte fílmico de uma camada de microlentes transparentes (1.360 lentículas por milímetro quadrado). Em seguida, agregou um filtro fixo com listras horizontais nas três cores primárias à 146 objetiva de sua câmera (Fig.80). Desse modo, na etapa de captura, cada uma das lentículas produzia, na emulsão, o registro da luz proveniente da lente, filtrada pelas primárias vermelho, verde e azul. Resultado: formavam-se, no filme, minúsculas linhas verticais paralelas, cada uma das quais filtrada pelas luzes vermelha, verde e azul, transmitidas pelo filtro. O filme era revelado pelo processo reverso 79 e, depois disso, exibido por um projetor, através de um filtro idêntico ao da câmera. Tinha-se, ao final, uma imagem cujo colorido restituía o do tema originalmente filmado, produzido pela mistura das finíssimas linhas vermelhas, verdes e azuis, nos olhos do espectador (Fig. 81). Fig. 80 – Filtros Keller-Dorian Berthon Fonte: BENOÎT, op. cit., p. 186 Essas inovações foram patenteadas, em 1909, na França, sob o nome de KellerDorian Berthon (K.D.B.). A grande vantagem deste em relação a outros processos aditivos estava na forma de captura e projeção das imagens, que dispensava os filtros giratórios e a exposição sucessiva, mecanismos sabidamente problemáticos à cinematografia em cores naturais, conforme se viu. O K.D.B mostrou resultados de alta qualidade, embora não tenha superado a fase das demonstrações públicas: como o processo só era facultado através do filme reversível, a hipótese de reprodução serial das cópias ficava inviabilizada. Incapaz de vencer essa dificuldade, o K.D.B. revelou-se inapto, portanto, para a difusão em escala industrial. 79 O reversível é um tipo de filme exposto e revelado como imagem positiva num mesmo material (diferentemente do sistema negativo/positivo da maioria dos sistemas de fotografia e cinema). Muitos "filmes de família" e filmes de notícia antigos foram gravados em reversível. 147 Fig. 81 – Filme lenticular: antes da projeção e projetado através de filtro Em 1928, a Eastman Kodak retomou os princípios do processo lenticular, lançando o Kodacolor. Este sistema, semelhante em funcionamento ao K.D.B. – porém com uma série de melhoramentos –, teve bom desempenho no formato 16 mm, tendo sido comercializado para uso amador, apresentando ótimos resultados. A primeira providência do Kodacolor foi criar um sistema mais eficiente para a obtenção do filme, cujas microlentes eram aplicadas ao suporte por meio de rolos de aço. O número de lentes era de 22 por milímetro linear. A exposição do Kodacolor era feita de maneira idêntica ao K.D.B. (Fig.82), não havendo variação considerável inclusive na etapa de revelação do filme (também reversível) e na projeção das imagens. Ou seja: faziam-se apenas cópias únicas com o processo, razão pela qual o Kodacolor, embora comercializado com sucesso, manteve-se restrito ao uso amador, com as limitações do formato 16 mm. Como seguidores do K.D.B., registre-se também o Kislyn Color, fundado em 1930 e extinto em 1931, em vista da Grande Depressão e da enxurrada de processos judiciais que Berthon e a sua Societé du Film in Couleurs Keller-Dorian moveram contra a empresa norte-americana, alegando violação de patente. Fig. 82 – Sistema Kodacolor Fonte: RYAN, op. cit., p. 52. 148 3.22 – Gasparcolor: as cores no front da animação Concomitantemente ao Technicolor n° 4, outro processo de três cores baseado na síntese subtrativa, denominado Gasparcolor, foi lançado na Alemanha, em 1933 (a patente é de 1930). Inventado pelos químicos húngaros Irme e Bela Gaspar, o Gasparcolor diferia do Technicolor n° 4 e dos processos subtrativos anteriores quanto ao filme utilizado para obtenção de suas cópias positivas. O filme Gasparcolor compunha-se de três diferentes camadas de emulsões, feitas a partir de compostos químicos desenvolvidos pelos próprios irmãos químicos. Cada camada misturava-se a pigmentos, respectivamente, nas complementares ciano, amarelo e magenta. As camadas de magenta e amarelo ficavam juntas na parte da frente da película, enquanto uma camada de ciano cobria a parte de trás (Fig. 83). Dessa forma, o processo permitia impressões positivas finais por meio de qualquer negativo preto-e-branco no qual houvesse a separação prévia, através de filtros, das três primárias, alternadamente numa única película ou em três filmes negativos separados. Fig. 83 – Película Gasparcolor. 1 – Emulsão sensível ao azul mais corante magenta. 2 – Emulsão sensível ao vermelho mais o corante amarelo. 3 – Base do filme. 4 – Emulsão sensível ao azul mais o corante ciano. Fonte: RYAN, op. cit., p. 214. O Gasparcolor, entretanto, não era um sistema completo de fotografia e processamento de filmes: faltava-lhe um aparelho para a tomada de vistas. Em 1932, o engenheiro e artista Oskar Fischinger – o “mago da Friedrich Street”, como se tornara conhecido pelas suas inovações na área das trucagens ópticas –, foi convidado pelos irmãos Gaspar a fim de auxiliá-los no desenvolvimento de uma câmera para o processo. Com base em modelos pré-existentes, Fischinger criou então um dispositivo cujo obturador era um disco giratório contendo filtros nas cores vermelho, verde e azul. Esse disco permitia o registro de três frames sucessivos num mesmo filme preto-e-branco, de modo muito semelhante ao Kinemacolor. Filmando a 72 quadros por segundo em vez 149 de 24, essa câmera revelou-se insatisfatória para tomadas em live-action, tendo em vista o difícil registro entre as três informações de cores, tomadas a tempos diferentes. Aplicada para animações, contudo, funcionava perfeitamente bem, resultando em cores brilhantes, sem granulações e sem problemas de registro. Isso ocorria porque, filmadas quadro a quadro, as animações evitavam o erro de paralaxe temporal, comum nos sistemas que adotavam o registro sucessivo de fotogramas na película para tomadas em live-action. Oskar Fischinger preparou testes com o Gasparcolor para apresentá-lo pela primeira vez em 1933 no 3° Congresso Internacional da Cor e da Música – evento realizado em Hamburgo, que buscava associar a música a outros sentidos humanos –, causando espécie junto ao público, com excertos de algumas de suas produções prévias. Ainda naquele ano, Fischinger trabalhou na conclusão de um novo filme, encomendado pelos irmãos Gaspar para entrar em cartaz por ocasião do Natal. Considerada a primeira produção inteiramente realizada segundo um processo de separação de três cores a se exibir na Europa, Circles (Kreise, Alemanha, 1933) apresenta dezenas de discos e circunferências – feitos a carvão e guache sobre cartão – movimentando-se pelo espaço da tela, num vórtex cromático 80. Fig. 84 – Fotogramas de Circles Em coreografia sincronizada à música, círculos vermelhos ensaiam movimentos sobre um fundo púrpura. Anéis luminosos brotam em profusão, faixas concêntricas 80 Em Circles é legível a influência do alemão Walter Ruthmann, cineasta e artista plástico que, em 1922, realizou o primeiro filme abstrato de que se tem notícia, Opus n°1, no qual põe uma série de glóbulos e bolhas a deslocar-se sobre a tela, com tingimentos em azul e colorizações manuais em vermelho. 150 pretas vindas das extremidades evoluem sobre um fundo ultramarino, cruzando-se ao centro da tela (Fig. 84). Desobrigadas à representação figurativa, essas formas transitam pelo espaço negro, livres também do compromisso com o roteiro literário: a projeção se sustenta unicamente sobre a estrutura musical – o Tanhäuser, de Wagner. A um só tempo músico e pintor, Fischinger quer ouvir a sonoridade das cores, recriar, para os olhos, todo o prazer que a música – a mais imaterial das artes – é capaz de produzir para os ouvidos, em um filme que pode ser entendido como uma partitura visual, uma materialização da música por meio da cor 81. Temendo que o filme não passasse pela censura dos nazistas, já em plena atividade na Alemanha, Fischinger fez de Circles um filme publicitário para a firma de anúncios luminosos Tolirag, colocando-lhe ao final a frase: “Alle Kreise erfabt Tolirag” (Tolirag atinge todos os círculos da sociedade). Assim, além de enganar a censura, Circles pôde servir à publicidade de outras firmas, que apenas trocavam-lhe o letreiro de encerramento. Dessa mesma fase de Fischinger, há ainda outro filme que deve muito ao potencial cromático do Gasparcolor. Em Composition in blue (Komposition in blau, Alemanha, 1934), Fischinger põe de lado a geometria plana para reger um concerto de formas geométricas tridimensionais (cubos, cilindros, discos, esferas), em cores variadas, deslocando-se sobre o espaço azul da tela (Fig. 85). No filme, o tom vitorioso da música é reconstituído pelo movimento dinâmico das peças coloridas. Produzido secretamente, Composition in blue foi exibido em festivais estrangeiros da época sem a devida permissão nazista. Premiado na feira mundial de Bruxelas, o filme deixaria Fischinger em maus lençóis na Alemanha, não fosse a imediata transferência do artista para Hollywood, como contratado dos estúdios Paramount. Fig. 85 – Composition in blue 81 Hoje, o projeto de uma notação rigorosa da experiência subjetiva da cor que se assemelhe à escritura musical reúne-se sob a designação de visual music. 151 Em 1934, a Gasparcolor abriu uma base de operações na Inglaterra, mantendo ainda um escritório em funcionamento em Berlim. Com a ascensão do nazismo, porém, Bela Gaspar viu-se obrigado a fechar definitivamente as portas da ex-matriz alemã, diante do trágico duplo suicídio do encarregado do escritório e de sua mulher judia, que, assolados pela perseguição anti-semita, pularam na frente de um trem em movimento. Mesmo transferida para Londres, a Gasparcolor terminou, em 1938, impedida de prosseguir suas atividades em solo inglês. Dada a invasão alemã sobre a Bélgica, esse país foi terminantemente proibido pelos nazistas de comerciar com nações consideradas inimigas do regime hitlerista. Assim, a Gasparcolor não pôde mais receber as películas utilizadas para o seu sistema, manufaturadas em terras belgas pela Companhia Gevaert. Isso não bastasse, a Gasparcolor teve ainda suas instalações em Londres bombardeadas por uma blitz, durante os ataques aéreos da II Guerra, com a conseqüente perda de dezenas de filmes realizados por meio do sistema. Restou a Gaspar emigrar para os EUA, em busca de restabelecer sua empresa. Na América, Gaspar fez contatos com firmas norte-americanas fornecedoras de películas, a fim de dar novo alento ao seu processo fotoquímico. Naquele país, entretanto, o mercado já estava dominado pela Technicolor, empresa para a qual o húngaro terminou por vender suas patentes de Gasparcolor. Coube a Oskar Fischinger compor o canto do cisne para o processo, com a realização de Allegretto (1936) e Radio Dynamics (1937), produções em que se percebe o projeto imagético-musical do animador alemão descortinar-se em sua plenitude. De resto, Fischinger também não se entendeu com os estúdios hollywoodianos, deixando as hostes do cinema após sucessivas decepções, dedicando-se a partir de então exclusivamente à pintura. O Gasparcolor permaneceu como o melhor sistema de cores fotográficas para animações ao longo da década de trinta, tendo sido utilizado por cineastas da vanguarda européia após a mudança de seus laboratórios para Londres. Oskar Fischinger, Len Lye, Claire Parker e Alexander Alexeiff foram alguns dos animadores independentes que realizaram, nesse período, anúncios publicitários e filmes experimentais com o sistema, em produções tão ousadas quanto extraordinariamente coloridas, tais como Muratti marches on (Inglaterra, 1934, Fischinger), Rainbow Dance (Inglaterra, 1936, Len Lye), Birth of the Robot (Inglaterra, 1936, Len Lye) e Top Hats on Parade (Inglaterra, 1935, A. Alexeiff), dentre outros. 152 3.23 – Dos autocromos ao Dufaycolor Desde 1890, houve na fotografia uma série de processos aditivos que utilizavam filtros em mosaico, dotados de pontos coloridos microscópicos, postos em contato com a superfície de placas ou filmes, visando à obtenção de imagens em cores naturais. (Explica-se o interesse pelo método: com esse expediente, as cores da imagem podiam ser vistas diretamente, sem requerer a combinação entre três projeções, como na clássica experiência de Maxwell.) O mais bem-sucedido exemplo nessa direção, no início do século XX, foi a autocromia dos Lumière, técnica patenteada em 1904 e explorada comercialmente de 1907 até 1935. Como suporte, os autocromos usavam grossas e transparentes placas de vidro, providas de camadas superpostas em seu verso (Fig. 86). A primeira dessas camadas era de emulsão pancromática de filme preto-e-branco – sensível, portanto, às luzes vermelho, verde e azul – coberta por uma lâmina de gelatina. A segunda camada compunha-se de finos grãos de fécula de batata (7.000 grãos por mm²), tingidos de vermelho, verde e azul-violeta, misturados e cobertos por uma lâmina de resina. Durante a exposição na câmera, a luz do objeto fotografado atravessava o filtro em mosaico, gravando, na camada de emulsão preto-e-branco, as três informações de cores, separadas e pulverizadas em minúsculos pontos. Fig. 86 – Funcionamento dos autocromos Ainda na placa, a camada de emulsão era processada pelo método reversível, isto é, dissolviam-se as suas partes pretas, por meio de um tratamento químico especial, enquanto as suas partes brancas eram enegrecidas. Visto através do filtro em mosaico, o positivo resultante mostrava uma imagem em cores granuladas e levemente pastéis, produzidas pela mistura, nos olhos do espectador, de microscópicos pontos vermelhos, verdes e azuis, indistinguíveis isoladamente (Fig.87). Por cerca de trinta anos, as usinas 153 Lumière produziram grande quantidade de autocromos, chegando, em 1913, a fabricar 6.000 unidades dessas placas por dia, segundo dados de Dutoit (2004) 82. Impossível de ser copiado sobre papel ou multiplicado, o autocromo terminou superado pela introdução do filme fotográfico Kodachrome, de 1935, e do Agfacolor, de 1936. Fig. 87 – Placa de autocromo Lumière Funcionando razoavelmente bem para a fotografia estática (embora, em sua grande parte, apresentassem baixa sensibilidade), os métodos fotográficos com filtros microscópicos em mosaico levaram algum tempo até se tornarem viáveis para o cinema. O maior problema desses procedimentos, quando usados para projeções, consistia basicamente na sua péssima definição de imagem. Magnificados pela lente do projetor, os grãos dos fotogramas aumentavam consideravelmente de tamanho na tela, tornando dramática a leitura das imagens. Os Lumière, por exemplo, chegaram a tentar adaptar as autocromias para projeções em movimento, patenteando, em 1932, um sistema chamado Lumicolor. Muito semelhante ao processo fotográfico – com a diferença que utilizava o filme de celulóide no lugar das placas –, o Lumicolor apresentava forte granulação nas imagens, além de baixa sensibilidade à luz, o que provou a sua inviabilidade comercial. Há pelo menos quatro filmes realizados com o Lumicolor, hoje guardados por cinematecas francesas: Jeunes femmes prenant le the (1936), A la ferme (1936), Le centenaire de L’Arc de Triomphe (1936), L’exposition universelle de Paris (1937). Igualmente originário da fotografia, o Dufaycolor obteve melhores resultados do que o sistema dos Lumière no emprego de filtros em mosaico como meio de trazer as cores naturais para o cinema. A história deste sistema, que atingiu seu ápice na segunda 82 Disponível em: www.lagruyere.ch/archives/2004 154 metade da década de 1930, remonta a 1908, quando o fotógrafo francês Louis Dufay inventou um processo aditivo de quatro cores para fotografia, inicialmente denominado Diopticolore e, um ano depois, Dioptichrome. Em sua camada externa, o Dioptichrome utilizava um padrão em mosaico de minúsculos pares de linhas em magenta e verde, dispostas em ângulo reto com pares de linha em ciano e amarelo (COE, op. cit., p.57). Na etapa da exposição, a luz passava através desse mosaico, para registrar as informações de cores na emulsão fotográfica pancromática, de maneira muito semelhante à técnica da autocromia 83 . Como resultado, era possível obter-se uma imagem composta de minúsculos pontos vermelhos, azuis e verdes – visíveis através da superfície transparente de placas de vidro –, que, mesclados uns aos outros, produziam a ilusão óptica das cores naturais. Dufay continuou a trabalhar nesses procedimentos, empregando filmes no lugar das placas, revelados pelo sistema reversível (cópias únicas). Em 1926, interessada na aplicação da técnica de Dufay às imagens em movimento, a manufatura britânica de papéis Spicers comprou as patentes do processo, fundando a Spicer-Dufay. Onerosas, as pesquisas desenvolveram-se em segredo, até que, em 1931, houve uma demonstração do novo sistema, agora com diversas modificações, na Royal Society de Londres. Denominado Dufaycolor, o processo exibia muitas falhas, entre as quais, a necessidade de uma enorme quantidade de luz para a etapa das projeções e a alta granulação das imagens 84 . Voltando à fase de pesquisas, o sistema ganhou então um novo padrão de mosaico para seu filtro – chamado de reseau –, com linhas azuis sobrepostas a linhas vermelhas e verdes, perfazendo cerca de um milhão de lentes por polegada quadrada (Fig.88). Adaptado para o formato 35 mm em 1932, o Dufaycolor finalmente estreou no mercado inglês como um processo apto a gerar filmes coloridos. A imprensa reagiu favoravelmente ao lançamento do sistema, elogiando a sua “gama de cores puras, jamais atingida por qualquer outro processo” (COE, op. cit., p.125). Avaliações mais pessimistas pontuaram, com razão, que, nas imagens, não era possível ver o vermelho. O maior problema, contudo, era que tanto a exposição quanto a projeção tinham de ser feitas através da base do filme, a fim de que a luz pudesse atravessar o filtro, antes de atingir a emulsão (BROWN, 2002, p. 6 85 ). Assim, o processo possuía ainda diversos pontos fracos, o maior dos quais sendo o fato de que as 83 A rigor, o resultado final do processo de Dufay era muito inferior, em registro de cores, à autocromia. O Dufaycolor teve em torno de 500 patentes. 85 Disponível em: www.bftv.ac.uk/projects/dufaycolor. 84 155 imagens em Dufaycolor eram mais escuras do que as de filmes convencionais, dado que absorviam grande quantidade de luz durante a projeção. Devido a isso, a leitura da banda sonora do filme ficava também severamente prejudicada. Fig. 88 – Filtro ampliado de Dufaycolor Fonte: COE, 1981, p.125 Não obstante esses defeitos, o preço comparativamente mais baixo do sistema em relação ao Technicolor, por exemplo, consistiu num fator de atração para o Dufaycolor no mercado inglês: enquanto para se rodar um filme em Technicolor chegava-se à cifra de 20 mil libras, o Dufaycolor custava três vezes e meia o valor de um filme preto-e-branco regular. Segundo Brown (op. cit., p. 26), para um filme com a extensão de 304m (1.000 pés), esse preço era relativamente baixo, mas para filmes com 1.828m (6.000 pés) ou mais, o preço extra agregava um montante substancial às despesas. Além disso, ainda de acordo com Brown (ibidem), para tomadas externas o Dufaycolor era simples de ser usado, mas para cenas de estúdio o sistema resultava especialmente problemático. Pouco sensível, a película Dufaycolor requeria uma vez e meia a quantidade de luz usual para filmagens em interiores. Também não se podiam usar, para filmagens em estúdio, luzes de diferentes fontes, tampouco lâmpadas de arco ou lâmpadas de tungstênio, o que interferia na definição das cores. Atento a isso, Dufay associou os serviços do Dufaycolor aos de uma empresa responsável por fornecer o material completo de iluminação aos contratantes do sistema, evidentemente mediante custos adicionais. Segue daí que as complicações com as tomadas em estúdio, somadas aos custos extras do processo, serviram para minar o interesse pelo Dufaycolor no mercado de longas-metragens. Para filmes curtos, porém, o sistema continuou atrativo. As pesquisas em torno do processo não pararam, tendo a Spicer-Dufay se estabelecido como uma companhia privada no ramo da cinematografia em cores naturais em fevereiro de 1933. De olho no filão do cinema colorido, a também britânica 156 Ilford resolveu investir 600,00 libras na Spicer-Dufay, visando ao desenvolvimento de películas de 16 mm para o mercado amador, bem como associando ao sistema a sua recém-criada técnica para copiagem de filmes reversíveis. Em 1934, as novas películas de Dufaycolor em 16 mm e 35 mm foram afinal lançadas, trazendo como slogan publicitário a frase “Dufaycolor: o filme em cores de todo mundo” (apud BROWN, op. cit., p.7). O anúncio enfatizava a simplicidade e a acessibilidade do preço para se produzir uma “gravação viva e permanente da vida, como você a vê” (ibidem). Aperfeiçoado, o sistema foi utilizado para duas seqüências do musical Radio parade of 1935 (Inglaterra, Arthur Woods, 1934), mas a sua melhor aplicação continuou sendo no mercado de curtas-metragens. 3.23.1 – A caixa de cores de Len Lye Após o heroísmo de 1900-1920, a década de 1930 foi marcada por certa regressão nas conquistas da arte moderna. O ataque visceral a padrões artísticos préestabelecidos arrefecera, face ao trauma causado pelas atrocidades da I Guerra e à ascensão de regimes totalitários, na Alemanha, Itália e Rússia. Não obstante, a estética modernista disseminava-se nas artes plásticas, atraindo adeptos na França, na Inglaterra e nos Estados Unidos, dentre outros países. É nesse cenário sombrio, pelo lado político, e desafiador do ponto de vista dos destinos do movimento moderno, que surge na Inglaterra talvez o mais revolucionário filme em cores até então já visto. Copiado em Dufaycolor, A colour box (Inglaterra, 1935) provém de uma idéia original do neozelandês fixado na Inglaterra a partir de 1925, Len Lye, artista moderno e multifacetado, ligado à pintura, à escultura e ao cinema de animação. Inconformado com o fato de que um realizador, diferentemente de um escritor ou de um pintor, precisaria ter acesso a uma complexa aparelhagem e a vultosas verbas para desenvolver seu trabalho, Lye decidiu fazer um filme pintado à mão diretamente sobre uma tira de celulóide, prescindindo da intermediação de uma câmera para tomada de vistas. Perambulando pelo estúdio inglês Earling, Lye costumava recolher ali retalhos de películas usadas em testes sonoros, os quais raspava e pintava, para então emendá-los e projetá-los, com a ajuda de amigos, nas dependências da GPO (General Post Office) Film Unit, unidade de cinema dos correios britânicos. Após um ano de testes com essas películas reaproveitadas, Lye levou o projeto de seu filme sem câmera a John Grierson – responsável pela GPO Film Unit e entusiasta de idéias avançadas e 157 socialmente engajadas –, que topou financiar e distribuir a produção. Bastou a Grierson justificar o investimento público na empreitada, fazendo com que A colour box funcionasse como peça de propaganda de tarifas e serviços postais britânicos, adicionando-lhe um letreiro, ao final, com os dizeres: Cheaper parcel post. Fig. 89 – Fotogramas de A colour box De 1935 até o fim da década de 1930, o filme circulou em cinemas da Inglaterra e do continente, tendo uma receptividade num primeiro momento acanhada, mas em seguida entusiástica, dada a polêmica que veio a despertar 86 . Radicalmente experimental, A colour box consistiu, antes de tudo, numa oportunidade para Lye botar em prática o seu afã de unir o abstracionismo moderno ao primitivismo 87 que trouxera de sua infância na Nova Zelândia e de seus estudos sobre a arte de culturas tribais do Pacífico Sul. Já na abertura do filme, massas geométricas de vermelho cortam o plano em direções opostas, para dar passagem a círculos e triângulos giratórios, pintados ali com o auxílio de estênceis. Grafismos brancos passeiam sobre uma pasta de cor laranja, como se dançassem ao som da música. Borrões azuis, verdes e amarelos sucedem-se paralelamente na tela, por onde também trafegam pequenos pontos, vermelhos e febris, à feição de padrões gráficos encontrados em vestimentas típicas (as tapas) dos povos Maoris, habitantes da Nova Zelândia. As formas agitam-se freneticamente em todas as 86 A colour box foi agraciado com menção honrosa – inventou-se uma categoria especial para premiá-lo – no Festival Internacional de Cinema de Bruxelas, em 1934. Em compensação, alguns exibidores relutaram em mostrar o filme, dado o seu experimentalismo transgressor. 87 Interessado na cultura dos povos do Pacífico Sul, Lye fizera um estudo das máscaras, esculturas, tapas (indumentária indígena, pintada com motivos geométricos) e entalhes de tribos da polinésia, incorporando alguns desses elementos primitivos ao seu trabalho de pintura, de escultura e de cinema de animação. 158 direções, sincronizadas à música, fazendo da projeção de cinema um espaço aberto à explosão paroxística de cores e ritmos visuais (Fig.89). Para a sua realização, A colour box contou com a colaboração do músico Jack Ellit, que traçou uma análise em detalhes de La belle créole, interpretada por Don Baretto e sua Orquestra Cubana, música escolhida por Lye para ser usada como tema de fundo do filme. A música foi transferida para a película, e Len Lye fez várias marcas ao longo da banda sonora. Em seguida, pintou imagens diretamente no filme transparente, de modo que os motivos visuais ocupassem a exata extensão entre essas marcas. A idéia não era exatamente nova: de Oskar Fischinger a Walt Disney, outros cineastas da animação já haviam experimentado traduzir música por meio de imagens, com resultados díspares, conforme o propósito e o estilo de cada um. O que faz de A colour box uma exceção nesse território, entretanto, é o fato de que, aqui, Lye procurou desenvolver imagens em contraponto à música, não apenas ilustrando-a geométrica ou figurativamente. Segundo Horrocks: Ele [Lye] se sentiu livre para pegar idéias de qualquer aspecto da música – o ritmo, o timbre, o estilo de um instrumentista em particular, a atmosfera geral ou o aspecto da trilha sonora impressa. Ele estava geralmente inclinado a associar o som dos tambores com pontos e círculos, o piano com uma chuva de finas manchas de cor, e instrumentos de cordas com linhas que balançam e vibram (2001, p.140, tradução do autor). De fato, em A colour box as cores evoluem sem qualquer obrigação com a representação do mundo natural. Emancipadas, ressoam as convicções de Len Lye acerca do uso da arte como um meio para compor movimento, da mesma maneira que músicos compõem música através de sons. No filme, as cores comportam-se como uma rápida melopéia visual, urdida por este artista que nutria especial horror ao estático. O ritmo dinâmico do filme de Lye não favorece, pois, a contemplação e fruição prolongada de suas harmonias cromáticas, como ocorre, por exemplo, nos filmes de Oskar Fischinger. A urgência com que as imagens de Lye se desenrolam remete, antes, à celeridade própria do novo cenário urbano, coabitado por trens, carros, aviões, bondes, navios e outros engenhos, nascidos junto com as emergentes sociedades industriais. Em nota confiante, A colour box traz para a tela de cinema a fugacidade e variedade típicas 159 do mundo moderno, valendo-se daquilo que melhor expressou, no âmbito da arte, a complexidade única dos novos tempos: a pintura abstrata. Forte o bastante para fazer com que outros realizadores enveredassem pelo filme sem câmera, a influência de A colour box se fez sentir no trabalho de modernos cineastas da animação como o do jovem escocês Norman Mclaren. Tendo testemunhado exibições de A colour box ainda nos anos 1930, Mclaren refere-se a este filme como determinante na definição de sua própria trajetória cinematográfica. Mclaren vê A colour box como uma abstração cinética do espírito da música, princípio sobre a qual ele mesmo construiria toda a sua obra fílmica (HORROCKS, op. cit., p. 145). Tal foi o entusiasmo de Mclaren com A colour box que o escocês fará, em 1949, um palimpsesto ao filme de Lye, homenageando-o com o seu conhecido Begone Dull Care (Canadá), também um filme abstrato, buscando restituir, pela pintura direta na película, a tessitura jazzística do piano improvisado de Oscar Peterson. 160 A cor é a tecla. O olho é o martelo. A alma o piano de inúmeras cordas. Quanto ao artista, é a mão que, com a ajuda desta ou daquela tecla, obtém da alma a vibração certa. Kandinsky 161 4 – Conclusão Ao virem a lume, as imagens em movimento instauraram uma série de novas questões, ligadas não somente à sua logística de produção, distribuição e exibição, mas também relacionadas aos contornos formais que doravante deveriam assumir. Muitos dos traços característicos dos filmes de qualquer tempo aparecem já em A chegada do trem na estação de Ciotat (Arrivée d’un train en gare à la Ciotat, França, 1895), a exemplo do uso de um plano descontínuo para mostrar fatos ou situações a partir de determinado ângulo. Outros desses aspectos formais, embora já virtualmente presentes, constituíram-se aos poucos, levando algum tempo até serem definitivamente controlados e assimilados, seja pelo público, seja pelos realizadores. É o caso da articulação entre diferentes quadros, com vistas a compor uma história narrada, da articulação entre sons e imagens, e, finalmente, o caso da cor. Dado consistir em um problema inextricavelmente complexo, a busca por esta inovação formal produziu muitas e diferentes respostas. Impôs-se, conforme o meio evoluiu, não apenas lidar com a difícil gestão do seu suporte – uma fita composta de milhares de fotogramas alinhados em sucessão –, mas também trabalhar a introdução da cor a uma linguagem ainda maleável, em fase de formação. Nesse itinerário errático, plural, sinuoso – uma odisséia para vencer não só os limites técnicos, mas também as barreiras do preconceito –, cada um dos procedimentos aqui mencionados, quer criados nos laboratórios, quer tomados de empréstimo à pintura, deu a sua própria e significativa contribuição para que as imagens em movimento ampliassem o seu escopo, passando a incorporar um atributo até então circunscrito às artes pictóricas. O teórico francês André Bazin foi quem talvez pela primeira vez atentou para uma certa vocação inata do cinema em reproduzir o assim chamado “real”. Segundo Bazin, a sétima arte orientou-se, ainda em sua criação, por uma vontade manifesta dos pioneiros, de Edison aos Lumière, em constituir uma replicação das coisas e dos objetos a mais perfeita possível: “Em sua imaginação, viam o cinema como representação total e completa da realidade, viam num átimo a reconstrução de uma ilusão do mundo externo, em som, cor e relevo” (apud STAM, op. cit., p. 94) 88. Para Bazin, a passagem do filme silencioso ao sonoro e a do filme preto-e-branco ao filme colorido seriam etapas cruciais nessa progressão tecnológica rumo à mais exata identificação das imagens móveis com a realidade: as cores – assim como o som e o relevo – deveriam 88 Esse ponto de vista é defendido por Bazin no célebre artigo O mito do cinema total, também reunido na coletânea de ensaios do teórico publicada no Brasil, em 1991, “O cinema”. 162 aparecer nas telas, em suma, pela simples e boa razão de que existem no mundo real. Em seu artigo de 1997 89 , o historiador Tom Gunning retomou essas considerações de Bazin para sustentar que tanto os filmes coloridos por métodos não-fotográficos quanto os coloridos por métodos fotográficos integraram a mesma missão rumo ao realismo das imagens, chegando, porém, a diferentes resultados: enquanto os métodos nãofotográficos redundaram em colorações arbitrárias, quase sempre desviantes de seu objetivo original, os sistemas em cores naturais mantiveram-se solidamente vinculados ao projeto de exibir uma “gravação viva e permanente da vida, como você a vê” 90. Essa ambivalência aponta para uma dúplice função da cor no cinema: de um lado, apresenta-se como um elemento espetacular, sensacional, afastado do compromisso de retratar a natureza; de outro, comparece como parte indissociável de seu referente, o objeto ou tema fotografado. Se os filmes coloridos por métodos fotográficos foram mais bem-sucedidos em aumentar o grau de analogia 91 com a realidade, continua Gunning, filmes pintados à mão ou tingidos quimicamente mostraram a cor, por sua vez, como uma presença puramente sensual, metafórica, sublinhadora do caráter sensorial das imagens em movimento. Para o historiador, ambas essas tendências tiveram um importante papel sócio-cultural na primeira metade do século XX, quando conferiram aos filmes dos primórdios e do período mudo uma aura de novidade, uma ordem de significações intimamente relacionada à chegada da modernidade – colorida, triunfante, inédita – a um mundo monótono e até então dominado pelo resistente preto-e-branco 92. Ao lado da carga ideológica que fatalmente subjaz às injunções sócio-culturais afloradas pelo texto de Gunning, a primeira cor em movimento reveste-se, ainda, de profundas implicações estéticas: tomados em conjunto, os filmes do presente recorte temporal revelam a nítida consciência dos pioneiros quanto ao potencial de expressividade do elemento cromático. Fotográficos ou não, os primeiros métodos para inscrever cores nas telas evidenciam a descoberta, lenta e gradual, desse poderoso recurso, posto, desde sempre, a serviço da imaginação criadora de realizadores de variadas extrações. Sob qualquer das formas aqui salientadas, a cor figura nas telas 89 Colorful metaphors: the attraction of color in early silent cinema, já citado. Publicidade do Dufaycolor, já citada. 91 Para uma discussão mais aprofundada sobre a questão da analogia da imagem, conferir AUMONT, 1995, p. 198. 92 “Eu diria que o surgimento da cor em territórios previamente monocromáticos constitui uma das chaves das transformações perceptuais da modernidade” (GUNNING, op. cit.). 90 163 antes como um imperativo visual: ao cinema, um meio fundamentalmente ancorado na imagem, fazia falta este elemento inseparável da gramática plástica. Nem mesmo a inelutável base fotográfica de celulóide constituiu obstáculo, pois, às muitas investidas tecnológicas que se apresentaram nas primeiras décadas e através da história: ignorando diferenças sutis entre dois meios apenas remotamente semelhantes, os coloristas de películas, por exemplo, adotaram em seus filmes procedimentos emprestados da pintura, na expectativa de ver as imagens em movimento finalmente deixarem o mundo dos contrastes entre luz e sombra. Lograram preciosidades, em que as cores resultam independentes da forma de base, chamando a atenção mais pela sua móvel, surpreendente e sedutora presença do que por sua fidelidade ao tema filmado. A pintura de películas foi substituída, em preferência, pelos estáticos e homogêneos tingimentos e viragens, mais aptos à inexorável dinâmica industrial do período silencioso. Às colorizações químicas – cujos objetivos não incluíam, obviamente, a imitação verista do mundo – coube o mérito de provar, enfim, que as cores podiam também influir decisivamente no andamento dramático de um argumento cinematográfico. Se foram defenestradas pela indústria, no final dos anos 1920, principalmente por complicar a reprodução do som, terminaram, todavia, incorporadas em definitivo ao vocabulário visual do cinema, sendo ainda hoje reconhecidas por suas qualidades narrativas. Com o advento do som, mais do que nunca tornou-se necessário investir na pesquisa das cores naturais, mais afins com o primeiro – e também potencialmente plástico – operador formal do cinema: a luz. A cor foi vista, então, como o próximo grande passo tecnológico em direção ao empreendimento realista preconizado por Bazin, e a expectativa de sucesso nessas investigações girou em torno, principalmente, da companhia de Herbert Kalmus, desdobrando-se também numa série de empresas e iniciativas periféricas, não tão úteis em atender à crescente demanda industrial. Várias etapas se sucederam, como se viu aqui, para chegar ao que se tornou conhecido como “glorioso Technicolor”, ápice das perscrutações em torno da síntese tricrômica. A todas essas etapas, Natalie Kalmus, chefe do departamento de aconselhamento cromático da empresa, manteve uma estrita vigilância, não se descuidando um só instante para que o processo fosse utilizado da maneira a mais “correta” possível. Ao mesmo tempo, a publicidade não deixava dúvida quanto às pretensões da empresa: “O Technicolor 164 pintou, para milhões de fãs de filmes, um novo mundo – o mundo como ele é, em todas as suas cores naturais” 93. Fato é que, para muitos, os sistemas em três cores também resultavam em imagens artificiais: ao contrário do anunciado, o que prometia ser uma redenção em matéria “realismo” cromático apresentava-se, em pese olhos exigentes, como uma falisificação da realidade, não passando de uma estampa berrante, “flamejante”, saturada como o esmalte da lataria de um automóvel. Algo bem distante, portanto, daquilo que se esperaria de um colorido natural. Notadamente em versão Technicolor, as cores fotográficas não conquistaram unanimidade: face à ascensão da empresa nos anos 1920, atores, técnicos e diretores dividiram-se entre os (raros) apologistas da nova tecnologia e seus críticos ferrenhos, temerosos dos efeitos do sistema sobre a narrativa fílmica. Cecil B. DeMille, por exemplo, asseverava: Chegamos à conclusão que a fotografia em cores – no sentido de uma absolutamente crível reprodução de todos os tons da natureza – não pode ser usada irrestritamente no cinema porque [...] a variedade de cores distrairia a atenção da audiência em relação à trama (apud PESCATORE, 2004, p.3, tradução do autor) 94. Resumindo: a indústria não se curvaria à novidade das cores naturais, em nome apenas do fascínio hipnótico que era capaz de provocar nos espectadores. Edulcorar os filmes dessa maneira poderia levar a um decorativismo fácil, colocando em risco todo o edifício construído a partir de Griffith. A despeito das reações contrárias, Vaidade e beleza entrou em cartaz, despertando a antipatia de muitos. À estréia do filme, entretanto, uma resenha no New York Times – edição de 14 de junho de 1935 – ponderava: “A fotografia possui uma extraordinária gama de tons, variando de plácidos cinzas até cores vibrantes de calor e riqueza. Isto não é a coloração da vida natural mas sim o mundo de sonhos vividamente pigmentados da imaginação artística” (apud BASTEN, op. cit., p.46). De fato, passado o primeiro susto, viu-se, para alívio geral, que a cor analógica vinha em auxílio da narração clássica e não para destruí-la: era um elemento a mais a serviço do realizador, que a utilizaria como um acessório para a construção da fábula. Não obstante o furor da crítica, os processos em três cores 93 94 Publicidade da Technicolor, de inícios da década de 1930, citada por BASTEN, op. cit., p. 28. Disponível em: www.muspe.unibo.it/period/fotogen/. 165 prestavam-se perfeitamente bem ao uso em filmes fantasiosos, musicais, filmes de aventuras e westerns. E não ficaram restritos aos gêneros tradicionalmente distantes da cartilha realista: o Dufaycolor, por exemplo, foi usado em diversos documentários ingleses (da GPO, inclusive) 95 , ao final dos anos 1940; também o Technicolor e o Kodachrome foram empregados, ainda nos anos 1940, para registrar batalhas da II Guerra Mundial. Aos poucos, não somente DeMille, como também outros diretores 96, curvaramse à tela colorida, sabendo tirar daí o melhor para seus filmes. A modulação de timbres, a escolha da melhor ênfase cromática a ser aplicada a cada plano, o trabalho com filtros e luzes coloridas a fim de se obter esta ou aquela atmosfera, tudo isso precisou ser aprendido e administrado para a afirmação dos sistemas tricrômicos postos em prática desde meados da década de 1930. As cores chegavam, afinal se percebia, para ampliar o arsenal de recursos à disposição da criação cinematográfica: funcionavam, nesse sentido, conforme o nível de “verossimilhança” requerido a cada tipo de narrativa levada a curso. E isso era válido inclusive para animações abstratas, a exemplo de Circles e A colour box, filmes em que a cor emancipa-se dos objetos para passear livremente sobre as telas, sem nenhuma obrigação com a ilusão realista. E não sem motivo: aqui, as cores também empreendem uma narrativa, ainda que puramente emocional, desvinculada dos cânones de representação figurativa clássicos. Feita para cumprir o ideal de duplo perfeitamente analógico bazianiano, a tecnologia subverteu-se nas mãos de Oskar Fischinger e Len Lye, passando a trabalhar com sinal trocado, no sentido da mais absoluta abstração. 4.1 – O banquete dos sentidos As cores possuem a grata capacidade de falar às emoções humanas: a simples visão de uma superfície colorida desperta estados de ânimo específicos, ligados ao território dos afetos. Cada cor em especial tem o poder de provocar esta ou aquela reação no espírito dos homens, auxiliando-os a caminhar no mundo e a interpretar uma realidade (cada vez mais) difusa. Não é por outra que o moderno cenário urbano encontra-se impregnado de códigos sinaléticos cujos coloridos associam-se a estímulos 95 Para mais detalhes sobre dos documentários ingleses em Dufaycolor nos anos 1930, conferir: BROWN, op. cit.. 96 Sobre seu primeiro filme em Technicolor (A valsa do imperador, 1948), o austríaco Billy Wilder ironizou: “Tudo parecia como numa sorveteria.” “Até mesmo o diálogo soava falso em cores” (apud KARASEK, 1998, p.337). 166 precisos, relacionados ao modo como se deve agir e comportar, em meio ao apocalipse atual. No âmbito das artes, o elemento cromático dirige-se ao plano da subjetividade: a força-motriz da pintura está no modo pelo qual um artista organiza a matéria plástica, manipulando tintas de modo a haurir construções endereçadas à fruição estética. Ao domar a cor, o pintor transforma-a na própria substância da qual extrai a pluralidade de sentidos legível em sua obra. Também é de ordem estética a relação que um espectador mantém com um filme colorido: aqui, a cor manifesta-se como mais um entre os muitos recursos técnicos a serviço da expressão, e cabe às audiências tão-somente fruir o espetáculo que se descortina. No cubo escuro dos cinemas, porém, a cor surge como que intensificada: seu poder sobre os sentidos humanos resulta amplo, multiplicado; a percepção se aguça, há um intercâmbio entre os diferentes sentidos, ao mesmo tempo em que, solícito, o corpo entrega-se a um estado de pura contemplação. Parece ocorrer, neste caso, um envolvimento quase irracional do espectador com a imagem luminosa. Suspeita-se seja precisamente esta característica selvagem da cor, este encantamento que ela é capaz de produzir quando projetada, o que a tornou, a uma só vez, temida e reverenciada em sua longa peregrinação pelas imagens em movimento. Este saboroso e convidativo banquete dos sentidos, síntese entre diversas materialidades que se combinam polifonicamente para propiciar uma experiência sensorial chamada cinema procura ainda domesticar a cor. E na contemporaneidade o ambiente parece tão caótico quanto há uma centena de anos: filmes com ação real costumam se comportar como animações e vice-versa; cenas documentais misturam-se a ações encenadas. Ou, como sustenta Mitchell, citado por Stam (op. cit., p. 350): Com o predomínio da produção de imagens digitais, em que virtualmente qualquer imagem torna-se possível, ‘a conexão das imagens a uma substância sólida passou a ser tênue... não há mais qualquer garantia de verdade visual das imagens’ [Mitchell, 1992, p. 57]. Testemunha-se, enfim, uma era na qual esgarçam-se os limites entre imagem analógica e imagem pictórica, entre documentário e ficção, entre fantasia e realidade, em última análise. Não estavam tão errados assim, afinal, os laboriosos pioneiros pintores de películas: filmes podem ser, muitas vezes, um estranho e estupefaciente 167 híbrido entre fotografia e pintura. Mas não é precisamente o cinema que se renova toda vez que se distancia de sua condição primária de cinema? 168 Filmografia citada A lista de Schindler (Schindler’s list, EUA, Steven Spielberg, 1993) Asas do desejo (Der Himmel ünder Berlin, Alemanha, Wim Wenders, 1987) O ilusionista (The illusionist, EUA, Neil Burguer, 2006) Pobre pierrot! (Pauvre Pierrot!, França, Émile Reynaud, 1892) Em torno de uma cabine (Autour d’une cabine, França, Émile Reynaud, 1893-94) Annabelle does her Serpentine Dance (EUA, T. Edison, 1897) Danse serpentine (França, Societè Lumière, 1897) Danse serpentine dans la cage aux fauves (França, Ambroise Parnaland, 1900) Butterflies (Le farfalle, Itália, Segundo de Chomón, 1908) O caldeirão infernal (Le chaudron infernal, França, Georges Méliès, 1903) Viagem através do impossível (Le voyage à travers d’impossible, França, Méliès, 1904) O inquilino diabólico (Le locataire diabolique, França, G. Méliès, 1909) The great train robbery (EUA, Edwin Porter, 1903) Ali Babá e os quarenta ladrões (Ali Baba et les quarante voleurs, França, F. Zecca, 1902) Aladim e a lâmpada maravilhosa (Aladdin ou la lampe merveilleuse, França, Albert Capellani, 1906) Vida, paixão e morte de Jesus (Vie, passion et meurt de Jésus Christ, França, Zecca e Nonguet, 1902/1905) Métamorphoses d’un papillon (França, Gaston Velle, 1904) La peine du tailon (França, Gaston Velle, 1905) L’écrin du Rajah (França, Gaston Velle, 1906) Japonaiseries (França, Gaston Velle, 1904) A galinha dos ovos de ouro (Le poule aux oeufs d’or, França, Gaston Velle, 1905) Roses magiques (França, Segundo de Chomón, 1906) O escaravelho de ouro (Le scarabée d’or, França, Segundo de Chomón, 1907) O espectro vermelho (Le espectre rouge, França, Segundo de Chomón, 1907) En avant la musique (França, Segundo de Chomón, 1909) Le quadruple crime de John (França, Segundo de Chomón, 1914) Partie de cartes (França, atribuído a Leopoldo Fregoli, 1897) The abyiss of Bonau (França,1905) Elevage d’autruches et de crocodiles (Austrália, Lubin Films, 1910) 169 Paris Fashion (França, 1926) Chez le grand couturier (França, P. L. Giaffar, 1927) No país dos gigantes e dos pigmeus (Au pays des colosses et des pigmées, França, atribuído a Aurélio Rossi, 1925) Romeu e Julieta (Romeo e Giulietta, Itália, Gerolamo Lo Savio e Ugo Falena, 1912) Cyrano de Bergerac (França, Augusto Genina, 1925) Fire! (Inglaterra, James Williamson, 1901) The cameraman’s revenge (Mest kinematograficheskogo operatora, Rússia, Vladislav Starewicz, 1912) Nero, ou a queda de Roma (Nerone, Itália, Luigi Maggi, 1909) Maudit soit la guerre (Bélgica, Alfred Machin, 1914) O fantasma da Ópera (The phantom of the Opera, EUA, Rupert Julian, 1925) The lonedale operator (EUA, D. W. Griffith, 1911) Órfãs da tempestade (Orphans of the storm, EUA, Griffith, 1921) Lírio partido (Broken Blossoms, EUA, Griffith, 1919) Napoleão (Napoleón, França, Abel Gance, 1925) Aitaré da praia (Brasil, Gentil Roiz,1926) Canção da primavera (Brasil, Igino Bonfioli, 1923) Joan, the woman (EUA, Cecil B. DeMille, 1917) Os dez mandamentos (The ten commandments, EUA, Cecil B. DeMille, 1923) Anjos do inferno (Hell’s Angels, EUA, Howard Hughes, 1930) Delhi Durbar (Inglaterra, Charles Urban, 1912) The open road (Inglaterra, Claude Friese Greene, 1926) From concerning one thousand (EUA, 1916) The flute of Krishna (EUA, atribuído a Rouben Mamoulian, 1926) The gulf between (EUA, 1916) The toll of the sea (EUA, Chester Franklin, 1922) The prisioner of Zenda (EUA, Rex Ingram, 1922) Wanderer of the wasteland (EUA, Irvin Willat, 1924) Cytherea (EUA, George Fitzmaurice, 1924) Ben Hur (EUA, Fred Niblo, 1925) O pirata negro (The black pirate, EUA, Albert Parker, 1926) The viking (EUA, Roy William Neil, 1928) The Broadway melody (EUA, Harry Beaumont, 1929) 170 On with the show (EUA, Alan Crosland, 1929) Gold diggers of Broadway (EUA, Roy Del Ruth, 1929) Hollywood revue of 1929 (EUA, Charles Reisner) Doctor X (EUA, Michael Curtiz,1932) The mistery of the wax museum (EUA, Howard Comstock e Allen Miller, 1933) Flores e árvores (Flowers and trees, EUA, Walt Disney, 1932) La cucaracha (EUA, Lloyd Corrigan, 1934) Vaidade e beleza (Becky Sharp, EUA, Rouben Mamoulian, 1935) Everywhere with Prizma (EUA, William Kelley, 1919) The glorious adventure (Inglaterra, J. Blackton, 1922) The great Gabbo (EUA, Eric Von Stroheim,1929) Good news (EUA, Nick Grinde, 1930) The Fox Movietone Follies of 1929 (EUA, David Butler) Circles (Kreise, Alemanha, Oskar Fischinger, 1933) Composition in blue (Komposition in blau, Alemanha, O. Fischinger, 1934) Allegretto (EUA, O. Fischinger, 1936) Radio Dynamics (EUA, O. Fischinger, 1937) Muratti marches on (Inglaterra, O. Fischinger, 1934) A colour box (Inglaterra, Len Lye, 1935) Rainbow Dance (Inglaterra, Len Lye, 1936) Birth of the Robot (Inglaterra, Len Lye, 1936) Top Hats on Parade (Inglaterra, A. Alexeiff, 1935) Jeunes femmes prenant le the (França, Lumière, 1936) A la ferme (França, Lumière, 1936) Le centenaire de L’Arc de Triomphe (França, Lumière, 1936) L’exposition universelle de Paris (França, Lumière, 1937) Radio parade of 1935 (Inglaterra, Arthur Woods, 1934) Begone Dull Care (Canadá, 1949, Norman McLaren) A chegada do trem na estação de Ciotat (Arrivée d’un train en gare à la Ciotat, França, Louis Lumière,1895) A valsa do imperador (EUA, The emperor waltz, Billy Wilder, 1948) 171 Referências ABEL, Richard. The Ciné goes to town. French cinema: 1896-1914, Berkeley e Los Angeles: University of California Press, 1994. _____________. The red rooster scare: making cinema american, 1900-1910, Los Angeles: University of California Press, 1999. ANDRADE, Ana Lúcia. Entretenimento inteligente. O cinema de Billy Wider, Belo Horizonte: Editora UFMG, 2004. AUMONT, Jacques. A imagem. São Paulo, Campinas: Papirus, 1995. ________________. O olho interminável (cinema e pintura), São Paulo: Cosac & Naify, 2004. AUZEL, Dominique. Émile Reynaud – et l’image s’anima, Paris: Dreamland, 1998. BASTEN, Fred E. Glorious Technicolor, Camarillo: Technicolor, 2005. BAZIN, André. O cinema – ensaios, São Paulo: Brasiliense, 1991. BOMBACK, Edward S. Manual of colour photography, Londres: Fountain Press, 1964. BORGES, Jorge Luis. Obras Completas, volume III, São Paulo: Editora Globo,1999. BROWNLOW, Kevin. The parade’s gone by..., Berkeley: University of Califonia Press, 1968. CHARNEY, Leo e SCHWARTZ, Vanessa (org.). O cinema e a invenção da vida moderna, São Paulo: Cosac & Naif, 2004. COE, Brian. Movie photography, Westfield: Eastview Editions, 1981. COSTA, Flávia Cesarino. O primeiro cinema: espetáculo, narração, domesticação, Rio de Janeiro: Azougue Editorial, 2005. CREASE, Robert P. Os 10 mais belos experimentos científicos, Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora, 2006. EISENSTEIN, Sergei. O sentido do filme, Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora, 2002. EZRA, Elizabeth. Georges Méliès: the birth of the auteur, Manchester: Manchester University Press, 2000. FAURE, Élie. Fonction du cinéma, de la cinéplastique a son destin social, Paris: Éditions d’histoire et d’art, 1953. HAINES, Richard W. Technicolor movies: the history of dye transfer printing, Jefferson: McFarland, 2003. 172 HERTOGS, Daan e DE KLERK, Nico (org.). “Disorderly order”: colours in silent film. The 1995 Amsterdam Workshop, Amsterdam: Stichting Nederlands Filmmuseum, 1996. HORROCKS, Roger. Len Lye – a biography, Auckland: Auckland University Press, 2001. KANDINSKY, Wassily. Do espiritual na arte, São Paulo: Martins Fontes, 1996. KARASEK, Hellmuth. Billy Wider e o resto é loucura, São Paulo: DBA, 1992. KOSZARSKI, Richard. An evening’s entertainment: The age of the silent feature picture, 1915-1928. Berkeley e Los Angeles: University of California Press, 1990. MACHADO, Arlindo. Pré-cinemas e pós-cinemas, Campinas: Papirus, 1997. MANNONI, Laurent. A grande arte da luz e da sombra: arqueologia do cinema, São Paulo: Editoras Senac e Unesp, 2003. MORITZ, William. Optical poetry: the life and work of Oskar Fischinger, Eastleigh: John Libbey Publishing, 2004. MUSSER, Charles. The emergence of cinema: the american screen to 1907, Berkeley e Los Angeles: University of California Press, 1990. NAZÁRIO, Luiz (org.). Filmoteca Mineira, Belo Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais, 2004. NEWTON, Isaac. Óptica, São Paulo: Edusp, 2002. NOËL, Benoit. L’histoire du cinéma couleur, Paris: Editions Press’ Communication, 1995. POPPLE, Simon e TOULMIN, Vanessa (org.). Visual Delights: essays on the popular and projected image in the 19th centur, Wiltshire: Flicks Books, 2000. ______________________________________. Visual Delights II: exhibition and reception, Eastleigh: John Libbey Publishing, 2005. QUINTÃO, Wander L. A. O aprendiz de feiticeiro: Walt Disney e a experiência norteamericana no desenvolvimento da expressão cinematográfica do cinema de animação, Dissertação (Mestrado em Cinema) – Escola de Belas Artes da UFMG, Belo Horizonte, 2007. RYAN, T. Roderick. A history of motion picture color technology, Londres: Focal Press, 1977. SADOUL, Georges. História do cinema mundial, São Paulo: Martins, 1963. ________________. Louis Lumière, Paris: Éditions Seghers, 1964. ________________. Georges Méliès, Paris: Éditions Seghers, 1970. 173 SCHOPENHAUER, Arthur. Sobre a visão e as cores, São Paulo: Nova Alexandria, 2005. SPENCER, D. A. Colour photography in practice, Nova York: Focal Press, 1966. STEPHENSON, Ralph e DEBRIX, Jean R. O cinema como arte, Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora, 1969. THOMAS, David B. The first colour motion pictures, Londres: Science Museum, 1969. XAVIER, Ismail. Griffith, São Paulo: Brasiliense, 1984. _____________ (org.). A experiência do cinema: antologia, Rio de Janeiro: Edições Graal Embrafilme, 1983. Consulta a periódicos The color in the motion picture. In: The american cinematographer, v. 50, jan.1969, Hollywood: ASC Agency Inc. Pesquisa na Internet BROWN, Simon, 2002. Dufaycolor: the spectacle of reality and british national cinema. Disponível em: www.bftv.ac.uk/projects/dufaycolor. Acesso em 15/03/07. DEMILLE, Cecil B. The autobiography of Cecil B. DeMille. Londres: W. H. Allen, 1960, pp. 159-160, apud HOPKINS, Charles. Disponível em: http://palimpsest.stanford.edu/byform/mailing-lists/amia-1/2003/09/msg00200html. Ativo em 26/07/2005. DUTOIT, Christophe, 2004. La couleur des Lumière. Disponível em: www.lagruyere.ch/archives/2004. Acesso em 26/03/07. FOSSATI, Giovana, When the cinema was coloured, 1995/1996. Disponível em: http://evora.omega.it/~demos/faol/Colour/GiovannaFOSSATI.pdf. Acesso em 06/03/05. GUNNING, Tom. Colorful Metaphors: the attraction of color in early silent cinema. In: Fotogenia, v.1, Bolonha: Ed. CLUEB, 1997. Disponível em: www.muspe.unibo.it/period/fotogen/. Acesso em 23/12/03. HART, Martin (curador). The american widescreen museum. Disponível em: www.widescreenmuseum.com/oldcolor/technicolor3.htm. Acesso em 13/03/03. MORITZ, William. Gasparcolor: perfect hues for animation. Leitura proferida no Museu do Louvre em 1995. Disponível em: http://www.oskarfischinger.org/GasparColor.htm. Acesso em 20/04/06. PESCATORE, Guglielmo e DALL’ASTA. Colour in motion. In: Fotogenia, v.1, Bolonha: Ed. CLUEB, 1997. Disponível em: www.muspe.unibo.it/period/fotogen/. Acesso em 08/01/04. 174 SALMI, Hannu. History in color. In: Fotogenia, v.1, Bolonha: Ed. CLUEB, 1997. Disponível em: www.muspe.unibo.it/period/fotogen/. Acesso em 23/12/03. WARD, Wm. H. The Newest Marvel of Science. In: Pearson's Magazine, dezembro de 1897. Disponível em: http://ntlworld.com/forgottenfutures/krom/kromskop.htm. Ativo em: 16/07/06. 175 Anexo I - Processos para cinematografia em cores naturais até 1935 Processo Ano Método de projeção Inventor(es) Filme introdutório Lee & Turner 1898 Aditivo de três cores Frederick Marshall Lee e Raymond Turner Experimental Kinemacolor 1906 Aditivo de duas cores Edward Turner George A. Smith A Visit to the Seaside (1908) Mosaico John Hutchison Powrie S/ título (1928) William Friese-Greene The Earl of Camelot (1914) A. Keller-Dorian e Rodolphe Berthon Desconhecido Warner-Powrie 1906 Biocolour 1908 Aditivo de três cores Keller-Dorian 1908 Lenticular Cinecolorgraph 1912 Subtrativo de duas cores A. Hernandez-Mejia Desconhecido Brewster Color 1913 Subtrativo de duas cores Percy Douglas Brewster Desconhecido Chronochrome 1913 Aditivo de três cores Leon Gaumont Victory Parade in Paris (1919) Prizma I 1913 Aditivo de duas cores William van Doren Kelley Our Navy (1917) Cinechrome 1914 Aditivo de três cores Colin Bennett Prince of Wales in India (1921) Kodachrome I 1916 Technicolor I 1916 Subtrativo de duas cores John G. Capstaff Eastman-Kodak Aditivo de duas cores Comstock/ Kalmus/ Wescott Desconhecido The Gulf Between (1917) 176 Douglass Color 1918 Aditivo de duas cores Leon Forrest Douglass Nature Scenes (1918) Kesdacolor 1918 Subtrativo de duas cores William van Doren Kelley American Flag (1918) Prizma II 1918 Subtrativo de duas cores William van Doren Kelley The Glorious Adventure (1918) Zoechrome 1920 Subtrativo de três cores T.A. Mills Desconhecido ColorCraft 1921 Subtrativo de três cores W.H. Peck Desconhecido Polychromide 1922 Aditivo de duas cores Aron Hamburger Desconhecido Technicolor II 1922 Subtrativo de duas cores Comstock / Kalmus The Toll of the Sea (1922) Kelleycolor 1926 Subtrativo de duas cores William Kelley / Max Handschiegl Desconhecido Busch Color 1928 Harriscolor 1928 Kodacolor 1928 Lenticular Raycol 1928 Aditivo de duas cores Splendicolor 1928 Subtrativo de três cores Desconhecido Technicolor III 1928 Subtrativo de duas cores Herbert Kalmus The Viking (1928) Aditivo de duas cores Desconhecido Subtrativo de duas cores William Van Doren Kelley Desconhecido F. Rodolphe Berthon Indisponível (16mm) Maurice Elvey The Skipper of the Osprey (1933) 177 Finlay Color I 1929 Mosaic Clare Finlay Horst Color 1929 Aditivo de três cores Multicolor 1929 Cinechrome 1930 Cineoptichrome 1930 Desconhecido L. Horst Subtrativo de duas cores William T. Crespinel Desconhecido Aditivo de duas cores Desconhecido Desconhecido Cinecolor Ltd. Desconhecido L.Roux Armand Roux Desconhecido Dascolor 1930 Subtrativo de duas cores M. L. F. Dassonville Harmonicolor 1930 Hirlicolor 1930 Subtrativo de duas cores George A. Hirliman Desconhecido Photocolor 1930 Subtrativo de duas cores Desconhecido Pilney Color 1930 Subtrativo de duas cores Desconhecido Sennettcolor 1930 Subtrativo de duas cores Mack Sennett (financiador) Desconhecido Sirius Color 1930 Subtrativo de duas cores L. Horst Desconhecido UFAcolor 1930 Desconhecido Vitacolor 1930 Aditivo de duas cores Aditivo de duas cores Maurice Combs Desconhecido Desconhecido UFA Studios Pagliacci (1930) William Van Doren Kelley / Max Du Pont (financiador) Desconhecido 178 Chimicolor 1931 Subtrativo de três cores Dufaycolor 1931 Mosaico DuPack 1931 Finlay Color II 1931 Mosaico AGFAcolor I 1932 Lenticular Cinecolor I 1932 Subtrativo de duas cores William T. Crispinel / Alan M. Gundelfinger Desconhecido Technicolor IV 1932 Subtrativo de três cores Herbert Kalmus Flowers and Trees (1932) Aditivo de três cores Bell & Howell Indisponível (16 mm) Bela Gaspar Kreise (1933) British Realita Syndicate Ltd. Desconhecido Eastman-Kodak Indisponível (16 mm) Morgana Color 1932 Syndicate de la Cinematographe dês Couleurs Desconhecido Louis Dufay Desconhecido Subtrativo de duas cores Companhia DuPont Gasparcolor 1933 Subtrativo de três cores Opticolor 1935 Aditivo de duas cores Kodachrome II 1935 Subtrativo de três cores Desconhecido Clare Finlay Desconhecido AGFA Indisponível (16 mm) Fonte: Wikipédia, acesso em 06/02/06 179 181
Download